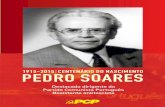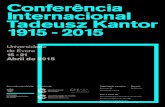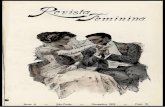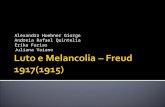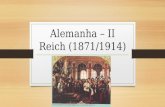Saneamento-em-Pelotas-1871-1915.pdf
-
Upload
quelpinheiro83 -
Category
Documents
-
view
40 -
download
4
Transcript of Saneamento-em-Pelotas-1871-1915.pdf
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Instituto de Cincias Humanas
Curso de Mestrado em Memria Social e Patrimnio Cultural
Dissertao
SANEAMENTO DE PELOTAS (1871-1915):
o patrimnio sob o signo de modernidade e progresso
Janaina Silva Xavier
Pelotas, abril 2010
-
2
JANAINA SILVA XAVIER
SANEAMENTO DE PELOTAS (1871-1915):
o patrimnio sob o signo de modernidade e progresso
Dissertao apresentada ao Curso de Mestrado em Memria Social e Patrimnio Cultural, da Universidade Federal de Pelotas, como requisito parcial obteno do ttulo de Mestre em Memria Social e Patrimnio Cultural Orientadora: Dra. Ursula Rosa da Silva
Pelotas, abril 2010
-
3
Banca Examinadora:
Prof. Dr. Charles Monteiro (PUC RS)
Prof. Dr. Paulo Ricardo Pezat (UFPEL)
Prof. Dr. Ursula Rosa da Silva Orientadora (UFPEL)
-
4
Agradecimentos
Procure conseguir sabedoria e compreenso. No abandone a sabedoria e ela
proteger voc. Ame-a e ela lhe dar segurana. Para ter sabedoria preciso
primeiro pagar o seu preo. Use tudo o que voc tem para conseguir a
compreenso. Ame a sabedoria e ela o tornar importante; abrace-a e voc ser
respeitado. A sabedoria ser para voc um enfeite, como se fosse uma linda coroa.
Se voc andar sabiamente nada atrapalhar o seu caminho e voc no tropear
quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educao a sua vida;
guarde-a bem. Tenha cuidado com o que voc pensa, pois sua vida dirigida pelos
seus pensamentos. Olhe firme para frente, com toda a confiana.
BLH, Provrbios, captulo 4.
Agradeo a Deus, que atravs de sua palavra, a Bblia, tem me instrudo na
verdadeira sabedoria.
Universidade Federal de Pelotas, atravs do Mestrado em Memria Social e
seus professores, muito especialmente a minha orientadora professora Dr. Ursula,
minha sincera gratido.
Dedico este singelo trabalho com carinho a minha me, aos meus familiares e
aos colegas e amigos do Servio Autnomo de Saneamento de Pelotas pelo apoio,
pela compreenso e pela pacincia.
-
5
Resumo
XAVIER, Janaina Silva. SANEAMENTO DE PELOTAS (1871-1915): o patrimnio sob o signo de modernidade e progresso. 2010. 355 f. Dissertao Mestrado em Memria Social e Patrimnio Cultural, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas.
Esta dissertao apresenta os resultados de um trabalho de pesquisa desenvolvido no Mestrado em Memria Social e Patrimnio Cultural, da Universidade Federal de Pelotas. O estudo analisa as primeiras iniciativas de saneamento da cidade de Pelotas (RS) atravs da instalao de uma concessionria privada chamada Companhia Hydrulica Pelotense que, em 1871, implantou os servios de abastecimento de gua. Posteriormente, o poder pblico municipal criou a Seo de guas e Esgotos, por meio da qual ela encampou a Hydrulica a fim de ampliar os servios de gua e construir o primeiro sistema de esgotos, inaugurado em 1915. O trabalho apresenta a situao sanitria de Pelotas antes dos servios de gua e esgotos, os motivos que levaram a cidade a buscar as melhorias sanitrias, onde a administrao pblica encontrou referncias, a trajetria das obras, os resultados e a repercusso junto sociedade local. A dissertao discute ainda os conceitos de modernidade e progresso presentes na Europa no sculo XIX e sua influncia na urbanizao das cidades e faz uma breve anlise do patrimnio histrico e cultural do saneamento de Pelotas. Palavras chave: Pelotas. Saneamento. Patrimnio. Modernidade. Progresso.
-
6
Abstract
XAVIER, Janaina Silva. SANEAMENTO DE PELOTAS (1871-1915): o patrimnio sob o signo de modernidade e progresso. 2010. 355 f. Dissertao Mestrado em Memria Social e Patrimnio Cultural, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas.
This dissertation presents the results of a research work developed in the Master's degree in Social Memory and Cultural Patrimony of the Federal University of Pelotas. The study analyzes the first initiatives of sanitation of the city of Pelotas (RS) started through the installation of a private dealership called Hydraulic Company from Pelotas that in 1871, implanted the services of water supply. Later, the municipal public power created the Section of Waters and Sewers, through which annulled the Hydraulic Company in order to enlarge the services of water and to build the first sewers system that it was inaugurated in 1915. The work presents the sanitary situation of Pelotas before the services of water and sewers, the reasons that took the city to look for the sanitary improvements, where the public administration found references, the path of the works, the results and the repercussion close to the local society. The dissertation still discusses the modernity concepts and progress present in Europe in the XIX century and its influence in the urbanization of the cities and does a brief analysis of the historical and cultural patrimony of the sanitation of Pelotas.
Keywords: Pelotas. Sanitation. Patrimony. Modernity. Progress.
-
7
Lista de Figuras e Tabelas
Figura 01 Imagem ilustrativa da Sumria 20
Figura 02 Mapa do Egito com o Rio Nilo 21
Figura 03 Ilustrao do Palcio do Rei Minos em Cnossos 22
Figura 04 Runas do Aqueduto Aqua Claudia 24
Figura 05 Runas das Termas de Trajano 25
Figura 06 Runas das Termas de Caracalla 26
Figura 07 Runas da Cloaca Mxima 26
Figura 08 Tintureiros na Idade Mdia 28
Figura 09 Fontana di Trevi, Roma, perodo Barroco 31
Figura 10 Uma rua pobre de Londres durante a Revoluo Industrial 34
Figura 11 Aglomeraes urbanas a moradia da classe operria 39
Figura 12 Mapa de Londres 40
Figura 13 Avenue de lOpera, Paris 41
Figura 14 Pretos de Ganho. John Clarke e Henry Chamberlain, 1822 46
Figura 15 Soldado da cavalaria acompanhando uma pipa dgua 46
Figura 16 Aqueduto da Carioca 47
Figura 17 Rio de Janeiro final sculo XIX 48
Figura 18 Mapa do 1 loteamento urbano de Pelotas 52
Figura 19 Mapa de Pelotas, 1835 53
Figura 20 Aquarela de Wendroth, 1852 53
Figura 21 Rua Augusta. Faria Rosa. leo s/ tela (1860) 55
Figura 22 Foto do Chafariz da Praa Pedro II, Pelotas, 1914 66
Figura 23 Detalhe do Chafariz Fonte das Nereidas 66
Figura 24 Foto da Igreja da Matriz, Pelotas, 1902 67
Figura 25 Chafariz na Praa Domingos Rodrigues 69
Figura 26 Chafariz no Calado 70
Figura 27 Chafariz da Praa Cypriano Barcellos 71
Figura 28 Praa da Caridade 73
Figura 29 Caixa dgua escocesa 74
Figura 30 Casa de mquinas da Hydrulica Moreira, 1893 79
Figura 31 Mquinas a vapor da Hydrulica Moreira 79
Figura 32 Caldeira da Hydrulica Moreira 80
-
8
Figura 33 Reservatrio francs Sistema Eiffel Hydrulica Moreira 80
Figura 34 Aplices da venda das aes da Companhia Hydrulica 87
Figura 35 Prdio onde funcionou a Seo de guas e Esgotos 88
Figura 36 Cabungo 90
Figura 37 Carroa para remoo de cabungos 90
Figura 38 Modelo de carros para guas servidas e matrias fecais 94
Figura 39 Despejo dos cabungos 98
Figura 40 Carroa de cabungos atolada 98
Figura 41 Oficinas do Asseio Pblico 100
Figura 42 Cocheiras do Asseio Pblico 100
Figura 43 Vista geral das obras no Arroio Quilombo 119
Figura 44 Represa no Arroio Quilombo 120
Figura 45 Represa no Arroio Quilombo 120
Figura 46 Reservatrio no Sinnott 121
Figura 47 Casa de mquinas do Reservatrio no Sinnott 121
Figura 48 Tanques reformados na Hydrulica Moreira 122
Figura 49 Tanques novos na Hydrulica Moreira 122
Figura 50 Comporta da represa na Hydrulica Moreira 123
Figura 51 Redes de gua 123
Figura 52 Redes de gua 124
Figura 53 Dormitrio e refeitrio dos operrios 127
Figura 54 Local da abertura do tnel na Rua Conde de Porto Alegre 127
Figura 55 Coletor ocidental 128
Figura 56 Coletor oriental 128
Figura 57 Coletor oriental - bomba a gasolina para drenagem 129
Figura 58 Escoramento das valas 129
Figura 59 Mquinas da Usina 130
Figura 60 Usina de Esgotos 131
Figura 61 Linha para descarga dos esgotos da Usina 131
Figura 62 Acessrios sanitrios sugeridos 135
Figura 63 Rede de esgotos na Rua Marechal Floriano 135
Figura 64 Rede de esgotos na Rua Manduca Rodrigues 136
Figura 65 Sanitrios do Mercado 137
Figura 66 Sistema Decauville 140
-
9
Figura 67 Mquina Allure ao fundo 141
Figura 68 Mquina misturadora de concreto 141
Figura 69 Mquina escavadora Austin 142
Figura 70 Foto ilustrativa de um caminho Saurer, 1912 142
Figura 71 Comporta da Hydrulica Moreira 146
Figura 72 Detalhe do chafariz Fonte das Nereidas 147
Figura 73 Detalhe do chafariz do Calado 147
Figura 74 Detalhe do chafariz da Praa Cypriano Barcellos 148
Figura 75 Detalhe do mirante da caixa dgua escocesa 148
Figura 76 Comisso de Saneamento 153
Figura 77 Represa do Arroio Quilombo 155
Figura 78 Estao de Tratamento de gua do Sinnott 155
Figura 79 Usina de recalque de esgotos da Tamandar 156
Figura 80 Sanitrios do Mercado 156
Figura 81 Tampas do Sistema de Esgoto
162
Tabela 1 Desenvolvimento da Companhia Hydrulica Pelotense 76
-
10
Sumrio
Introduo ............................................................................................................ 12
1. O SANEAMENTO E SUAS ORIGENS: modernidade e progresso................... 19
1.1. Aldeias e Cidades Antigas. ............................................................................ 19
1.2. Idade Mdia - Sculos XII, XIII e XIV............................................................. 27
1.3. Renascimento e Barroco - Sculos XV, XVI e XVII ...................................... 30
1.4. Revoluo Industrial - Sculo XVIII, XIX e XX .............................................. 32
1.5. Modernidade e Progresso ............................................................................. 36
1.6. O Saneamento no Brasil ............................................................................... 44
2. COMPANHIA HYDRULICA PELOTENSE ..................................................... 51
2.1. Primeiros tempos poos e cacimbas .......................................................... 51
2.1.1. Cisterna do Mercado .................................................................................. 55
2.1.2. Cdigos de Posturas .................................................................................. 56
2.1.3. Primeira tentativa de abastecimento de gua: ngelo Cassapi ................. 57
2.1.4. Outras tentativas de abastecimento de gua.............................................. 58
2.2. Criao da Companhia Hydrulica Pelotense................................................ 59
2.2.2. Os chafarizes franceses ............................................................................. 62
2.2.2.1. Chafariz da Praa Pedro II ...................................................................... 64
2.2.2.2. Chafariz da Matriz ................................................................................... 67
2.2.2.3. Chafariz da Praa Domingos Rodrigues ................................................. 68
2.2.2.4. Chafariz da Praa Cypriano Barcellos .................................................... 70
2.2.3. A Caixa dgua .......................................................................................... 72
2.2.4. O sistema em funcionamento e a qualidade da gua ................................ 74
2.2.5. Obras de ampliao no Arroio Moreira ...................................................... 77
2.2.6. Aumento nos preos e crise na Companhia .............................................. 81
2.2.7. Encampao da Companhia Hydrulica Pelotense ................................... 85
2.2.8. Seo de guas e Esgotos ........................................................................ 86
3. SEO DE GUAS E ESGOTOS.................................................................... 89
3.1. Esgotos: Servios Inadequados e Propostas Frustradas ............................. 89
-
11
3.1.1. Encampao do Asseio Pelotense ............................................................. 93
3.1.2. Asseio Pblico ............................................................................................ 96
3.1.3. Charqueada Valadares .............................................................................. 99
3.2. Propostas de construo de uma rede de esgotos ..................................... 101
3.2.1. Proposta Howyan ..................................................................................... 102
3.2.2. Estado sanitrio da cidade ....................................................................... 105
3.2.3. Alfredo Lisboa .......................................................................................... 108
3.2.4. Proposta Brown ....................................................................................... 114
3.2.5. Reviso do Projeto Alfredo Lisboa ........................................................... 115
3.3. Ampliao dos servios de gua ................................................................ 117
3.4. Obras de esgoto ......................................................................................... 124
3.4.1. Usina de Esgotos da Tamandar ............................................................. 130
3.4.2. Instalaes Domicilirias .......................................................................... 132
3.4.3. Latrina do Mercado .................................................................................. 136
3.5. Tecnologia Estrangeira ............................................................................... 138
4. O SANEAMENTO DE PELOTAS: modernidade, progresso e patrimnio ...... 143
4.1. O Patrimnio do Saneamento de Pelotas ................................................... 157
Consideraes Finais .......................................................................................... 163
Bibliografia ........................................................................................................... 166
Anexos e Apndices ............................................................................................. 171
-
12
Introduo
A cidade de Pelotas, localizada no sul do Estado do Rio Grande do Sul,
tradicionalmente conhecida pelas suas origens e seu desenvolvimento econmico
vinculados produo do charque. Foi atravs dos lucros destes estabelecimentos
que a regio prosperou e formou, no incio do sculo XIX, um ncleo urbano. Essa
elite econmica com fortes laos com a cultura europeia, em especial a francesa,
pretendeu transformar a incipiente cidade num centro adiantado, que fosse
referncia no Estado.
Por essa razo, na segunda metade do sculo XIX e comeo do sculo XX,
Pelotas deu incio a um processo de urbanizao segundo os padres estabelecidos
na Europa. Entre essas transformaes, destacam-se a implantao do primeiro
sistema de abastecimento de gua pela Companhia Hydrulica Pelotense, em 1871,
e, posteriormente, a ampliao desse complexo e a construo das primeiras redes
de esgoto, pelo poder pblico municipal, atravs da Seo de guas e Esgotos,
entre os anos de 1913 a 1915.
Este trabalho pretende analisar o desenvolvimento dos servios de
saneamento na cidade de Pelotas no perodo compreendido entre a instalao da
Companhia Hydrulica Pelotense (1871) at a implantao da Seo de guas e
Esgotos (1915), a fim de responder os seguintes questionamentos: Qual era a
situao sanitria de Pelotas antes da instalao dos servios de gua e esgoto?
Como se deu o processo de implantao dos servios de gua e esgoto na cidade
de Pelotas, de quem foi a iniciativa, onde buscou referncias e de que forma
executou as obras? Quais foram os resultados do estabelecimento destes servios
para a cidade de Pelotas? E qual o patrimnio resultante destas primeiras etapas do
saneamento na cidade?
Portanto este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de: Levantar dados
histricos sobre as primeiras aes sanitrias em Pelotas, determinando quais os
fatores que levaram a cidade a implantar sistemas de saneamento; Identificar e
-
13
inventariar os bens patrimoniais resultantes dessa trajetria; Transcrever em ordem
cronolgica as notcias e matrias publicadas nos principais jornais da poca no
perodo de anlise; Entender o momento histrico no qual foram implantados os
servios de gua e esgoto na cidade, definindo quem foram os agentes
responsveis por essas mudanas e onde eles foram buscar referncias para a
implantao desses sistemas de saneamento; Examinar quais foram as mudanas
decorrentes no cenrio urbano e como a populao se apropriou dos benefcios
gerados pelo advento do saneamento na cidade.
Neste trabalho utilizaremos o conceito de saneamento empregado por
Rezende & Heller (2002, p. 276), que o entendem como: parte de um contexto mais
amplo que envolve a histria das civilizaes, em que cada povo apresenta uma
forma prpria de se organizar visando sobrevivncia e o desenvolvimento, ou
seja, o saneamento precisa ser pensado, sobretudo, como uma interao entre
pessoas na busca de melhores condies de vida.
Desse conceito conclumos que o homem e o saneamento possuem uma
relao intrnseca e, medida que ele evoluiu em conhecimento e tecnologia,
investiu na melhoria das condies sanitrias porque entendeu que sem
saneamento seria impossvel desfrutar da qualidade de vida.
A fim de compreender esse momento histrico, foi feita uma reviso da
literatura existente sobre a cidade de Pelotas e como resultado no foram
encontradas obras especficas sobre a histria do saneamento. Este tema, apesar
de importante, foi pouco desenvolvido nos trabalhos dos historiadores locais.
Encontramos em Arriada (1994) apenas menes aos poos, Magalhes (1993,
1994, 1994 A e 2005) apresenta pequenos textos e citaes sobre os poos e
cacimbas, os chafarizes e a caixa dgua e Osrio (1998) escreve sobre os antigos
sistemas de abastecimento de gua atravs dos poos e cacimbas e os
melhoramentos pblicos implantados na cidade no incio do sculo XIX. O professor
de artes Alves (2004; 2009), de Porto Alegre, faz um estudo sobre os chafarizes
franceses do Rio Grande do Sul, e entre eles, destaca os de Pelotas com uma
abordagem histrica, artstica e esttica.
Nos trabalhos acadmicos, o destaque maior ao assunto dado por Gutierres
(1999) em sua tese de doutorado. A autora apresenta informaes histricas mais
detalhadas sobre as primeiras obras de saneamento na cidade e relaciona com o
desenvolvimento da infraestrutura urbana de Pelotas. A tese de doutorado de
-
14
Soares (2002) analisa o saneamento da cidade de Pelotas no sculo XIX a partir da
difuso do pensamento higienista no Brasil. A monografia de Wickhboldt (2000) faz
um levantamento histrico sobre a caixa dgua em ferro da Praa Piratinino de
Almeida atravs das fontes primrias e o artigo de Pereira (1998) conta a histria do
chafariz da Praa Cypriano Barcellos. Em 2004, eu realizei uma pesquisa para o
Curso de Especializao em Artes Patrimnio Cultural e Conservao de Artefatos
da Universidade Federal de Pelotas que resultou na monografia Chafarizes e Caixa
dgua de Pelotas: elementos de modernidade do primeiro sistema de
abastecimento de gua (1871), apresentando um estudo histrico e artstico desses
patrimnios do saneamento da cidade. O referido trabalho serviu como fundamento
para esta dissertao. Alm desses, no foram localizadas outras publicaes
relevantes com enfoque histrico nos acervos das Bibliotecas da Universidade
Catlica de Pelotas, Universidade Federal de Pelotas, Biblioteca Pblica de Pelotas
e no Ncleo de Documentao Histrica da Universidade Federal de Pelotas.
A partir deste levantamento bibliogrfico conclumos que a histria do
saneamento de Pelotas ainda no foi explorada e analisada de forma mais
consistente, o que justifica a relevncia desta dissertao. Dada essa pouca
produo de textos relacionados ao assunto, a pesquisa se voltou para uma
metodologia que privilegiou as fontes primrias.
Inicialmente foi feito um levantamento do material existente com a finalidade
de se perceber o volume e suas caractersticas. No acervo do Servio Autnomo de
Saneamento de Pelotas (SANEP) foram identificados, do perodo da Companhia
Hydrulica Pelotense, cpias do contrato, da escritura e dos estatutos, os Relatrios
da Companhia Hydrulica Pelotense (1871-1908) e cpias dos Relatrios da
Provncia de So Pedro do Rio Grande do Sul (1857-1872) e do perodo
correspondente Seo de guas e Esgotos, os Relatrios do projeto de guas e
Esgotos do engenheiro civil Alfredo Lisboa (1900 e 1911), os Relatrios da Seo de
guas e Esgotos (1913-1916), cpias das revistas do primeiro centenrio de Pelotas
(1911-1912) e o Regulamento Sanitrio (1913).
Na Biblioteca Pblica de Pelotas foram encontradas as correspondncias da
Companhia Hydrulica Pelotense (1872-1875), as Atas da Cmara Municipal (1872-
1879), o livreto Os Exgotos (1891), os Relatrios da Intendncia Municipal de
Pelotas (1904-1916), os Almanaques de Pelotas (1913-1915), o lbum do primeiro
-
15
centenrio de Pelotas (1922), as Antigualhas de Pelotas (1928) e os jornais da
poca.
Todas essas fontes foram investigadas com ateno e o material referente ao
saneamento reproduzido para formar um banco de dados que ficar disposio
para novas pesquisas no SANEP. Ateno especial foi dada aos jornais por
apresentarem um material mais vasto, contnuo e com opinio, os relatrios e
demais documentos existentes so mais esparsos e sucintos.
No perodo pesquisado os jornais pertenciam aos partidos polticos, como
consequncia os textos apresentam um forte cunho partidrio. Esse apoio ao
governo municipal vai se alternando, quando na oposio, os jornais faziam fortes
crticas administrao, por outro lado, quando estavam na situao, aproveitavam
para tecer elogios s iniciativas do governo. Por isso, para compreender mais
plenamente a situao da poca foram escolhidos os trs jornais de maior tiragem,
so eles: Correio Mercantil, Dirio Popular e A Opinio Pblica. Assim foi
possvel traar um paralelo entre as crticas e elogios, apurando melhor as
circunstncias do fato histrico.
Segundo Loner (1998), o Correio Mercantil um dos mais antigos peridicos
de Pelotas. O jornal foi fundado em janeiro de 1875, pelo imigrante portugus
Antnio Joaquim Dias (1844-1892) e foi editado at 1916. O Correio Mercantil
sempre desenvolveu campanhas em prol de melhoramentos para a cidade de
Pelotas, mas sem partidarismo explcito apesar de defender a abolio e a repblica.
A partir de 1906, o jornal foi sendo vendido sucessivamente, tornando-se ento, um
rgo de oposio e defesa do Partido Democrtico. Participava de campanhas
populares, aliando-se com os operrios para criticar o governo municipal, sempre
sendo replicado pelo Dirio Popular.
O Dirio Popular, de acordo com a autora, foi fundado por Theodozio de
Menezes, em agosto de 1890, e logo passou a ser o rgo oficial do Partido
Republicano Riograndense em Pelotas. O Partido Republicano governou a cidade
praticamente sem interrupes. Por tratar dos interesses da situao na cidade, o
jornal foi favorecido ao receber as publicaes oficiais, colocando-se sempre em
defesa da municipalidade. O Dirio Popular impresso em Pelotas at hoje.
Por fim, o jornal A Opinio Pblica comeou a circular em maio de 1896,
tendo sido criado por Joo Alves de Moura, Artur Hameister, Theodozio de
Menezes, Rodolpho Amorim e Filinto Moura. Inicialmente vinculado ao Partido
-
16
Republicano passou em seguida por vrios arrendamentos, tornando-se
independente, o que permitiu que qualquer grupo poltico ou empresarial pudesse
promover suas ideias. Apresentava um carter inovador e de grande importncia na
vida cultural e poltica da cidade. O peridico foi respeitado na cidade e teve grande
nmero de assinantes, sendo editado at 1962.
Do peridico Correio Mercantil foram pesquisados 29 anos do jornal, no
perodo compreendido entre 1875 a 1915, com uma lacuna entre os anos de 1880 a
1886. Do Dirio Popular foram pesquisados os primeiros 26 anos do jornal, de
1890 a 1915. Finalmente, no A Opinio Pblica foram pesquisados os primeiros 20
anos do jornal, de 1896 a 1915.
As notcias foram transcritas em ordem cronolgica, preservando a grafia
original, resultando num total de 143 matrias, num perodo de 40 anos. (Apndice
1). A compilao permitiu perceber o desenvolvimento dos servios de saneamento
na cidade de Pelotas, as queixas e as expectativas do povo, o andamento das
negociaes, os momentos de crise e de conquistas, as inauguraes das obras,
com uma riqueza de detalhes que os relatrios no apresentam. Os relatrios e
demais documentos so mais breves, fazendo curtas exposies, considerando
apenas aspectos tcnicos e financeiros, ocultando as falhas e crticas.
Com base nos relatrios e nos jornais foram identificadas as ruas
mencionadas e atualizados os seus nomes, a fim de localizar exatamente os fatos e
as obras no espao. Para ter um entendimento mais completo das construes em
anlise foram feitas visitas Estao de Tratamento de gua do Arroio Moreira,
Represa do Quilombo, Estao de Tratamento de gua do Sinnott, aos chafarizes,
caixa dgua da Praa Piratinino de Almeida, Usina de Esgotos da Tamandar e
aos Sanitrios do Mercado. Essas vistorias permitiram uma melhor compreenso
dos sistemas edificados e o que eles representaram para a cidade de Pelotas na
poca em que foram implantados. Com base nas informaes obtidas nas fontes
primrias e nas visitas foi feito um inventrio patrimonial dos bens do perodo,
resultando num acervo com dez conjuntos ou elementos isolados (Apndice 2).
Para o entendimento da histria do saneamento foram utilizados como aporte
terico os livros Histria da Cidade, do arquiteto e urbanista italiano Leonardo
Benvolo, A era dos imprios (1875-1914), do historiador Eric Hobsbawn e A
cidade na histria, suas origens, transformaes e perspectivas, do historiador
americano Lewis Mumford. Tambm foi objeto de estudo a tese de doutorado de
-
17
Elmo Rodrigues da Silva, intitulada O curso da gua na histria. Atravs desta
retomada foi possvel entender as origens do saneamento e o modo como ele se
desenvolveu ao longo da histria. Essa noo foi importante na construo da
relao com as obras de saneamento de Pelotas, pois permitiu o entendimento das
questes ligadas s referncias buscadas para a implantao dos servios na
cidade. J as origens e o desenvolvimento de Pelotas foram estudados
principalmente no trabalho Pelotas: Gnese e Desenvolvimento Urbano (1780-
1835), do professor Eduardo Arriada.
Os conceitos de modernidade e progresso evidenciados nas fontes primrias
foram compreendidos com o auxlio das teorias do historiador italiano Giulio Carlos
Argan em seu livro Arte Moderna e do historiador francs Jacques Le Goff em sua
obra Histria e Memria. Ao longo do trabalho ser possvel perceber que a
modernidade e o progresso foram os ideais determinantes para o desenvolvimento
dos servios de saneamento na cidade e a noo correta do que estes termos
significavam para a poca muito importante para se ter uma ideia clara do
contexto.
Finalmente, para entender o aspecto do patrimnio foram empregados os
conceitos apresentados pelo socilogo francs Henri-Pierre Jeudy em Memrias do
Social e Espelho das Cidades. O patrimnio histrico e cultural do saneamento de
Pelotas tem particularidades especficas, significados e valores distintos que foram
apresentados neste trabalho.
A dissertao ficou dividida em quatro captulos. O primeiro deles, chamado
O Saneamento e suas origens: modernidade e progresso, faz uma breve trajetria
do saneamento na histria mundial, destacando as descobertas aplicadas nas
cidades antigas, os problemas sanitrios enfrentados durante a Idade Mdia, as
descobertas e melhorias implantadas durante o Renascimento e o Barroco, os
grandes avanos proporcionados pela Revoluo Industrial, a situao sanitria do
Brasil no perodo colonial e as primeiras iniciativas de saneamento do pas com a
importao de tecnologia e materiais europeus. Apresenta ainda uma anlise dos
conceitos de modernidade e progresso estabelecidos no sculo XIX e como essas
ideias influenciaram as obras de saneamento de Pelotas.
O segundo captulo foi denominado Companhia Hydrulica Pelotense, e faz
uma breve retrospectiva da cidade de Pelotas e suas primeiras iniciativas de
saneamento, na sequncia expe as tentativas frustradas de instalar um sistema de
-
18
abastecimento de gua na cidade e culmina com a implantao da Companhia
Hydrulica Pelotense, suas origens, evoluo e vai at o encerramento de suas
atividades. Este captulo permite avaliar o percurso desta empresa que durante 37
anos abasteceu a cidade de Pelotas com gua potvel.
O terceiro captulo tem por ttulo Seo de guas e Esgotos e faz uma
retomada dos servios de remoo fecal na cidade atravs do sistema de cabungos,
as propostas para a construo de uma rede de esgotos, o projeto de guas e
esgotos para Pelotas, do Dr. Alfredo Lisboa, e os meios para a sua concretizao.
Neste texto vemos como a cidade de Pelotas enfrentou as crises decorrentes da
falta de uma rede de esgotos e a trajetria percorrida at a sua construo.
O quarto e ltimo captulo, Saneamento de Pelotas: modernidade, progresso
e patrimnio, relaciona o desenvolvimento mundial do saneamento e os conceitos
de modernidade e progresso, apresentados no incio do trabalho, com as primeiras
iniciativas de saneamento da cidade de Pelotas atravs da Companhia Hydrulica
Pelotense e a Seo de guas e Esgotos, desenvolvidas na sequncia. Encerrando
o captulo feita uma breve anlise do conceito de patrimnio histrico e cultural.
Colocadas essas questes, o trabalho pretende contribuir para o
entendimento desse perodo to importante da histria da cidade de Pelotas, abrir
caminho para a realizao de outras pesquisas sobre o assunto e para a divulgao
e valorizao do patrimnio do saneamento, por se tratar de um acervo de
expressivo valor histrico e cultural.
-
19
Captulo 1
O SANEAMENTO E SUAS ORIGENS: modernidade e progresso
Pelotas foi a primeira cidade no Estado que construiu servios completos e satisfatrios de
abastecimento de gua e esgotos. (BRITO, 1944, p. 30)
1.1. Aldeias e Cidades Antigas
O surgimento dos primeiros agrupamentos sociais deu origem s aldeias e
nelas se desenvolveram diferentes tcnicas para garantir o saneamento. Segundo
Mumford (1982, p. 23), a vala de irrigao, o canal, o reservatrio, o fosso, o
aqueduto, o dreno, o esgoto, os condutos de gua corrente, as banheiras, as
latrinas, todas essas tecnologias estavam presentes na aldeia, sendo, mais tarde,
aprimoradas e aplicadas nas cidades antigas.
No entanto, com o crescimento populacional das cidades antigas as
condies sanitrias foram se tornando precrias. H muitas provas a mostrar que
imundcies de toda qualidade se acumulavam nas bordas da cidade; a mudana
quantitativa da aldeia para a cidade produzira tambm uma mudana qualitativa que
nem a natureza nem os velhos hbitos da aldeia podiam enfrentar. (MUMFORD,
1982, p. 147)
O autor destaca que os dejetos eram lanados nas ruas impregnando e
contaminando o ar e as fontes de gua e que os melhoramentos sanitrios foram
sendo implantados lentamente na cidade antiga, obrigando seus moradores a
conviver com a insalubridade e o mau cheiro.
Ainda no sculo V d.C., a ausncia absoluta de saneamento era alarmante.
Nas cidades pequenas os dejetos eram depositados para decomposio em campos
abertos prximos, tornando-se suportveis. Mas nas grandes cidades a situao era
catica carecendo-se at mesmo de latrinas pblicas.
-
20
Apesar de todo esse atraso algumas civilizaes antigas foram mais bem
sucedidas ao lidar com as questes sanitrias. Entre elas destacamos a
Mesopotmia, o Egito, a Grcia e Roma.
Na Mesopotmia, as variaes sazonais traziam perodos de estiagem e
inundaes. Para evitar essas adversidades naturais e garantir a sobrevivncia os
mesopotmios construram valas de irrigao, canais e represas. Outras obras de
destaque foram as galerias de esgoto de Nippur, na ndia, (3.750 a.C), os quartos de
banho e latrinas interiores, as manilhas de cermica, os canais de drenagem
revestidos de tijolos nas ruas, as sargetas para conduzir as guas da chuva
construdas nas cidades de Mohenjo-Daro, no Vale do Indo (2.600 a.C.), Ur (2.000
a.C.) e na pequena Lagash (5.000 a.C.). (SILVA, 1998, p. 26 e MUMFORD, 1982, p.
70; 87)
Tcnicas sanitrias cheias de recursos tambm foram encontradas nos
palcios da Sumria (4.000 a 1.600 a.C) (Figura 01), lugar em que as casas talvez
tenham sido servidas de condutos e drenos internos e latrinas, semelhantes s
encontradas nas cidades do Indo. (MUMFORD, 1982, p. 138)
Figura 01 Imagem ilustrativa da Sumria
Fonte: Disponvel em www.formactiva.org/olindagil/weblog/archive/2007/11/, 16/02/2008.
-
21
Assim como na Mesopotmia, o Egito sofria com enchentes peridicas.
Nessas ocasies os lavradores se ajuntavam para reparar os danos das
tempestades, guiar as guas ao redor de seus campos e para construir represas,
canais e obras de irrigao. Mumford (1982, p. 68) nos afirma que a construo
desses melhoramentos exigia um grau de intercurso social, cooperao e
planejamento de longo alcance.
O intenso calor tropical do Egito causava variaes nos volumes do Rio Nilo
(Figura 02). Para manter estveis os nveis de gua foram abertos canais e
barragens escalonadas e inventada uma mquina chamada Nora que se destinava a
recalcar a gua do rio.
Outras tecnologias encontradas no Egito foram o uso de tubos de cobre no
palcio do Fara Quops e a aplicao do Sulfato de Alumnio para clarificao da
gua, 2.000 a.C, e a partir de 1.500 a.C, passaram a usar tambm a filtrao.
(SILVA, p. 26)
Figura 02 Mapa do Egito com o Rio Nilo. Fonte: Disponvel em http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Africa.NileMap.01.png#file, 16/02/2008
-
22
Nas cidades gregas, devido escassez de gua, havia preocupaes com
relao ao abastecimento e tambm com a eliminao dos esgotos. Na Ilha de Creta
foram construdos tanques nos terraos com a finalidade de filtrar as guas
provenientes dos telhados. Nas construes localizadas em partes mais altas das
cidades, coletava-se a gua pluvial em cisternas, das quais partiam canalizaes,
transportando a gua at as regies mais baixas.
Tneis e canalizaes para conduo de gua foram construdos nas cidades
de Samos e Emuros II. A esses sistemas hidrulicos aplicava-se o princpio dos
vasos comunicantes e de pressurizao dos encanamentos. (SILVA, 1998, p. 28)
O grau de sofisticao do sistema grego pode ser demonstrado pelas
descargas em vasos sanitrios encontradas em Atenas. Fragmentos do Palcio do
Rei Minos (1445 a.C a 1204 a.C.), na cidade de Cnossos (Figura 03), revelaram
apetrechos hidrulicos e sanitrios. Em Olinto (1000 a.C. a 348 a.C.), uma cidade
de apenas 15.000 habitantes, tambm foram descobertos banheiros. (MUMFORD,
1982, p. 137)
Figura 03 Ilustrao do Palcio do Rei Minos, em Cnossos.
Fonte: Disponvel em http://historiadom.wordpress.com/2008/08/14/palacio-de-cnossos, 16/02/2008
No perodo helenstico (338 a.C. a 146 a.C) as cidades com suas casas de
banho, seu aperfeioado suprimento de gua, muitas vezes canalizado desde as
colinas, levantaram o nvel fsico geral da populao. Mas no que diz respeito s
-
23
latrinas privadas (...) no tm sido desenterradas indicaes de melhoramentos
sanitrios dentro da moradia helnica. (MUMFORD, 1982, p. 183)
Ainda que os banhos privados tenham sido praticados, Atenas possua
banhos pblicos que cumpriam o papel de sociabilidade grega, prtica essa
reservada apenas para os homens. O banho privado era tomado em ocasies
especiais, pois numa comunidade carente de gua, sem encanamentos para suprir
as casas, a gua era transportada das fontes mo.
No sculo V a.C., as facilidades higinicas e sanitrias das cidades gregas
eram limitadas e precrias. O lixo e os excrementos eram acumulados nos
arrabaldes da cidade.
O Imprio Romano teve contrastes muito acentuados com relao ao
saneamento. Em Roma havia gua e tecnologia abundante, mas isso nem sempre
significava higiene. Para as classes privilegiadas a engenharia Romana construiu
grandes obras. O palcio de Festo (60 d.C), governador da provncia romana da
Judia, tinha sistemas de esgoto e de gua potvel, com condutos de terracota
ligados a uma fonte na montanha, aquedutos de pedra e tambm reservatrios. Na
cidade de Timgad (100 d.C.) os banhos e os lavatrios pblicos dispendiosos e
decorados constituam equipamento padro. (MUMFORD, 1982, p. 138; 230)
Mas as moradias populares careciam de facilidades sanitrias. Os cenculas
(apartamentos de vrios tamanhos para a classe mdia e inferior) possuam gua
encanada somente no andar trreo e no tinham privadas. Os habitantes
esvaziavam seus urinis num recipiente comum, o dolium, que ficava no patamar
das escadas, ou diretamente na rua pelas janelas.
Embora as fontes de gua fossem amplas, o banho privado era um luxo dos
ricos. Nos altos edifcios de Roma o transporte era feito a brao, a gua para cima, e
os dejetos para baixo.
J os sistemas de esgotos, iniciados no sculo VI a.C, foram continuamente
ampliados e tinham grande capacidade. Algumas galerias eram to largas que
Agripa pode inspecionar de barco toda a sua extenso. Elas serviam para recolher
as guas da chuva, o excesso dos aquedutos, as descargas dos edifcios pblicos e
dos andares trreos das domus (casas individuais com um ou dois andares). Mas os
edifcios que ficavam afastados das redes de esgotos descarregavam seus refugos
nos poos negros ou nas lixeiras abertas, que nunca foram de todo eliminados.
(BENEVOLO, 1983, p. 174)
-
24
Assim, em Roma a populao convivia com a imundcie. Embora existissem
instalaes sanitrias pblicas, a maioria depositava seus dejetos domsticos em
buracos cobertos prximos de suas habitaes, de onde eram periodicamente
removidos pelos estercoreiros e rapinantes, impregnando o ar de mau odor.
(MUMFORD, 1982, p. 239)
Contudo, Roma at hoje famosa por seus aquedutos (Figura 04).
Espalhados por toda a cidade pelo Estado ou pelas administraes locais eram
considerados um servio pblico para satisfazer os usos coletivos, e apenas o
excedente (aqua caduca), os particulares. O primeiro deles, o cqua Appia,
comeou a ser edificado em 312 a.C.
Os aquedutos alimentavam as instalaes pblicas de Roma com mais de um
bilho de metros cbicos de gua por dia. Segundo Benvolo (1983, p. 174) a
abundncia e a grandiosidade dos servios higinicos pblicos compensava a falta
dos servios privados na maior parte das casas.
Figura 04 Runas do Aqueduto Aqua Claudia.
Fonte: Disponvel em http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_aquedutos_de_Roma, 16/02/2008
Na sada dos aquedutos havia os reservatrios de decantao (psinae
limariae), onde a gua depositava as impurezas, em seguida passava pelos tanques
de distribuio (castella) onde era medida atravs de clices de bronze, e da s
tubulaes da cidade, feitas de chumbo (fistulae) com cerca de trs metros.
-
25
J no sculo II a.C o hbito de ir aos banhos pblicos estava implantado em
Roma. Em 33 a.C, Agripa introduziu banhos pblicos gratuitos em um vasto recinto
fechado, capaz de conter grande quantidade de pessoas com um salo monumental
contguo a outro, com banhos quentes, tpidos (morno) e frios. Certamente o ritual
tinha um aspecto prtico: o hbito de limpar o corpo completamente ajudava a
diminuir as carncias higinicas e sanitrias da cidade em outros aspectos.
Entre os anos de 312-315 d.C existiam 11 banhos pblicos, 19 canais de
gua, 926 pequenos banhos de propriedade particular, 700 tanques ou bacias
pblicas que eram supridas por 130 coletores ou reservatrios. A qualquer
momento, 62.800 cidados podiam usar os banhos.
O ritual do banho ocupava um segmento desproporcionado do dia e dirigia
uma quantidade demasiadamente grande de energia humana para o servio do
corpo, tratado como um fim em si mesmo. (MUMFORD, 1982, p. 250)
As termas mais conhecidas em Roma so as Termas de Agripa (20 a.C), as
Termas de Trajano (104 d.C) (Figura 05), as Termas de Caracalla (212 d.C) (Figura
06) e as Termas de Diocleciano (306 d.C). (BENEVOLO, 1983, p. 140 a 143)
Figura 05 Runas das Termas de Trajano.
Fonte: Disponvel em http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:DomusAurea.jpg, 16/02/2008
-
26
Figura 06 Runas das Termas de Caracalla.
Fonte: Disponvel em http://gl.wikipedia.org/wiki/Image:RomaTermeDiCaracallaPanoramica.01.jpg
Com relao aos esgotos, o mais antigo monumento da engenharia Romana
a Cloaca Mxima (Figura 07), uma rede com dimenses gigantescas construda no
sculo VI a.C para drenar as guas residuais e o lixo da cidade de Roma,
despejando-os no Rio Tibre. To slida era a construo de pedras, to ampla suas
dimenses, que foi utilizada por muito tempo aps a queda do Imprio Romano.
(MUMFORD, 1982, p. 237)
Figura 07 Runas da Cloaca Mxima.
Fonte: Disponvel em http://br.olhares.com/roma_cloaca_maxima_foto2319135.html, 16/02/2008
-
27
Foi na Antiguidade, ento, que surgiram os princpios das tcnicas sanitrias
que por muito tempo foram empregados nas cidades, sendo que algumas delas so
utilizadas at hoje. Barragens, filtros, aquedutos, encanamentos, poos, fontes,
cisternas, banheiras e latrinas foram algumas das principais contribuies desse
perodo para os sculos posteriores.
1.2. Idade Mdia Sculos XII, XIII e XIV
Durante a Idade Mdia houve um acentuado declnio nas condies
sanitrias, resultando num avano das epidemias. Nesse perodo, ocorreu um
retrocesso considervel do ponto de vista do saneamento. O consumo de gua caiu
abruptamente, chegando a menos de um litro dirio por habitante, gerando graves
consequncias para a sade da populao.
Com o aumento do comrcio e o desenvolvimento da navegao, as
cidades, localizadas s margens dos rios, comearam a se preocupar com as
invases, tornando-se necessrio o investimento de recursos na construo de
muralhas e fortificaes ao seu redor, deixando as obras de saneamento em
segundo plano.
A gua foi tambm se tornando um importante elemento no desenvolvimento
da economia da Idade Mdia. A implantao dos moinhos e as atividades pr-
industriais de moagem, tecelagem, tinturaria, manufaturas em tecido e couro exigiam
grandes quantidades de gua. Essas fbricas se instalavam perto dos rios para
captarem a gua diretamente e ao redor delas iam se formando aglomeraes de
mo-de-obra destinada aos trabalhos pesados. (Figura 08)
medida que essas regies cresciam, as populaes jogavam os esgotos
domsticos e os dejetos de suas manufaturas nos rios. Aos poucos foi se
associando a essas prticas o aumento de doenas. Segundo Mumford (1982, p.
316), a prtica de enterrar os mortos em covas rasas foi um dos mais graves
defeitos higinicos da cidade medieval.
A preocupao crescente com o desenvolvimento da indstria e do comrcio
tornou a aristocracia a principal detentora dos direitos sobre a maior parte dos
cursos de gua. Como resultado, o abastecimento das famlias passou a ser feito
por intermdio de poos escavados nos quintais e pela compra de gua
-
28
transportada pelos aguadeiros. Esses poos eram contaminados pela presena dos
esgotos domsticos, contribuindo para disseminar as doenas.
Figura 08 Tintureiros na Idade Mdia.
Fonte: Disponvel em http://cidademedieval.blogspot.com, 23/02/2010
Na tentativa de deter tais avanos, a Inglaterra, em 1388, promulgou a que
se considera a mais antiga lei de proteo ambiental, proibindo o lanamento de
excrementos, lixo e detritos nas valas, rios e guas. (MUMFORD, 1982, p. 317)
Em 1453, na cidade de Augsburgo, na Alemanha, tambm foram criadas leis
rgidas de proteo dos mananciais, a fim de controlar a poluio dos rios que
serviam ao abastecimento pblico. Tais iniciativas no surtiam o efeito desejado,
pois os artesos continuavam a lanar seus dejetos nas guas e a contaminar os
lenis freticos. Foi no sculo XIV, que a Europa colheu os resultados de sua
negligncia com a Peste Negra, que dizimou um tero da populao. (SILVA, 1998,
p. 33)
Outra regresso ocorreu, sem dvida, perto do fim da Idade Mdia, causada
pelos apartamentos de mltiplos andares, muitas vezes com quatro ou cinco
pavimentos, em cidades como Edimburgo, na Esccia. A distncia entre os
-
29
pavimentos superiores e o trreo incentivava o desleixo no esvaziar dos vasos
noturnos.
Com relao ao banho, havia estabelecimentos destinados a este fim em
todas as cidades do norte da Europa. O banhar-se era uma diverso de famlia.
Essas casas de banho costumavam, s vezes, ser dirigidas por particulares, mas
usualmente, pela municipalidade. Durante a Idade Mdia so encontrados registros
da existncia de casas de banho em Riga, na Letnia, em Wurzberg, Ulm,
Nuremberg, Frankfurt e Augsburgo, cidades da Alemanha e em Viena, na ustria.
To difundido era o banho na Idade Mdia que o costume se propagou at para os
distritos rurais.
Os banhos pblicos destinavam-se a fazer suar e transpirar. Esse hbito era
praticado pelo menos todas as quinzenas, s vezes todas as semanas. O prprio ato
de se reunir numa casa de banho promovia a sociabilidade, sem qualquer embarao
da exposio do corpo.
A proviso de gua potvel tambm era uma responsabilidade coletiva da
cidade. O primeiro passo era abrir um poo ou manancial, num recinto conveniente,
depois edificar uma fonte na praa pblica e bicas nas vizinhanas, s vezes dentro
do quarteiro, s vezes nas vias pblicas. Com o crescimento do nmero de
habitantes foi necessrio encontrar novas fontes, bem como distribuir as antigas por
um territrio mais amplo.
Em 1236, foi concedida uma patente para um encanamento de chumbo
destinado a conduzir gua do Crrego Tyborne para a cidade de Londres,
instalaram-se encanamentos em Zittau, na Alemanha, em 1374, e em Breslau, na
Polnia, em 1479, a gua era bombeada do rio e conduzida por manilhas atravs da
cidade.
Contudo, a gua encanada por companhias privadas at as residncias s
comeou a gotejar no sculo XVII, e raramente era um suprimento suficiente. Para
compensar esse fato, a fonte satisfazia a duas importantes funes: de um lado era
uma obra de arte, agradvel vista, e de outro supria as necessidades de
abastecimento. O entorno dos chafarizes proporcionava tambm um espao para os
encontros sociais e as conversas entre os moradores da localidade.
Mas as grandes cidades continuaram a crescer mais rapidamente que seus
recursos tcnicos ou de capital e isso conduziu a um escasso suprimento de gua e
a poluio dos seus cursos pelo despejo dos esgotos. Isso explica, em boa parte, a
-
30
falta de hbitos de higiene medievais nas metrpoles em desenvolvimento e a
verdadeira carncia de gua nas novas cidades industriais do sculo XIX.
(MUMFORD, 1982, p. 320)
A grande contribuio desse perodo para o saneamento foram as leis criadas
na Inglaterra e na Alemanha para regulamentar as prticas econmicas e sociais, a
fim de evitar a poluio das guas. Embora essas normas no tenham sido
obedecidas, elas demonstram que na poca j havia a conscincia de que a gua
precisava ser preservada para o consumo humano e de que a ao indiscriminada
do homem traria graves prejuzos para a qualidade dos rios e fontes.
1.3. Renascimento e Barroco - Sculos XV, XVI e XVII
No sculo XV, quando a burguesia alcanou o poder e a prosperidade,
atravs das atividades mercantis, comeou a se preocupar com as questes
sanitrias. Esse perodo, chamado de Renascimento, deu incio a um processo de
urbanizao das cidades, com a construo de grandes palcios e igrejas, com base
nas referncias da cultura clssica.
Foi durante o Renascimento, no fim do sculo XV e incio do sculo XVI, que
comeou a ser percebida a importncia dos chafarizes. A palavra chafariz, de
origem muulmana, significava tanque na lngua rabe. Os renascentistas
transformaram os chafarizes em objetos artsticos, at chegar s magnficas fontes
romanas, idealizadas pelos arquitetos barrocos.
Estes artistas se inspiraram nas mitologias clssicas e da Antiguidade para
projetar suas fontes. A partir do sculo XVII, os chafarizes e repuxos foram
disseminados nos parques e jardins das vilas europeias.
Para a criao e instalao das fontes era necessrio o domnio das artes
hidrulicas, baseado em princpios cientficos. O ttulo de superintendente dos rios e
guas, concedido aos mais famosos fontanierii (responsveis pelas fontes), era um
certificado de conhecimento da fsica e da metafsica. Esses princpios cientficos
serviam para resolver questes estticas e prticas de abastecimento de gua.
No sculo XVI, a percia holandesa no controle e bombeamento da gua foi
utilizada no desenvolvimento dos primeiros encanamentos das cidades em
crescimento. O culto limpeza deve muito s cidades holandesas do sculo XVII,
com seus abundantes suprimentos de gua. (SILVA, 1998, p. 34)
-
31
Ainda no mesmo sculo, no Vaticano, os papas construram vrios
equipamentos sanitrios, como chafarizes, novos encanamentos, banhos pblicos,
mecanismos para despejo, cubas para lavagem e outros. Dentre as obras
realizadas, os chafarizes passaram a desempenhar um papel de destaque para a
Igreja, originando uma nova hidrulica sacra. (Figura 09) (SILVA, 1998, p. 35)
Tais modelos de chafarizes se espalharam por toda a Europa. A preocupao
ia alm das questes estticas, pois o emprego das fontes permitia o controle e a
distribuio de gua. Em Paris, por exemplo, no fim do sculo XV, a municipalidade
abastecia a cidade com gua atravs de canalizaes e uma dezena de fontes.
Apesar desses lampejos de progresso, as melhorias no atingiam as camadas
populares. A cidade barroca no possua padres higinicos e sanitrios mais
salubres que a cidade medieval.
Figura 09 Fontana di Trevi, Roma, perodo Barroco.
Fonte: Disponvel em http://dornaretina.blogspot.com/2006/03/roma.html, 23/02/2010
Com o preo cada vez mais alto da gua quente, o prprio banho medieval
comeou a deixar de existir no sculo XVI entre a populao. Em 1307, havia 29
banheiros em Frankfurt e, em 1530, nenhum. Os aquedutos que possuam um
volume de gua suficiente quando foram instalados, no sculo XVI, pela falta de
-
32
ampliao, se tornaram incapazes de suprir a demanda de gua potvel. Os
habitantes da cidade dispunham de uma quantidade muito menor de gua, no
sculo XVIII, do que tinham tido dois ou trs sculos antes.
As grandes invenes da poca no representavam mudanas nas condies
sanitrias. As rodas dgua do sculo XVII e as grandes bombas hidrulicas, que
estavam entre os mais importantes progressos tcnicos, eram utilizadas
simplesmente para fazer funcionar as fontes dos jardins de Versalhes. A bomba a
vapor de Fischer Von Erlach, primeiro usada na ustria, foi empregada nas fontes
dos jardins do palcio Belvedere, em Viena. (MUMFORD, 1982, p. 407)
Outro importante aperfeioamento sanitrio para casa foi inventado em 1596,
por John Harrington, a privada. Mas a moda no se propagou rapidamente. A
privada seca interior s foi introduzida na Frana no sculo XVIII. O Palcio de
Versalhes no tinha nem mesmo as comodidades de um castelo medieval,
empregavam-se patentes portteis, sobre rodas. E antes da inveno da descarga e
do tubo de exausto para a privada, a conduo da manilha de esgoto para trs da
casa quase anulava as vantagens do novo melhoramento. Com o surgimento da
privada, copiou-se outra prtica dos chineses: o emprego do papel higinico.
Podemos destacar, ento, os chafarizes como sendo o principal legado do
Renascimento para a poca posterior. Como veremos a seguir, o emprego de
chafarizes para o abastecimento de gua das cidades disseminou-se graas ao
da indstria.
1.4. Revoluo Industrial - Sculo XVIII, XIX e XX
Os sculos XVIII, XIX e XX foram de grandes inovaes. De 1875 a 1914,
surgiram os modernos jornais e revistas, o filme, a cincia e a tecnologia, os
automveis movidos a gasolina, as mquinas voadoras, as comunicaes por
telefone, o gramofone, a lmpada eltrica incandescente e a radiotelegrafia por
telgrafo e sem fio, transmitindo a informao ao redor do mundo em uma questo
de horas. A ferrovia e a navegao a vapor reduziram as viagens intercontinentais a
uma questo de semanas, o que antes se dava em meses.
A Europa era a propulsora do capitalismo, dominando e transformando o
mundo atravs de seus produtos industriais. Conforme Hobsbawn (1988, p. 46),
-
33
todos os pases estavam presos pelos tentculos dessa transformao mundial.
Parecia que a mudana significava avano, sinnimo de progresso.
No perodo entre 1873 a meados dos anos 1890, o comrcio mundial
continuou a aumentar acentuadamente. A produo de ferro mais do que duplicou.
Muitos dos pases ultramarinhos, recentemente integrados economia mundial,
conheceram um surto de desenvolvimento mais intenso que nunca, preparando-se
para uma crise de endividamento internacional.
O nmero de pessoas que ganhavam a vida como operrios, em troca de um
salrio, aumentava em todos os pases. Os trabalhadores eram encontrados na
urbanizao e industrializao das cidades modernas e nos servios municipais de
utilidade pblica, do sculo XIX, como os de gs, gua e esgotos. (HOBSBAWM,
1988, p. 164)
Com relao ao saneamento, comeou-se a experimentar novos materiais e
tcnicas com xito crescente. A utilizao de bombas, para captar e aduzir a gua
dos rios, e as canalizaes em ferro fundido foram as novidades que comearam a
ser introduzidas sucessivamente. A oferta de gua tornou-se mais abundante e o
saneamento na Europa passou a ser gerido pelo poder pblico. Essas audaciosas
alteraes se deram entre as dcadas de 1840 a 1870.
Durante o reinado de Napoleo III, de 1852 a 1870, na Frana, realizaram-se
gigantescas obras pblicas, tanto para a aduo de gua potvel, como para os
servios de esgoto. Paris, depois de 1870, passou a ser modelo de urbanizao
para todas as cidades do mundo. (BENEVOLO, 1983, p. 593)
Contudo, at o fim do sculo XIX, o progresso tecnolgico quase no atingia a
casa do trabalhador com as suas inovaes. Introduziu-se o encanamento de ferro,
aperfeioou-se a privada, surgiu a banheira com encanamento de gua, estendeu-se
redes de distribuio coletiva com gua corrente ao alcance das casas, e um
sistema de esgotos. A partir de 1830, todas essas invenes, pouco a pouco,
ficaram ao alcance dos grupos econmicos mdios e superiores, mas em ponto
algum tais melhoramentos chegaram massa da populao. O problema era
alcanar um nvel mdico de decncia sem essas novas comodidades
dispendiosas. (MUMFORD, 1982, p. 504)
A cidade industrial e comercial do sculo XIX no apresentava avanos
higinicos importantes em relao pequena cidade do sculo XVII. Em 1930, nas
cidades de Londres e Nova Iorque, a ausncia de encanamentos e de higiene
-
34
municipal criava um mau cheiro insuportvel nos bairros urbanos, e os excrementos
expostos infiltrando nos poos propagava a febre tifide. A falta de gua afastava
por completo a possibilidade de limpeza domstica ou de higiene pessoal. (Figura
10)
Nas grandes capitais no se tomavam providncias adequadas para
ampliao do sistema de abastecimento de gua. Em 1809, quando a populao de
Londres era perto de um milho de habitantes, a gua era encontrada, na maior
parte da cidade, apenas nos pores das moradias. Em certos bairros, s havia
disponibilidade de gua trs dias por semana. E embora os canos de ferro j
tivessem aparecido em 1746, no foram muito usados, at que uma lei especial na
Inglaterra, em 1817, determinou que todos os novos encanamentos fossem
construdos em ferro, dentro de dez anos.
Figura 10 Uma rua pobre de Londres durante a Revoluo Industrial.
Gravura de Gustave Dor, 1872. Fonte: Disponvel em http://urbanidades.arq.br/imagens, 23/02/2010
Nas novas cidades industriais estavam ausentes os servios pblicos
municipais. Bairros inteiros estavam privados at das bicas locais. Segundo
Mumford (1982, p. 501), os pobres tinham de sair de casa em casa, nos bairros de
-
35
classe mdia, a pedir gua. Com essa falta de gua para beber e lavar, no admira
que se acumulassem as imundcies.
Em Berlim, Viena, Nova Iorque e Paris os aglomerados de habitaes ainda
existentes, construdas entre 1830 e 1910, careciam dos melhoramentos higinicos
da sua prpria poca; encontravam-se muito abaixo de um padro estruturado em
termos do conhecimento de salubridade e higiene. (MUMFORD, 1982, p. 502)
Percebemos um descompasso entre o avano industrial e a sua consequente
aplicao na vida urbana, pois de um modo geral, a falta de higiene predominava. A
escassez de gua potvel, para maior parte da populao, representava uma
debilidade crnica.
Em Manchester, na Inglaterra, em 1845, ao longo das ruas corriam os
esgotos descobertos, se acumulavam as imundcies, e nos mesmos espaos
circulavam as pessoas e os veculos, vagueavam os animais, brincavam as
crianas. (BENEVOLO, 1983, p. 566)
Nova Iorque foi a primeira grande cidade a obter um amplo suprimento de
gua potvel, graas construo do sistema Crton de reservatrios e aquedutos,
inaugurado em 1842. A eliminao de esgotos continuou sendo uma questo difcil
e, exceto em cidades suficientemente pequenas para possuir usinas de esgotos, o
problema no foi convenientemente resolvido.
Nos centros menores surgiu a possibilidade de entregar s companhias
privadas a manuteno de tais servios. Os melhoramentos urbanos exigiam
servios pblicos tais como: condutos e reservatrios de gua, aquedutos, estaes
de bombeamento, condutos de esgotos, usinas de reduo e deposio de detritos.
Graas propagao das concesses iniciativa privada e do costume de
instalar sanitrios privados por famlia com latrinas ligada s redes pblicas, o ndice
de mortalidade, inclusive infantil, tendeu a cair depois dos anos de 1870.
(MUMFORD, 1982, p. 515)
Finalmente, tais tecnologias inovadoras introduzidas no saneamento das
cidades possibilitaram, lentamente ao longo dos anos, um aumento considervel na
distribuio de gua canalizada para abastecimento e tratamento dos esgotos, tal
como vemos hoje nas grandes cidades de todo o mundo.
1.5. Modernidade e progresso
-
36
Pelo que vimos at ento, o saneamento foi uma questo importante para as
civilizaes desde a Antiguidade. medida que o homem comeou a se organizar
em sociedade passou a encontrar meios de administrar os recursos naturais
disponveis para garantir a sobrevivncia. As margens dos rios foram os locais
escolhidos para a habitao e o desenvolvimento das cidades. Nesses mananciais
os homens beberam, pescaram, navegaram, tomaram banho e lanaram seus
dejetos. A abundncia ou a escassez de gua desafiou as civilizaes construo
de represas, aquedutos, valas e canais, garantindo o suprimento nas variaes
sazonais.
Com o desenvolvimento tcnico-cientfico das sociedades surgiram diversas
formas de armazenamento e distribuio da gua: poos, cisternas, fontes,
encanamentos e tambm a preocupao com relao a sua purificao, atravs de
processos de decantao e filtrao. Alm de sua importncia vital para o consumo,
a gua tambm foi relacionada com a higiene. A construo de locais para banho
nos indica que esta prtica em maior ou menor escala esteve presente no decorrer
da histria da humanidade.
Igualmente a destinao dos dejetos humanos foi prevista nas cidades
antigas. Embora predominasse o uso de latrinas e o despejo dos excrementos nas
ruas, encanamentos e sanitrios foram utilizados pelas classes privilegiadas nas
cidades gregas e romanas. Tal como vemos hoje, o acesso ao saneamento em todo
o tempo foi uma forma de distino social. Somente as famlias nobres podiam
desfrutar das comodidades proporcionadas pela gua encanada e o servio de
esgotos. As camadas populares, residentes em cortios e vilas, sempre foram
condenadas falta de gua e de esgotos. Essa imagem que transmitida atravs
dos sistemas de saneamento, tambm afeta o status da cidade, porque quanto mais
avanados forem esses servios em um municpio, mais ele ir demonstrar sua
capacidade poltica, administrativa, econmica e cultural. Isto porque a higiene
considerada sinal de riqueza, educao e cultura da populao.
Foi a carncia de condies sanitrias, aliada ao aumento populacional das
cidades, que fez com que, durante a Idade Mdia, surgissem epidemias por toda
Europa. O descaso para com as prticas de higiene e a escassez de gua
condenaram as pessoas a uma vida de misria, doena e morte prematura.
Somente no perodo Renascentista comearam a ser introduzidas novas
tecnologias hidrulicas baseadas em estudos feitos nas construes romanas.
-
37
Gradativamente foram sendo construdos chafarizes, encanamentos, banhos
pblicos e sistemas de despejos para as cidades.
Mas o grande salto na engenharia sanitria s foi possvel com o advento da
industrializao e do capitalismo nos sculos XVIII e XIX. O surgimento dos
encanamentos de ferro fundido, das mquinas a vapor e o aperfeioamento das
tcnicas construtivas apontaram os rumos para este ramo do urbanismo.
Desse perodo destacamos especialmente duas cidades europeias que
despontaram na aplicao das novas tecnologias para remodelao do espao
urbano: Londres e Paris. Mais tarde veremos que a cidade de Pelotas, no Rio
Grande do Sul, importou grande parte de seus sistemas de saneamento da
Inglaterra e da Frana e a partir da muitos paralelos podem ser traados entre as
transformaes ocorridas em Londres, e mais especialmente Paris, com as que se
deram em Pelotas.
As cidades de Londres e Paris, no incio do sculo XIX, estavam
industrializadas e para atender essa demanda crescente de mo de obra, um grande
nmero de camponeses migrou do campo para trabalhar nas fbricas. Com isso,
houve uma violenta exploso demogrfica. Ao redor das indstrias, sem qualquer
planejamento, se formavam aglomerados humanos, onde o ambiente era aviltante, o
ar poludo pela fumaa e o trfego congestionado. Nesses cortios os operrios
viviam apinhados, em moradias com vrios andares, sem qualquer infraestrutura
sanitria ou espaos para o lazer. Como consequncia desse crescimento
desordenado adveio misria, sujeira e epidemias. (MUMFORD, 1982, p. 501)
Diante dessa situao de penria fcil entender porque as pessoas
passaram a se degradar moralmente, adquirindo vcios, mendigando, se prostituindo
e roubando. Essas prticas, aliadas a alimentao deficitria, facilitavam ainda mais
o contgio e a transmisso de doenas, tais como a tuberculose, a clera, a varola,
a sfilis, entre outras. Os operrios trabalhavam muitas horas nas fbricas por um
salrio insuficiente para que pudessem obter o mnimo de dignidade. A gua era um
recurso escasso, impedindo as pessoas de limpar suas casas, lavar suas roupas e
tomar banho e pela ausncia de servios sanitrios os dejetos eram jogados nas
ruas.
Uma descrio da cidade de Paris, feita em 1849, traz uma ideia das suas
condies:
-
38
Uma congesto de casas apiloadas em qualquer parte do vasto horizonte. O que voc observa? Acima, o cu est sempre encoberto, mesmo nos dias mais belos.(...) Olhando para isto, imaginamos se esta Paris, e, tomados por um medo sbito, hesitamos em penetrar neste vasto ddalo onde j se acotovelam mais de um milho de homens, onde o ar viciado de exalaes insalubres se eleva, formando uma nuvem infecta que obscurece quase por completo o sol. A maior parte das ruas desta maravilhosa Paris nada mais seno condutos sujos e sempre midos de gua pestilenta. Encerradas entre duas fileiras de casas, as ruas nunca so penetradas pelo sol, que apenas roa o topo das chamins. Uma multido plida e doentia transita continuamente por essas ruas, os ps nas guas que escorrem, o nariz no ar infectado e os olhos atingidos, em cada esquina, pelo lixo mais repulsivo. Nessas ruas moram os trabalhadores mais bem pagos. Tambm h ruelas, que no permitem a passagem de dois homens juntos, cloacas de imundcie e de lama onde uma populao enfraquecida inala cotidianamente a morte. So estas as ruas da antiga Paris, ainda intactas. A clera flagelou-as duramente em sua passagem, tanto que se esperava no estarem mais l se esta retornasse, mas a maior parte delas ainda permanece no mesmo estado, e a doena poder voltar. (CHEVALIER , 1973, p. 155 e 156)
Na tentativa de conter as doenas, surgiu na Europa, no incio do sculo XIX,
a doutrina do higienismo que pregava o controle do ambiente como forma de
promover a sade da populao. Assim, novas estruturas administrativas e
instrumentos de interveno, principalmente na Frana e na Inglaterra, passaram a
fiscalizar e reprimir o uso e a ocupao do espao pblico, atravs de leis
especficas para a sade pblica.
A Revoluo Industrial tornou o homem fabril e esse novo modo de vida
trouxe consequncias para a sua sade. As doenas demonstravam que o ambiente
das fbricas e dos cortios onde os operrios moravam no era saudvel. Estudos
eram desenvolvidos com a finalidade de prevenir as epidemias decorrentes desta
nova estrutura social. (Figura 11)
Na cidade de Londres, em 1830, foram criados conselhos para deliberar
sobre esgotos, pavimentao, iluminao, limpeza e construes populares. Em
1869, a Inglaterra nomeou uma Comisso Real com o objetivo de analisar as
condies da sade pblica. Em seus relatrios a comisso sugeriu a criao de
uma legislao geral sobre sade, o que foi atendido atravs da criao do Ato de
Sade Pblica, em 1875.
Em Paris foi criado, em 1802, um Conselho de Sade que tinha como
atribuies verificar a higiene dos mercados, dos banheiros pblicos, dos esgotos e
fossas, das condies sanitrias dos presdios, a sade das fbricas e as epidemias.
A medida foi copiada por outras cidades da Frana e, em 1822, o governo francs
criou um Conselho Superior de Sade estabelecendo uma poltica nacional de
-
39
higiene e sade pblica. Nos conselhos os mdicos sanitaristas apontavam para a
falta de higiene das moradias populares e as condies de vida dos trabalhadores.
(ROSEN, 1958, p. 127; 133; 175)
Figura 11 Aglomeraes urbanas a moradia da classe operria sc XIX.
Fonte: BENVOLO, 1983
A soluo promovida pela cidade de Londres para resolver estes
inconvenientes foi a criao de parques pblicos. A inteno era propiciar espaos
que servissem como um purificador do ambiente, facilitando a circulao do ar e
eliminando a poluio. Nesses parques a natureza era o grande atrativo que
convidava ao cio, ao lazer e ao descanso das massas urbanas. Nos parques os
visitantes podiam deixar os seus problemas cotidianos e se entregarem a
contemplao do cenrio natural e ao convvio social.
Como forma de agilizar essa medida, os parques particulares da nobreza e
das famlias abastadas foram abertos ao pblico, posteriormente a iniciativa privada
tambm investiu na construo de parques pblicos. Por volta de 1840, Londres j
possua muitos parques na rea urbana. Alguns dos exemplos mais conhecidos so:
o Regents Park, o Saint James Park, o Hyde Park, o Green Park e o Kensington
Park. (Figura 12)
-
40
Figura 12 Mapa de Londres onde aparecem o Regents Park, o Green Park e o Saint James Park.
Fonte: http://theurbanearth.files.wordpress.com/2008/03/regent-park.jpg, 21/03/2010
Com relao infraestrutura de saneamento, em 1847, foram construdas
galerias para o lanamento das guas residurias das habitaes e, em 1855, foram
iniciadas as obras de implantao de um sistema coletor de esgotos mais completo.
Alm disso, durante o sculo XIX, Londres investiu eventualmente na construo de
estradas e no transporte pblico.
J na Frana, os estudos e relatrios dos conselhos ingleses e franceses
levaram Napoleo III (1808-1873) a implantar, entre os anos de 1852 a 1870, um
gigantesco projeto de saneamento que representou um grande avano e serviu de
modelo para o mundo. Sob a direo do prefeito Georges-Eugne Haussmann
(1809-1891) Paris se transformou de uma cidade antiga e insalubre em uma capital
higinica, prtica e moderna.
Ao idealizar seu plano, Haussmann tinha em mente limpar e clarear a cidade,
melhorar as conexes entre o centro urbano e os terminais ferrovirios e criar
-
41
avenidas e ruas principais no centro. No seu projeto de remodelao da cidade
foram implantados sistemas de distribuio de gua e uma grande rede de esgotos.
No centro da cidade foram abertas amplas avenidas para a circulao do ar e
exposio ao sol. Esse novo espao favoreceu o estabelecimento de locais prprios
para a diverso, incentivando a burguesia a novas prticas sociais ligadas ao lazer.
A partir das obras de Haussmann, Paris passou a ser o exemplo do conceito de
higiene pblica, baseado no controle poltico e cientfico do meio a fim de favorecer a
salubridade. Segundo Sevcenko (1984, p. 29), a Frana se tornou o ideal de
civilizao almejado pelas elites dirigentes e pela burguesia emergente dos pases
agro-exportadores latino-americanos. A obra de Camile Pissarro, Avenue de
lOpera, representa essa nova Paris remodelada. (Figura 13)
Figura 13 Avenue de lOpera, Paris. Camile Pissarro.
Fonte: Disponvel em http://lemondegala.wordpress.com, 23.02.2009
Essa mentalidade renovadora que observamos em Londres e Paris foi
motivada por dois conceitos distintos, mas que esto interligados entre si e que a
partir de ento estariam presentes nas transformaes urbansticas e seriam fatores
determinantes para o saneamento das cidades, inclusive de Pelotas, estado do Rio
-
42
Grande do Sul. So eles: modernidade e progresso. Analisemos cada um deles a
fim de compreender suas ideias, relaes e implicaes.
Ao observar as remodelaes de Paris, o poeta francs Charles Baudelaire
(1821-1867) comeou a desenvolver suas teorias sobre o pensamento da poca.
Em seu passeio pela cidade, Baudelaire envolveu-se na atmosfera das ruas e
passou a refletir no conceito de modernidade que iria representar as mudanas e o
modo de vida das pessoas da sociedade da segunda metade do sculo XIX.
Enquanto a Revoluo Industrial se impunha, o poeta apresentou a
modernidade como algo efmero, original, como o instante que passa e no se
repete. Uma caracterstica ligada aos comportamentos, costumes e decorao. O
moderno teria o sentido de recente, enquanto seu oposto, o antigo remeteria a
uma poca remota e ultrapassada. (LE GOFF, 2003, p. 176; 194)
Baudelaire (1988, p. 227) relacionou a modernidade ao transitrio, ao fugidio
e ao contingente, que estavam sujeitos a frequentes metamorfoses e, segundo ele,
essas eram concepes que os artistas no tinham o direito de desprezar ou
dispensar. O pensador considerava ainda que os burgueses seriam os
responsveis por promoverem a modernidade. Eles teriam a inteligncia e o poder
para concretizar a idia do futuro em todas as formas polticas, industriais,
artsticas. (BAUDELAIRE, apud BERMAN, 1986, p. 132) No entanto, ele sabia que
a vida moderna era uma iluso, que os benefcios da modernidade eram paradoxais,
pois jamais resolveriam a misria e a ansiedade dos homens e no resultariam em
progresso espiritual.
Apesar disso, a modernizao das cidades era considerada por ele como um
processo irreversvel que foraria a modernizao da alma dos seus cidados. Nos
grandes bulevares de Paris, Baudelaire observou uma famlia de pobres, vestida
com andrajos - um pai de barba grisalha, um filho jovem e um beb observando,
embevecidos, o brilhante mundo novo. (BAUDELAIRE, apud BERMAN, 1986, p. 143;
145)
Essa mudana de valores foi analisada por Monteiro (1995, p. 118) como
sendo resultado de uma pedagogia social burguesa onde essa cidade moderna
atuava como instrumento para a transmisso de hbitos, costumes e valores que
sustentariam a nova organizao social. O autor destaca ainda que o centro da
cidade e seus melhoramentos passaram a indicar os novos padres de sociabilidade
-
43
no espao pblico. Assim, a modernizao dos hbitos e das sociedades tornou-se
muito mais visvel no centro da cidade. (MONTEIRO, 1995, p. 119)
Por essa razo que apesar da crescente oferta de mercadorias industrializadas, a
modernidade no se resumia apenas ao desejo de consumo, era tambm um
processo de profundas transformaes da estrutura social, da economia e do modo
de vida, resultado do desenvolvimento industrial. A modernidade representava uma
cultura inteira e especialmente quando associada ao progresso sugeria uma
mudana para melhor. (ARGAN, 1992, p. 185; KARL, 1988, p. 23)
Aos poucos os administradores pblicos se aperceberam que estrutura
sanitria adequada, que oferecesse gua potvel, esgotos, limpeza e sade era
quesito necessrio para a sobrevivncia dos operrios responsveis pelo
crescimento econmico das fbricas. Surgiram tambm as preocupaes em
disciplinar os costumes da populao, arejar os espaos, afastar a sujeira, o lixo e a
doena para longe, bem como impor uma srie de normas e regulamentos
higinicos.
Outra importante mudana relacionada modernidade foi a acelerao do
tempo, que alterou profundamente os hbitos das pessoas. Segundo Ortiz (1991,
p. 242), na modernidade o ritmo de vida passou a se suceder de forma interligada
e ordenada. Os movimentos eram coordenados e controlados e os atrasos no
eram mais desejados, porque se tornavam um obstculo ao andamento do todo.
O autor salienta ainda que o espao e o tempo da modernidade no
conhecem fronteiras; eles se baseiam em princpios como circulao,
racionalidade, funcionalidade, sistema, desempenho. E esse tempo no dava
margem a escolhas, ele se impunha a todos: ficar de lado significava estar fora
da marcha da civilizao. (ORTIZ, 1991, p. 245; 255)
Na esfera do moderno surgiu tambm a expresso progresso,
relacionada a uma evoluo positiva e ao dinamismo. O Sculo das Luzes (XVIII)
adotou o progresso sem restries. O conceito de tempo, at ento considerado
como cclico, foi substitudo pela noo de um progresso linear que privilegiava o
moderno. Alm das necessidades de infraestrutura urbana e de modernizao dos
hbitos e valores pr-capitalistas, Monteiro (1995, p. 255) apresenta o
desenvolvimento econmico como responsvel por instaurar essa nova noo de
tempo rpido, fludo, vertiginoso relacionado com o progresso.
-
44
Um dos movimentos artsticos que se props a interpretar, apoiar e
acompanhar o progresso econmico e tecnolgico da civilizao industrial foi o
Modernismo. Atravs das artes visuais, do design, da literatura e da arquitetura, o
Modernismo investigou todos os aspectos da vida cotidiana com o objetivo de
substituir o antigo pelo moderno, a fim de alcanar o progresso.
Para esse movimento o progresso era evidenciado na evoluo cientfica e
tecnolgica. O desenvolvimento material trazia consigo a ideia de progresso e suas
experincias e invenes bem sucedidas faziam a sociedade acreditar e confiar
nele. Predominava um sentimento de evoluo em relao ao passado e de
confiana na razo. O conforto, o bem-estar e a segurana alcanados por
intermdio da cincia moderna fizeram do sculo XIX o grande sculo do progresso.
(ARGAN, 1992, p. 185; LE GOFF, 2003, p. 240)
De acordo com Ortiz (1991, p. 255), o progresso teve suas origens em um
pequeno nmero de pases da Europa e se imps como internacional. Para o mundo
restou apenas o exerccio da cpia dos modelos impossveis. Eram esses os
parmetros que iriam determinar o grau de atraso ou desenvolvimento das
sociedades. Atravs dos discursos do progresso esses pases europeus difundiam
suas inovaes e descobertas cientfico-tecnolgicas para os pases distantes e com
as mais diferentes realidades econmicas, polticas e sociais. (SEVCENKO, 1984, p.
29)
As transformaes urbansticas das cidades europeias do sculo XIX,
incluindo as obras de saneamento, foram realizadas sob os fundamentos da
modernidade e do progresso e serviriam de padro para o mundo. A Europa
despontou como o centro original do capitalismo e manteve seu predomnio na
economia mundial. Os principais avanos observados nas grandes cidades eram
realizados com os produtos industriais europeus. (HOBSBAWM, 1988, p. 36)
1.6. O Saneamento no Brasil
No Brasil, durante o perodo colonial, que vai desde a sua descoberta no ano
de 1500 at o comeo do sculo XIX, a economia era baseada na explorao dos
recursos naturais pelos portugueses. A agricultura era caracterizada pela
monocultura de produtos como o pau-brasil, o acar e o caf e tambm pela
-
45
extrao do ouro e da borracha. A mo de obra empregada nestas atividades era a
escrava.
Foi a necessidade de gua, para a instalao dos engenhos de moagem da
cana de acar, que fez surgir os primeiros aquedutos rurais. As plantaes de caf,
por sua vez, exigiam a instalao de canalizaes de gua para a lavagem dos
gros. Fora estes poucos exemplos no existem informaes organizadas sobre o
saneamento nas cidades brasileiras durante o perodo colonial.
A administrao portuguesa deixava a questo da obteno e distribuio de
gua sob a responsabilidade de cada vila. O saneamento bsico no estava entre as
prioridades do governo. Diante deste descaso por parte do Imprio, a questo da
sade era precria e as populaes obrigavam-se a criar alternativas para obter a
gua.
A maior parte das vilas se instalava prximas a riachos, nascentes e
ribeires de onde podiam extrair a gua. Neste cenrio surgiam os carregadores de
gua, escravos responsveis pelo transporte do lquido em barris e lates. Assim,
uma grande quantidade de carregadores passou a compor a paisagem tpica do
Brasil Colnia. A obra Pretos de ganho (1822), de John Clarke e Henry
Chamberlain, retrata este escravo que era o principal agente na distribuio de gua
para consumo domstico nas cidades brasileiras. (Figura 14) A ilustrao Soldado
da cavalaria acompanhando uma pipa dgua, de Debret, extrada dos arquivos do
projeto Pelotas Memria, tambm ilustra a presena do escravo nas ruas da cidade.
(Figura 15)
Algum tempo depois apareceram os aguadeiros, homens livres, que
frequentavam as vilas e cidades mais populosas, munidos de burrinhos e carroas,
vendendo gua de porta em porta. Esse personagem sobreviveu at o incio do
sculo XX.
A riqueza proveniente da extrao do ouro em Minas Gerais (1700-1775)
encontrou passagem pelo Rio de Janeiro e com o recurso abundante desta atividade
foi construdo, em 1723, o primeiro aqueduto no Brasil. Este aqueduto transportava
gua captada no Rio Carioca at um chafariz no Largo da Carioca. Esse sistema foi
ampliado, aperfeioado e a partir de ento, comeou a ser adotado em outras
cidades do pas.
-
46
Figura 14 - Pretos de Ganho. John Clarke e Henry Chamberlain, 1822.
gua tinta colorida sobre papel, 19,9 x 27,9 cm - Museu Castro Maya, Rio de Janeiro Fonte: MORAES, Ana Maria. A construo da Paisagem. So Paulo: Metalivros, 1994, p. 93
Figura 15 Soldado da cavalaria acompanhando uma pipa dgua. Aquarela de Debret, 1822.
Fonte: http://pelotas-memoria.ucpel.tche.br / acesso em maio 2006
O aqueduto da Carioca considerado a obra arquitetnica de maior porte
empreendida no Brasil durante o perodo colonial. hoje um dos cartes postais da
cidade, smbolo mais representativo do Rio Antigo, preservado no bairro da Lapa. A
estrutura, em pedra de argamassa, apresentava, originalmente, 270 metros de
-
47
extenso por 64 metros de altura. Em sua construo foi empregada a mo-de-obra
de escravos indgenas e africanos. O pintor, cengrafo e arquiteto Leandro Joaquim
(1738 - 1798), considerado um dos maiores pintores da poca colonial no Brasil,
pintou o Aqueduto da Carioca. (Figura 16)
Com a chegada da Famlia Imperial ao Rio de Janeiro, em 1808, vrias
transformaes urbansticas comearam a ocorrer na cidade e, consequentemente,
o modelo se espalhou pelas demais cidades do Brasil. O Governo Imperial
empreendeu aes urbansticas de remodelao da cidade em estilo neoclssico.
Os servios de infraestrutura, de abastecimento de gua e coleta de esgotos
da poca foram realizados por intermdio de concesses iniciativa privada. Essa
forma de delegar a gesto dos servios era adotada devido falta de tecnologia no
pas para empreender tais obras. Os governos das provncias e dos municpios no
tinham aparato tcnico-administrativo para executar as aes demandadas pela
populao. Segundo Costa (1994, p. 73), o prprio estgio de desenvolvimento
tecnolgico brasileiro era pueril, enquanto a Inglaterra estava na vanguarda da
tecnologia em engenharia sanitria do mundo, detinha capital e hegemonia poltica.
Figura 16 - Aqueduto da Carioca. Leandro Joaquim (1738 - 1798). Rio de Janeiro.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Aqueduto_da_Carioca / acesso em julho 2006
Essas companhias, dirigidas por estrangeiros, importavam da Europa todo o
material, a tcnica e os insumos necessrios para a realizao das obras. Atravs
destas empresas que veremos a entrada de produtos industrializados para
saneamento, tais como as caixas dgua, canalizaes, motores e os chafarizes em
ferro fundido. Ao Estado cabia, apenas, regulamentar as concesses.
-
48
No Rio de Janeiro, os servios de saneamento foram concedidos empresa
inglesa The Rio de Janeiro City Improvements Company Limited, conhecida como
City. A City foi constituda em 1862 e teve sua concesso at 1947.
No Brasil, durante o sculo XIX, predominava o desejo de deixar no passado
as marcas do colonialismo e seus atrasos e avanar rumo modernidade e ao
progresso. Segundo Segawa (1956, p. 19), o pas estava se adaptando aos
conceitos de moderno e modernizao tendo como referncia a organizao, as
atividades e o modo de viver do mundo europeu. Os agentes responsveis por essa
modernizao eram os engenheiros que realizavam as intervenes
modernizadoras na estrutura urbana das grandes cidades brasileiras. A nfase era
dada s questes relacionadas ao saneamento. Rio de Janeiro (Figura 17), Recife,
So Paulo, Santos, Manaus, Vitria, Belo Horizonte e Salvador so exemplos de
cidades brasileiras que realizaram servios de gua e esgoto nessa poca.
Figura 17 Rio de Janeiro final sculo XIX. Canal do Mangue.
Fonte: Disponvel http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=877776&page=8, 23.02.2009
No Rio Grande do Sul, a capital Porto Alegre, utilizava chafarizes abastecidos
com gua do Canal Guaba, at que, em 1865, foi fundada a Hydrulica Porto-
Alegrense que forneceu gua para as residncias e para os chafarizes instalados
em locais pblicos. Mas esse servio nem sempre foi considerado satisfatrio.
-
49
Por fim, com o aumento do permetro urbano houve a necessidade de
expanso dos servios pblicos. Em 1890, a populao de Porto Alegre era de 52
mil habitantes; em 1900, 73 mil e, em 1910, chegou a 115 mil. Para atender este
crescimento o Intendente Jos Montaury, em 1904, municipalizou os servios de
abastecimento de gua e construiu tambm redes coletoras e uma usina de
recalque de despejos de esgoto. Alm disso, melhorou o asseio pblico com a
compra de um caminho e carroas para o recolhimento do lixo e das fossas
(latrinas) mveis, nos locais que no eram atendidos pela rede de esgotos.
(MONTEIRO, 1995, p. 24 a 36)
Essa dependncia estrangeira se prolongou at as primeiras dcadas do
scul