Sustentabilidade Do Semiarido Brasileiro
-
Upload
vanessasilva -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
description
Transcript of Sustentabilidade Do Semiarido Brasileiro
-
RBRH - Revista Brasileira de Recursos Hdricos Volume 7 n.4 Out/Dez 2002, 105-112
105
Sustentabilidade do Semi-rido Brasileiro: Desafios e Perspectivas
Vicente P. P. B. Vieira Universidade Federal do Cear Fortaleza, CE
Artigo convidado. Aprovado em agosto.
RESUMO A partir da viso geral do desenvolvimento sustentvel, com particular nfase ao Semi-rido Brasileiro, conceitua-se sustentabilidade h-
drica e se identificam os dois grandes desafios da gesto dos recursos hdricos na regio: complexidade e riscos. So abordados temas como usos mltiplos, sustentabilidade social, viso holstica, parcerias, segurana, vulnerabilidade. Algumas tendncias so apontadas, compreendendo, entre outras, gesto econmico-ambiental de bacias, outorga unificada, capacitao, modelagem hidro-meteorolgica, operao integrada, modelos regionais de participao social. Ao final, recomendaes so feitas, incluindo o desenvolvimento de um sistema regional de gesto e o estabeleci-mento de um Frum do Semi-rido.
Palavras-chave: sustentabilidade; semi-rido; desafios.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL
O estabelecimento de qualquer plano ou programa de desenvolvimento sustentvel, seja ele estadual, regional ou nacional, enfrenta basicamente dois grandes desafios: o primeiro a conceituao objetiva do seu significado e abrangncia, de modo a traduzir-se em aes e atividades definidas e exequveis; o segundo, to complexo quanto o primeiro, a identificao de parmetros aferidores capa-zes de permitir o monitoramento das aes e, sobretudo, a avaliao dos resultados.
O conceito de desenvolvimento sustentvel mais ci-tado e universalmente aceito o da Comisso Brundtland (CMMAD, 1991): aquele que atende s necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as geraes futuras atenderem a suas prprias necessidades. Trata-se de uma definio filosfica, uma espcie de declarao de princpio, que certamente servir de lema e de bandeira para os defensores de uma globalizao sadia.
A definio que se segue uma tentativa de objetivar um pouco mais o conceito em lide: desenvolvimento sus-tentvel o processo de melhoramento e ampliao do patrimnio econmico, ambiental e social, realizado de forma contnua e harmnica, com distribuio equnime no tempo e no espao. Agora se destacam algumas caracte-rsticas essenciais do desenvolvimento sustentvel:
processo contnuo; objetivos econmico, social e ambiental; harmonia entre esses objetivos; respeito s geraes futuras.
A elaborao, portanto, de um plano de desenvolvi-mento sustentvel exigir o desdobramento desses objeti-
vos em atividades especficas e seus interrelacionamentos, a definio de parmetros aferidores e de padres de quali-dade, a preservao de valores culturais e a reserva de oportunidades para as geraes que viro.
A identificao de indicadores, invariantes ao longo do tempo e, sempre que possvel, quantificveis, uma tarefa extremamente rdua e rigorosamente imprescindvel. Esforos nesse sentido vm sendo feitos por instituies nacionais e internacionais, na busca de parmetros e para-digmas aceitveis, cientificamente incontestveis mas de fcil entendimento e aplicabilidade.
Interessantes exemplos de indicadores, em nvel glo-bal, nacional e local foram apresentados por F. D. Mus-chett (1997), reproduzidos na Tabela 1.
SUSTENTABILIDADE DO SEMI-RIDO
O estudo mais recente e mais abrangente realizado no Brasil, em nvel regional, voltado para o desenvolvimento sustentvel, certamente o que foi elaborado pelo Ministrio do Planejamento, em colaborao com os governos estadu-ais e entidades no-governamentais, sob o ttulo de: Nor-deste Uma Estratgia de Desenvolvimento Sustentvel, publicado pelo IPEA em 1995 (IPEA, 1995).
Conhecido como Projeto ridas, o plano estabelece como horizonte de planejamento o ano 2020 e procura conciliar quatro objetivos gerais:
eficincia econmica; equidade social; preservao ambiental; liberdade poltica,
desdobrados nos seguintes objetivos especficos:
-
Sustentabilidade do Semi-rido Brasileiro: Desafios e Perspectivas
106
Tabela 1. Exemplos de indicadores de desenvolvimento sustentvel, nos nveis global, nacional e local.
Indicadores de desenvolvimento sustentvel Globais Nacionais Locais
- Tendncias alimentares - Tendncias agrcolas - Tendncias energticas - Tendncias atmosfricas - Tendncias econmicas - Tendncias no transporte - Tendncias sociais - Tendncias militares
- Mudanas de clima - Depleo da camada de oznio - Acidificao ambiental - Eutrofizao ambiental - Disperso de substncias txicas - Disposio de resduos slidos - Perturbaes ambientais localizadas
- Aspectos ambientais especficos - Populao e padres de consumo e servios - Caractersticas econmicas prprias - Especificidades culturais e sociais
mais crescimento; modernizao produtiva e competitividade; mais educao e qualificao; menos pobreza e menos desigualdades; mais liberdade, mais democracia; mais justia social; mais desenvolvimento hoje; mais desenvolvimento amanh.
Quatro dimenses estratgicas foram identificadas:
dimenso econmico-social; dimenso geo-ambiental; dimenso cientfico-tecnolgica; dimenso poltico-institucional,
com seis reas estratgicas decorrentes:
conservao da natureza e proteo ambiental; ordenamento do espao regional; transformao produtiva e crescimento acelerado; capacitao dos recursos humanos e equidade; avano cientfico-tecnolgico e inovao; ao poltica, gesto e controle social.
O plano termina por estabelecer 21 programas priori-trios, atrelados s dimenses e reas estratgicas, como mostra a Tabela 2.
A nova estratgia de desenvolvimento sustentvel in-troduzida pelo Projeto ridas vem sendo utilizada pela maioria dos Estados do Nordeste, no estabelecimento de seus planos de governo.
Faz-se mister, entretanto, que esse novo paradigma seja efetivamente absorvido e aperfeioado ao longo do tempo, de modo a estabelecer um processo de desenvol-vimento regional verdadeiramente eficaz e duradouro.
Oportuno seria que se fizesse, atualmente, uma ampla avaliao dos primeiros resultados obtidos, com correo de rumos e possveis reajustamentos de programas e prio-ridades, na perspectiva de mdio e longo prazos.
SUSTENTABILIDADE HDRICA
Entenda-se por sustentabilidade hdrica do Semi-rido a manuteno continuada de um balano hdrico favorvel, em quantidade e qualidade, entre a oferta de gua com elevados nveis de garantia e a demanda social para usos mltiplos.
A gesto integrada dos recursos hdricos , portanto, fator primordial na consecuo do desenvolvimento sus-tentvel, tanto na dimenso econmico-social quanto na dimenso geo-ambiental (em particular, quanto ao orde-namento do espao regional).
Em regies ridas ou semi-ridas, em particular, a -gua tende a ser fator limitante ao prprio crescimento, podendo gerar conflitos de uso, escassez relativa e mesmo crises econmicas e sociais catastrficas.
O Semi-rido Brasileiro no foge a essa regra, sendo assim prioridade absoluta o estabelecimento de um pro-grama de gerenciamento de recursos hdricos, com caracte-rsticas prprias para a regio.
Os inmeros problemas inerentes ao desenvolvimen-to de um sistema integrado de gesto hdrica, com vistas a assegurar um balano hdrico favorvel no Semi-rido, se aglutinam em dois grandes desafios:
gerir complexidade, promovendo integrao; gerir riscos, promovendo segurana.
Complexidade versus integrao
A complexidade decorre da existncia simultnea de inmeros fatores e condies, e o desafio maior consiste exatamente na conciliao e harmonizao desses fatores, num processo de gesto integradora.
Faamos a anlise desse binmio complexida-de/integrao, atravs de suas componentes bsicas, no contexto da realidade nordestina.
Usos mltiplos - No Semi-rido, os usos predominan-tes da gua so: abastecimento humano e animal, com prioridade absoluta; abastecimento industrial; e irrigao. Como usos secundrios, temos piscicultura, energia e lazer.
-
RBRH - Revista Brasileira de Recursos Hdricos Volume 7 n.4 Out/Dez 2002, 105-112
107
Tabela 2. Programas prioritrios estabelecidos no projeto ridas.
Dimenses estratgicas reas estratgicas Programas prioritrios
Geo-ambiental
Conservao da natureza e proteo ambiental
-Gerenciamento dos recursos hdricos -Previso do clima e defesa dos efeitos das secas -Conservao de solos -Ampliao da biodiversidade -Controle ambiental da minerao
Ordenamento do espao regional
-Zoneamento ecolgico-econmico -Reorganizao do meio rural -Desenvolvimento urbano -Reforo da infra-estrutura
Econmico-Social
Transformao produtiva e crescimento acelerado
-Modernizao e expanso agro-pecuria -Reestruturao e expanso industrial -Promoo do turismo
Capacitao de recursos humanos e equidade
-Sade e habitao para todos -Educao para a modernidade -Qualificao para a produtividade -Combate pobreza
Cientfico-Tecnolgica Avano cientfico-tecnolgico e inovao -Tecnologia para o semi-rido -Tecnologia agropecuria -Tecnologia para a mudana social
Poltico-Institucional Ao poltica, gesto e controle social -Gesto integrada e descentralizada do desenvolvimento O atendimento desses usos torna-se um problema
crucial, face ocorrncia de secas peridicas e intermi-tncia dos escoamentos superficiais.
Por outro lado, as garantias necessrias ao forneci-mento de gua, para essas demandas, so bastante diferen-ciadas e a regularizao de vazes se d basicamente atra-vs de reservatrios de acumulao, custa de elevada perda de gua por evaporao.
Nessas circunstncias, o grande desafio no obter vazes regularizadas contnuas nem muito menos perenizar rios, mas sim ajustar rigorosamente a oferta demanda, que no nem constante nem contnua. Em outras pala-vras, o que se deseja perenizar o atendimento adequado s demandas, quer pelo suprimento direto nos locais solici-tados, quer pelo ajustamento espacial da prpria demanda atravs do ordenamento econmico e populacional.
Objetivos mltiplos - Outro desafio importante para a regio Nordeste, talvez mais do que para qualquer outra regio do pas, a conciliao dos objetivos econmicos, sociais e ambientais das obras hdricas, por tratar-se de rea socialmente carente, ambientalmente vulnervel e econo-micamente frgil.
O uso de avaliaes multi-critrio para a regio, na adequada combinao desses objetivos , consequente-mente, uma questo que precisa ser seriamente abordada, tanto pelos tomadores de deciso quanto pelos tcnicos, cientistas e planejadores.
Em muitas situaes, talvez seja mais prudente ma-ximizar o atendimento de necessidades sociais, respeitadas
certas exigncias ou restries de ordem econmica e ambiental, ao invs de priorizar o objetivo econmico, com restries ambientais e sociais.
Sustentabilidade social - A participao da sociedade no planejamento e na conduo de grandes empreendi-mentos hdricos na regio condio indispensvel:
legitimao das demandas hdricas; mobilizao dos interessados; sustentabilidade poltica; cogesto de bacias hidrogrficas.
No Nordeste, no h tradio associativista ou coo-perativista, especialmente no meio rural, onde as calamida-des climticas e o assistencialismo governamental, ao lado de um baixo nvel educacional, tm inibido esse tipo de aglutinao social, indispensvel ao desenvolvimento en-dgeno e formao de lideranas e empreendimentos comunitrios.
Ultimamente, entretanto, a implantao de comits de bacias em vrios Estados, com diferentes modelos de participao e representatividade social, alguns j exitosos, vem propiciando a crescente participao dos usurios de gua no processo de gesto.
Viso holstica - A gesto integrada dos recursos hdri-cos e a busca do desenvolvimento sustentvel pressupem uma viso holstica do Semi-rido, em todas as suas face-tas e dimenses.
-
Sustentabilidade do Semi-rido Brasileiro: Desafios e Perspectivas
108
Compreender a heterogeneidade e, ao mesmo tempo, identificar similaridades, tarefa primordial no planejamento e aproveitamento racional da gua.
H que se estabelecer um sistema regional de geren-ciamento hdrico, com a participao dos Estados e dos rgos regionais federais, ao lado dos usurios e da socie-dade civil.
Equipes multidisciplinares sero necessrias e o pro-cesso de integrao se dar em vrias direes:
ao longo do ciclo hidrolgico; no uso conjunto gua superficial/gua subterrnea; na conservao hidro-ambiental; na determinao do valor econmico e social da gua; na convivncia com eventos hidrolgicos extremos; na defesa civil; na determinao de indicadores de sustentabilidade e
no seu monitoramento.
H muito o que se aprender sobre o Semi-rido, mormente sobre o problema hdrico, para que a escassez relativa de gua no seja obstculo incontornvel ao pro-gresso, e sim fonte de criatividade no desenvolvimento de tecnologias apropriadas, com alta eficincia e pouco des-perdcio, tirando inclusive o necessrio proveito das vanta-gens comparativas que lhe so inerentes.
Somente a viso holstica conduzir a essa racionali-zao integradora, capaz de conciliar fragilidade ambiental com crescimento econmico sustentvel, capacidade de suporte dos solos com atividades agrcolas eficientes, vul-nerabilidade regional com competitividade industrial.
Parcerias - Embora consensual, o efetivo exerccio de parcerias uma questo a ser paulatinamente rersolvida, compreendendo:
parceria tcnico-cientfica entre profissionais das -reas tcnicas e sociais;
cogesto de bacias, entre setor pblico e setor privado; cooperao entre poder pblico federal e governos
estaduais; no setor de recursos hdricos, a influncia da Unio ainda preponderante e essa ao conjunta extremamente desejvel e necessria;
parceria entre administradores e legisladores, na bus-ca de sustentabilidade institucional dos sistemas de gesto.
Riscos versus segurana
As incertezas que nos cercam, em especial aquelas re-lacionadas hidrologia e aos sistemas hdricos, sejam elas de mbito natural ou de carter epistemolgico, nos colo-cam, inexoravelmente, na presena de riscos de toda or-dem fsicos, econmicos, ambientais, sociais, gerenciais com os quais temos que lidar, procurando, de um lado,
identific-los e minimiz-los, e de outro absorv-los ou mitig-los.
No Semi-rido, assolado pelas secas peridicas e a-meaado de deteriorao ambiental, a busca da segurana na implantao, manuteno, operao e uso racional dos sistemas hdricos, torna-se desafio permanente. Eis alguns aspectos especficos, no tratamento da segurana, face aos riscos.
Segurana de barragens - A extensa rede de reservat-rios de acumulao, ao longo de todo o Semi-rido, com audes de pequeno, mdio e grande portes, est a exigir um programa intenso e continuado de recuperao e manuten-o dessa grande infra-estrutura hdrica, de modo a se evitar o uso inadequado, o desfuncionamento, a destruio parcial ou total, com fortes consequncias sociais, ambien-tais e econmicas.
Estima-se, por exemplo, que somente no Estado do Cear, haja cerca de 30.000 audes espalhados por todo o territrio cearense, e a estimativa para todo o Semi-rido atingiria uma centena de milhares de barramentos.
Medidas preventivas ou mitigadoras - A identifica-o adequada dos riscos, com sua possvel quantificao, poder conduzir ao estabelecimento de medidas acautela-trias, de carter fsico ou mesmo comportamental, tais como diques de proteo, sistemas de alerta, bem como medidas mitigadoras ou de convivncia tolervel com os riscos e suas consequncias.
No caso especfico das secas, as medidas acautelat-rias e mitigadoras devem constituir um elenco permanente de aes, compatibilizadas com o planejamento de obras de mdio e longo prazos, deflagrando aes emergenciais, quando necessrio, sem desperdcio de recursos e de forma plenamente racional e integrada.
Vulnerabilidade natural - A vulnerabilidade natural da regio, especialmente em termos hidrolgicos e geo-ambientais, precisa ser profundamente estudada e analisa-da, de forma a se identificarem reas crticas, sua distribui-o espacial e as diversas formas e nveis de criticidade.
Das 24 bacias hidrogrficas do Nordeste, foram con-sideradas naturalmente vulnerveis aquelas de rios intermi-tentes e, ao mesmo tempo, com elevado ndice de evapo-transpirao potencial (dficit de evapotranspirao potencial superior prpria precipitao mdia), compree-endendo nove bacias:
Acara-Corea; Cur; Jaguaribe; Apod-Mossor; Piranhas-A; Leste Potiguar; Oriental da Paraba; Vaza-Barris;
-
RBRH - Revista Brasileira de Recursos Hdricos Volume 7 n.4 Out/Dez 2002, 105-112
109
Itapicuru-Real.
Uma classificao de reas crticas, em estudo relati-vamente recente (Vieira, 1999) levou s seguintes conclu-ses:
oito bacias foram consideradas crticas quanto dispo-nibilidade hdrica;
duas bacias foram consideradas crticas quanto poten-cialidade hdrica;
quinze bacias foram consideradas crticas quanto qualidade da gua;
dez bacias foram consideradas crticas quanto ao arma-zenamento estratgico.
Confiabilidade dos projetos - No que diz respeito ao estabelecimento de padres de segurana, quer para o funcionamento dos sistemas hdricos, quer para o balisa-mento da responsabilidade civil dos profissionais, mister se faz a introduo sistemtica da anlise de risco no processo de planejamento e gesto das obras, de forma a resultar em nveis aceitveis de qualidade, de confiabilidade e de com-petitividade. Neste sentido, algumas providncias come-am a ser tomadas pelo governo federal, ao exigir a adoo de critrios de sustentabilidade, na implantao de infra-estrutura hdrica (um Certificado de Avaliao da Susten-tabilidade da Obra, para obras de maior porte, passa a ser emitido pela Agncia Nacional de guas).
TENDNCIAS E PERSPECTIVAS
Desde a promulgao da Constituio Federal de 1988, vem se consolidando no pas a viso sistmica dos recursos hdricos e sua interao com os demais recursos naturais, na perspectiva do desenvolvimento sustentvel.
A lei federal n 9433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Poltica Nacional de Recursos Hdricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento, e a lei n 9984, de 17 de julho de 2001, que cria a Agncia Nacional de guas ANA, consolidam definitivamente essa posio, concomi-tantemente s leis estaduais de gua de todo o pas, especi-almente as dos Estados nordestinos, onde as constituies respectivas lhe atribuem especial ateno. A primeira lei de guas do Nordeste foi a do Estado do Cear, de n 11.996, de 24/07/92 e a ltima a do Piau, n 5.165 de 17/08/00.
Neste contexto de ordenao jurdica, de carter na-cional, no mbito dos recursos hdricos, e levando-se em conta a secular preocupao governamental com os pro-blemas das secas peridicas e as intervenes federais que se sucederam ao longo de dcadas na regio, ao lado do paulatino fortalecimento tcnico e administrativo dos Estados que a compem, podemos apontar algumas ten-dncias e perspectivas no tocante sustentabilidade hdrica e busca do desenvolvimento sustentvel no Semi-rido.
Gesto econmico-ambiental dos sistemas hdricos
Em que pese ser a bacia hidrogrfica a unidade de planejamento ideal para o aproveitamento dos recursos hdricos, no h como fugir aos ditames da diviso polti-co-administrativa dos Estados e municpios, nem viso integrada dos ecossistemas.
Assim, no Semi-rido, onde a gua insumo limitan-te e, por vezes, extremamente escasso, e sendo sua distri-buio espacial e temporal acentuadamente irregular, faz-se necessrio promover, artificialmente, atravs de audes, canais e adutoras, uma redistribuio mais adequada de suas disponibilidades naturais, de forma a atender, susten-tadamente, as demandas sociais crescentes. Neste sentido, a gesto da gua ser comandada pelos sistemas hdricos de acumulao, aduo e suprimento, sejam eles integrados por bacias, sub-bacias, regies hidrogrficas, bacias inter-conectadas, aquferos regionais, e at importaes de baci-as longnquas ou guas dessalinizadas dos oceanos.
O que vai comandar a gesto ser o atendimento das demandas sociais, atravs de sistemas hdricos tecnicamen-te concebidos, ambientalmente saudveis e economica-mente factveis.
Domnio das guas e unificao da outorga
A dualidade do domnio das guas, entre pblicas fe-derais e pblicas estaduais, encontra no Nordeste uma conotao prpria, por se tratar de regio assolada por calamidades climticas e, portanto, objeto de ateno espe-cial pela Unio. A atuao do DNOCS, desde 1909, na implantao de uma vasta infra-estrutura hdrulica e no combate aos efeitos das secas, simboliza o esforo do Governo Federal na gesto hdrica, e consequentemente na histrica prevalncia do domnio federal sobre as guas no Semi-rido.
Neste contexto, e pela preponderante existncia de bacias de rios intermitentes, o instrumento de outorga do direito de uso da gua se apresenta de forma mais conten-dente, mais necessria e at mesmo mais aceitvel pela populao. O que necessrio, entretanto, que se estabe-lea um processo unificado de outorga dos poderes outor-gantes, quer seja atravs de delegao federal, quer seja atravs de convnios ou de mera cooperao tcnico-administrativa.
Capacitao de recursos humanos
A preparao de quadros para a gesto racional dos recursos hdricos no Semi-rido, em todos os nveis de conhecimento, uma necessidade inadivel e crescente, haja vista o desenvolvimento dos sistemas estaduais de gerenciamento das guas e o desejvel crescimento eco-nmico ambientalmente sustentvel.
-
Sustentabilidade do Semi-rido Brasileiro: Desafios e Perspectivas
110
Programas de educao ambiental e de formao de agentes de gua so prenncios alvissareiros na maioria dos Estados, ressaltando-se, tambm a consolidao de cursos de ps-graduao em recursos hdricos e reas afins, em vrias universidades pblicas, citando-se a ttulo de exem-plo as universidades federais do Cear, da Paraba, de Per-nambuco, da Bahia e do Rio Grande do Norte.
Uma consequncia natural nesse processo de capaci-tao ser, a nosso ver, o aparecimento de novas reas de graduao, a flexibilizao das habilitaes profissionais, a evoluo de normas e padres tcnicos prprios para a regio, levando-se em conta os riscos e as incertezas ine-rentes hidrologia regional e capacidade de suporte dos solos e ecossistemas.
Institucionalizao do conceito de projeto dinmico
A prtica da construo de obras hidrulicas tem de-monstrado a dificuldade de se elaborar e licitar projetos completos, imutveis, inflexveis, tendo em vista as incerte-zas que permeiam a identificao dos materiais de constru-o, os processos construtivos, os solos de fundao, os eventos hidrolgicos, alm dos avanos tecnolgicos e-mergentes. Neste sentido, a soluo ideal ser instituciona-lizar a prtica dos chamados projeto bsico/projeto execu-tivo que aqui chamaria de projeto dinmico sem os traumas do super-faturamento, dos acrscimos de servi-os desnecessrios, da fiscalizao corrompida. O projeto definitivo ser sempre o projeto as built, devidamente deta-lhado, orado e oficialmente registrado.
Uma prtica que vem se afirmando, no contexto da implantao de usinas hidroeltricas, tem sido a dos contra-tos EPC (Engineering, Procurement and Construction), onde consrcios de empresas, envolvendo projeto, constru-o e comissionamento, assumem a responsabilidade total da obra, naturalmente com um sistema de fiscalizao ade-quado e competente. Isto exigir um aprimoramento do aparato legal quanto a licitaes, responsabilidade profissio-anl e civil, bem como o convencimento dos tomadores de deciso, em face de suas atribuies e rea de jurisdio.
Modelagem hidrometeorolgica
O estudo de eventos hidrolgicos extremos, notada-mente quanto a secas, crucial para o Nordeste. As previ-ses meteorolgicas, envolvendo tempo e clima, precisam ser definitivamente incorporadas ao processo decisrio, no s quanto ao planejamento e construo das obras, mas, sobretudo quanto sua operao em tempo real e implicaes no uso agrcola, na conservao da gua e em eventuais racionamentos.
Assim, modelos hidrometeorolgicos precisam ser desenvolvidos, envolvendo o trinmio previso-precipitao-escoamento, bem como sistemas de alerta de cheias e secas, estas ltimas compreendendo previses
climticas sazonais, de difcil determinao cientfica, mas de incomensurvel alcance social.
Operao integrada de sistemas hdricos
A existncia de grande nmero de audes nas bacias do Semi-rido e a sua construo gradativa ao longo dos anos, atravs de projetos isolados, esto a exigir, atualmen-te, a operao integrada dos reservatrios, com possvel ampliao da eficincia global e sistemas de deciso em tempo real, com suporte informtico adequado e operado-res habilitados.
Um aspecto interessante a se ressaltar a manipula-o de garantias de vazes regularizadas diferenciadas, quer em termos de controle de oferta, quer em termos de aten-dimento aos usurios outorgados.
Por outro lado a participao da sociedade, na opera-o dos sistemas hdricos, passa a ser de extrema relevn-cia, tanto no que diz respeito ao controle e preservao da gua, quanto ao estabelecimento de critrios de cobrana, tarifas, subsdios cruzados, compensaes, realocaes hdricas e outros mecanismos de mercado.
Modelos regionais de participao social
Os Estados nordestinos vm experimentando diver-sas formas de participao social no processo de planeja-mento e gesto de recursos hdricos, na busca de modelos apropriados regio, adequados realidade cultural e soci-al das populaes rurais.
um processo lento que envolve diversos fatores poltico-institucionais, postura tica, comunicao social, e que exige efetiva adeso e participao populares. Esse autntico envolvimento da populao, notadamente numa regio onde ainda predominam o assistencialismo, o coro-nelismo e a desqualificao profissional, tende a exigir um esforo mais intenso e sistemtico na direo de:
formao da cidadania; mobilizao social; representatividade poltica; legitimidade; modernizao do exerccio democrtico; acompanhamento e controle social.
Avanos promissores tm se verificado, atravs de comits de bacias, associaes de usurios, grupos de a-companhamento de obras como o caso do Aude Casta-nho, no Cear, onde um Grupo Multiparticipativo tem contribudo decisivamente para a definio e implantao de aes mitigadoras e que resultou, inusitadamente, na construo antecipada da nova cidade de Jaguaribara, a ser inundada pelo reservatrio, ainda no completamente construdo.
-
RBRH - Revista Brasileira de Recursos Hdricos Volume 7 n.4 Out/Dez 2002, 105-112
111
Por outro lado, a tendncia dos comits de bacias, com composio variada de Estado para Estado, a de ampliar o seu poder de deciso, com atribuies menos consultivas e mais deliberativas.
Seguro para eventos hidrolgicos extremos
Embora ainda sem iniciativas palpveis, o setor de seguros, seja pblico, seja privado, haver de desenvolver sistemas de prmios e seguros para situaes de calamidade pblica, tais como secas e inundaes. A frequncia desses eventos to marcante e a populao envolvida e os preju-zos econmicos de tal magnitude que atrairo investimen-tos espontneos ou mesmo induzidos pelo poder pblico.
O que est faltando realmente so estudos estatsticos e atuariais confiveis, resultantes de dados e levantamentos fidedignos, para o embasamento tcnico e cientfico desses empreendimentos e para a sua sustentabilidade econmi-co-financeira.
Integrao dos sistemas nacional e estaduais de gerenciamento
Na regio Nordeste, os sistemas estaduais de gerenci-amento de recursos hdricos esto sendo implantados e desenvolvidos, embora em estgios diferenciados, e sua efetiva integrao com o sistema nacional, ora em implan-tao atravs da Agncia Nacional de gua e da Secretaria Nacional de Recursos Hdricos, ao mesmo tempo, uma tendncia e uma absoluta necessidade. O uso dos instru-mentos de gesto outorga, cobrana, planos, sistemas informticos, rateio de custos no Semi-rido, depende, substancialmente, por razes histricas e scio-econmicas, desse processo de integrao.
Os fundos de recursos hdricos, preconizados por todos os Estados para proporcionar sustentabilidade fi-nanceira ao sistema de gesto, requerem no Semi-rido maior empenho, em face da quase inexistncia de compen-saes financeiras oriundas da produo de energia hidroe-ltrica, embora encontrem maior receptividade na cobran-a pelo uso de gua bruta, por parte da populao, acostumada intermitncia dos rios.
Agncias regionais de gua
Entendemos que no Nordeste no haver condio de instalao de uma agncia de gua para cada comit de bacia. Tende a predominar a aglutinao de bacias, por iniciativa prpria ou por induo governamental.
A criao de uma s agncia, para todo um Estado, ser uma das alternativas viveis. o caso do Cear, onde a COGERH vem realizando, a contento, esta funo, sem detrimento de seu desdobramento em escritrios executi-vos regionais.
CONCLUSES E RECOMENDAES
Diante do exposto, e tendo sempre em vista a pro-moo do desenvolvimento sustentvel do Semi-rido Brasileiro, sintetizamos aqui algumas concluses e reco-mendaes:
A sustentabilidade hdrica da regio entendida co-mo o atendimento continuado e consistente das de-mandas da sociedade atravs de uma oferta hdrica garantida, em quantidade e qualidade condio si-ne qua non para a consecuo do desejado desenvol-vimento sustentvel.
A irregularidade da distribuio natural dos recursos hdricos, no tempo e no espao exigir, necessaria-mente, uma redistribuio interna desses recursos, com extenso uso de reservatrios de acumulao e regularizao de vazes, interconexo de bacias, ca-nais e adutoras, operao integrada de reservatrios, bem como o uso conjunto e racional de guas super-ficiais e subterrneas.
Futuramente, a relativa escassez regional implicar na necessidade de importao de gua de outras bacias hidrogrficas, notadamente da bacia amaznica, e a-inda, quando econmicamente vivel, da dessaliniza-o da gua do mar, na faixa litornea densamente povoada.
H necessidade do desenvolvimento de um sistema regional de gerenciamento de recursos hdricos, compatibilizando as aes em bacias federais e esta-duais, identificando modelos de gesto participativa adaptados ao Semi-rido, e especialmente procuran-do solues para problemas comuns, tirando provei-to das vantagens comparativas regionais, em benef-cio de cada Estado e da regio como um todo.
O estabelecimento de um Frum do Semi-rido, seja ele no formato de cmara tcnica do Conselho Nacional de Recursos Hdricos, seja atravs de a-es conjuntas das Secretarias Estaduais de Recur-sos Hdricos, seja via comisso especfica da ANA, parece ser o caminho adequado para a manuteno de uma viso global, inteligente, da problemtica do Semi-rido como regio hidrolgica atpica, ambi-entalmente vulnervel mas econmica e politica-mente vivel.
A capacitao de recursos humanos, no s para a criao de um sistema de monitoramento geo-ambiental, mas tambm para a gesto integrada dos recursos naturais, com particular nfase aos recursos hdricos, tarefa primordial, que dever mobilizar o poder pblico, as universidades e a sociedade organi-zada em geral.
Finalmente, o aparato institucional e legal precisa ser aperfeioado, de modo a promover a perfeita harmo-nia dos nveis de poder, a simplificao processual das demandas judiciais e sobretudo a soluo de con-flitos entre gestores e usurios da gua, com emba-samento tcnico-cientfico irrefutvel.
-
Sustentabilidade do Semi-rido Brasileiro: Desafios e Perspectivas
112
REFERNCIAS
CMMAD (1991). Comisso Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Nosso Futuro Comum, FGV, Rio de Janeiro.
IPEA (1995). Projeto ridas Nordeste: Uma Estratgia de Desenvolvimento Sustentvel, Braslia.
MUSCHETT, F. D. (1997). Editor. Principles of Sustainable Development, St Lucie Press, Florida.
VIEIRA, V. P. P. B. (1999). Disponibilidades Hdricas do Nordeste, in Disponibilidade de gua e Fruticultura Irrigada no Nordeste, ISPN, Braslia.
Sustainability of Brazilian Semi-Arid Regions: Challenges and Perspectives
ABSTRACT
Based on a sustainable development framework, with particular emphasis on the Brazilian Semi-Arid region, a concept of water sustainability is presented, and the two big water management challenges are identified: complexity and risks. Themes such as multiple uses, social sustainability, holistic vision, partnerships, security, vulnerability, are considered. Several trends are indicated, comprising, among others: economical-environmental water basins management, water permits, capacity building, hydrometeorological modeling, integrated systems operation, social participation models. Finally, some recommendations are made, including the development of a regional water management system and the establishment of a Water Forum for the Semi-Arid region.
Key Words: sustainability; semi-arid regions; challenges.

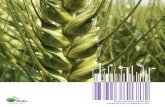
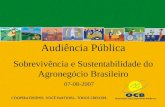



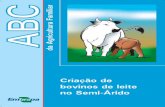










![RelatóRio de SuStentabilidade 2016...[ G4-1, G4-2 ] É com orgulho que apresentamos o segundo Relatório de Sustentabilidade do Grupo Vittia, um dos líderes do mercado brasileiro](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5f4daa684eb04076b3110574/relatrio-de-sustentabilidade-2016-g4-1-g4-2-com-orgulho-que-apresentamos.jpg)


