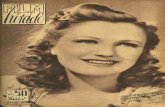T JoanaRuivo
-
Upload
andreia-ferreira -
Category
Documents
-
view
17 -
download
3
Transcript of T JoanaRuivo
-
Joana Sofia Pais Ruivo
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em Cosmtica e
Dermatologia
Universidade Fernando Pessoa
Faculdade de Cincias da Sade
Porto, 2012
-
Joana Sofia Pais Ruivo
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em Cosmtica e
Dermatologia
Universidade Fernando Pessoa
Faculdade de Cincias da Sade
Porto, 2012
-
Joana Sofia Pais Ruivo
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em Cosmtica e
Dermatologia
Porto, 2012
Monografia apresentada Universidade
Fernando Pessoa como parte dos requisitos
para a obteno do grau de Mestre em
Cincias Farmacuticas.
Orientadora:
Professora Doutora Rita Oliveira
-
Resumo
O presente trabalho de monografia descreve a aplicao de vrios extractos e/ou
compostos vegetais em preparaes cosmticas e dermatolgicas, com uma breve
descrio da sua principal utilizao, parte(s) da planta usada(s), as substncias activas
responsveis pelos efeitos e benefcios pretendidos, e eventuais reaces adversas.
Adicionalmente procede-se a uma sucinta caracterizao da anatomofisiologia da pele,
tipos e estados da pele, e fitoqumica dos componentes naturais, para uma melhor
compreenso do modo de actuao das formulaes cosmticas e dermatolgicas
contendo ingredientes de origem natural.
Abstract
The present monograph work describes the application of some extracts and/or
vegetable compounds in cosmetic and dermatologic preparations, with a brief
description of its major use, plant part(s) used, the actives responsible for the effects and
benefits intended, and eventual adverse reactions.
Furthermore, it characterizes the anatomophysiology of the skin, types and skin
conditions, and the phytochemistry of the natural compounds, in order to better
understand the mode of action of the cosmetic and dermatologic formulations
containing natural ingredients.
-
Agradecimentos
com muita satisfao que aqui expresso o meu mais profundo agradecimento a todos
aqueles que tornaram possvel a realizao deste trabalho.
Assim, agradeo de forma particular, expressando imensa gratido e reconhecimento:
Professora Doutora Rita Oliveira, pela competncia com que orientou este trabalho, e
pelo tempo que generosamente me dedicou, transmitindo-me os melhores e mais teis
ensinamentos, com pacincia, lucidez e confiana. Pelo acesso que me facilitou a uma
pesquisa mais alargada e enriquecedora, e pela sua crtica sempre atempada e
construtiva.
minha famlia, pais, irmo e av, pela confiana que em mim depositaram, apoio e
incentivo constantemente demonstrados.
Ao Joo Rocha, Marta Alves, ao Filipe Barbosa, ao Francisco Dias, Joana Fonte e
Isa Ferreira pelo carinho, pela inesgotvel pacincia, incentivo, apoio e amizade sempre
demonstrados, mais ainda ao longo deste trabalho.
Um sincero e enorme muito obrigado!
-
I - ndice
Captulo I Introduo .................................................................................................. 1
1. Constituintes das Plantas com interesse em Cosmtica e Dermatologia ............ 3
1.1. Fitoqumica .......................................................................................................... 3
1.1.1. Glcidos ................................................................................................................. 3
1.1.2. Lpidos ................................................................................................................... 6
1.1.2.1. Etlidos e Ceras Vegetais ........................................................................... 6
1.1.2.2. leos Gordos Vegetais ............................................................................... 7
1.1.3. cidos Orgnicos e steres de cidos Aromticos........................................... 8
1.1.4. Compostos Fenlicos ......................................................................................... 11
1.1.4.1. Taninos e Procianidinas Oligomricas ................................................. 11
1.1.4.2. Compostos Cumarnicos ........................................................................ 13
1.1.4.3. Flavonoides .............................................................................................. 14
1.1.4.4. Antociansidos ........................................................................................ 15
1.1.5. Terpenos e Terpenoides .................................................................................... 16
1.1.5.1. leos Essenciais ...................................................................................... 16
1.1.5.2. Iridoides ................................................................................................... 18
1.1.5.3. Fitoestrognios ........................................................................................ 19
1.1.5.4. Saponsidos ............................................................................................. 21
1.1.6. Sais Minerais (Oligoelementos) ........................................................................ 22
1.1.7. Protenas e Aminocidos ................................................................................... 22
1.1.8. Vitaminas ............................................................................................................ 24
2. Noes em Fitocosmtica ...................................................................................... 32
2.1. Tipos de Extratos ............................................................................................... 33
2.1.1. Extratos Fluidos ...................................................................................... 34
2.1.2. Extratos Moles ........................................................................................ 34
2.1.3. Extratos Secos ......................................................................................... 34
2.2. Preparao de Extratos ..................................................................................... 35
2.3. Monografias das plantas mais usadas em preparaes dermocosmticas ... 41
-
2.3.1. Alecrim (Rosmarinus officinalis) ......................................................................... 42
2.3.2. Alo (Aloe vera) ................................................................................................... 43
2.3.3. Arnica (Arnica montana) .................................................................................... 44
2.3.4. Aveia (Avena sativa) ........................................................................................... 45
2.3.5. Calndula (Calendula officinalis) ...................................................................... 46
2.3.6. Camomila (Matricaria recutita) ......................................................................... 47
2.3.7. Centelha Asitica (Centella asiatica) ................................................................ 48
2.3.8. Ginkgo (Ginkgo biloba) ...................................................................................... 49
2.3.9. Ginseng (Panax ginseng) .................................................................................... 50
2.3.10. Hamamlia (Hamamelis virginiana)........................................................... 51
2.3.11. Jojoba (Simmondsia chinensis) ................................................................... 52
2.3.12. Rcino (Ricinus communis) .......................................................................... 53
2.3.13. Soja (Glycine max)....................................................................................... 54
Captulo III Controlo de Qualidade ........................................................................ 55
1. Identificao da Planta ...................................................................................... 55
2. Macro e Micromorfologia ................................................................................. 55
3. Espectroscopia UV/VIS e IV de constituintes botnicos ................................ 56
4. Cromatografia em Camada Fina (CCF), Gasosa (CG) e Lquida (HPLC) . 56
5. Estabilidade ........................................................................................................ 57
6. Segurana ........................................................................................................... 58
Captulo IV Estado da Arte ...................................................................................... 59
1. Novas Aplicaes ............................................................................................... 59
a) Alo (Aloe vera) ....................................................................................... 59
b) Arnica (Arnica montana) ......................................................................... 60
c) Calndula (Calendula officinalis) ........................................................... 61
d) Centelha Asitica (Centella asiatica) ..................................................... 62
e) Ginkgo (Ginkgo biloba) ........................................................................... 63
f) Ginseng (Panax ginseng) ......................................................................... 64
Concluso ...................................................................................................................... 66
Bibliografia .................................................................................................................... 67
-
Anexos ............................................................................................................................ 79
-
II - ndice de Figuras
Figura 1 Representao esquemtica da pele ................................................................. 2
Figura 2 Amido ............................................................................................................... 4
Figura 3 Sacarose ........................................................................................................... 4
Figura 4 cido algnico .................................................................................................. 5
Figura 5 cido pctico ................................................................................................... 6
Figura 6 Estrutura geral de um AHA ............................................................................. 8
Figura 7 cido mlico .................................................................................................... 8
Figura 8 cido ctrico ..................................................................................................... 9
Figura 9 cido saliclico ................................................................................................ 9
Figura 10 cido cafeico ............................................................................................... 11
Figura 11 cido clorognico ........................................................................................ 11
Figura 12 cido rosmarnico ........................................................................................ 11
Figura 13 Epicatequina ................................................................................................. 12
Figura 14 Procianidina B-2 .......................................................................................... 12
Figura 15 cido glhico ............................................................................................... 12
Figura 16 Cumarina ...................................................................................................... 13
Figura 17 Flavona ......................................................................................................... 14
Figura 18 Eriodictiol ..................................................................................................... 14
Figura 19 Campferol ..................................................................................................... 14
Figura 20 Frmula estrutural de uma antocianidina ..................................................... 15
Figura 21 Isopreno ........................................................................................................ 16
Figura 22 -pineno ....................................................................................................... 17
Figura 23 Farnesol ........................................................................................................ 17
Figura 24 Harpagsido ................................................................................................. 19
Figura 25 Genistena ..................................................................................................... 20
Figura 26 Sntese de vitamina A................................................................................... 25
Figura 27 Tocoferis .................................................................................................... 27
Figura 28 Vitamina F .................................................................................................... 29
Figura 29 cido ascrbico ............................................................................................ 29
Figura 30 Tiamina ........................................................................................................ 31
Figura 31 Riboflavina ................................................................................................... 31
Figura 32 Nicotinamida ................................................................................................ 31
-
Figura 33 cido pantotnico ........................................................................................ 31
Figura 34 Piridoxina ..................................................................................................... 32
Figura 35 Biotina .......................................................................................................... 32
Figura 36 cido flico .................................................................................................. 32
Figura 37 Alecrim (Rosmarinus officinalis) ................................................................. 42
Figura 38 Alo (Aloe vera) ........................................................................................... 43
Figura 39 Arnica (Arnica montana) ............................................................................. 44
Figura 40 Aveia (Avena sativa) .................................................................................... 45
Figura 41 Calndula (Calendula officinalis) ................................................................ 46
Figura 42 Camomila (Matricaria recutita) .................................................................. 47
Figura 43 Centelha Asitica (Centella asiatica)........................................................... 48
Figura 44 Ginkgo (Ginkgo biloba) ............................................................................... 49
Figura 45 Ginseng (Panax ginseng) ............................................................................. 50
Figura 46 Hamamlia (Hamamelis virginiana) ............................................................ 51
Figura 47 Jojoba (Simmondsia chinensis) .................................................................... 52
Figura 48 Rcino (Ricinus communis) .......................................................................... 53
Figura 49 Soja (Glycine max) ....................................................................................... 54
Figura 50 Ratinhos C57BL6 ......................................................................................... 65
As figuras correspondentes fitoqumica so adaptadas do stio
. No que respeita s imagens das plantas,
as ilustraes so adaptadas do stio .
-
III - ndice de Tabelas
Tabela 1 Percentagem de isolados clnicos recolhidos de infeces cutneas ............. 59
Tabela 2 Estudo comparativo da folha e gel de A. vera com antibiticos padro contra
isolados clnicos recolhidos de infeces cutneas ......................................................... 59
Tabela 3 Efeitos tpicos do extracto de P. ginseng na regenerao do plo em ratinhos
C57BL6 ........................................................................................................................... 65
Tabela 4 Tipos e estados de pele e respetivo tratamento esttico ................................ 80
-
IV - ndice de Abreviaturas
AHA Alpha Hydroxy Acids (Alfa Hidroxicidos)
BHA Beta Hydroxy Acids (Beta Hidroxicidos)
DNA Deoxyribonucleic Acid (cido Desoxiribonucleico)
GRAS Generally Recognized As Safe (Genericamente reconhecido como seguro)
RNAm Messenger Ribonucleic Acid (cido Ribonucleico Mensageiro)
ROS Reactive Oxygen Species (Espcies Reativas de Oxignio)
SNC Sistema Nervoso Central
TEWL Transepidermal Water Loss (Perda de gua Transepidrmica)
UV Ultraviolet (Ultra-violeta)
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
1
Captulo I Introduo
A contribuio do Reino das Plantas remonta antiguidade, praticamente inserida em
todas as culturas e civilizaes, como fonte medicinal, nutricional, cultural e esttica, e
descrita em manuscritos antigos, como a Bblia, nos quais as plantas eram designadas
como ddivas dos criadores, e vistas com grande respeito e admirao (Hoareau e Da
Silva, 1999).
A grande incidncia de plantas aromticas na China e ndia conduziu extrao de
leos essenciais. Tambm o Egito, e posteriormente a Mesopotmia, se destacaram no
conhecimento e emprego destes leos e extratos vegetais em preparaes de unguentos
e blsamos com finalidades cosmticas (DAmelio, 1999).
Clepatra, conhecida pela sua vaidade, motivou a pesquisa cosmtica e um primeiro
formulrio Cleopatre Gynoecirium Libri , editado durante o seu reinado, e no qual se
descreveram cuidados higinicos e tratamentos de diversas afees cutneas, bem como
formas farmacuticas base de plantas e leos vegetais com finalidade teraputica e
cosmtica (Teske e Trentini, 2001).
Do Oriente, a utilizao de produtos naturais difundiu-se para o mundo grego, tendo
surgido no ano IV o formulrio de Ovdio Os Remdios Para o Rosto Feminino ,
dedicado cosmtica, e no qual so mencionadas receitas e pomadas da poca base de
vegetais (Camargos et al., 2009). A partir desta poca, o estudo dos vegetais e a
aplicao dos seus constituintes, quer na forma de extratos ou substncias ativas
isoladas, tem ganho cada vez mais espao na indstria cosmtica moderna e atual.
Em termos anatomofisolgicos, a pele humana, como maior rgo e mais complexo do
organismo humano, integra vrias camadas, cada uma com uma nica estrutura e
funo, sendo que o conhecimento acerca do comportamento mecnico dessas camadas
permite uma maior facilidade na investigao clnica e de cosmticos, como o
desenvolvimento de produtos de cuidado pessoal e para a compreenso da dinmica de
certas patologias cutneas (Barata, 2002; Geerligs, 2009).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
2
Figura 1 Representao esquemtica da pele (adaptado de Williams, 2003).
Sumariamente, em termos de funes, a pele representa uma barreira contra o ambiente
externo hostil, previne a perda excessiva de gua do ambiente aquoso interior, assim
como a penetrao de microrganismos e qumicos, e proporciona maior resistncia e
rigidez para resistir carga mecnica (Barata, 2002; Geerligs, 2009).
As classificaes clssicas do tipo de pele, descritas no anexo 1, para alm dos vrios
estados da pele, contemplam, essencialmente, o equilbrio existente ao nvel do filme
hidrolipdico, sendo tambm importante considerar outros parmetros, tanto a nvel
histolgico, como na vascularizao, pigmentao, secrees, pH cutneo, o grau de
hidratao, o exame visual, assim como o exame ttil, por forma a obter uma correta
caracterizao do tipo de pele. Deste modo, poder-se- selecionar o tratamento
cosmtico mais adequado ao tipo de pele em questo (Cunha et al., 2008; Barata, 2002).
Os desenvolvimentos cientficos dos ltimos sculos tm permitido o atendimento das
necessidades bsicas (alimentao, sade e vesturio) de uma grande parte da crescente
populao humana, pelo que o aumento da qualidade de vida e da longevidade da
populao faz com que tanto os homens como mulheres dediquem mais tempo, recursos
e esforos ao cultivo da higiene pessoal e da melhor aparncia possvel ao longo da sua
vida (Galembeck e Csordas, 2010; Gediya et al., 2011). Adicionalmente, a
fitocosmtica representa atualmente um setor em ntido crescimento, no s pelo
avano na investigao cientfica, mas tambm pelas reais vantagens na aplicao de
produtos vegetais relativamente a alguns produtos sintticos, e pela sociedade que vem
exigindo a adoo de tecnologias de produo econmicas, ecolgicas e seguras, que
por sua vez, requerem um enorme esforo por parte dos investigadores na pesquisa de
compostos distintos, naturais e competitivos (Draelos, 2001; Kole et al., 2005).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
3
Captulo II Caracterizao dos Produtos usados em Fitocosmtica
1. Constituintes das Plantas com interesse em Cosmtica e Dermatologia
1.1.Fitoqumica
Em termos fitoqumicos, os principais constituintes vegetais encontram-se agrupados de
acordo com o seu componente principal, tendo em conta a sua origem biogentica, com
descrio das suas caractersticas qumicas e modo de atuao sobre a pele, e com
interesse em Cosmtica e Dermatologia.
Deste modo, o captulo incide inicialmente numa descrio concisa dos compostos do
metabolismo celular primrio, ou seja, pelos glcidos, que incluem, para alm das oses,
os seus derivados diretos (poli-holsidos homogneos e heterogneos), posteriormente
os cidos orgnicos e steres de cidos aromticos, lpidos, e finalmente os metabolitos
secundrios que possuem atividade farmacolgica.
1.1.1. Glcidos
Os glcidos constituem macromolculas polimricas orgnicas, abundantes na
Natureza, resultantes do metabolismo primrio dos vegetais. Nas plantas, apresentam-se
essencialmente sob a forma de poli-holsidos, tambm designados de polissacridos,
de elevado peso molecular, resultantes da condensao de um grande nmero de
molculas de oses (aldoses ou cetoses) ou de seus derivados, com duas grandes
subdivises: os poli-holsidos homogneos e os poli-holsidos heterogneos (mistos)
(Cunha, 2005; Cunha et al., 2008; Juez e Gimier, 1995).
Em cosmtica, os polissacridos desempenham uma vasta gama de funes, entre as
quais se destacam a sua ao como modificadores reolgicos, agentes suspensores,
acondicionadores do cabelo e cicatrizantes de feridas, e pelas suas propriedades
hidratantes, emulsificantes e emolientes (Gruber e Goddard, 1999).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
4
Os polissacridos homogneos (poli-holsidos
homogneos no inicos naturais) originam, por hidrlise, a
mesma ose, que se repete regularmente, como o caso do
amido (formado por um grande nmero de molculas de
glucose) e da maltose (formada por duas molculas de
glucose) (Cunha, 2005; Gruber e Goddard, 1999).
Figura 2 Amido
A sua ao consiste em fixar a gua de forma lenta, e conservar durante muito tempo
uma estrutura amorfa, substituindo, preferencialmente, as molculas de gua por
substncias polifenlicas (Cunha et al., 2008).
Figura 3 - Sacarose
Por outro lado, os polissacridos heterogneos (poli-
holsidos heterogneos) possuem dois ou mais resduos
de oses diferentes, como por exemplo a sacarose (formada
por glucose e frutose), que podem estar ou no associados
a cidos urnicos (Cunha, 2005).
No caso da associao com cidos urnicos, designados de poliurnidos,
polissacridos aninicos naturais, destacam-se as gomas clssicas, as mucilagens de
algas e plantas superiores e as substncias pcticas, compostos de relevante interesse
em cosmtica pela sua enorme capacidade de reteno de gua, teis na hidratao da
pele (Cunha, 2005; Cunha et al., 2008; Gruber e Goddard, 1999).
As gomas, de que so exemplos as gomas adraganta, arbica e caraia, provenientes
de exsudatos vegetais, caracterizam-se por apresentar cidos urnicos resultantes da
oxidao das oses no seu lcool primrio para alm das oses, sendo parcial ou
totalmente dispersveis em gua, e insolveis nos solventes orgnicos (Cunha, 2005).
Exsudam naturalmente ou aps inciso (traumatismo na planta), com possibilidade de
formar solues coloidais ou geles em contacto com gua, revelando-se atxicas e como
compostos GRAS para utilizao em cosmtica (Cunha, 2005, Gruber e Goddard, 1999).
A sua utilidade em cosmtica resulta da sua ao tensioativa, sob a forma de
tensioativos secundrios, assim como das suas capacidades emoliente e filmognea, que
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
5
explicam o seu emprego na manuteno do cabelo, como estabilizadoras de espuma e
emolientes gengivais em dentfricos (Juez e Gimier, 1995).
As mucilagens so consideradas como constituintes celulares normais localizados em
clulas ou canais especializados, muitas vezes no tegumento externo das sementes
(neutras), constitudas por manose e outras oses, como a glucose e galactose (Cunha,
2005; Cunha et al., 2008; Gruber e Goddard, 1999).
As mucilagens de algas incluem compostos com grande interesse
em vrios campos, como o cido algnico e alginatos, gar-gar
e carrageninas. Salvo raras excees, a matriz celular das algas
de natureza glucdica e os poli-holsidos que as constituem so
polmeros capazes de formar geles, pelo facto das plantas
marinhas necessitarem de maior flexibilidade do que rigidez, em
relao s plantas terrestres (Cunha, 2005; Gruber e Goddard,
1999).
Figura 4 cido Algnico
As propriedades emoliente e suavizante das mucilagens permitem a sua aplicao
externa no alvio da secura e tratamento de inflamaes (anti-inflamatrias), ao formar
um filme calmante sobre a pele, sendo tambm usadas como agentes suspensores em
cosmtica e na tecnologia farmacutica (Arbujai e Natsheh, 2003; Cunha, 2005).
As substncias pcticas podem apresentar-se sob a forma solvel, as pectinas, ou
insolvel, as propectinas. As pectinas constituem polissacridos de suporte celular, mais
propriamente cidos pcticos metilados, polmeros que tm por base resduos repetidos
do cido -galacturnico, ocasionalmente interrompidos por unidades de ramnose, e que
formam geles na presena de acar e outros polilcoois, em meio cido. Localizam-se
principalmente na camada mdia da parede das clulas vegetais, particularmente
abundantes em frutos no maduros do gnero Citrus (Cunha, 2005; Cunha et al., 2008;
Gruber e Goddard, 1999).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
6
Figura 5 cido Pctico
Na tecnologia farmacutica so usadas como emulsionantes,
espessantes ou gelificantes em pomadas, cremes e suspenses,
sendo que a sua elevada capacidade de reter gua, com fcil
formao de geles, permite a sua aplicao em cosmtica
exercendo um efeito protector sobre a pele (Cunha et al., 2008).
1.1.2. Lpidos
A classificao dos lpidos, compostos orgnicos insolveis em gua, solveis em
solventes orgnicos apolares e em solues aquosas alcalinas, fundamenta-se no seu
estado fsico, podendo distinguir-se os leos (lquidos temperatura ambiente) e as
ceras (de aspeto duro, mas frgil), embora seja mais apropriada e rigorosa a
classificao determinada pela composio qumica (Cunha, 2005; Griffin e Cunnane,
2009).
1.1.2.1. Etlidos e Ceras Vegetais
Os etlidos derivam da esterificao que envolve hidroxilos substituintes na cadeia de
cidos gordos de estrutura particular, os cidos gordos -hidroxilados, como o caso
dos cidos sabnico e juniprico. Ocorrem restritamente em algumas espcies vegetais,
pertencendo ao revestimento ceroso de folhas e frutos, protegendo-os da desidratao
(Cunha, 2005; Cunha et al., 2008).
As ceras vegetais, constitudas predominantemente por cridos, constituem lpidos
derivados da esterificao de lcoois alifticos de peso molecular mdio e elevado
(lcoois gordos saturados), de elevado ponto de fuso, e que desempenham funes de
proteo interna, de revestimento e proteo externa de caules, folhas e sementes
vegetais, criando uma barreira impermevel gua (Cunha, 2005; Cunha et al., 2008;
Barata, 2002).
Pelas suas particularidades, as ceras vegetais so bastante aplicadas na formulao de
sticks labiais decorativos (batons), ao passo que a obteno de extratos gliclicos de
ambos os compostos revela interesse pela ao protetora exercida sobre a pele,
particularmente em peles sensveis ou inflamadas (Barata, 2002; Cunha et al., 2008).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
7
1.1.2.2. leos Gordos Vegetais
Os leos gordos vegetais so principalmente constitudos por triglicridos de cidos
gordos saturados e insaturados na forma slida ou lquida, podendo abranger pequenas
quantidades de outros lpidos como ceras, cidos gordos livres, glicridos parcialmente
esterificados ou substncias insaponificveis (F.P. 8, 2005; Barata, 2002).
Este tipo de leos, obtido a partir das sementes, do fruto ou do caroo de diversas
plantas, por expresso e/ou extrao por meio de solventes, pode eventualmente ser
sujeito a refinao, descolorao, desodorizao e a tratamentos que reduzam os seus
ndices de acidez e de perxidos, dada a sua suscetibilidade auto-oxidao (rano), a
fim de satisfazer as suas caractersticas organolticas (F.P. 8, 2005; Juez e Gimier,
1995; Barata, 2002).
Os compostos minoritrios justificam precisamente, em muitos casos, a utilizao
cosmtica deste tipo de leos, uma vez que, para alm das aes hidrfoba e protetora,
possuem uma atividade eutrfica que poder melhorar as caractersticas de peles
alpicas e descamantes ao reduzir o TEWL, formando filmes extremamente oclusivos
sobre a pele (Cunha, 2005; Aburjai e Natsheh, 2003).
Na alimentao, a deficincia dos cidos gordos que compem os leos gordos vegetais
possibilita o desenvolvimento de eczemas a nvel cutneo, podendo alterar a
composio dos fosfolpidos das membranas celulares, perturbando a sntese de
eicosanides, metabolitos derivados de cidos gordos poli-insaturados (Cunha, 2005;
Cunha et al., 2008).
Com interesse na teraputica cutnea so referidos os leos de sementes de onagra
(Oenothera biennis), por forma a manter a elasticidade da pele, prevenindo o
aparecimento de rugas e atuando na dermatite atpica, e o de borragem (Borago
officinalis) aplicado externamente em afees drmicas como anti-inflamatrio, e em
cosmtica no rejuvenescimento drmico (Anthony, 2009; Kapoor et al., 2009).
De acordo com Cunha (2005), o teor em insaponificvel, frao constituda por
substncias no volteis a 100-105C, no neutralizveis e no hidrolisveis em meio
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
8
alcalino, e que por isso no originam sabes, representa um parmetro marcante nos
leos gordos vegetais pelos fitoestrognios e tocoferis, dada a capacidade destes
compostos regenerarem o tecido cutneo. Deste modo se reala o interesse em
cosmtica dos leos obtidos dos grmenes de milho e trigo, particularmente ricos nestes
compostos (Juez e Gimier, 1995; Cunha, 2005; Cunha et al., 2008).
1.1.3. cidos Orgnicos e steres de cidos Aromticos
Um grupo de cidos, os -hidroxicidos (AHA), representa uma
classe de cidos orgnicos no txicos que, quando aplicados
topicamente produzem efeitos especficos sobre o estrato crneo,
epiderme, papilas drmicas e sobre os folculos pilossebceos,
essencialmente na sua forma no-ionizada, que permite uma
melhor absoro pelo tecido cutneo (Cunha et al., 2008;
Draelos e Thaman, 2006; Nardin e Guterres, 1999).
Figura 6 Estrutura geral de um AHA
Figura 7 cido Mlico
Este grupo de cidos orgnicos fracos caracteriza-se pela
existncia de um grupo hidroxilo confinante funo
carboxlica na sua estrutura qumica, ligado posio alfa do
cido (primeiro carbono a seguir ao grupo acdico) (Cunha et
al., 2008; Ramos-e-Silva et al., 2001).
Embora se encontrem naturalmente em alimentos como a cana-de-acar (cido
gliclico), leite fermentado (cido ltico), e frutos (cidos mlico, ctrico e tartrico), os
-hidroxicidos utilizados em produtos dermatolgicos e cosmticos so normalmente
produzidos de forma sinttica (Ramos-e-Silva et al., 2001).
Existem outros cidos orgnicos que, no representando exatamente AHA, se incluem
neste grupo pela semelhana da sua estrutura, como o caso dos cidos glucnico,
glicrico, mandlico e benzlico, estes dois ltimos de carcter lipossolvel (Cunha et
al., 2008; Nardin e Guterres, 1999).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
9
Figura 8 cido Ctrico
Dos cidos anteriormente referidos, os mais frequentemente
usados em cosmtica so os cidos ltico e ctrico em particular,
bastante aplicados a nvel cutneo pelas suas propriedades
hidratantes e esfoliantes, como agentes de descamao (peeling)
e emolientes da pele (Cunha et al., 2008; Nardin e Guterres,
1999).
No entanto, so atualmente empregues em preparaes cosmticas por forma a inibir os
processos de envelhecimento cutneo, ao renovar o estrato crneo promovendo a sua
descamao, controlando o seu desenvolvimento apropriado e inibindo a
hiperqueratinizao (Cunha et al., 2008; Draelos e Thaman, 2006).
De uma maneira geral, admite-se que a ao anti-envelhecimento extrnseca e intrnseca
da pele pelos AHA, a baixas concentraes, se relaciona com a diminuio das foras de
coeso existentes entre os grupos portadores de carga positiva e de carga negativa
localizados na camada externa dos queratincitos dos nveis inferiores do estrato
crneo, facilitando a descamao ou esfoliao nessa camada, processo que poder estar
relacionado com a interferncia na formao de ligaes inicas (Ramos-e-Silva et al.,
2001; Cunha et al., 2008).
Por outro lado, os AHA aumentam a irrigao da camada basal, estimulando a
renovao celular, o aumento do contedo hdrico e a plasticidade do estrato crneo
(Cunha et al., 2008; Nardin e Guterres, 1999; Ramos-e-Silva et al., 2001).
Figura 9 cido
Saliclico
Os -hidroxicidos (BHA), como o cido saliclico, representam
compostos lipossolveis, que penetram na camada mais superficial da
epiderme e na unidade pilossebcea. O cido saliclico e os seus
derivados, existentes em diversas espcies do gnero da planta Salix
(salgueiro) ou nos extratos dessas plantas, predominam
essencialmente nas folhas frescas, podendo tambm ser encontrados
sob a forma sinttica (Draelos e Thaman, 2006).
Tanto os AHA como os BHA reduzem a coeso entre os queratincitos na camada
crnea, promovendo a esfoliao (Ramos-e-Silva et al., 2001; Draelos e Thaman, 2006).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
10
A capacidade de penetrar a unidade pilossebcea permite aos BHA um maior efeito
comedoltico relativamente aos AHA, sendo por isso bastante usados diretamente em
cremes de limpeza para peles seborreicas, visando a preveno acneica, podendo ser
aplicados em solues, loes, cremes e geles (Draelos e Thaman, 2006; Cunha et al.,
2008; Nardin e Guterres, 1999).
Deste modo, representam uma nova opo teraputica para uma variedade de afees
cutneas, incluindo xerose, ictiose, verrugas, melasma, queratoses seborreica, facial e
actnica, manchas senis, hiperpigmentao, fotoenvelhecimento, pele envelhecida, para
alm da referida acne (Nardin e Guterres, 1999; Ramos-e-Silva et al., 2001).
Contudo, existem vrios fatores que influenciam a eficcia de atuao deste grupo de
cidos, nomeadamente a sua concentrao, o pH do produto, quantidade de cido livre
presente, tipo de cido, veculo usado, durao da exposio e tipo de pele do paciente
(Ramos-e-Silva et al., 2001).
O pH representa um dos fatores mais relevantes, dado que os valores de pH destes
compostos so demasiadamente baixos para aplicao cutnea, devendo proceder-se
neutralizao ou tamponamento das formulaes, pela adio de bases orgnicas ou
inorgnicas, com o objetivo de as aproximar do pH cutneo (pH 5-5,5), ou optar pela
esterificao do grupo carboxilo com um lcool (Nardin e Guterres, 1999; Ramos-e-
Silva et al., 2001). No que concerne ao tipo de veculo, dada a frequncia do carcter
hidroflico dos cidos usados, so frequentemente aplicados em cremes e loes do tipo
O/A, cuja aplicao depender no destino do produto e do tipo de pele do paciente
(Ramos-e-Silva et al., 2001).
Os cidos aromticos e os seus steres, sob a forma livre ou pertencendo aos linhanos,
so compostos responsveis por numerosos efeitos farmacolgicos, sendo
representativos deste grupo os cidos cafeico, rosmarnico, clorognico, cumrico e
fumrico. De um modo geral, estes compostos apresentam ao antioxidante sobre o
tecido cutneo, sendo ainda referidas as aes antimutagnica, antisstica, e antifngica
para os cidos cafeico e clorognico (Cunha et al., 2008; Sato et al., 2011).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
11
Figura 10 cido Cafeico
Figura 11 cido Clorognico
Figura 12 cido Rosmarnico
1.1.4. Compostos Fenlicos
So considerados compostos fenlicos, numa definio genrica, as estruturas que
exibam em comum a estrutura de um fenol, anel aromtico de ncleo benznico,
acoplado a pelo menos um substituto hidroxilo, livre ou pertencente a steres, teres ou
hetersidos. Este grupo envolve os taninos e procianidinas oligomricas, as
cumarinas, os flavonides e os antociansidos, candidatos preveno de estados
patolgicos como fotoenvelhecimento e cancro da pele, essencialmente pela ao
antioxidante comum a todos (Cunha, 2005; Svobodov et al., 2003).
1.1.4.1.Taninos e Procianidinas Oligomricas
Os taninos representam compostos polifenlicos heterogneos hidrossolveis, de
elevado peso molecular, com ampla distribuio no reino das plantas, nas quais
desempenham uma defesa qumica contra predadores e radiao UV em concentraes
muito variveis (Cunha et al., 2008; Svobodov et al., 2003; Madhan et al., 2002;
Madhan et al., 2005).
A anterior definio de taninos proposta por Bate-Smith e Swain perdeu o interesse que
anteriormente detinha com o desenvolvimento dos mtodos de elucidao estrutural,
passando atualmente a precisar-se, com exatido, a estrutura destes compostos
polifenlicos (Cunha, 2005).
Nas plantas superiores tm-se distinguido, regularmente, dois grupos de taninos
estruturais e biogeneticamente distintos: os hidrolisveis (polisteres de cidos
fenlicos, como os galhotaninos e elagitaninos) e os condensados, estes ltimos
representados pelos taninos catquicos e pelas procianidinas oligomricas, como a
procianidina B-2, formadas por 2 a 4 monmeros de catequina ou de epicatequina
(DAmelio, 1999; Cunha et al., 2008; Cunha, 2005; Svobodov et al., 2003).
Figura 4 cido Cafeico
Fig.6 cido Rosmarnico
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
12
Figura 13 Epicatequina
Figura 14 Procianidina B-2
Os taninos hidrolisveis representam metabolitos de um poliol aliftico central
(geralmente a glucose), esterificado por molculas de um cido fenlico (Cunha et al.,
2008).
De acordo com a natureza do cido fenlico, os taninos hidrolisveis
podem ser subdivididos em taninos glhicos ou galhotaninos, em
que o cido fenlico corresponde ao cido glhico, e em taninos
elgicos ou elagitaninos, nos quais o elemento estrutural
corresponde ao cido hexa-hidroxidifnico e/ou os derivados
resultantes da sua oxidao, sendo que o cido glhico est na gnese
dos taninos hidrolisveis (Cunha, 2005; Svobodov et al., 2003).
Figura 15 cido Glhico
Os taninos condensados apresentam a designao alternativa de proantocianidinas,
pelo facto destes compostos originarem antocianidinas aps tratamento a quente com
um cido mineral. Quimicamente constituem derivados polimerizados de flavanis,
cujos precursores correspondem catequina e epicatequina (Cunha, 2005; Cunha et al.,
2008; Madhan et al., 2005). Este grupo de taninos evidencia potencial aplicao como
agentes preventivos e teraputicos contra diversos tipos de neoplasias, entre as quais o
cancro de pele (Cunha, 2005).
Os taninos atuam segundo mecanismos relacionados, pelo menos em parte, com as
caractersticas comuns aos hidrolisveis e condensados, ao exercer uma potente
atividade antioxidante e sequestradora de radicais livres, assim como a capacidade de
complexar macromolculas de natureza proteica (como enzimas digestivas, protenas
fngicas ou virais), nalguns casos de forma irreversvel (Cunha, 2005; Cunha et al.,
2008; Svobodov et al., 2003).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
13
Em cosmtica, a utilizao de partes de plantas compostas por taninos deriva
essencialmente da sua aplicao tpica como adstringentes, atravs da complexao
tanino-protena, que permite a sua ligao s camadas mais externas da pele e mucosas,
impermeabilizando-as. Desta forma, exercem um efeito vasoconstritor sobre os
capilares superficiais, limitando a perda de fluidos e impedindo as agresses externas,
favorecendo a regenerao tecidular e, consequentemente, a cicatrizao de feridas,
queimaduras e inflamaes (Cunha et al., 2008; Cunha, 2005; DAmelio, 1999).
Alm das aes referidas, permitem a reduo do dimetro dos poros das glndulas
sebceas, til no caso de peles seborreicas, e possuem, tambm, ao antisstica, ao
modificar o metabolismo microbiano (atuando sobre as membranas celulares
microbianas), inibindo as enzimas microbianas e/ou complexando com os substratos
dessas enzimas, ou provocando um decrscimo de ies essenciais ao metabolismo
microbiano, impedindo o desenvolvimento microbiano, formando um invlucro protetor
sobre a pele ou mucosa danificada (Cunha et al., 2008; Cunha, 2005; Pansera et al.,
2003).
1.1.4.2.Compostos Cumarnicos
Os compostos cumarnicos derivam de lactonas dos cidos -
hidroxicinmicos, bastante abundantes sobretudo nas classes de
plantas Apiceas e Rutceas, e que ocorrem normalmente nas
razes, frutos e sementes (Cunha, 2005; Cunha et al., 2008).
Figura 16 - Cumarina
Dos compostos cumarnicos mais conhecidos constam, entre outros, a cumarina
(benzo--pirona), a umbeliferona, a herniarina e o esculetol, e dos hetersidos, o
esculsido com atividade venotnica e o melilotsido, existente no meliloto (Melilotus
officinalis) (Cunha, 2005; Cunha et al., 2008).
A identificao de numerosos compostos cumarnicos nas plantas permite a aplicao
dos mesmos em cosmtica, pelas suas aes antioxidante, inibidora da agregao
plaquetria e anti-inflamatria, como estimulantes da circulao venosa (venotnicos) e
protetores do tecido cutneo (Kostova, 2005; Cunha et al., 2008; Felter et al., 2006).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
14
1.1.4.3.Flavonoides
Figura 17 - Flavona
Os flavonoides representam polifenis multiativos, de baixo peso
molecular, presentes em toda a parte area das plantas. A
estrutura qumica dos flavonoides pertence aos derivados da 1,3-
difenilpropanona (chalcona), sendo que os compostos cclicos
mais conhecidos apresentam o sistema fenilcromona, ou seja, a
estrutura da flavona, benzo--pirona (Cunha, 2005; Cunha et al.,
2008; Arct e Pytkowska, 2008).
Num sentido lato, os flavonoides so considerados como os pigmentos dos vegetais,
uma vez que a sua colorao permite a distino dos vrios existentes. Localizados
essencialmente na cutcula e clulas epidrmicas das folhas, asseguram a proteo dos
tecidos contra os efeitos nocivos da radiao UV, e facilitam a polinizao por parte dos
insectos (Cunha et al., 2008).
Os hetersidos so geralmente hidroflicos, ao contrrio das formas livres. De acordo
com o grau de oxigenao, podem distinguir-se trs grandes grupos: flavonas
(apigenina, luteolina), flavonis (campferol, quercetina) e flavononas (naringenina,
eriodictiol) (Cunha, 2005; Cunha et al., 2008).
Figura 18 - Eriodictiol
Figura 19 - Campferol
Os flavonoides, especialmente a rutina e seus derivados, destacam-se pelas suas
propriedades como no aumento da resistncia capilar (ao vitamnica P), fortalecendo
os capilares de modo a evitar o aparecimento de telangiectasias e petquias provocadas
pela rutura dos vasos sanguneos. Alm da proteo conferida, so tambm responsveis
pela preveno da agregao plaquetria e reduo da permeabilidade capilar (Cunha et
al., 2008; Arct e Pytkowska, 2008).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
15
Estes apresentam ainda propriedades antioxidantes, calmantes e anti-radicalares,
atuando como scavengers de anies superxido, desenvolvendo ao anti-inflamatria,
o que explica a grande utilidade de plantas e/ou extratos onde predominam em
cosmtica, como forma de proteger a pele do stress oxidativo, atuando,
consequentemente, como agentes anti-envelhecimento (Cunha et al., 2008; Svobodov
et al., 2003; Arct e Pytkowska, 2008).
1.1.4.4.Antociansidos
Os antociansidos, pertencentes classe de compostos fenlicos, representam um
grupo de pigmentos naturais, glucsidos hidrossolveis das antocianidinas, responsveis
pela maior parte da colorao de flores, frutos, vegetais e plantas (Cunha et al., 2008;
Kong et al., 2003).
Figura 20 Frmula estrutural de uma antocianidina
As geninas (antocianidinas), derivadas do catio bsico
fenil-2-benzopirlio, geralmente denominado catio
flavlio, apontam para a sua ligao ao grupo dos
flavonoides num sentido lato (Cunha et al., 2008; Kong
et al., 2003).
Estes compostos, solveis em solventes polares, so normalmente extrados a partir das
plantas usando acetona, tcnica mais eficiente e reprodutvel, que previne a ocorrncia
de problemas com pectinas e degradao dos pigmentos antocianidnicos (Kong et al.,
2003).
Embora a funo mais significativa das antocianidinas se prenda com os aspetos
atrativos dos vegetais, as suas aes biolgicas envolvem tambm aes antioxidante e
antibacteriana, ao intervir na eliminao de ROS, assim como na inibio da
peroxidao lipdica e agregao plaquetria, o que explica a sua capacidade em reduzir
a permeabilidade dos capilares e aumentar a sua resistncia (Kong et al., 2003; Cunha et
al., 2008).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
16
Para alm das funes referidas, apresentam ainda ao anti-edematosa, propriedades
que justificam a sua utilizao no tratamento sintomtico de perturbaes ligadas
insuficincia venosa e fragilidade capilar do tecido cutneo (Cunha et al., 2008).
1.1.5. Terpenos e Terpenoides
Os terpenos representam um conjunto de hidrocarbonetos
naturais produzidos por uma variedade de plantas, sobretudo nas
suas resinas. Derivam, biosinteticamente, de unidades de
isopreno, cuja frmula molecular corresponde a (C5H8)n. O
termo terpenoides deriva de uma modificao qumica dos
terpenos (Paduch et al., 2007; Cal et al., 2001; Cal et al., 2006).
Figura 21 - Isopreno
Estudos epidemiolgicos sugerem a aplicao de terpenos e terpenoides como agentes
anti-inflamatrios, antissticos, anticancergenos, rubefacientes e semi-analgsicos,
assim como promotores da penetrao cutnea. De forma isolada ou presentes nos leos
essenciais, iridoides, fitoestrognios ou nos saponsidos, os terpenos representam
molculas interessantes e com potencial cosmtico e dermatolgico (Paduch et al.,
2007; Cal et al., 2001; Cal et al., 2006).
1.1.5.1.leos Essenciais
Os leos essenciais presentes em plantas aromticas, tambm designados de essncias,
representam misturas complexas de inmeros compostos naturais e volteis, de baixo
peso molecular, responsveis pelo seu forte odor caracterstico. Revelam reduzida
solubilidade em gua, boa solubilidade em solventes orgnicos e apolares, e so
arrastveis pelo vapor de gua (Cunha et al., 2008; Cunha, 2005; Bakkali et al., 2008).
Extrados de plantas aromticas localizadas em climas temperados e tropicais, os leos
essenciais predominam em estruturas especializadas, como flores e folhas, normalmente
j pr-formados, e em menor frequncia nos rizomas ou razes, embora possam tambm
existir sob a forma de hetersidos, libertando-se, neste caso, aps a respetiva hidrlise
(Cunha et al., 2008; Bakkali et al., 2008).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
17
Em termos de mtodos extrativos, os leos essenciais so geralmente obtidos por vapor
de gua ou hidrodestilao a alta/baixa presso, assim como pela aplicao de CO2
lquido e por expresso, selecionados de acordo com o propsito da aplicao.
Quimicamente, os hidrocarbonetos naturais identificados nos leos essenciais
pertencem a dois grupos de origem biosinttica distinta: o grupo principal dos terpenos
e terpenoides, e o grupo dos compostos aromticos e alifticos, ambos caracterizados
por baixo peso molecular (Bakkali et al., 2008; Cunha, 2005; Aburjai e Natsheh, 2003).
Os terpenos integram os compostos resultantes da condensao da unidade
pentacarbonada (isopreno), tambm designados de terpenoides (isoprenoides) na
presena de uma molcula de oxignio, sendo que nos leos essenciais predominam os
dmeros e trmeros do isopreno, respetivamente monoterpenos (C10) e sesquiterpenos
(C15), para alm dos diterpenos (C20), estes ltimos mais abundantes nos leos
essenciais obtidos por solventes orgnicos (Cunha, 2005; Cunha et al, 2008; Bakkali et
al., 2008; Aburjai e Natsheh, 2003).
Figura 22 -pineno
A diversidade estrutural dos monoterpenos, formados pelo acoplamento
de duas unidades de isopreno, permite a sua classificao em trs grupos,
dos quais constam os acclicos (mirceno, ocimeno), monocclicos
(terpinenos, p-cimeno) e bicclicos (pinenos, canfeno), para alm das
respetivas molculas funcionais, em particular, lcoois, aldedos, cetonas,
steres, teres, perxidos e fenis (Cunha, 2005; Bakkali et al., 2008).
De igual modo, os sesquiterpenos, formados pela associao de trs unidades de
isopreno, podem classificar-se consoante a sua estrutura: cclica, acclica ou bicclica,
embora a sua estrutura e funo sejam anlogas
s dos monoterpenos. Neste grupo so includos
os no oxigenados, como so exemplos o -
bisaboleno, o -cariofileno e o logifoleno, e os
Figura 23 - Farnesol
oxigenados, como lcoois (farnesol, bisabolol), cetonas (-vetivenona, turmeronas) e
aldedos (farnesal) (Cunha et al., 2008; Bakkali et al., 2008).
Os compostos aromticos, derivados do fenilpropano, ocorrem menos frequentemente
que os terpenos. Neste grupo figuram compostos alilfenlicos e propenilfenlicos,
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
18
caractersticos dos leos essenciais de Apiceas, Lamiceas e Rutceas, abrangendo
aldedos (cinamaldedo), lcoois (lcool cinmico), fenis (eugenol), derivados
metoxilados (anetol, estragol) e compostos de dioximetileno (apiol, safrol) (Cunha et
al., 2008; Bakkali et al., 2008).
Determinadas plantas justificam a sua aplicao em cosmtica e dermatologia pelo seu
contedo em leos essenciais. Com efeito, a sua aplicao deriva essencialmente das
suas aes antisstica, anti-inflamatria, analgsica, anestsica local e suavizante, assim
como pela sua fragrncia que, em termos cosmticos, fundamenta a sua utilizao como
aromatizantes destinados a preparaes de aplicao tpica sobre a pele e mucosas,
sobretudo em perfumaria e produtos de maquilhagem, e como agentes refrescantes
(exemplo do leo de eucalipto), que conferem uma sensao refrescante e duradoura
pele (Cunha et al, 2008; Bakkali et al., 2008; Aburjai e Natsheh, 2003).
Para alm das aes referidas, os leos essenciais exibem ao antioxidante,
desempenhada pelos terpenos e terpenoides, que justifica, tambm, as suas aes
antimutagnica e anticarcinognica, devido sua capacidade de intervir na eliminao
de radicais livres, atuando como pr-oxidantes (Bakkali et al., 2008; Aburjai e Natsheh,
2003).
Contudo, muitos leos essenciais revelam propriedades irritantes sobre a pele,
diretamente ou aps incidncia de luz (presena de furocumarinas no leo), embora uma
das grandes vantagens dos mesmos se relacione com a iseno de riscos genotxicos a
longo prazo (Cunha et al., 2008; Bakkali et al., 2008).
1.1.5.2.Iridoides
Genericamente constituem monoterpenos, apresentando, normalmente, dez tomos de
carbono, e que exibem um ncleo ciclopentanotetra-hidropirnico. A designao de
iridoide surgiu do facto destes compostos constiturem derivados do iridodial, uma
molcula isolada das formigas da Austrlia do gnero Iridomyrmex (Cunha, 2005;
Cunha et al., 2008).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
19
O subgrupo mais numeroso dos iridoides constitudo pelos iridoides glucosilados,
iridoides propriamente ditos, do qual fazem parte a loganina, um dos compostos
amargos presentes no trevo-de-gua (Menyanthes trifoliata), e o asperulsido, um dos
iridoides primariamente isolados. Outro subgrupo envolve os iridoides no
glucosilados, de que so exemplos os valepotriatos existentes em extractos de valeriana,
e o iridoide napetalactona, isolado de Nepeta cataria, caracterizados pela sua ao
sedativa (Cunha, 2005).
Outro sub-grupo, os secoiridoides, formado por abertura do anel ciclopentano,
aparecendo geralmente sob a forma de glucsidos. Deste grupo so exemplos o
secologansido e o genciopicrsido, responsvel pelo carcter amargo da Gentiana
lutea (Cunha, 2005).
Figura 24 - Harpagsido
O harpagsido, principal substncia ativa do
Harpagophytum procumbens, representa um glucsido do
cinamato de um iridoide hidroxilado, o harpagido. Em
cosmtica tem sido proposta a aplicao do extrato aquoso
das razes desta planta rastejante em peles inflamadas, pelas
suas propriedades anti-inflamatrias (Cunha, 2005; Cunha
et al., 2008).
1.1.5.3. Fitoestrognios
A Food Standards Agency (2003) classifica os fitoestrognios como qualquer
substncia de origem vegetal ou seu metabolito, que induza uma resposta biolgica nos
vertebrados, e que mimetize ou module a ao de estrognios endgenos por se ligar ao
recetor estrognico. Contudo, podem tambm ser considerados fitoestrognios os
produtos naturais que, aps transformao metablica, originam compostos com
atividade estrognica (Cunha, 2005).
Existem duas grandes classes de fitoestrognios, os de natureza flavonoide e no
flavonoide, sendo que o grupo dos no flavonoides representado pelos linhanos, e o
dos flavonoides pelas isoflavonas, coumestanos, flavonoides prenilados e pelas
isoflavanas (Bakker, 2004; Flizikowski e Silva, 2009).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
20
As isoflavonas so encontradas em elevadas concentraes
sobretudo nas Fabceas e em leguminosas como a soja.
Destacam-se como os constituintes mais representativos
usados com atividade estrognio-like, dos quais a genistena
e a daidzena representam agliconas bioativas (Wei et al.,
2003; Bakker, 2004; Dweck, 2006; Cederroth e Nef, 2009).
Figura 25 - Genistena
Ambas envolvem dois pontos estruturais em comum com o 17-estradiol, o estrognio
endgeno principal: uma estrutura planar rgida e a presena de dois grupos hidroxilo
nos seus anis, que se encontram a uma distncia muito semelhante dos hidroxilos do
estradiol. Esta configurao confere-lhes afinidade e capacidade para ativar ambos os
recetores estrognicos, desenvolvendo uma atividade anloga do estrognio endgeno,
embora com menor potncia (Cunha, 2005; Arct e Pytkowska, 2008).
Os fitoestrognios envolvem uma ao biolgica complexa, sendo que a sua ao
celular final se determina por vrios fatores, incluindo o nvel relativo de recetores
estrognicos, a mistura de diversos co-ativadores e co-repressores presentes num dado
tipo de clula, assim como a natureza da resposta com a qual os recetores interagem nos
genes regulados pelo estrognio (Cassidy, 2003; Flizikowski e Silva, 2009).
Deste modo, a ao biolgica dos fitoestrognios pode ser dividida em dois grandes
grupos: interao com os recetores de estrognios e no interao com os recetores
de estrognios. O primeiro implica a atividade estrognica dos compostos naturais,
justificada pela sua similaridade com os estrognios endgenos, nomeadamente o
estradiol, sendo que a presena de fitoestrognios na alimentao e em suplementos
alimentares pode exceder a concentrao endgena de estradiol, o que conduz a efeitos
biolgicos in vivo exercidos por parte destes compostos (Clapauch et al., 2002;
Flizikowski e Silva, 2009).
Entre os dois tipos de recetores estrognicos existentes, e , os fitoestrognios
apresentam maior afinidade para os recetores , sendo mnima ou nula a sua afinidade
para os (Pino et al., 2000; Cederroth e Nef, 2009). Deste modo, os fitoestrognios
revelam efeitos mais pronunciados em tecidos e rgos em que predominem os
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
21
recetores , como sejam o SNC, os ossos, a parede vascular e o trato urogenital
(Clapauch et al., 2002; N.A.M.S., 2011).
Por outro lado, os fitoestrognios podem atuar atravs de aes no mediadas pelo
recetor estrognico, como agentes antioxidantes, atuando na inibio de enzimas-chave
envolvidas no metabolismo estrognico, na inibio de protena-cinases envolvendo
sinalizao intracelular, promovendo efeitos no transporte da glucose, atuando em
processos inflamatrios, na proliferao celular (ciclo celular) e na inibio da
angiognese (Manach et al., 2004; Cederroth e Nef, 2009; Flizikowski e Silva, 2009).
Em termos de aplicaes dermatolgicas, as isoflavonas exibem resultados satisfatrios
na preveno do aparecimento de carcinoma da pele, ao inibir a expresso de proto-
oncogenes e consequente disseminao do cancro, sendo que da sua aplicao tpica
resulta uma reduo ou inibio dos passos induzidos pela radiao UV-B,
indispensveis evoluo do carcinoma (Zlli e Prieur, 2003; Darbre, 2006).
Para alm da ao referida, as isoflavonas, ao exibir ao estrognica, atuam sobre os
sintomas da pr-menopausa, menopausa e osteoporose, desempenham aes antifngica
e bactericida, e atuam na preveno de aterosclerose e de alteraes cardiovasculares
decorrentes de hipercolesterolmia, pelas suas aes antioxidante e anti-hemoltica (Hall
e Phillips, 2005; Dweck, 2006; Cederroth e Nef, 2009; Flizikowski e Silva, 2009).
1.1.5.4.Saponsidos
Quimicamente, os saponsidos representam hetersidos de genina esteroide ou
triterpnica, tendo como caracterstica comum a propriedade de reduzir a tenso
superficial da gua, o que explica a sua ao detergente, emulsiva e de formao de
espuma persistente (Cunha, 2005; Prista et al., 2008; Cunha et al., 2008).
Alm das propriedades mencionadas, os saponsidos apresentam propriedades
hemolticas, ao desorganizar a membrana dos eritrcitos, e aes antiviral, antifngica e
anti-inflamatria, principalmente desempenhadas pelos de ncleo triterpnico, ao
complexar com os esteroides (Cunha, 2005; Cunha et al., 2008).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
22
As plantas ou extratos em que predominam tm sido usados em champs pela sua ao
tensioativa, sendo, no entanto, irritantes quando aplicados em doses elevadas (Cunha et
al., 2008).
1.1.6. Sais Minerais (Oligoelementos)
Os sais minerais representam compostos inorgnicos indispensveis ao organismo
humano, necessrios sntese e funcionamento de muitas metaloenzimas, atuando como
catalisadores em inmeras reaes tambm ao nvel da pele. Destes minerais so de
destacar o cobre, fundamental na cicatrizao, ao intervir na sntese de elastina e
colagnio durante a formao de tecido conjuntivo, influenciando a enzima oxidase da
lisina, e na sntese de melanina, ao influenciar a tirosinase; o mangansio, que melhora a
hidratao; o zinco, que atua na morfognese, reparao, manuteno, proteco e
defesa da pele, essencial para funes catalticas, estruturais e reguladoras de protenas;
e o silcio, que estimula os fibroblastos a produzir fibras colagnicas, importante para a
manuteno da elasticidade cutnea (Cunha et al., 2008; Strain e Cashman, 2009).
Certas guas mineralizadas subterrneas, comummente designadas de guas termais,
enriquecidas em minerais como o sdio, magnsio, zinco, boro e mangans contidos nas
rochas, atuam na renovao celular, dado que os oligoelementos referidos estimulam a
migrao dos queratincitos. Deste modo, a sua aplicao resulta em aces hidratante e
anti-inflamatria leves, tanto na forma pura, como veculo ou substncia ativa de
formulaes cosmticas, pelo que tm sido indicadas em dermatologia como adjuvantes
na hidratao da pele, no tratamento do envelhecimento cutneo, acne, roscea e outras
dermatoses inflamatrias, e no ps-operatrio, no caso de peelings qumicos e cirurgias
a laser (Cunha et al., 2008; Segura et al., 2010; Emer et al., 2011).
1.1.7. Protenas e Aminocidos
A utilizao de protenas vegetais como ingredientes cosmticos adquiriu maior
repercusso ao longo das ltimas dcadas, em detrimento da utilizao de protenas de
origem animal, pelo repdio cada vez mais acentuado dos consumidores no que respeita
a ingredientes de origem animal, e pela crescente e atual recorrncia a recursos naturais
e ecolgicos (Secchi, 2008; Fukagawa e Yu, 2009).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
23
No que respeita s protenas vegetais, podem ser classificadas como protenas
hidrossolveis, semelhantes s albuminas, cuja ligao a certos ies, caso do sdio, as
torna solveis, e como protenas lipossolveis, frequentemente associadas ao
aminocido lisina (Cunha et al., 2008).
Da variedade de protenas vegetais, a partir da qual so obtidos os ingredientes
cosmticos, apenas o glten de trigo e a protena de soja apresentam interesse e
utilizao mais amplos (Secchi, 2008; Fukagawa e Yu, 2009).
O glten representa uma protena cereal, que na forma hidratada, desenvolve uma
propriedade elstica, sendo constitudo por gliadina e glutenina, ambas responsveis
pela propriedade referida (Secchi, 2008; Fukagawa e Yu, 2009).
O isolado de soja (90% de protena) constitui a principal fonte industrial para a
transformao da protena de soja em ingredientes cosmticos, sendo os componentes
classificados de acordo com as suas propriedades de sedimentao, correspondendo
90% a globulinas de armazenamento, como a glicinina e conglicinina (Secchi, 2008).
A presena de protenas e de glicoprotenas nos vegetais revela utilidade na manuteno
do equilbrio do tecido celular, para alm da sua influncia nos processos de hidratao
da pele e, muito particularmente, na modulao das reaes inflamatrias e imunitrias,
factos que derivam da sua capacidade de substantividade (geralmente indicativa da
capacidade de adsoro de substncias qumicas a diversas superfcies), como base da
sua ligao pele e ao cabelo (Cunha et al., 2008; Secchi, 2008; Barata, 2002).
O exposto justifica a aplicao de ingredientes proteicos vegetais em produtos
cosmticos destinados ao cuidado capilar, sobretudo sob a forma de champs e
acondicionadores, pela amplificao das interaes protena-substrato que permitem a
extenso da superfcie queratnica do cabelo, e ao conferir elasticidade, que determina
as suas aes reparadora e protetora do couro cabeludo (Secchi, 2008; Barata, 2002).
O teor em aminocidos, substncias orgnicas que contm um grupo amina e um grupo
acdico, determina a diferente caracterizao das protenas, atravs da sequncia de
aminocidos geneticamente pr-determinada, e que confere especificidade e identidade,
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
24
sendo tambm responsvel pela organizao tridimensional e atividade biolgica das
protenas, fator crucial em Biologia e com significante relevncia em cosmtica, com
presena til em preparaes nutritivas e rejuvenescedoras (Secchi, 2008; Cunha et al.,
2008; Wu, 2009; Fukagawa e Yu, 2009).
A capacidade de absoro cutnea de aminocidos induz a um reforo dos aminocidos
de sinalizao disponveis para que ocorra a sntese dos cidos nucleicos pela pele,
atravs da sua captao pela camada basal, onde ocorre a sntese de DNA. De salientar
o interesse da aplicao de aminocidos como substratos na sntese de outras fraes
proteicas, caso das protenas de suporte ou fibrosas como o colagnio, queratina e
melanoprotenas, fibras escassas no envelhecimento cutneo (Cunha et al., 2008; Wu,
2009; Fukagawa e Yu, 2009).
1.1.8. Vitaminas
As vitaminas, como substncias indispensveis ao organismo humano, dotam de uma
importante atividade sobre a pele, no s na preveno, mas tambm no tratamento
tpico e sistmico do fotoenvelhecimento, envelhecimento cutneo cronolgico, assim
como na gesto de afees cutneas como a acne vulgaris (Cunha et al., 2008; Manela-
Azulay e Bagatin, 2009; Lupo, 2001).
Adicionalmente, a aplicao tpica de vitaminas na pele deriva da sua capacidade de
suprimir a pigmentao, estimular a sntese de colagnio, modular a queratinizao, e
pelos efeitos anti-inflamatrios. Deste modo, a incorporao multivitamnica nos
cosmticos para aplicao tpica poder constituir um passo importante na descoberta
de novos produtos anti-envelhecimento, que atuem como protetores e possveis
corretores dos danos provocados pelos radicais livres, molculas altamente reativas e
principais responsveis pelos danos provocados nos tecidos, biomembranas e ao nvel
do DNA (Lupo, 2001).
Da vasta gama de vitaminas sintetizadas pelo prprio organismo ou obtidas pela dieta
alimentar, as vitaminas A, B, C, D, E, e F representam as de maior interesse cosmtico
e dermatolgico, pelo que se adequa uma breve descrio das principais aes que cada
uma desempenha (Manela-Azulay e Bagatin, 2009; Lupo, 2001).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
25
As vitaminas lipossolveis, como as vitaminas A, E e F, apresentam, desde sempre,
uma vasta aplicao na cosmtica, pela sua boa penetrabilidade na pele atravs da via
folicular. Por outro lado, as vitaminas do grupo D, com interesse na fixao do clcio,
encontram-se interditas quanto sua aplicao em produtos cosmticos (Cunha et al.,
2008; Manela-Azulay e Bagatin, 2009; Lupo, 2001).
A utilizao de vitaminas hidrossolveis nos cosmticos bastante comum, como as
vitaminas C e do complexo B, tendo estudos recentes confirmado o valor desta
aplicao para evitar alteraes na pele, fortalecer o couro cabeludo e evitar a quebra
das unhas (Cunha et al. 2008; Lupo, 2001).
Vitamina A
Representa uma vitamina essencial aos processos de regulao do crescimento e
atividade das clulas epiteliais, no sintetizada pelo organismo, e que exibe um papel
importante na preveno do envelhecimento prematuro da pele, sendo que em muitos
leos vegetais se verifica a presena de carotenoides que atuam como pr-vitamina A
(Cunha et al., 2008; Ramos-e-Silva et al., 2001; Lupo, 2001).
Tanto a vitamina A como a classe dos
retinoides, seus derivados, exibem
propriedades fotoprotetoras, reduzindo a
peroxidao lipdica na pele mediante a
radiao UV, o que explica a sua vasta
aplicao em cosmtica (Lupo, 2001).
Contudo, das variaes ocorridas na molcula
de retinol (lcool da vitamina A) resultou a
criao de trs geraes de retinoides de
aplicao tpica e sistmica: os no aromticos
(retinol, tretinona e isotretinona), os
monoaromticos (etretinato e acitretina) e os
poliaromticos (arotinoide, adapaleno e
tarazoteno) (Manela-Azulay e Bagatin, 2009).
Figura 26 Sntese de Vitamina A
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
26
Em cosmtica, o principal benefcio da aplicao da vitamina A e dos seus derivados
deriva essencialmente da sua capacidade normalizadora da queratinizao, sendo que as
formas mais usadas englobam o retinol, steres da vitamina A como o palmitato e
acetato de retinilo, aldedo da vitamina A como o retinal, e finalmente a tretinona, em
diferentes concentraes (Lupo, 2001; Manela-Azulay e Bagatin, 2009).
A tretinona considerada como o retinoide mais bioativo pela sua capacidade de
modular a funo cutnea, pelo que da sua aplicao tpica resulta uma reduo da
hiperqueratinizao, prevenindo e reduzindo a formao de microcomedes, para alm
de minimizar a formao de leses inflamatrias, correspondentes s leses iniciais da
acne (Ramos-e-Silva et al., 2001; Manela-Azulay e Bagatin, 2009; Lupo, 2001).
Primariamente usada no tratamento da acne, a tretinona revelou-se eficaz noutros tipos
de tratamento relatados por Kligman (1986), como no tratamento tpico de
fotoenvelhecimento e no envelhecimento intrnseco da pele (Manela-Azulay e Bagatin,
2009; Ramos-e-Silva et al., 2001; Draelos e Thaman, 2006; Lupo, 2001).
Ao nvel da epiderme, promove o espessamento do estrato granuloso, colaborando na
manuteno da elasticidade da pele, reduz a coeso dos desmossomas assim como a
atividade melanocitria, e deposita uma substncia semelhante aos glucosaminoglicanos
no espao intercelular e no estrato crneo, que intervm na hidratao cutnea (Cunha et
al., 2008; Ramos-e-Silva et al., 2001; Manela-Azulay e Bagatin, 2009).
Na derme, promove o aumento da produo de componentes da matriz extracelular
como as fibras de colagnio, ao nvel das papilas drmicas, induzido pela expresso
gnica de pr-colagnio tipo I e III por parte da tretinona, alm de promover a dilatao
dos vasos sanguneos (Ramos-e-Silva et al., 2001; Manela-Azulay e Bagatin, 2009).
Estas alteraes especficas contribuem de forma relevante como fatores antirrugas,
assim como na despigmentao de lentigos e melasma (Draelos e Thaman, 2006; Lupo,
2001).
Os steres da vitamina A, no entanto, revelam-se como os menos efetivos da classe dos
retinoides, uma vez que requerem a sua converso enzimtica in vivo na forma de
retinol, e posterior converso em tretinona, limitaes que explicam a sua reduzida
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
27
eficcia comparativamente ao cido retinoico. Contudo, apresentam boa estabilidade
nas vrias formulaes existentes, ao contrrio das formas mais ativas, facilmente
deteriorveis pela exposio ao calor, ar atmosfrico e luz (Lupo, 2001; Manela-Azulay
e Bagatin, 2009).
A aplicao tpica eficaz de retinoides abrange concentraes de 0,025% a 1%, sendo
que, no entanto, podero ocorrer reaes secundrias decorrentes da sua utilizao,
como irritao moderada a severa, descamao, queimaduras, eritema, exacerbao de
leses pr-existentes e foto-irritao exposio solar, pelo que requerem prescrio
mdica e acompanhamento mdico (Ramos-e-Silva et al., 2001; Manela-Azulay e
Bagatin, 2009).
Vitamina E
A vitamina E corresponde ao nutriente principal com ao antioxidante lipossolvel
existente ao nvel da pele, representada por oito formas moleculares, das quais quatro
tocoferis e quatro tocotrienis relacionados, sendo que dos tocoferis existentes (-, -,
- e -), o -tocoferol exibe maior atividade e biodisponibilidade (Allemann e
Baumann, 2009; Manela-Azulay e Bagatin, 2009; Thiele et al., 2005).
Abunda nos leos vegetais (milho e soja),
principalmente nos obtidos dos embries dos
cereais (trigo), sendo que as formas de
vitamina E tipicamente utilizadas em
cosmtica se restringem ao -tocoferol,
vitamina E e/ou steres da vitamina E, como o
acetato e linoleato de tocoferilo (Cunha et al.,
2008; Allemann e Baumann, 2009; Thiele et
al., 2005).
Relativamente s suas aes, dado tratar-se de
um potente agente antioxidante, exibe efeitos
fotoprotetores, ao reduzir os danos induzidos
Figura 27 Tocoferis (Bender, 2009).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
28
pela radiao UV-B, protegendo a membrana celular pela captao dos radicais livres, e
ao inibir a fotocarcinognese assim como a peroxidao lipdica cutnea, coadjuvando
na manuteno da elasticidade cutnea, quando aplicada topicamente (Cunha et al.,
2008; Allemann e Baumann, 2009; Lupo, 2001)
Alm da ao antioxidante, vrios estudos reportam a aplicao tpica de vitamina E na
acelerao do processo de cicatrizao de feridas, significativamente evidenciada sobre
a pele de cobaias diabticas (Allemann e Baumann, 2009; Thiele e Ekanayake-
Mudiyanselage, 2007).
Por outro lado, tanto a vitamina E como os seus derivados intervm na microcirculao
cutnea, de modo a aliviar e acalmar a irritao e inflamao aps a exposio solar,
pela sua capacidade de reduzir o eritema, edema e queimaduras solares induzidos pela
radiao UV, o que justifica a sua suplementao, juntamente com outros co-
antioxidantes ativos como a vitamina C, nos protetores solares, de modo a potenciar as
suas estratgias fotoprotetoras (Lupo, 2001; Cunha et al., 2008; Manela-Azulay e
Bagatin, 2009; Thiele e Ekanayake-Mudiyanselage, 2007).
No que respeita ao envelhecimento cutneo, a associao de vitamina E e seus
derivados, juntamente com outros antioxidantes e filtros solares em formulaes tpicas
para despigmentao revela resultados eficazes, promissores e seguros, ao exibir uma
reduo significativa tanto nas rugas como na formao de tumores cutneos,
promovendo, tambm, o aumento da hidratao cutnea ao nvel do estrato crneo, o
que valida a sua ao como agentes rejuvenescedores em cosmtica (Lupo, 2001; Thiele
e Ekanayake-Mudiyanselage, 2007; Manela-Azulay e Bagatin, 2009).
A aplicao tpica de -tocoferol abrange concentraes inferiores a 5%, ao passo que
as concentraes de vitamina E e/ou dos seus derivados rondam os 0,0001% e at
valores superiores a 20% nas formulaes comuns (Thiele e Ekanayake-Mudiyanselage,
2007). Em termos de reaes adversas poder ocorrer dermatite de contacto local ou
generalizada, assim como urticria, eczema e eritema, embora representem episdios
raros (Allemann e Baumann, 2009; Thiele e Ekanayake-Mudiyanselage, 2007).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
29
Vitamina F
A vitamina F comporta os cidos gordos essenciais insaturados, ricos em -6, existentes
em vrias gorduras vegetais, entre as quais a borragem, onagra, soja e linho. Dos cidos
gordos essenciais indispensveis destaca-se o cido linoleico, precursor de uma
multiplicidade de diferentes substncias responsveis pelos mecanismos vitais de
reparao e controlo, entre as quais os cidos -linolnico e araquidnico (Cunha et al.,
2008; Lautenschlger, 2003).
Em cosmtica, o cido linoleico
representa o composto com maior
aplicabilidade, pela sua ao na
preveno do bom estado do tecido
cutneo, ao reduzir o TEWL, e ao
contribuir para o equilbrio
hidrolipdico celular. Por outro lado,
intervm na cura de dermatoses,
queimaduras solares e outro tipo de
queimaduras, visivelmente atravs de
Figura 28 Vitamina F
uma acelerao da regenerao da barreira cutnea, ao pertencer composio da
ceramida I presente na camada crnea, responsvel pela estruturao da barreira (Cunha
et al., 2008; Lautenschlger, 2003).
Vitamina C
Figura 29 cido Ascrbico
Constitui uma das vitaminas hidrossolveis com maior
presena no reino das plantas, particularmente nos citrinos
e vegetais, recebendo, tambm, a designao de cido
ascrbico (Lupo, 2001; Farris, 2005; Cunha et al., 2008;
Manela-Azulay e Bagatin, 2009).
Em cosmtica, apenas trs formas se encontram disponveis, entre as quais o palmitato
de ascorbilo, o fosfato de magnsio de ascorbilo e o cido ascrbico (Lupo, 2001;
Manela-Azulay e Bagatin, 2009).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
30
A aplicao tpica de vitamina C representa a nica alternativa de promover um
aumento da sua concentrao ao nvel da pele (Manela-Azulay e Bagatin, 2009). Revela
efeitos fotoprotetores quando aplicada topicamente, interferindo na formao de ROS
induzidas pela radiao UV, ao neutralizar os radicais livres formados, factos que
explicam a sua aplicao em produtos solares do tipo after-sun, com reduo
significativa de eritema e tumor cutneo (Farris, 2005; Cunha et al., 2008; Allemann e
Baumann, 2009; Manela-Azulay e Bagatin, 2009).
Apresenta forte atividade antioxidante, sendo tambm capaz de amplificar a capacidade
antioxidante da vitamina E, ao intervir na regenerao da forma reduzida ativa da
vitamina E (Lupo, 2001; Farris, 2005; Allemann e Baumann, 2009; Manela-Azulay e
Bagatin, 2009).
Alm do referido, favorece a microcirculao cutnea, e desempenha um papel
importante na sntese de colagnio, atuando sob a forma de co-fator enzimtico nas
reaes de hidroxilao, ou diretamente ativando a transcrio do colagnio e
estabilizando o RNAm pr-colagnico, o que justifica a sua aplicao como agente anti-
envelhecimento, tambm pela capacidade de inibir a biossntese de elastina (Farris,
2005; Lupo, 2001; Draelos e Thaman, 2006; Cunha et al., 2008; Allemann e Baumann,
2009; Manela-Azulay e Bagatin, 2009).
Atua, tambm, como agente anti-inflamatrio e despigmentante, inibindo a sntese de
melanina (Draelos e Thaman, 2006; Cunha et al., 2008; Allemann e Baumann, 2009). A
aplicao tpica de cremes contendo vitamina C, numa concentrao de 5%, durante um
perodo de 6 meses, revela timos resultados no que respeita a reduo de rugas,
manchas senis, hidratao e brilho da pele, o que corrobora o anteriormente referido
(Allemann e Baumann, 2009).
Contudo, a formulao de um produto tpico contendo vitamina C enfrenta o problema
de estabilidade, pela forte sensibilidade radiao solar e oxidao, uma vez que a
molcula sofre vrias converses, podendo resultar numa forma inativa, o que implica a
utilizao de embalagens apropriadas ou utilizao de derivados esterificados do cido
ascrbico nas formulaes (Allemann e Baumann, 2009; Manela-Azulay e Bagatin,
2009).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
31
Vitaminas do Complexo B
Representa um conjunto de vitaminas hidrossolveis amplamente representado no reino
das plantas, e cuja associao demonstra uma melhor resposta relativamente ao tecido
cutneo (pele mais suave e menos rugosa), ao invs da sua utilizao isolada em
idnticas concentraes (Cunha et al., 2008).
Vitamina B1 (Tiamina): atua como coenzima no
metabolismo de carbohidratos, e revela atividade sobre a
camada celular basal, ao promover a descarboxilao e
oxidao do cido pirvico, pelo que se usam extratos
enriquecidos nesta vitamina por forma a melhorar as
Figura 30 Tiamina
peles envelhecidas (Cunha et al., 2008; Bender, 2009).
Figura 31 - Riboflavina
Vitamina B2 (Riboflavina): apresenta uma funo importante
no catabolismo de cidos gordos e de aminocidos, ao intervir
como coenzima em reaes de oxidao-reduo nos tecidos,
sendo particularmente til na dermatite seborreica (Cunha et
al., 2008; Bender, 2009).
Vitamina B3 (Nicotinamida): atua como coenzima nas reaes
de oxidao-reduo do organismo, tendo boa aplicabilidade em
afees como a pelagra (dermatite fotossensvel) e roscea.
bastante til na acne e noutras situaes inflamatrias, intervindo
nos processos de regenerao celular pelo seu efeito vasodilata-
Figura 32 -
Nicotinamida
dor (Lupo, 2001; Bender, 2009; Manela-Azulay e Bagatin, 2009; Emer et al., 2011).
Figura 33 cido Pantotnico
Vitamina B5 (cido Pantotnico): participa no
metabolismo de cidos gordos, representando um
componente funcional da coenzima A que intervm em
reaes de acetilao (Cunha et al., 2008; Bender, 2009).
O pantenol, lcool precursor do cido pantotnico, apresenta forte aplicao em
cosmtica, dado que estimula o crescimento celular, inibe a inflamao e formao de
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
32
rugas na pele. Por outro lado, frequentemente aplicado em produtos de cuidado
capilar, pelas suas propriedades como humectante, ao nutrir e proporcionar uma
humidade duradoura, e ao melhorar a elasticidade, e consequentemente a resistncia do
cabelo, reduzindo, tambm, a formao de pontas quebradias e proporcionando mais
brilho ao cabelo (Lupo, 2001; Cunha et al., 2008). Pode tambm ser usado no
tratamento de alopecia, como acelerador da cicatrizao (Cunha et al., 2008).
Vitamina B6 (Piridoxina): encontra-se sob a forma de lcool
nas plantas, sendo metabolizada no organismo humano a
piridoxal fosfato, coenzima ativa que intervm no
metabolismo de aminocidos, atua como cofator enzimtico
no msculo e fgado, e na regulao da ao de hormonas
esteroides. Diminui a atividade das glndulas sebceas,
Figura 34 - Piridoxina
principalmente nos problemas cutneos dos jovens (Cunha et al., 2008; Bender, 2009).
Figura 35 - Biotina
Vitamina B8 (Biotina): intervm, de um modo geral, no
metabolismo e controlo do ciclo celular, sendo muito usada no
tratamento de alopecia e problemas de acne. Em conjunto com
a piridoxina, estimula a formao de queratina, pelo que
fortalece o cabelo e unhas (Cunha et al., 2008; Bender, 2009).
Vitamina B9 (cido Flico): necessria para o metabolismo
dos aminocidos e sntese de DNA. Apresenta um papel
importante na multiplicao das clulas cutneas, intervindo
em numerosas reaes metablicas como coenzima (Cunha et
al., 2008; Bender, 2009).
Figura 36 cido Flico
2. Noes em Fitocosmtica
A fitocosmtica pode ser definida como o segmento da cosmetologia que se dedica ao
estudo, assim como aplicao das substncias ativas extradas de materiais vegetais,
em proveito da higiene, da esttica, da correo e da manuteno do estado normal e
sadio da pele (Freitas de Arajo et al., 2010).
-
Fitocosmtica: aplicao de extratos vegetais em cosmtica e dermatologia.
33
No que concerne ao fitocosmtico, pode ser definido como qualquer preparao
composta por substncias de origem natural, destinada a ser posta em contacto com as
diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas
piloso e capilar, unhas, lbios e rgos genitais externos, ou com os dentes e mucosas
bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar,
modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado e/ou corrigir os odores
corporais (Comisso Europeia, 1993).
As pomadas e os leos contendo constituintes das plantas representam, possivelmente,
as formas farmacuticas mais antigas usadas em cosmtica. Contudo, outros tipos de
preparaes como infusos, cozimentos e macerados obtidos de plantas ocuparam,
durante muitos anos, um lugar de destaque. Atualmente ainda se utiliza este tipo de
preparaes diretamente, quer aplicadas em associao com compressas no tratamento
de certas afees cutneas (Cunha et al., 2008; DAmelio, 1999).
Atualmente, a aplicao direta das plantas na indstria cosmtica encontra-se cada vez
mais em desuso, substituda pela aplicao dos seus extratos, o que exige que seja feita
referncia sobre os tipos e modo de obteno dos mesmos, assim como uma breve
referncia aos aspetos gerais de preparao de vrias formas galnicas, e s principais
preparaes cosmticas onde possam ser includos produtos de origem vegetal (Cunha
et al., 2008; Aburjai e Natsheh, 2003; Allemann e Baumann, 2009).
As desvantagens da utilizao direta da totalidade da planta derivam essencialmente da
sua fraca aplicao, atribudas s partculas slidas na fo

![Aula06n [Modo de Compatibilidade]docs.fct.unesp.br/docentes/dmec/olivete/tc/arquivos/Aula6.pdf · 07b 0itxlqdv 8qlyhuvdlv ^ ` ^t t t t ` 3 t ^t ` ^ ` / ^ ` gh irupd txh yrfr srgh](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/60e31f4c63b1381589664196/aula06n-modo-de-compatibilidadedocsfctunespbrdocentesdmecolivetetcarquivosaula6pdf.jpg)