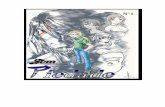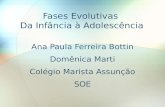Tendências evolutivas da piedade popular: modelos de ... · âmbito de um modelo taumatúrgico,...
-
Upload
nguyendieu -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of Tendências evolutivas da piedade popular: modelos de ... · âmbito de um modelo taumatúrgico,...
1
Tendências evolutivas da piedade popular:
modelos de secularização e de clericalização
Rui Afonso da Costa∗ Hamilton Costa∗∗
O catolicismo popular é uma religião eminentemente aculturada pelos meios populares. Nestes, predomina, em geral, um universo dominado pelos sentimentos e as paixões elementares e uma cultura que, referindo-se às realidades da cosmologia, do implícito, do intuído, dos objectos e do que é familiar, se caracteriza pelo gesto, pelo festivo e pelo costume.
O católico que pratica a religião de forma inseparável da cultura popular manifesta a sua adesão à Igreja, principalmente, através da prática semanal e ocasional das grandes festas anuais, quer sejam as grandes festas litúrgicas, quer o culto terapêutico dos santos e do padroeiro.
Nesses tempos fortes da vida religiosa do católico festivo 1 revelam-se as três categorias fundamentais da experiência religiosa colectiva próprias das sociedades ocidentais. Estas põem em evidência uma unidade, em tensão, entre a cultura da Igreja-instituição e as pulsões e os pânicos da alma colectiva: a festa como ruptura do quotidiano, revelação do extraordinário e realidade críptica.
Nesta perspectiva, a religião popular não é uma religião paralela, isto é, um conjunto de costumes e superstições pagãs condenadas pela Igreja. Não se pode separar a religião cristã da cultura popular, mas deve entender-se que entre ambas existe uma relação que pode ser de conflito ou de troca, simbiose e conivência com a totalidade cultural. Trata-se de analisar uma ordem religiosa colectiva, que expressa uma constante antropológica, que vem do fundo dos tempos e que, porventura, se compõe de uma terapia das forças do irracional e do exorcismo dos males do corpo e da alma.
Para estabelecer a relação com o divino, o católico festivo não dispõe de um corpo doutrinal nem de um corpo eclesial, mas de um arsenal de gestos e acções imbuídas de uma sabedoria própria, que permite estabelecer uma comunicação com os santos, procurando um acesso ao mais profundo das virtudes terapêuticas, que deve ser concretizada e alimentada por festas, peregrinações e jubileus.
Estes fenómenos organizam, na uniformidade do espaço, um espaço sacral, integrado por um tempo sacral, no qual se verifica o envolvimento com o sobrenatural tornado visível pelo ex-voto e pelo objecto-sagrado (relíquias, “latria” das imagens, cruzes, etc) veículo do influxo sagrado que ao retornar ao orante funciona na mente popular como alimento de fé e, por isso mesmo, é potência e abertura à graça.
Os grandes ajuntamentos motivados pelas manifestações da vida religiosa colectiva permitem a fuga à vida quotidiana e são o reconhecimento de uma outra forma do existir colectivo, de uma espécie de sociedade nova. Neste contexto, os católicos, que manifestam a sua adesão à Igreja nos tempos fortes da vida religiosa, desenvolvem laços de pertença a um outro grupo e, ao mesmo tempo, põem em prática um tipo particular de comunicação, que não o habitual e original. Só que essa sociedade efémera não distingue sexo, idade ou condição social, já que é uma sociedade de união, vibrante
∗Centro de História da Cultura da UNL.
∗∗Técnico do Ministério da Educação.
Este trabalho é uma síntese de três artigos, indicados na bibliografia, publicados em Cultura, Revista de
História e Teoria das Ideias do Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa. Este centro
de investigação tem vindo a desenvolver o projecto Piedade Popular em Portugal. Repertório bibliográfico,
dirigido pelo Professor Doutor José Esteves Pereira, do qual foi publicado, em 1998, o 1º volume sobre os
distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto. 1Cf. Pannet, 1976: 30-31.
2
das suas pulsões vitais, em que a condição humana manifesta o poder e a esperança de aceder ao Além.
O tema deste trabalho, integrando-se nesta temática geral, procura mostrar as tendências evolutivas da piedade popular em Portugal, esquematizando essas realidades em modelos que a apreendem e lhe determinem a natureza e o sentido. As romarias de Nossa Senhoria da Agonia, em Viana do Castelo, e de São Bartolomeu, na freguesia do Mar, concelho de Esposende, servem de ponto de partida2, assumindo um valor heurístico confirmado por vários outros casos.
Para realizar este objectivo utilizou-se como fundamentais as variáveis - o sagrado e o profano - que, no fundo, permitem apreender o que de essencial comporta este fenómeno religioso, organizando-se a informação, de forma a salientar as matrizes essenciais das representações neles contidos.
Deste modo, perspectivando o fenómeno religioso na longa duração, poderemos surpreender as continuidades e as rupturas da linguagem das práticas, dos gestos e dos ritos, bem como do sagrado intra-humano nas pulsões e no irracional da alma colectiva e ao esquematizá-lo é possível apreender o que as festas possuem de irredutível ao nível da sua estrutura e da sua síntese relacional. A compreensão da piedade popular através de modelos
Os casos referidos expressam uma linha evolutiva da piedade popular em sentido oposto, pois apresentam, de forma desigual, uma série de valores e de contra-valores, bem como uma diferente articulação/apropriação entre o sagrado e o profano. Na verdade, a organização de cada um destes modelos pressupõe uma macro-leitura dos fenómenos religiosos que os subordina a um centro polarizador da religiosidade numa formação histórica determinada. Assim, a festa da Senhora da Agonia inscreve-se, predominantemente, no modelo de secularização,3 ao passo que a festa de São Bartolomeu se integra no modelo de clericalização4.
O primeiro modelo caracteriza-se pela hipertrofia do profano policentrado no fogo de artifício, no cortejo folclórico e na feira, isto é, pelo crescimento e diversificação das práticas profanas e da sociabilidade secular. A orientação deste modelo, no sentido de um claro reforço do profano, revela-se não só pelo número, como pelo grau de elaboração das manifestações profanas e pelo espaço/tempo que lhes são dedicadas. Este aspecto expressa a expansão da dimensão lúdica e secular da festa, assim como a feição materialista de algumas dessas manifestações profanas, compensatórias da cristalização do cerimonial sagrado oficial.
A festa de Nossa Senhora da Agonia ilustra a tendência da expansão quase esmagadora do profano nos seus componentes lúdico-recreativo (fogo de artifício, exibições de ranchos folclóricos, arte efémera, diversões), etnográfico (cortejo histórico e etnográfico, festa do traje) e económico-social (feira franca, barracas de comes e bebes, convívio social). Desde a segunda metade do século XIX, estes e outros actos festivos profanos foram-se incorporando na romaria a ponto de rivalizarem com o sagrado e serem para muitos o único motivo de deslocação à festa.
Quando se considera o modelo, como o resultado da evolução operada sobre o sagrado e o profano, compreende-se que a evolução do sagrado se deu no sentido de uma hipotrofia dos elementos religiosos originários da festa, que se centram nos constituintes essenciais da liturgia oficial, onde domina a palavra ou o enquadramento eclesiástico - a novena, a missa, o sermão e a procissão. Esta propensão para a separação do lúdico e do festivo da liturgia religiosa depura-a da inculturação popular 2 Veja-se Costa, 1997: 362-376.
3 Veja-se Costa, 1997: 364-367, 370-373.
4 Veja-se Costa, 1997: 367-369; 373-375.
3
composta pela linguagem dos símbolos e dos ritos, misto de sensorialidade e de corporalidade.
A acentuação do eixo profano na festa de Nossa Senhora da Agonia reflecte, presumivelmente, o desenvolvimento interrelacionado da industrialização, da urbanização, da tecnologia e da escolarização, assim como a emergência de uma nova racionalidade que tende a privar a religião da sua influência social. A cultura tradicional de tipo sacral deu lugar à cultura da modernidade, cujo modelo antropológico é fundado sobre o individualismo, a competição e a luta pelo poder.
Em Portugal, este fenómeno de secularização também se verificou. A sua expressão culminante concretizou-se na Lei de Separação das Igrejas e do Estado com que se pretendia estruturar e legitimar um Estado laico, assumido como uma vanguarda iluminista que, através de uma demoveria e de novas práticas simbólicas, democratizaria o projecto cultural laico, pela sua interiorização na consciência colectiva e pela constituição de vivências sem tutela exterior à essência racional do homem.
Em contraponto ao primeiro modelo, o modelo da clericalização, definido a partir da festa de São Bartolomeu, exprime uma hipertrofia do sagrado, centrada na missa, na procissão, no sermão e no banho santo, que permanecem como elementos nucleares e mobilizadores da romaria até à actualidade. A direcção deste modelo no sentido da preponderância espaço-temporal dos fenómenos religiosos da liturgia oficial e da liturgia popular, sob o domínio ordenador e determinante do clero, que preside à comissão organizadora das manifestações religiosas e profanas, assinala a cristalização de múltiplos aspectos do sagrado, uns oriundos da cristianização, outros da aculturação popular do religioso
Na festa de São Bartolomeu, existe uma forte permanência do vector do sagrado nos seus diversos componentes. De facto, os actos do culto oficial (missa, procissão, sermão), os elementos do mágico cristão (voltas rituais, beijo da estátua, frango preto como ex-voto) e do mágico pagão (banho santo no mar), revestem-se, ainda, de grande importância, para a larga maioria dos crentes. No entanto, essa valorização ocorre no âmbito de um modelo taumatúrgico, que explica, de certo modo, como o motivo principal da deslocação à festa se foi identificando com a busca da cura de certas doenças e de muitos males.
A confrontação da evolução da relação entre o sagrado e o profano, por sua vez, reveste a forma de uma hipotrofia dos elementos do profano. Esta orientação se, por um lado, apresenta uma certa expressão do seu componente lúdico-recreativo (diversões, música, arte efémera), por outro lado, denota uma certa retracção do componente económico-social (feira, barracas de comes e bebes, refeição na praia, convívio), pois a feira, que inicialmente decorria em três dias, passou para um dia, transformando-se, praticamente, num mercado local.
Finalmente, certos aspectos do profano, representados pela arte efémera (ornamentações e iluminações), delimitam, no espaço geral, a emergência de um espaço misto que conjuga, através de uma estratégica sinalização, a natureza a um tempo sagrado e profano do lugar, aonde se realiza a festa.
A relevância do eixo do sagrado na romaria de São Bartolomeu, que se mantém constante, desde a génese até à actualidade, demonstra uma resistência ao profano que se explica pelo contexto cultural marcadamente rural da festa. Com efeito, a coesão do mundo rural e a sua relativa estabilidade favorece a manutenção de certos costumes por parte de uma população, que tem como base económica a pequena agricultura e a recolha de algas. Este género de vida tradicional parece andar associado a uma mentalidade, que se expressa no conjunto de crenças e práticas mágico-religiosas, destinadas a lutar e a proteger os homens contra tudo o que escapa ao domínio da vontade humana.
Neste meio social particular, realizou-se uma articulação entre os elementos da liturgia oficial com os da liturgia popular, que forma uma síntese dialéctica, em que o poder salvífico do sacramento e da Igreja e a mentalidade festiva das gentes populares quase se fundem, envergando uma linguagem dos ritos e dos símbolos. Assim, a
4
preponderância dos fenómenos religiosos da festa deve-se, em larga medida, à inculturação do mágico cristão e do mágico pagão no quadro formal e fenomenológico da mesma que, ao contrário da liturgia oficial, não se explica, mas é, tão só, manifestada e vivida na infinita pluralidade e diversidade do seu sentido polissémico.
Nesta perspectiva, a liturgia da palavra e a escolarização do cristianismo conjugam-se nas celebrações de São Bartolomeu com a vivência e a intuição de uma mentalidade camponesa que, embora sofrendo o impacto da modernização e da proximidade de vários centros urbanos, realiza na sua acção quotidiana uma relação de parentesco com o sagrado renovada naquela ocasião festiva. É, por isso, que na festa de São Bartolomeu se manifesta, com grande intensidade, a busca do sentido da vida, sublinhando a dimensão comunitária, intimamente associada ao poder extraordinário da mediação, a fé inabalável entre dois mundos, opostos na sua aparência finita, mas idênticos na sua natureza de essência complementar, ôntica e existencial.
Definidos exploratoriamente a partir das festas de Nossa Senhora da Agonia de São Bartolomeu os modelos que esquematizam tendências da piedade popular, vamos, agora, considerá-los num universo representativo mais alargado, para examinar as suas dimensões características. Os dados foram coligidos e classificados num corpus documental - Anexo 1 - estudados em função da problemática enunciada, sendo para clareza da exposição, reunidos em quadros, que procuram dar uma visão, a um tempo, quantitativa e qualitativa, que completa e enriquece os principais atributos dos fenómenos que subentendem as festas religiosas.
O modelo de secularização
O primeiro modelo que esquematiza as dimensões estruturantes da piedade popular foi estudado a partir de um conjunto de 13 festas (F1 a F13), seleccionadas do corpus documental em função da sua homogeneidade estrutural e da sua coerência temática.
A maior parte delas abrange dum ponto de vista cronológico, vários séculos, integrando diferentes contextos geográfico-culturais. A sua cronologia começa na Idade Média e prolonga-se até ao século XIX, sendo umas de dimensão paroquial, outras interlocais e várias concelhias. A localização espacial varia entre a vila e a cidade, admitindo gradações de experiência organizacional entre a referência urbana e a rural periférica.
O modelo de secularização pode ser caracterizado de duas perspectivas diferentes, apesar de complementares. Uma primeira perspectiva, que visa aperceber as configurações assumidas pelas categorias que constituem a sua variável básica (profano), ou sublinhar as descentrações que vão ocorrendo na linha da evolução temporal, em relação ao eixo do sagrado, no quadro das relações entre as variáveis do modelo de secularização, realiza uma abordagem tendencialmente quantitativa, valorizando os indicadores de ocorrência para caracterizar o modelo. Uma segunda perspectiva, de natureza mais qualitativa, procura apreciar o lugar que cada uma das
dimensões do sagrado e do profano ocupa no universo do modelo festivo popular secularizado, através das interrelações sistémicas que as suas categorias estabelecem entra si.5 Inscrevem-se, além disso, em formas culturais distintas, que fazem da região uma encruzilhada cultural, condicionando a evolução da piedade popular. De facto, as festas do modelo de secularização efectuam-se num quadro que está em vias de se abrir ao tipo de sociabilidade industrial, nomeadamente nos concelhos de Viana do Castelo, Caminha e Ponte de Lima, à vida urbana e às suas representações, que potenciam a socialidade industrial, escolar e citadina de tendência secular, assim como aos reflexos socioculturais e económicos da emigração.
5 Veja-se Costa, 1998: 108-120.
5
Este tipo de fenómenos sociais comporta o lugar temporal do extraordinário onde ocorre o excesso e a celebração, dando as formas do quotidiano dão lugar a uma sociedade nova. Assim, a festa religiosa, em coerência profunda com o sentido do culto popular, magnifica o extraordinário da santidade e do sagrado, do fervor religioso e do miraculoso, dos ritos excepcionais motivados por graves desequilíbrios naturais que ameaçam o existir colectivo e, ao mesmo tempo, realiza a libertação do tempo quotidiano onde tem lugar o retorno rítmico e segurizante da festa. Neste contexto sociocultural, cada aldeia, vila ou cidade tem as suas festas nas quais a piedade popular se manifesta através do cerimonial, da sumptuosidade do lugar de culto e da ruptura do tempo quotidiano.
Organizado segundo a primeira daquelas perspectivas o Quadro I, que a seguir se apresenta, atesta de forma eloquente, o predomínio do eixo do profano. Este revela, pela variedade dos actos, pelo grau de elaboração e pelos factores de enquadramento (espaço/tempo) reservados às manifestações das categorias lúdico-recreativa, etnográfico-desportiva e económico-social, um enriquecimento em relação à romaria de Nossa Senhora da Agonia, confirmando, quanto ao essencial, o que foi descrito no modelo já referido.
QUADRO I
MODELO DE SECULARIZAÇÃO
Festas
Elementos do profano
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
Lúdico-recreativo: Música∗ xx xx xxx xx xxx xxx xxx xx xxx xxx xxx x xxxx
Iluminação x x x x x x x x x x x x x
Ornamentação x x x x x x x x x x x x x
Fogo de artifí./foguetes xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Feira de diversões x x x x x x x xx x
Baile x x x x x x x x x x x x
Tourada x
Exposições x x x x
Etnográfico-desportivo: Cortejo etnográfico x x x x x x x
Cortejo histórico x x x x
Cortejo cestos/andores/
oferendas
x x x
Festival de folc./ rancho x x x x x x x x x x x x x
Desfile da mordomia x x x x x x
Zés P’reiras/ zabumbas x x x x x x x x x x x x x
Gigantones e cabeçudos x x x x x
Provas desportivas x x x x x x
Económico-social: Feira/ feira de
artesananto
x x x x
Actividades comerciais xx x x x x x x x x x x x x
Leilão de oferendas x x x
Convívio social x x x x x x x x x x x x x
6
*o enunciado música engloba: música coral, música de filarmónica, música ligeira e rock
(conjuntos, fado, variedades, música de alto-falante), música popular (tocatas, cantares ao
desafio, Zés P´reiras, cavaquinhos, música de folclore), fanfarra.
• a frequência de X tem um significado quantitativo.
O modelo de secularização assim esquematizado apresenta três características
essenciais. Em primeiro lugar, a hipertrofia do profano que se manifesta com especial incidência na categoria do lúdico-recreativo. Esta patenteia, quer no campo dos aspectos estéticos do cenário, quer no da música e da dança, o reforço da exaltação festiva e da fantasia que se regista de forma significativamente quantitativa em todas as festas. A euforia vivida no arraial e a dimensão espaço-temporal do mesmo é, por si só, indicativas do investimento material e financeiro no profano, ao mesmo tempo que proporciona a ocasião para operarem os mecanismos psicológicos do equilíbrio e da renovação social.
Em segundo lugar, o aspecto catártico da sociedade festiva sobressai igualmente na categoria do etnográfico-desportivo. Os espectáculos desportivos, e, sobretudo, as manifestações etnográficas (exibições de Zés Pereiras, festivais de folclore, cortejos etnográficos e/ou históricos e desfiles da mordomia), que, de certo modo, cristalizam a herança cultural sob a forma de espectáculos que encerram a tradição e a memória do passado, assim como prolongam o excesso recreativo e libertador, já apontado, das festas do modelo de secularização.
A hipertrofia do profano alicerça-se, em terceiro lugar, na importância da economia e da socialidade festiva. As manifestações do homo economicus, para além de dinamizarem a economia local e regional, aproveitando a pausa no trabalho quotidiano e a aglomeração dos devotos, constituem oportunidades para o homem festivo exprimir sentimentos e excessos do foro psicológico, social e político, normalmente contidos e negligenciados.
Por sua vez, quando se considera, ainda, segundo a perspectiva quantitativa, o modelo de secularização, no âmbito da relação do eixo do sagrado com o eixo do profano, constata-se que a evolução operada se deu fundamentalmente em dois sentidos (Quadro II). Por um lado, existem festas em que a depuração parece ser o motivo da sua evolução. Por outro lado, assiste-se a uma tendência que realiza no próprio âmbito da valorização dos fenómenos do sagrado uma verdadeira relativização.
QUADRO II
MODELO DE SECULARIZAÇÂO
Festas
Elementos do Sagrado
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
Espaço sagrado:
Igreja paroquial x x x x x x x x x
Capela x x x x
Cruzeiro x x x x x x x
Actos de culto:
Novena/semana
Preparatória
x x x x
Missa/sermão xx xx xx xx xx xx xx xx x x x x x
Oração x x x x x x x x x x x x x
7
Procissão x xx xx xx xx x xx x X x xx x
Benção dos
campos/gado
x x
Voltas rituais x x
Caminhada penitencial x x
Objectos de culto:
Imagem do santo/ a x x x x x x x x x x x x x
Esmola (dinheiro) x x x x x x x x x x x x x
Pagela/santinhos x x x x x x x x x x x
Velas votivas x x x
Ex-votos x x
Oferendas
(produtos/ouro)
x x x x
Organizações:
Pároco/confraria/
comissão.
x x x
Comissão/pároco x x x x x x x x x x
Essa tendência pode ser constatada ao nível do espaço sagrado centrado, quase
só, no lugar de culto (predominantemente a igreja paroquial). O templo paroquial, pela sua grandeza e visibilidade, representa um domínio sobre o espaço da aldeia, que apesar de realçado por ocasião da festa, acaba por ver reduzido o seu poder de integração quando se confronta com os espaços profanos, que se conformam à concepção antropocêntrica que domina o modelo de secularização.
Os actos e os objectos de culto referidos no quadro completam a enumeração dos elementos do sagrado largamente depurado dos elementos da liturgia popular que parecem circunscrevê-la a um fenómeno residual. Em contrapartida, a oferta dos actos de culto, indicados nos enunciados essenciais da liturgia oficial ou mista (novena, missas, sermões, procissão), conhecem uma revalorização. Tudo isto indicia que se reduziram quantitativamente as manifestações da inculturação popular nas celebrações, porque nelas predomina a sensorialidade e a corporalidade. Ao contrário, nas festas do modelo de secularização aumenta, em proporção, o centro da directividade do eclesiástico que, frente à concorrência do profano, reforça quantitativamente a oferta de actos da liturgia oficial, menos ligada com a linguagem dos símbolos e dos ritos que domina a liturgia popular.
Por último, ao nível organizacional, o modelo de secularização caracteriza-se pela polarização dos agentes dinamizadores das festas - o padre, a confraria e a comissão. Ocorre, muitas vezes, que esta partilha das responsabilidades se traduz em confrontos da confraria e das comissões de festas, mais nestas do que naquelas, com o pároco. Em geral, são as comissões de festeiros que coordenam e dirigem, com acentuada autonomia, a realização dos eventos profanos, sinal de uma deslocação do poder, de alterações da hierarquia social e de um conflito de códigos culturais.
Considerado à luz de uma perspectiva de natureza mais qualitativa e, por conseguinte, atenta às interrelações sistémicas, o modelo de secularização caracteriza-se essencialmente pelo papel inovador que vão assumir os factores de enquadramento e a hegemonização do eixo do profano nas suas múltiplas relações entretecidas.
Por um lado, os factores espaço e tempo, que enquadram as diferentes manifestações profanas, adquirem autonomia relativamente aos factores de enquadramento do sagrado e constituem um indicador do reforço, por vezes esmagador, da oferta de espectáculos profanos reorientadores do sentido global das festas em direcção ao profano, onde a nostalgia do passado não contempla a revivescência do maravilhoso religioso.
8
Esta deslocação do sagrado para o profano expressa igualmente a tendência secularizadora que opõe a diversão à devoção. A primeira satisfaz a procura de interesses efémeros e materialistas, do jogo e da fantasia, que manifestam, por essa razão, a afirmação, no âmbito da festa popular, de uma preocupação meramente secularizante. A segunda, a devoção, pelo contrário, englobando os actos de culto vocacionados em difundir valores religiosos para os que buscam o encontro com o transcendente, não atinge pelos aspectos quantitativos e qualitativos a importância e a influência que a dimensão profana das festas alcançou.
O sentido geral desta oposição parece inserir-se no quadro das transformações provocadas pelo movimento de secularização, que teve como corolário o nítido recuo da cosmovisão e da praxis religiosa tradicional e a emergência de novas formas de interacção dialéctico-religiosa, entretecidas entre a sociedade e o indivíduo. Daí resulta a eliminação do panorama cosmovisivo de uma grande parte das coordenadas de fundo que concretizavam a conduta mágico-religiosa: a confusão do mundano e do sobrenatural, a comunicação mística dos seres, a indistinção e reciprocidade do objectivo e do subjectivo, a possibilidade de interacção a todos os níveis da realidade apreendida ôntica e afectivamente.
A ideia da hegemonização do eixo do profano manifesta-se na forma como se definem as subcategorias, no âmbito daquela dimensão, apresentando-se, cumulativamente, como relações de valorização, relações de implicação e, em casos mais restritos, como relações de equivalência aproximativa. E suscitou, devido à complexidade e desenvolvimento de que se revestiu, uma verdadeira resposta da religião oficial à autonomização do profano e à racionalização do conhecimento e da acção na cidade secular, cujo desenvolvimento originou uma tendência em direcção à secularização por parte das religiões tradicionais, traduzida num fenómeno de depuração do religioso e na dessacralização do clero.
As relações de valorização conferem, regra geral, uma clara supremacia do profano aos níveis do enquadramento espaço-temporal, da dimensão, variedade e conteúdo das manifestações profanas e do controlo da gestão dos recursos humanos e financeiros dos acontecimentos festivos. Assim, ao espaço profano é concebido para concorrer com o espaço sagrado, fornecendo à festa outras motivações. O espaço profano tornou-se o palco, cuja utilização é pensada autonomamente, onde ocorre a oferta de produtos culturais, recreativos ou económicos impregnados da mundanidade que domina a festa.
Essa transfiguração do espaço profano concretizou-se, através de uma profusa linguagem decorativa, que atinge o esplendor máximo na ornamentação e iluminação da fachada do edifício de culto. Assim, no espaço real que se configura e que, de alguma forma, faz lembrar a praça pública, a festa tem o seu lugar próprio e acorda no inconsciente de quem a vivencia a sensação de que se inventa um mundo novo, que recria provisoriamente uma utopia de universalidade, liberdade, igualdade e abundância. Deste modo, o espaço sagrado passou a ser um elemento de um mosaico de lugares e de competências, parte secundarizada da estrutura da festa, para muitos dos que a ela se deslocam.
A sincronia do espaço profano rege-se, no entanto, por um tempo próprio: um tempo festivo cronológico regulado pela circularidade, pelo retorno cíclico da festa em cada ano, que pela repetição periódica dos ritos religiosos impregna de sagrado a existência profana do homem; um tempo mental, um tempo do riso, da paródia e do grotesco, onde se refaz o passado e se criam futuros totalmente novos.
A mesma tendência se revela, quando se confronta as manifestações profanas e os actos de culto, cujos actores principais expressam atitudes e valores e representam interesses que divergem quanto ao conteúdo e aos fins que perseguem. Neste contexto, os espectáculos oferecidos pelas comissões de festas, sujeitos a um processo de normalização, tornam possíveis várias formas de convívio que conduzem a um novo paradigma que comporta diferentes modos de apropriação - a socialidade festiva. De resto, este programa festivo, complexo e variado, propicia a exaltação cósmica do corpo
9
e dos sentidos, o jogo e a diversão, a catarse purificadora das pulsões da vida quotidiana, dá credibilidade ao futuro do grupo, recria o desejo de viver e faz reviver, de novo, um património cultural religioso e profano.
Outrora, a transmissão desta herança patrimonial fazia-se principalmente pela sua vivência directa; hoje, faz-se através de uma mediação institucionalizada, que faz parte de um conjunto de acontecimentos, apresentados sob a forma de espectáculos que, pela sua contemplação, constituem elementos estruturadores da identidade do grupo e o campo da criação de novos vínculos e socialidades alternativas do religioso. Neste sentido, parece que os suportes tradicionais das socialidades crentes e agrárias foram ultrapassados por outros que deram origem a uma nova socialidade festiva e à vivência de uma cultura penetrada por elementos da cultura industrial, política, escolar e citadina.
Nas festas que se inscrevem no modelo de secularização, o universo sociocultural estruturado uniformemente pela Igreja parece ter chegado ao seu fim. Este facto está patente na forma como se organizam os actos e as manifestações festivas, que tem protagonistas próprios, meios financeiros específicos e objectos muito diversificados. Ora, todos estes elementos constituem as condições necessárias da autonomia do profano relativamente à organização da festa popular. O monopólio da gestão do pároco, que controlava as esmolas, as oferendas e os objectos, cedeu o lugar a uma divisão de tarefas que remete o clero, essencialmente, para o exercício das suas competências religiosas, cabendo à comissão organizar as realizações do profano e angariar e gerir os meios financeiros indispensáveis à expansão, por vezes esmagadora, do lúdico-recreativo e do etnográfico-desportivo.
À inversão da ordem quotidiana, que é própria da festa, junta-se uma deslocação da autoridade do sagrado para a comissão de festas e da sua visibilidade para os actores do desfile do património que chamam a si, respectivamente, o controlo dos meios financeiros e os papéis mais salientes de uma coreografia cujos actores rivalizam para os representar. Os organizadores do profano, tal como o padre, não recusam imiscuir-se nos assuntos religiosos, mas submetem-se à lógica do dinheiro e da economia e pensam-se legitimados por uma responsabilidade delegada pela população, para produzir o acontecimento festivo, no qual muitos membros desta são produtores, autores e sobretudo espectadores.
A tensão latente a que aludimos, que nem sempre se manifesta de forma explícita, é um sintoma das lógicas diferentes em que se movem o clero e os agentes da festa. A religião da Igreja é concebida como um conjunto de práticas e doutrinas morais e sacramentais, que persegue a via da salvação eterna da alma e interpreta as práticas populares como excesso e desvio, seja porque as considera eivadas de magia e superstição, seja porque, as qualifica de imorais e esvaziadas de significado religioso.
A Igreja vê-se, portanto, na contingência de disputar a clientela festiva, cuja filiação religiosa evoluiu para um catolicismo plural e para novas socialidades, atravessadas por outras imagens e outros elementos simbólicos secularizados que concorreram para o fim da homogeneidade do paradigma religioso e para o confronto dos tempos, do antigo e do novo. A deslocação do poder assinalado, que se agudiza por ocasião da festa, é o sinal de uma arquitectura social modificada e de uma identidade cultural cruzada por novos códigos.
Neste contexto, desenvolveram-se dois processos que convergem no sentido da “secularização”. O primeiro é a mutação religiosa da sociedade, que revestiu as formas de um recuo global das religiões, de uma autonomização do profano e da racionalização do conhecimento e da acção, na cidade secular. O segundo é a mutação social das religiões, que se concretizou na perda do espírito religioso dos adeptos de uma religião, na adaptação da religião à secularização da sociedade e numa certa dessacralização do clero, da liturgia e dos sacramentos, para responder melhor à secularização da vida quotidiana.
Ao mesmo tempo, a esperança do homem contemporâneo plasma-se numa multiplicidade de estados de consciência, que vão do integrismo ao secularismo,
10
passando pela assumpção de novos modelos de espiritualidade, que tendem para uma secularização da vida espiritual
Se as relações de valorização conferiram à dimensão profana, que estrutura a festa religiosa popular, um sentido de coerência e autonomia do princípio secular da organização, as relações de implicação e de equivalência entre os elementos essenciais do modelo introduzem, por seu turno, uma perspectiva antropológica unitária, abolindo, em certos casos, a fronteira entre aquelas duas dimensões.
As relações de implicação, nas suas múltiplas manifestações concretas, mostram que as realidades da festa popular relativizam a dicotomia do sagrado/profano. O espaço-tempo profano está, em parte, estruturado de forma a levar em linha de conta o lugar de culto, no qual a linguagem decorativa é expressa com a máxima exuberância da luz e da ornamentação, e os tempos fortes do religioso, que condiciona a programação da sucessividade dos acontecimentos profanos. Assim, permanece o peso da matriz religiosa original da festa e a memória da anterior centralidade do espaço sagrado, podendo ser ainda reforçada por manifestações como a procissão ou as voltas rituais que estabelecem transitoriamente a sacralidade de segmentos do espaço profano. O espaço festivo é apropriado de forma plural quer nas suas múltiplas utilizações, quer na diversidade das suas formas de organização. E isto compreende-se, porquanto a mentalidade popular o concebe através de uma centralidade para onde convergem as diferentes procuras de identidades grupais e individuais.
Na verdade, há um encadeamento entre o profano e o sagrado que espelha a interligação pontual da socialidade festiva com a socialidade religiosa. Esta confluência do sagrado e do profano tem em diversos objectos profanos e meios financeiros outros tantos veículos para assinalar ou facilitar a expressão do sagrado popular ou para que o sagrado oficial possa ensaiar a recristianização e a purificação das festas.
As relações de implicação são, por último, visíveis na gestão da festa, na medida em que envolvem, inevitavelmente, contactos do clero com o grupo de festeiros, no quadro da autonomia relativa deste, que assume, por vezes, o cariz de conflito aberto ou latente com ele, traduzindo valores próprios de cada uma das comunidades de representação. Disso é prova o programa da festa elaborado pela comissão, que pressupõe uma organização do espaço e do tempo festivo onde se inclui, dignamente, a calendarização dos actos de culto, reservando-lhe espaços e evitando a sobreposição dos tempos fortes do sagrado e do profano. Do mesmo modo, a comissão não é estranha à tendência para a transformação da procissão num espectáculo de rua caracterizado pela ostentação e à manifestação dos sentimentos religiosos sob formas profanas (a magnificência decorativa do lugar de culto).
As relações de equivalência aprofundam o sentido da relativização da dicotomia entre o sagrado e o profano ao indiferenciarem, a propósito de determinados actos e objectos, a sua pertença irredutível ao domínio de cada uma daquelas dimensões culturais. Assim, quando se considera a função que certos actos desempenham, na economia da festa popular, verifica-se que os actos profanos assumem uma feição concorrencial, mas, ao mesmo tempo, equivalente, à dos actos do sagrado. Isto acontece, por exemplo, em relação à forma dos movimentos colectivos (cortejos e desfiles equivalem à procissão) e também em relação ao conteúdo ideológico das manifestações profanas e sagradas, orientadas umas para satisfazer folguedos e a devoção, outras destinadas a fazer reviver um património e novas formas de sociabilidade.
A mesma relação de similaridade é exercida pelas funções que os objectos e a linguagem decorativa assumem na organização e funcionamento das festas religiosas. Assim como o profano utiliza diferentes objectos com que significa as relações e as interacções entre as coisas e os programas dos seus agentes, assim também os objectos-sagrados interligados no discurso festivo, fazem corresponder, agora no âmbito do paradigma religioso, funções que, de algum modo, equivalem às que exerciam os objectos profanos na sua esfera de acção própria.
11
À linguagem decorativa, por seu turno, compete dar visibilidade a esta interacção visível/oculta, na medida em que as significações/intenções que subentendem o posicionamento relacional dos objectos escapam à leitura objectivadora. Essa função conotadora dos movimentos, dos espaços e dos tempos que, muitas vezes, se transfiguram no festivo da iluminação e da ornamentação, conferem, de resto, um abrilhantamento à festa, mas, ao mesmo tempo, constituem indicadores do seu sentido colectivamente partilhado.
Os papéis e desempenhos do clero e da comissão de festas, organizadores e agentes complementares de uma celebração do povo e de uma cultura festiva, acabam, por sua vez, por originar uma dialéctica geradora de dinâmicas concorrenciais que subjaz a estes fenómenos. Nela, apesar das oposições clarificadas ao nível do consciente, ainda actuam, sob forma disruptiva, as energias de um inconsciente, em que se caldeiam os elementos do sagrado e do profano.
Note-se, por último, que as relações estabelecidas entre as categorias do modelo de secularização se fundam numa cosmovisão despojada das coordenadas do condutismo mágico-religioso e na afirmação da automomia da mundaneidade que acentuou a orientação antropocêntrica do pensamento valorizador do homem, da alegria de viver e da curiosidade científica. As realidades e os valores terrenos tendem a estabelecer-se com autonomia em relação a qualquer categoria sagrada e eclesiástica, dando lugar à emergência de novas formas dialéctico-religiosas que consistem na privatização da vivência religiosa e na eclosão de esquemas alternativos que conduzem a uma liberalização do compromisso religioso frente à rigidez institucional. Neste contexto, submetido à aculturação urbana de tipo tecnológico, aumenta o centro da directividade do eclesiástico, que face à concorrência do profano, reforça a oferta do religioso oficial, menos ligada com a linguagem dos símbolos e dos ritos que domina a liturgia popular.
O modelo de clericalização
O segundo modelo foi estudado a partir de 9 festas (F14 a F22) escolhidas de entre uma totalidade de 22 enumeradas no corpus documental (Anexo 1), de acordo com critérios de pertinência e coerência temática.
As festas seleccionadas, recortando uma longa duração que se origina na Idade Média e prolonga-se até ao século XIX, inscrevem-se no contexto geográfico-cultural vincadamente campesino dos concelhos rurais do interior do Alto Minho. A sua natureza rural apesar de atravessada por novas racionalidades de matriz urbana e industrial permanece, ainda, mais ou menos homogénea, dominada por uma sociabilidade ligada ao religioso, à tradição, à autoridade da Igreja, ao trabalho da terra e ao contacto com a natureza.
O modelo de clericalização, à semelhança do que acontece com o modelo de secularização, também vai ser caracterizado à luz das perspectivas quantitativa e qualitativa. Assim, no que toca à primeira daquelas abordagens, o modelo vai permitir compreender como se organizaram em torno da variável do sagrado os diferentes fenómenos, visão que se reforçou com o alargamento do campo de estudo da festa inicialmente considerada (festa de São Bartolomeu) às festas agora focalizadas. Ao mesmo tempo, ainda no âmbito da perspectiva quantitativa, torna-se possível apreender as características mais marcantes da evolução do modelo no sentido de uma espécie decantação do sagrado.6
A segunda perspectiva de natureza mais qualitativa, incidindo sobre as interrelações sistémicas que as categorias do sagrado e do profano estabelecem entre si, vai clarificar, no âmbito da esquematização operada, o sentido das relações que se
6 Veja-se Costa; Costa: 404-409.
12
polarizam em torno dos fenómenos-acontecimentos do sagrado.7 O modelo de clericalização, considerado numa perspectiva tendencialmente
quantitativa, mostra, de forma inequívoca, que os componentes da variável básica (o sagrado) atestam o predomínio do eixo do religioso ao nível dos elementos religiosos do enquadramento, dos actos de culto (oficial e popular) e dos objectos. O profano, por sua vez, permanece, com maior ou menor nitidez, remetido para um plano secundário, sendo sobretudo observável nas manifestações musicais e nas actividades comercias.
É justamente esta configuração que emerge da leitura do Quadro III que procura organizar sistematicamente, nas expressões quantificáveis, as categorias das festas F14 a F22, que se inscrevem no modelo de clericalização.
QUADRO III
MODELO DE CLERICALIZAÇÃO
Festas
Elementos do Sagrado
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
Espaço sagrado: Igreja x x x
Capela x x xx x x x x x
Cruzeiro x x x x x x x
Monte x x x x
Actos de culto: Novena/recitação do terço x x xxx
Missa, sermão x x x x xx x xx x x
Oração x x x x x x x x x
Procissão (ões) x x x x xx x xxx x
Bênção do gado/campos x
Peregrinação interparoquial x
Caminhada penitencial x x x x x x x
Voltas rituais a pé/de joelhos x x x x x x xx x xx
Toque/beijo/imposição xx x xx xx
Amortalhados x x x x x x x x
Objectos de culto:
Esmola (dinheiro) x x x x x x x x x
Santinhos/pagelas x x x x x x x x
Velas em cera x x x x x x x x
Imagem do santo (a) x x x x x x x x x
Oferendas (produtos agríc) x x x x
Ex-votos em cera x x x x x x x
Organizações:
Pároco/confraria x x x x x x
Comissão/pároco x x x
A frequência de X tem um significado quantitativo
7 Veja-se Costa; Costa: 409-428.
13
Da configuração do modelo ressaltam, fundamentalmente, 4 grandes características. Em primeiro lugar, o espaço sagrado, cujo centro é preferencialmente uma capela erigida em honra de santos taumaturgos e terapeutas (São Silvestre, São Brás, São Bento, São Bárbara, São Rita de Cássia, Santa Marinha), constitui o lugar onde se guardam os signos e os objectos que alimentam com o excepcional a piedade popular. Ele forma o núcleo aglutinador do espaço festivo que o circunda, no qual se inscrevem os elementos do profano, sinal da dominância do papel eclesial.
A particularidade do espaço sacral no modelo de clericalização é sobretudo visível nos exemplos em que o lugar de culto se situa no alto das montanhas. Aí o crente presta culto, diverte-se e alimenta-se no quadro de um cosmologismo pansacralista, que estende os seus laços a outros espaços graças aos movimentos penitenciais alargando a dinâmica do sagrado e viabilizando a dialéctica entre este e o profano pela qual se exprime e anima a vivência do transcendente.
Em segundo lugar, um outro traço estrutural do modelo de clericalização é ilustrado pela categoria actos de culto, onde a um conjunto de elementos da liturgia oficial, ou fortemente enquadrados pelo clero (missa, novena, procissão, peregrinação interparoquial, bênção do gado), se articula outro de natureza devocional estritamente popular (caminhada penitencial, voltas rituais, práticas de toque e beijo, amortalhados, oração), que constitui para muitos o conjunto das celebrações essenciais da festa. De facto, este conjunto de elementos é, por um lado, o suporte do eixo do sagrado e, por outro, parece subsumir a cristalização, quer dos aspectos oriundos da cristianização, quer dos elementos que revestem a forma de uma aculturação popular do religioso.
Em terceiro lugar, a este conjunto de ritos litúrgicos oficiais e populares andam associados diversos objectos de culto (imagem do santo, esmola, santinhos, velas, ex-votos, oferendas), registados massivamente, que constituem outra categoria fundamental do eixo do sagrado. No seu conjunto confirmam a dominância do sagrado do modelo clerical, reflectem a amplitude das promessas, da veneração e dos pedidos de socorro, assim como a importância de que se reveste o mágico cristão e o mágico pagão para os que se deslocam às festas em busca do sagrado e da cura para os seus males. Os objectos e as práticas gestuais, que originam, fazem deles o suporte que permite à mentalidade popular estabelecer um sistema de intimidade relacional com o santo marcado por um comércio cultual, que é alimento de fé e potência energética de abertura à graça, assim como manifesta uma consciência do mundo onde por intermédio dos lugares e dos objectos sagrados o transcendente se faz imanente.
Por último, a preponderância dos fenómenos religiosos concretiza-se na categoria organização onde se exerce o domínio ordenador e determinante do clero. Este, para além de funcionário do sagrado, é invariavelmente membro ou presidente da confraria ou da comissão de festas que, por vezes, é nomeada por ele. Neste quadro organizacional é, pois, visível a subordinação dos elementos laicos ou laicizados à tutela e à directividade do clero.
Por seu turno, quando se considera a evolução do modelo de clericalização na perspectiva da relação do sagrado com o profano, constata-se uma hipotrofia dos elementos do eixo do profano. Na verdade, estes apresentam um carácter secundário na configuração geral da festa e um número de ocorrências desigual entre as suas três categorias fundamentais fixadas no Quadro IV.
QUADRO IV
MODELO DE CLERICALIZAÇÃO
14
Festas
Elementos do Profano
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
Lúdico-recreativo:
Música ∗∗ xx xx xx xx x x x xx xx
Iluminação x x x x x x x
Ornamentação x x x x x x x
Fogo de artificio/foguetes x x x x x x x x
Feira de diversões x
Baile x X x x x
Etnográfico-desportivo Cortejo dos mordomos x
Actuação de ranchos x x x x
Zés-Pereiras x x x x x
Provas desportivas x x
Económico-social: Convívio social x x x x x x x x x
Actividades comerciais ∗ x x x x x x x x x
Refeição ao ar livre x x x x x
Leilão das oferendas x x x x
A frequência de X tem um significado quantitativo
∗o enunciado actividades comerciais compreende: barracas de comes e bebes, quinquilharia, doçaria,
feira de gado cavalar e bovino, feira de alhos
∗∗o enunciado música engloba: música de orquestra (banda), música ligeira (conjuntos, música de
alto-falante), música popular (tocatas, descantes, cantares ao desafio, folclórica, conjuntos típicos)
Estas festas revelam, essencialmente, que o clero conseguiu preservar, em larga
medida, o sagrado da contaminação do profano. Por um lado, defenderam-no dos assaltos das tentações da noite e dos excessos do corpo. O empobrecimento quantitativo e a escassa variedade dos enunciados da categoria do lúdico-recreativo são disso prova, designadamente da perda da influência desempenhadas pelo arraial, constituindo, por isso, uma outra especificidade do modelo de clericalização bastante relevante. Com efeito, não só as oportunidades de diversão são limitadas, como também algumas manifestações são pouco diversificadas e muito circunscritas no tempo e no espaço, já que o arraial é frequentemente diurno ou tem expressão nocturna reduzida.
Por outro lado, a retracção da categoria do etnográfico-desportivo patente nos espectáculos do arraial, cuja expressão quantitativa é escassa, enquadra-se na vivência da festa popular centrada na igreja/capela. Desse modo, os cortejos da mordomia, as actuações dos ranchos e dos Zés P’reiras, tendem a sacrificar a função de memória colectiva à expressividade religiosa.
Só a categoria económico-social se compatibiliza, mais pacificamente com a festa religiosa. O conjunto apresenta-se pouco diversificado e os seus componentes (barracas de comes e bebes, de doçaria, quinquilharia) dispõem-se no espaço em função da proximidade do lugar de culto. A mesma convergência é manifestada na refeição ao ar livre, no quadro arborizado que circunda o lugar de culto, sinal de abundância (a que o santo cultuado não é alheio) e expressão da dimensão existencial da ruptura com as dificuldades quotidianas.
Se atentarmos, agora, ao modo como se relacionam entre si, no interior do modelo, as diferentes categorias que o enformam, privilegiando uma abordagem qualitativa,
15
reforçar-se a imagem de uma sobrevalorização do sagrado, quer ao nível do enquadramento em que se movimenta, quer ao nível das relações que suscita.
Uma primeira série de características centra-se em torno da ideia de que o sagrado se opõe ao profano, mas só nas situações extremas em que aparecem os desvios (condutas desviantes), enquanto uma segunda série, completamente organizada em torno do eixo do sagrado, articula, através de vários tipos de relações associativas, o eixo do sagrado às diferentes actividades de natureza secular.
Assim, verifica-se que no modelo de clericalização as relações entre as categorias preponderantes do sagrado e do profano reflectem uma certa natureza de oposição enquanto categorias globais. Neste contexto, o quadro espacial e temporal, onde se desenrolam as principais manifestações sagradas da liturgia oficial e popular, tem resistido com significativo sucesso à inclusão de espaços e tempos fortes do profano concorrentes da matriz religiosa essencial do modelo.
De facto, os espaços aonde se realizam os actos religiosos (lugar de culto, área envolvente, caminhos de peregrinação) constituem, em especial para os romeiros, os factores que enquadram o movimento de busca do sagrado, reforçando a sua ruptura com o profano, porquanto o facto de serem pequenos santuários rurais, permite, mais facilmente, que a natureza revele ao homem a sua grandeza, a sua imensidade.
Este poder de atracção é, ainda, ampliado pela romagem que alarga o espaço sagrado realizado pela caminhada penitencial e pelas procissões, que, assim, inscrevem no quadro físico novos itinerários, sacralizados pela renovação periódica do movimento de busca do sagrado. O espaço da romagem constitui, física e mentalmente, uma ruptura do quotidiano - mudança de espaço - onde tem lugar a experiência ordinária.
O espaço sagrado, que é o substrato do acto peregrino, transforma o tempo histórico em celebração de um tempo sagrado. As celebrações portadoras de força sobrenatural não se podem realizar e apreciar fora das temporalidades, que pela sua singularidade ampliam a força das acções, sendo especialmente propícias a uma vivência emotiva do mundo.
Pode dizer-se, a este propósito, que o modelo de clericalização encerra, com muita nitidez, uma tripla temporalidade: uma temporalidade cíclica, aonde a constância do tempo é renovada pela vivência cíclica de cada retorno anual; outra temporalidade securizante que, inscrevendo o tempo festivo num calendário religioso do extraordinário, funciona como um tempo particularmente securizante; e uma temporalidade taumatúrgica, que recortando-se no tempo próprio da festa pela profusão de actos de culto e de exercícios piedosos, culmina na manhã do grande dia dedicado ao santo terapeuta ou taumaturgo.
O mundo existencial e psicológico da piedade, que subentende o modelo de clericalização, é caracterizado igualmente pelos diversos objectos de culto que, pelo seu significado, reforçam o seu carácter sagrado, opondo-os aos objectos profanos do arraial. Entre todos destacam-se as imagens dos santos ou de Nossa Senhora, colocados no seu andor luxuosamente decorado, nos quais adquirem, uma aura ainda mais virtuosa que nos outros dias, reforçando o seu poder protector ou curativo. Ao contrário da finitude dos objectos profanos, as imagens estabelecem laços entre a realidade sensível do objecto representado, o poder metafísico do signo e a sensibilidade colectiva e individual dos homens para quem elas foram feitas: são, a um tempo, o instrumento de uma consciência reencontrada da ordem do mundo e uma chave para decifração da eternidade.
Este festivo religioso na sua dimensão oficial opõe-se, pela sua natureza infinita, à finitude dos valores materiais, ao divertimento, ao jogo e à fantasia que domina o festivo profano. Para isso concorre a linguagem decorativa, na medida em que, ao dar visibilidade a esta interacção visível/oculta dos lugares e dos objectos, exerce uma função conotadora dos movimentos, dos espaços, dos tempos e dos objectos, e indica, além de conferir abrilhantamento à festa, o limite no interior do qual o seu sentido poder ser colectivamente partilhado.
16
A organização das festas pode, ocasionalmente, reflectir a oposição entre uma abordagem dicotómica do sagrado e do profano por parte do clero e uma vivência do religioso dos membros laicos da confraria e das comissões mais abertas à integração de expressões do profano. Esta oposição pode, ainda, revelar-se em relação à forma como os organizadores concebem a festa religiosa. Assim, enquanto o clero preconiza uma abordagem dicotómica do sagrado e do profano, os leigos tendem para uma programação das festas religiosas mais orientada para uma concepção unitária das suas duas dimensões.
A ideia da hegemonização do eixo do sagrado expresso nas relações de oposição, aprofunda-se, com o mesmo sentido, nas relações de valorização. No entanto, é possível, em alguns dos seus aspectos, descobrir uma certa relativização através das formas que assumem as relações de implicação e de equivalência.
As relações de valorização sublinham, regra geral, a supremacia do sagrado ao atribuir um valor de natureza positivo ao enquadramento espácio-temporal, intimamente associado à ideia de que os caminhos da romagem concretizam o gesto peregrino e processional sacralizador, na medida em que subentendem uma mutação interior, que atinge o clímax no locus sagrado.
Dotado de uma cenografia globalizadora, o espaço sagrado reduz, drasticamente, a esfera de acção do espaço profano a uma clara posição de subalternidade, parte secundarizada da estrutura das festas para muitos dos que a ela se deslocam. A ruptura do espaço quotidiano passa primordialmente pelo vivido no espaço sagrado, já que este se apresenta como o substrato, onde, por mediação do gesto penitencial e sacralizador, o corpo e a alma se transformam.
A sacralização do espaço e do tempo concorre, no entanto, com a valorização de espaços e de tempos onde o profano se sobrepõe. Afinal de contas, as massas presentes celebram um tempo do extraordinário, um rito sacral e, sob a capa de uma difusa sacralidade, festejam ainda o sentido lúdico da vida, a evasão, por vezes exuberante, do quotidiano, no qual os abusos e os excessos são frequentes.
A mesma tendência verifica-se na variedade e conteúdo dos actos do sagrado oficial e popular. O modelo de clericalização configura uma síntese dialéctica entre a perspectiva religiosa eclesiástica moderadamente exaltante do poder do homem e a piedade popular. Na verdade, estas festas, que se inscrevem no modelo de clericalização, são autênticas celebrações que incluem, especialmente, o acto litúrgico eucarístico. Porém, essa liturgia que deveria ser o clímax da celebração do povo resulta, por vezes, em algo extrínseco que acaba por não incorporar todo o entusiasmo popular, nomeadamente o religioso que se dá em outros momentos da festa (caminhada penitencial, voltas rituais, procissão), marcada pela consciência unitária do universo, que se exprime essencialmente por meio do silêncio e por um arsenal de gestos, com os quais apela ou agradece o poder mediador dos santos e de Nossa Senhora.
O cunho peculiar de várias destas festas nota-se nas práticas da liturgia popular. Esta exprime-se essencialmente por meio do silêncio e de uma linguagem gestual e corporal elaborada para protecção dos malefícios e dos desequilíbrios do irracional, que constituem a própria estrutura da piedade popular, e serve, por um lado, para exorcizar os males do corpo e as angústias da alma e, por outro, para propiciar a descoberta efémera de um mundo outro, no qual as forças sobrenaturais exercem a sua influência sobre o curso da acção imanente.
Em conformidade, os actos religiosos, nas suas diversas formas, garantindo o predomínio do sagrado, ao mesmo tempo que facultam o desenvolvimento da sociabilidade de matriz religiosa, na qual se vem incrustar, subsidiariamente, elementos da sociabilidade profana. Por conseguinte, no modelo de clericalização dominam as atitudes e os valores devocionais motivados pela busca do transcendente, pela procura ávida da intervenção da graça como protecção contra os perigos do mundo, facilitada pela concentração de uma sociedade festiva.
A prossecução deste fim exige uma panóplia de objectos sagrados, ou postos à disposição dos crentes pelo clero, pela comissão e pela confraria, ou pertencentes ao
17
próprio romeiro que detém, em larga medida, o controlo do sistema relacional com os santos. Tudo se passa como se os fiéis acedessem mais facilmente aos conceitos abstractos pelas figurações concretas (imagens, ex-votos, pagelas, velas), destinadas ao ensino e à educação, ao cumprimento de um voto e ao pagamento de uma graça. Como suportes da crença, eles são indispensáveis para fixar, alimentar e concentrar a psique do romeiro, completando a sacralização adquirida nos rituais de preparação e na caminhada penitencial. Com efeito, é perante a imagem do santo que o crente enceta uma intensa e breve comunicação sacral, física e mental, susceptível de curar e de proteger.
A decoração do lugar de culto, das imagens e dos andores, apesar de não atingir a exuberância e a profusão das festas do modelo de secularização, mantém um enorme poder integrador, porque contrasta com a escassa e pouco atractiva decoração/iluminação do espaço profano. O cerimonial consome grande parte dos meios financeiros gastos com a decoração do espaço sagrado (sobretudo com o interior e o exterior do lugar de culto e os andores) com os actos e os objectos de culto.
Daí, o papel preponderante dos agentes da organização eclesiástica na sua gestão, o que, por vezes, contribui para agravar a tensão latente das relações entre o clero e as comissões/confraria, ou as massas participantes das festas, manifestando a concorrência de diferentes processos de conceber e praticar a religião. A hierarquia eclesiástica, regra geral, tem procurado, com perseverança, disciplinar o religioso excluindo o profano ou, quando tal não tem sido possível, subordiná-lo ao critério religioso.
As relações de valorização conferiram à dimensão sagrada um sentido de coerência e predominância do sagrado. Mas, as relações de implicação, ao introduzirem, em algumas das suas categorias, uma perspectiva antropológica unitária relativizam, de certo modo, a dicotomia do sagrado e do profano, abolindo, em certos casos, as suas fronteiras. A mentalidade dominante na piedade popular concebe a realidade inteira como algo onde o homem está profundamente inserido, o que esbate a distinção que opõe os entes objectivos e os estados subjectivos. O mundo inteiro é concebido como uma totalidade orgânica, vital, regendo-se todos os seus níveis constitutivos pelas leis da simpatia, da continuidade e do intercâmbio, e assim é experimentado.
As relações de implicação assinalam sobretudo, no interior da visão antropológica unitária, uma espécie de dependência que liga duas realidades que se contrariam pela sua natureza e pelo seu significado. Pode, nesta perspectiva, discriminar-se dois tipos de dependência que consubstanciam as relações de implicação na forma concreta que revestem nestas festas.
Em primeiro lugar, existe uma dependência entre as realidades vividas, ao nível do sagrado e/ou do profano, que é estabelecida por um elemento da realidade invariante - o caso do percurso - que serve de substrato à sua realização existencial, sob a forma de projecto, encaminhando-se ora em direcção ao sagrado, ora no sentido contrário. Isto é igualmente visível no espaço sagrado, organizado em torno de um local determinado (o lugar de culto), que apela ao ajuntamento, à peregrinação e à festa, onde a distinção do sagrado e do profano é abolida.
À simultaneidade com que o espaço é representado na realização das festas associa-se a sucessividade dos acontecimentos festivos em que o tempo sagrado se interliga, com relativa naturalidade, ao tempo profano. Tudo isto supõe uma visão unitária do cosmos e a função simbólica do homem e das coisas que, em última instância, não estabelece uma separação dos espaços e dos tempos. Na mentalidade do homem rural existe uma espécie de continuum entre o objectivo e o subjectivo, um trânsito contínuo entre o objectivo e o subjectivo, que concilia os espaços e os tempos da festa, subentendendo uma atitude comunicativa entre as coisas.
Existem, ainda, situações em que essa dependência entre as realidades opostas é assegurada pela gramática da visibilidade aparente e efémera, com que a iluminação ou a ornamentação procuram sublinhar a fronteira a partir da qual o misterioso e o espectacular se podem manifestar, produzindo as suas consequências específicas.
18
Como quer que seja, estas duas espécies de dependência, em que se concretizam as relações da implicação, constituem o primeiro tipo de dependência, caracterizando-se por uma implicação de natureza externa em relação às realidades contrárias que, de certo modo, procura aproximar. Outro é o alcance do tipo de dependências que se pode verificar nos actos, nas atitudes e valores, nos interesses, bem como nos objectos e na organização em geral. Neste domínio, a implicação atravessa realidades contrárias e une-as no campo unitário onto-antropológico.
Assim, acontece com a realização de certos actos, como a execução musical pela banda durante a missa, o acompanhamento da procissão ou com o leilão destinado a angariar meios para financiar a festa. Corolário desta situação é o facto de os valores e de as atitudes do homo religiosus envolverem os valores e as atitudes do homo profanus: o romeiro reza e diverte-se assumindo-se na totalidade do seu ser. Na verdade, a socialidade festiva começa na caminhada penitencial, cuja função religiosa é mesclada de cânticos profanos e de convívio social, sobretudo entre os jovens. Esta vivência culmina no espaço envolvente do lugar de culto, já que a busca do sagrado implica lugares próximos, que permitem satisfazer as necessidades de diversão, simultaneamente reconfortante e libertadora, que toca fundo os que participam nas festas.
A linguagem das práticas, dos gestos e dos ritos da piedade popular, reclama recursos para expressar que são verdadeiras criações sacralizantes (o dinheiro da promessa, as oferendas, as velas em cera), cujas utilizações mais comuns são a protecção, a taumaturgia e superstição mágica, em geral. Mas, podem igualmente ampliar o alcance dos actos sagrado (por exemplo o alto-falante, os foguetes, os objectos da decoração, os instrumentos da banda). Esta confluência do sagrado, tornada possível por veículos caracterizados pela sua materialidade, destina-se a assinalar, ou a facilitar a expressão do sagrado popular, ou a recristianização e purificação das festas.
As relações de implicação são, por último, visíveis na gestão da festa (programação e organização, gestão dos meios financeiros), na medida em que nela conflui o clero e a comissão de festeiros a ponto de, não raras vezes, esta ser nomeada pelo pároco. A comissão de festas não é estranha à tendência para a transformação da procissão num espectáculo dramatizador dos mistérios salvadores, ou da vida dos santos, propenso ao entusiasmo transbordante, ou à sua redução a um folclore colorido, assim como à manifestação de sentimentos religiosos sob formas profanas (os foguetes, a fanfarra, a ostentação da decoração do lugar de culto).
Os papéis e desempenhos do clero e da comissão de festas (mordomos organizadores) e agentes complementares de uma cultura festiva ilustram, igualmente, a comunicação entre o sagrado e o profano. De facto, ainda que as relações entre a entidade eclesiástica e a comissão laica conheçam afloramentos concorrenciais, verifica-se que as confrarias são, por vezes, presididas pelos párocos que do mesmo modo nomeiam e/ou dirigem algumas das comissões. Daqui, decorre que, em vários casos, a parte mais significativa dos meios financeiros seja investida no espaço, nos actos e nos objectos sagrados.
No mesmo sentido, as relações de equivalência prolongam o sentido dessa relativização ao indiferenciarem, a propósito de determinados aspectos, a sua pertença irredutível ao domínio do sagrado e do profano. Estamos perante uma realidade orgânica de um mundo incarnado, alheia às dicotomias entre natureza e sobrenatureza.
As relações de equivalência assumem a forma da semelhança no interior de uma espécie de teoria especular, aonde a identidade e a alteridade se correspondem. Isto acontece quando os objectos e a linguagem decorativa assumem, na organização e no desenrolar das festas, funções semelhantes. Assim como o sagrado utiliza diferentes objectos com que realiza as relações e as interacções entre as coisas e os programas intencionalmente organizacionais dos seus agentes, assim também os objectos profanos, interligados no discurso festivo, fazem corresponder, agora no âmbito do paradigma do sagrado, funções que de algum modo equivalem às que exerciam os profanos na sua
19
esfera de acção própria (por exemplo: produtos do leilão/produtos das actividades económicas).
Por outro lado, as imagens dos santos ou de Nossa Senhora, a que estão associadas virtudes terapêuticas ou protectoras, materializam a palavra e, por isso, constituem o signo de poder oferecido a todos, que se torna presença: imóveis, elas animam, silenciosas, elas falam. Confirmaram um poder de incarnação do signo cultual e a sua virtude metafísica e, ao mesmo tempo, têm o valor de um signo histórico: mostram-se no finito, mas remetem para o transcendente. Deste modo, as imagens unem dois mundos: são o suporte da extroversão em direcção ao transcendente, ao mesmo tempo que permitem ao orante, num movimento de introversão, a interiorização dos valores emanados delas, sem o que o impulso de extroversão não seria durável.
A materialidade das imagens é o suporte que faz coexistir a ambivalência do sagrado e do profano: fisicamente passivas, elas devem ser fonte da alma e alimento da piedade comum; quando se tornam objecto de culto a sua materialidade deixa de ter realidade própria para se transformar numa realidade instrumental ou suporte de religião. Por um lado, as imagens são signo e via para outro mundo; por outro, são portadoras de uma mensagem que anima a socialização da experiência de abertura ao divino Em suma, as imagens são uma concentração sacralizante que exerce uma tripla função: torna sensível o sacral através da representação, oferece a certeza do invisível pela mediação simbólica, e, por último, estabelece uma verdadeira teologia visual, mediante a teofania.
O mesmo se pode afirmar em relação à função que certos actos desempenham, na economia da festa popular. Verifica-se que os actos profanos desempenham uma função correspondente à dos actos do sagrado, não representando na mentalidade popular qualquer hiato na passagem dos que procuram satisfazer folguedos para os que visam promover a devoção.
Enfim, os enquadramentos espacial e temporal, designadamente na sua feição de percurso em direcção ao lugar de culto e durante o curso da festa, estão marcados pela contiguidade que viabiliza tanto o lúdico, a expressão sensorial e o convívio social/sexual, como as celebrações religiosas e a sociabilidade que elas propiciam.
É interessante notar que o sentido da oposição, que deflui das interrelações complexas, tecidas entre as diferentes categorias do modelo de clericalização, fundada numa genuína ambivalência originada pelo caldeamento das visões do mundo dualista e unitária, da liturgia oficial e da liturgia popular, se inscreve no quadro da civilização tradicional8, em que as actividades agrícolas ligadas à natureza impõem ao homem um ritmo de trabalho e originam a organização de um conjunto de valores que fazem depender a segurança e o bem-estar da natureza-mãe, conferindo à estabilidade e à tradição o estatuto de pilares da vida em comunidade. O sagrado no campo da piedade subordina a piedade popular à orientação clerical da hierarquia eclesiástica, que veicula os valores do cristianismo oficial às massas, num panorama onde a Igreja, dada a pertinácia e a persistência das atitudes populares, tenta controlar os excessos do profano e os “desvios” da piedade popular, procurando influenciar no sentido de desmaterializar a sua presença e actuação.
Conclusão
A explicação da abordagem realizada permitiu a emergência, no decurso da evolução das tendências da piedade popular, dos modelos de secularização e clericalização, caracterizadores de realidades opostas.
O modelo de secularização esquematiza um tipo de piedade cuja estrutura está marcada pela infiltração de elementos profanos e pelo movimento oposto dos elementos
8 Veja-se Varagnac: 9-38, 247-272, 371-379.
20
sagrados, submetidos a uma progressão depuradora. O universo festivo desenhado encerra o predomínio do profano e relega a matriz religiosa original para uma significação secundária. As relações que se tecem entre categorias que especificam o espaço-tempo, os actos, os objectos, as linguagens, as organizações, as funções e os sujeitos permitem elaborar uma espécie de topografia das festas secularizadas, descrevendo-as e apreendendo-as nos seus traços coerentes e nas suas interdependências.
Inscreve-se, por isso, o seu sistema de relações num contexto geográfico-cultural caracterizado por um enquadramento urbano, ou tendencialmente urbano, que reflecte, presumivelmente, o desenvolvimento interrelacionado da industrialização, da tecnologia e da escolarização, assim como a emergência de uma racionalidade que tende a privar a religião da sua influência social. O modelo de secularização abrange, assim, os fenómenos festivos populares que evoluem sob o signo da cultura oficial profana caracterizada pela pluralidade dos centros de criação cultural e pela descentralização dos sistemas de significações, dos agentes e dos veículos culturais.
Em contraposição, o modelo de clericalização expressa a sobrevalorização do sagrado, organizados em torno da liturgia oficial, marcado pela estabilidade dos seus componentes religiosos, articulados num relativo equilíbrio com a festa profana. Desenhado a partir do campo nocional e emocional do religioso, que orienta o homem para uma vivência, onde o transcendente constitui um valor-guia, o modelo circunscreve um universo festivo em que predomina o religioso litúrgico e popular concentrado em espaços e ritmos de tempos, actos e objectos, organizações e agentes, facultando uma morfologia das festas clericalizadas que atestam a busca do sobrenatural para a protecção contra os males do corpo e da alma. Associa-se-lhe, no entanto, uma dimensão unificadora, que reflecte a vivência do homem camponês que apresenta uma mentalidade enraizada numa antropologia unitária e no transcendente, a qual se insere, de certo modo tensionalmente, numa cultura oficial em que o centro da criação cultural é dominado pelo clero.
O modelo de clericalização, com o seu sistema de relações, desenvolve-se num contexto geográfico-cultural próprio da civilização tradicional, onde predomina uma vivência caracterizada por uma relativa estabilidade que favorece a manutenção de uma forma de vida associada a uma mentalidade, na qual avultam as crenças e práticas mágico-religiosas, destinadas a curar e a proteger os homens contra tudo o que escapa ao domínio do poder humano.
Os modelos de secularização e de clericalização, na medida em que facultam uma esquematização do real, sem se confundir com ele, podem constituir um guia de investigação da festa religiosa popular, fornecendo um instrumento metodológico de pesquisa das suas estruturas e da sua evolução histórica. É neste sentido que a modelização da piedade popular parece encerrar um valor heurístico significativo, revelando um poder descritivo e explicativo suficientemente coerente, permitindo, ao mesmo tempo, cingir, com rigor, os fenómenos religiosos e o seu respectivo enquadramento espaço-temporal.
ANEXO I
Características
Festas
Cronologia
Localização
Cód
.
Mod.
Santa Cristina Id. Média - século XX Meadela / Viana do Cast. F1
Santa Marta Id. Média - século XX Portuzelo/Viana do Castelo F2
S. José, S. António, N. S. Rosário Séc. XVI - séc. XX Outeiro/Viana do Castelo F3
N. S. de Guadalupe Séc. XIX - séc. XX Cast. do Neiva/Viana do C. F4
N. S. das Rosas Séc. XVII - séc. XX Vila Franca/Viana do C. F5
21
Festa das Cruzes Séc. XVII? - séc. XX Alvarães/Viana do Castelo F6
S. Tiago, S. António e S. José Id. Média? - séc. XX V. N. de Anha/ Viana do Cast. F7 A S. Martinho Id. Média – séc. XX Gandra/Ponte de Lima F8
N. S. das Dores Séc. XVIII - séc. XX Ponte de Lima/Ponte de Lima F9
S. Bartolomeu Séc. XVII - séc. XX Ponte da Barca F10
S. Rita de Cássia Séc. XVIII? - séc. XX Caminha/Caminha F11
São Lourenço da Armada Séc. XVI - séc. XX Gondufe/Ponte de Lima F12
São Sebastião Séc. XVI - séc. XX Vila Nova de Cerveira F13
S. Silvestre Séc. XVI? - séc. XX Cardielos/Viana do Castelo F14
S. Marinha Séc. XVIII - séc. XX Covas/V. N. de Cerveira F15
Nossa Senhora do Faro Séc. XVIII - séc. XX Ganfei/Valença F16
S. Brás Séc. XVIII - séc. XX Pinheiros/Monção F17
Santa Rita de Cássia Séc. XVII - séc. XX Rouças/Melgaço F18 B S. Bento Id. Média - séc. XX Ermelo/Arcos de Valdevez F19
N. Senhora da Peneda Séc. XIII/XVI - séc. Gavieira/Arcos de Valdevez F20
S. Bárbara Séc. XIX - séc. XX Montaria/Viana do Castelo F21
S. Bento de Cima Séc. XVI - séc. XX Cossourado/Paredes de Coura F22
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1.Fontes Abreu, Alberto Antunes, 1986. Origem da romaria da Senhora da Agonia, separata do Boletim II da II Exposição filatélica regional "Viana 86". Viana do Castelo: Secção Filatélica dos Bombeiros Voluntários. , 1994. A devoção vianense a Nossa Senhora da Agonia. Theologica, vol. XXIX, fasc. 2, p. 343-379. Arieiro, José Borlido C., 1996. Real Irmandade de Nossa Senhora da Peneda na Freguesia da Gavieira. Arcos de Valdevez: Edição da Câmara Municipal, Cepa, Manuel Martins, 1944. Monografia de S. Miguel de Alvarães. Braga: s. n. Callier-Boisvert, Colette, 1969. Survivances d'un 'bain sacré' au Portugal. São Bartolomeu do Mar. Bulletin des Études Portugaises, vol. XXX, p. 347-367. Costa, Amadeu, 1980. Achegas para a história da vela votiva. Cadernos Vianenses, nº 3, [s. p.] Dias, Geraldo J. A., 1986. O Alto-Minho em tempo de festa. Humanística e Teologia, tomo VI, fasc. III, p. 251-282. Festa das Rosas, Vila Franca do Lima, 10 a 13 de Maio, 1996. Festa das Cruzes. Andores floridos, 18 e 19 de Maio de 1996, Alvarães, Viana do Castelo. Festas da Sra. da Guadalupe, 25 a 28 de Agosto, 1994. Castelo do Neiva. Festas da Sra. da Guadalupe, 25 a 28 de Agosto de 1995. Castelo do Neiva. Festas das Cruzes, 20 de Maio a 3 de Junho de l995. Alvarães, Viana do Castelo. Festas concelhias em honra de S. Sebastião, Vila Nova de Cerveira, 29 de Julho a 4 de Agosto de 1996. Festas concelhias em honra de Santa Rita de Cássia, dias 9-10-11, 1996. Caminha.
A- festas do modelo de secularização
B- festas do modelo de clericalização
22
Festas da Meadela 95, 1-5-6 de Agosto [1995]. Viana do Castelo. Festas de Outeiro. S. José, Stº António, Srª do Rosário, dias 25-26-27-28- de Abril, Viana do Castelo. Festas de Vila Nova de Anha, 20 a 28 de Julho, Viana do Castelo. Festas do concelho. Feiras Novas. Ponte de Lima, 14 a 16 de Setembro de 1996. Programa. Loureiro, José Carlos de Magalhães, 1994. As feiras novas no princípio do século”. O Anunciador das Feiras Novas, nº XI, [s. p.] Moraes, Adelino Tito de, 1984. Pequena história das ‘feiras novas. O Anunciador das “feiras novas”, nº 1, [s. p.] 1984, Programa [das festas das “feiras novas de 1984]. O Anunciador das “feiras novas”, nº 1, [s. p.] Quesado, A., 1952. A Festa das Rosas” em Vila Franca do Lima (Viana do Castelo), que este ano se realiza. Mensário da Casa do Povo, nº 71, p. 10-11 Ponte da Barca. Festas do concelho 1995, 19 a 24 de Agosto. S. Bartolomeu. Ponte da Barca. Festas do concelho, 1996, 19 a 24 de Agosto. S. Bartolomeu Rocha, Maria Luísa Vieira, 1989. Santa Marta de Portuzelo: apontamentos etnográficos, Porto, Universidade Portucalense, p. 34- 42. Romaria de Santa Marta de Portuzelo, 29 de Julho a 15 de Agosto de 1994. Viana do Castelo. Soares, Franquelim Neiva, 1988. A romaria de S. Bartolomeu do mar e o seu banho santo, Esposende, Edição do Centro Social da Juventude de Mar. Santos, J. M. Felgueiras da Silva, 1985. Caminha através dos tempos. Caminiana, nº 1, p. 123-208. Tradicional romaria de S. Tiago e S. Silvestre nos dias 24-27 de Julho 1997. Cardielos-Viana do Castelo. Vale, Manuel Gonçalo Pereira do, 1994. Nossa Senhora do Faro. Theologica, XXIX, fasc. 2, p. 381-405. Viana, João Cunha, 1987. Subsídio para o estudo da evolução das romarias séculos XVIII, XIX e XX”. Romaria de Santa Marta de Portuzelo. Roteiro. Viana do Castelo: s.e. Viana, Maria Manuel Couto, 1942. Raízes que não secam.... Porto: Edição Grémio Nacional dos Editores e Livreiros. 1994, Vila Franca do Lima. Festa das Rosas, 6 a 8 de Maio, Vila Franca. 2.Bibliografia A.A.V.V., 1962. Bartolomeo. Bibliotheca Sanctorum. Roma: Instituto Giovanni XXIII - Pontificia Universitá Lateranense: p. 852-878. A.A.V.V., 1967. Numbers and number symbolism. The New Catholic Encyclopedia. New York: Megraw Hill, vol. 10, p. 567-570. Ancilli, Ermanno, 1984. Secularización y vida espiritual. Diccionario de espiritualidad, dirigido por Eramano Ancilli. Barcelona: Ed. Herder, tomo III, p. 375-382. Arribas, Miguel Maria, 1994. Os santuários: centros impulsionadores da devoção mariana. Carmelo Lusitano, nº 12, p.145-157. Bakhtine, Mikhail, 1970. L’oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance. Paris: Gallimard. Boglioni, Pierre, 1979. La culture populaire au Moyen Âge: thèmes et problèmes. La culture populaire au Moyen Âge, études présentées au Quatrième colloque de l’Institut d’études médiévales de l’Université de Montréal 2-3 avril de 1977, ouvrage publié sous la direction de Pierre Boglioni. Montréal : Les Éditions Univers. Catroga, Fernando, 1988. A questão religiosa. Análise Social, nº 100, p. 211-273. Castro, Zília Osório de, 1997. Sécularisation et temporalité. Cultura, vol. IX, p. 423-431.
23
Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain, [D. L. 1985]. Dictionnaire des Symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleur, nombres, édition revue et augmentée. Paris Éditons Robert Laffont et Éditions Jupiter, artigos trois, cinq, sept, neuf, fleur. Costa, Joaquim Carneiro da, 1992-1993. Festas religiosas. Estudo na «Acção Católica» (1916 - 1988). Cenáculo, nº 120, vol. XXXI, 1991-1992, p. 11-57; nº 121, vol. XXXI, 1991-1992, p.9-45. Costa, Hamilton; Costa, Rui Afonso da, 1999. Tendências evolutivas da piedade popular: validação do modelo de clericalização. Cultura: Revista de História e Teoria das Ideias, vol. XI, p. 401-432. Costa, Rui Afonso da, 1997. Tendências evolutivas da piedade popular: estudo comparativo de dois casos. Cultura, vol. IX, p. 362-377. Costa, Rui Afonso da, 1998. Tendências evolutivas da piedade popular: validação do modelo de secularização. Cultura, vol. X, p. 99-126. Delumeau, Jean, 1981. Un chemin d’histoire : chrétienté et christianisation. Paris : Fayard, p. 1-10 e p. 115-153. Dias, Geraldo J. A., 1986. O Alto-Minho em tempo de festa. Humanística e Teologia, tomo VI, fasc. III, p. 251-282. Dupront, Alphonse, 1979. De la religion populaire”, Actes du colloque international sur La religion populaire, Paris, 1977. Paris : Éditions du C.N.R.S., 1979, p. 411-419. _______________, 1981. A religião-antropologia religiosa. Fazer História 2. Lisboa : Livraria Bertrand, p. 121-155. _______________, 1984. Religion populaire. Dictionnaire des Religions, Paris : PUF, vol. II, p. 1692-1697. , 1987, Du Sacré. Croisades et pèlerinages, images et langages, Paris, Éditions Gallimard. Espírito Santo, Moisés, 1990, A religião popular portuguesa, Lisboa, Assírio Cox, Harvey, 1971, La fête des fous, essai théologique sur les notions de fête et fantaisie, Paris, e Alvim. Fiores, Stefano de; Goffi, Tullo, direc. de, 1983, Nuevo diccionario de espiritualidade, nueva edicción, Madrid, Ed. Paulinas, p. 943-982, artigos “modelos espirituales” e “movimientos actuales de espiritualidade”. Isambert, François-André, 1982. Le sens du sacré. Fête et religion populaire. Paris : Éditions du Minuit. _________________,1980. Religion. La sécularisation, Encyclopaedia Universalis, vol. 14, p. 36-38. Kloczowski, J. (1979). "Du Moyen-âge aux Lumières", Actes du Colloque International sur La religion populaire, Paris, 1977. Paris, Éditions du C.N.R.S., 1979, p. 13-23. Lima, José da Silva, 2001, Lima, José da Silva, 1994. «Deus, não tenho nada contra...». Socialidades e eclesialidade no destino do Alto-Minho. Porto: Universidade Católica Portuguesa - Fundação Engº António de Almeida. , 2001. Festa e a festa vianense. Cadernos Vianenses, nº 29, 2001, p. 163-178. , 2000. Festas. Dicionário de História Religiosa de Portugal C-I, dirigido por Azevedo, Carlos Moreira. Lisboa: Círculo de Leitores - Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica, p. 251-263. , 1987. Festas e religiosidade popular: acontecimento, herança, património. Religiosidade pastoral e educação da fé. Cadernos de pastoral, nº 2, Lisboa, Secretariado-Geral do Episcopado, p. 73-88. , 1992. Identidade, cultura e cristianismo em Viana, hoje. Cadernos Vianenses, nº 15, 177-189. Lourenço, Manuel Alberto Domingos, 1994. Santuário de Nossa Senhora da Peneda. Theologica, vol. XXX, fasc. 2, p. 265-281.
24
Maldonado, Luis, 1985. Liturgia, sacramentos y religiosidad popular. El Vaticano II, veinte años después. Madrid: Editiones Cristiandad, p. 235-270. Mannoni, M., 1984. Secularización. Diccionario de Espiritualidad, dirigido por Ermanno Ancilli. Barcelona: Ed. Herder, tomo III, p. 369-375. Neto, Vítor, 1987. A questão religiosa na lª República: a posição dos padres pensionistas. Revista de História das Ideias, nº 9, p. 675-731. Nola, Alfonso di, 1987. Sagrado/Profano. Enciclopédia Enaudi. Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, vol. 12, p. 105-160. Pannet, Robert, 1974. Le catholicisme populaire, 2e édition. Paris: Éditions du Centurion, 1974. Pereira, Miguel Baptista, 1990. Modernidade e secularização. Coimbra: Almedina. Perez-Rioja, Jose António, 1984. Diccionario de simbolos y mitos. Las ciências y las artes en su expression figurado, 2ª reimp.. Madrid, artigo "Impar". Salado Martinez, Domingo, 1980. La religiosidad magica: estudio crítico-fenomenológico sobre la interferência magia-religión. Salamanca: Editorial San Esteban. Sanchis, Pierre, 1983. Arraial, festa de um povo: as romarias portuguesas. Lisboa : Assírio e Alvim. Savard, Pierre, 1979. Des lumières au milieu du XXe siècle. Actes du colloque international sur La religion populaire, Paris, 1977. Paris : Éditions du C.N.R.S., p. 141-149. Secondin, Bruno, Goffi, Tulo, editores, 1989. Corso di spiritualitá. Esperienza, sistematica, proiezione. Brescia : Editrice Queriniana,, especialmente p. 222-244, 511-518 e 680-693. Vragnac, André, 1948. Civilisation traditionelle et genres de vie. Paris, Albin Michel. Villaroya, Antonio Ariño, 1989. Las relaciones entre las asociaciones festeras y la institución eclesiástica: una aproximación a la lógica de la religión popular”. La religiosidad popular. III hermanos, romerías y santuarios, coords. Santaló, Alvarez, Buxó, Maria Jesús, Becerra, Salvador Rodriguez, Barcelona, Editorial Anthropos, p. 471-484.