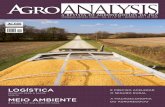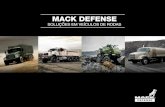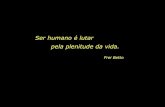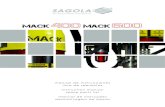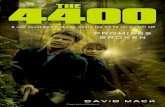Texto forum mack
-
Upload
rozestraten -
Category
Education
-
view
285 -
download
7
Transcript of Texto forum mack

1
Artur Simões Rozestraten
Professor junto ao Departamento de Tecnologia da FAUUSP (2008), na graduação e na pós,
onde pesquisa sobre as representações da arquitetura, os processos projetuais, e as
interações entre imaginário e tecnologia.
RESUMO
As analogias são recursos indispensáveis para a formação de arquitetos. Em uma
perspectiva histórica, palavras, imagens e modelos em escala reduzida passaram a
desempenhar um papel cultural cada vez mais intenso, quanto mais a formação de
arquitetos se sistematizou em escolas e academias, e se distanciou dos canteiros de
obras. Análogo, é o que compartilha o mesmo lógos, sendo, portanto, proporcional,
semelhante. Mas não, necessariamente, igual. Ao apoiarem-se nas relações de
semelhança, as analogias minimizam as distinções, suavizando as diferenças entres
termos. Em um extremo, a “super-analogia” promoveria a equivalência entre termos
análogos, como se o contato com a imagem de uma arquitetura (um filme ou uma
simulação eletrônica) equivalesse ao contato com a própria arquitetura, e não
houvesse diferenças entre tais experiências, da imagem e do ambiente construído. Em
outro extremo, nenhuma analogia, por melhor que fosse, seria jamais proporcional,
nem equivalente, à vivência direta das arquiteturas e dos espaços urbanos, de modo
que a formação integral de arquitetos só poderia se dar, plenamente, por meio de
interações diretas, e não análogas. Entre os extremos da plena correspondência
analógica, e da inadequação de toda e qualquer analogia, cabem inúmeras
indagações sobre as distintas naturezas das diferentes representações. Nem todas as
analogias são análogas, e nem todas as representações são equivalentes. Que
virtualidades – no sentido de potencial e latência – possuem hoje tais analogias, e
interações entre analogias? Como se caracterizam as diferentes possibilidades
representativas/analógicas com relação às “realidades” e “virtualidades” arquitetônicas
e urbanas? Em que medida há aproximações, e em que medida há distanciamentos
em tais interações? Poderia o aprofundamento do entendimento acerca da natureza
dos processos constitutivos/construtivos de analogias/representações ampliar os
entendimentos sobre as questões expostas? Como se posicionariam, neste campo
reflexivo, conceitos como bidimensionalidade, tridimensionalidade, transformação e
complementaridade?
Palavras-chave: representação, analogia, tridimensional, imagem, arquitetura.

2
ENTRE ANALOGIAS E REPRESENTAÇÕES
A capa da edição brasileira da obra de Michel Foucault (1926-1984) “As palavras e as
coisas”, da coleção tópicos da Martins Fontes (2007) traz, em evidência, sob um
retrato do autor, a frase: “Livre da relação, a representação pode se dar como pura
apresentação.”
Tal afirmação alinharia o pensamento de Foucault à crítica formulada por Henri
Bergson (1859-1941), na qual aponta a inadequação do termo frente à originalidade
de suas proposições. Em resumo, Bergson aponta que qualquer realização, que
qualquer práxis, traz consigo um imprevisível nada que muda tudo. Em outras
palavras, por mais que se pretenda precisa, toda e qualquer antecipação de algo
estará sujeita às inúmeras e imprevisíveis possibilidades do transcurso do tempo, que
pode mudar tudo. Como exemplo oportuno, podemos pensar em Velázquez (1599-
1660), e sua tela Las Meninas, que é o tema do primeiro ensaio de Foucault no livro
mencionado. Considerando a construção de imagens como um processo
necessariamente temporal, se em algum momento alguém pudesse sentir as Meninas
pela primeira vez, em toda sua intensidade dramática, isto é, imaginar todos seus
detalhes, cada traço, cada tonalidade e cor em sua posição precisa, esse alguém só
poderia ser o próprio Diego Velázquez, no momento mesmo em que mirou a tela
pronta pela primeira vez. A coisa e as idéias dessa coisa se criam mutuamente. Talvez
Foucault dissesse, as palavras e as coisas se criam mutuamente.
Em síntese, Bergson propõe que o que pode preexistir a uma obra, seja de arte,
ciência ou mesmo da natureza, (e Darwin concordaria), é sua possibilidade, não sua
previsibilidade. As obras de amanhã não se encontram no tempo presente como
idéias, só como possibilidade, isto é, como uma suposta ausência de impedimentos a
sua realização futura, e nada mais.
Voltando ao texto de Foucault, qual não é a nossa surpresa, quando procuramos a
frase exposta na capa, nos textos, e percebemos que a formulação da frase não
corresponde ao pensamento do autor. Houve um erro editorial, um imprevisível nada
que mudou tudo. Bergson adoraria esse caso fortuito, e talvez dissesse que o revisor
errou em editoria, mas acertou em filosofia, porque corrigiu os equívocos de Foucault
quanto às representações.
O texto original é o seguinte: “E livre, enfim, dessa relação que a acorrentava, a
representação pode se dar como pura representação.” (2007, p.21).
Não deixa de ser curioso que um filósofo atento aos meandros das palavras, em uma
obra que se intitula “as palavras e as coisas” (1966), tenha sido enredado por um
pequeno prefixo latino que não escapou, por exemplo, a alguém bem mais distraído,
como Hélio Oiticica que no texto “Experimentar o experimental” de 1972, comenta:

3
“mas o problema não é só da pintura escultura arte produção de obras mas
da representação
de todos os re” (Braga, 2008, p.344)
Para Hélio está claro que assumir plenamente o experimental – que é sua questão no
momento – exige confrontar a noção de representação, pois são vetores contrários. O
experimental enraíza-se na possibilidade, não em pré-existências, funda-se na
originalidade propositiva, e não na tradução. Assim sendo, o experimental é
incompatível com toda a tradição latina do termo representação, aproximando-se mais
dos termos gregos pro oftalmos – apresentar, trazer à vista, tornar visível, pôr diante
dos olhos (Gaffiot, 1934; Isidro Pereira, 1990; Saraiva, 1993) –, e parastasis, ação de
por sob os olhos, demonstrar, exibir (Bailly, 1933; Liddell y Scott, 1996).
Foi o que fez Velázquez, sem que Foucault percebesse. Aliás, aparentemente, nem o
próprio editor mirou cuidadosamente a obra do mestre espanhol quando a imprimiu
espelhada na abertura do texto em pauta. Ainda mais que essa é a única imagem no
miolo do livro. Ironicamente, as palavras se sobrepuseram à coisa, como se à tela de
Velázquez coubesse o papel de mera ilustração do frágil texto de Foucault.
De volta à imagem, ao inverter a condição clássica do retrato, o pintor pinta a si
mesmo como se visto pelos olhos dos retratados, e assim fazendo, aliena o prefixo re
da cena, com o artifício da fantasmagoria, da aparição, do phaino, da condição
fantástica do pintor que sai da invisibilidade e se apresenta aos nossos olhos, com a
“naturalidade” com que se apresentam todas as coisas do mundo: princesas, damas
de companhia, reis, rainhas, anões, cães, espelhos e as próprias telas pintadas
suspensas nas paredes, inclusive. Não cabe mais falar em retrato, nem em
representação. Há que se reconhecer que uma imagem foi construída no mundo, e
desde então inaugurou-se um imaginário, tão real quanto qualquer realidade.
Velázquez impõe o experimental no campo próprio de sua atividade – a pintura –, e
assim fazando, legitima, nesse campo autônomo – e é justamente aí que interessa
legitimá-lo, porque se trata de uma questão de liberdade –, uma construção pictórica
que não representa nenhum real pré-existente, e para evidenciar isso recorre a uma
engenhosa e original inversão de posições dentro da tradição retratística. A ruptura é
ainda mais brusca, irônica e redundante, por se dar no próprio palácio da figuração, no
centro da sala do realismo, no avesso de todas as telas supostamente miméticas.
Como pintor formado dentro da tradição das Belas Artes, sendo profundo conhecedor
dos recursos gráficos do desenho, da gravura e da pintura, e um dos principais
inovadores da visualidade artística moderna, Picasso não poderia deixar de reagir a
essa provocação de Velázquez, multiplicando-a insistentemente no cúmulo da

4
redundância. Como se, duvidando da eficiência esclarecedora das sutilezas de
Velázquez, tivesse optado por uma estratégia frontal de vencer pelo cansaço. Foram
58 reinvenções das “Meninas”, feitas em cerca de 5 meses, entre agosto e dezembro
de 1957. Depois de tantos ensaios, nada indica uma conclusão, um encerramento,
mas ao contrário, a quantidade só sugere que outras inúmeras telas poderiam ser
feitas, e cada uma delas afirmaria, na sua singularidade plástica, que mesmo a relação
intencional, evidente e explícita com uma antecedência – que não é uma idéia, mas
uma imagem visível a todos –, não compromete sua autonomia, sua construção
independente, suas particularidades, sua condição de “universo dentro do universo”
(Focillon, 1988).
É no mínimo curioso que Foucault não mencione essa experiência de Picasso em seu
ensaio “Las Meninas”. Ademais, ambos compartilham a mesma natureza ensaística,
possuem um caráter aproximativo, tateante, investigativo, sugestivo e inconclusivo.
Não fosse por isso, talvez porque Picasso poderia elucidar o filósofo que, ao final de
seu texto intui: “Talvez haja, neste quadro de Velásquez, como que a representação
da representação clássica e a definição do espaço que ela abre... ” (Foucault, 2007,
p.21). Pois é justamente no espaço que ela abre que a imagem distancia-se da
representação clássica e apresenta-se, tão somente, como evidência de si mesma.
Se Foucault não sabia disso, parece que veio a se preocupar com isso quando em
1969 no capítulo IV de sua “Arqueologia do Saber”, faz reflexões de caráter
metodológico. Procurando caracterizar seu campo de interesse, e distinguí-lo de
outras áreas, o filósofo aproxima-se do que entende por procedimento “arqueológico”,
e o diferencia da “história das idéias”, fazendo ponderações tais como:
“A arqueologia busca definir não os pensamentos, as representações, as imagens, os
temas, as obsessões que se ocultam ou se manifestam nos discursos; mas os
próprios discursos, enquanto práticas que obedecem a regras. Ela não trata o discurso
como documento, como signo de outra coisa, como elemento que deveria ser
transparente... ela se dirige ao discurso em seu volume próprio, na qualidade de
monumento. Não se trata de uma disciplina interpretativa: não busca um “outro
discurso” mais oculto. Recusa-se a ser “alegórica”... O problema dela é, pelo contrário,
definir os discursos em sua especificidade... Finalmente, a arqueologia não procura
reconstituir o que pôde ser pensado, desejado, visado, experimentado, almejado pelos
homens no próprio instante em que proferiam o discurso... Em outras palavras, não
tenta repetir o que foi dito... Não é o retorno ao próprio segredo da origem; é a
descrição sistemática de um discurso-objeto.” (2000, p.160)

5
Se em Foucault essas proposições não se materializaram, pode-se dizer que
“arqueológico” foi o procedimento de Francis Bacon (1909-1992), em sua aproximação
a outra tela de Velázquez, o retrato do Papa Inocêncio X, que ele desejou pintar como
“um verdadeiro Monet” (Sylvester, 2007, p.72). O desejo de Bacon é o ensaio
descritivo permanente sobre uma impossibilidade, um pintar que busca a difícil
condição de ser nada aquém, nem além da própria pintura, uma fatura concentrada na
superfície da tela como “coisa em si”, sem profundidade, sem compromissos externos
ao campo da tela. O problema de Bacon – melhor formulado que o de Foucault –,
também envolve definir a imagem em sua especificidade, e “não repetir o que já foi
dito”, mas sim tentar mostrar o que pode ser visto. Contudo, o filósofo se propôs a
fazer, e o artista fez, de fato.
Comenta Bacon em entrevista:
“Veja bem, nós temos uma intenção, mas o que realmente acontece é produzido
durante o trabalho, essa é a razão por que é tão difícil falar sobre isso. Realmente, é
no trabalho que acontece. E a maneira como isso funciona depende realmente das
coisas que acontecem. Enquanto trabalhamos, vamos seguindo qualquer coisa
parecida com uma nuvem, que é feita de sensações e está dentro de nós, mas não
sabemos realmente o que ela é.” (Sylvester, 2007, p.149)
Do ponto de vista das representações, que constituem o tema dessa mesa, o esforço
de Velázquez, Bergson, Picasso, Bacon, é um empreendimento crítico incisivo para
questionar o entendimento convencional da representação como signo
necessariamente atado a uma antecedência e, consequentemente, inferior , “menor” do
que essa antecedência que tanto pode ser uma idéia, uma imagem, ou uma
experiência. Reminiscências platônicas, sem sombra de dúvida, sustentaram por
séculos a noção criticada. É a partir do reconhecimento e da aceitação dessa crítica
histórica, formulada no seio da modernidade, que algumas consideração sobre as
representações no campo da arquitetura serão apresentadas aqui como balizas a
reflexões especulativas:
1. No campo da arquitetura, o que se entende aqui por representações circunscreve-
se ao campo do desenho, da imagem fotográfica e fílmica, dos diagramas, das
notações numéricas e textuais, e dos modelos tridimensionais e eletrônicos. De
modo que as representações como tradicionalmente entendidas pela antropologia,
sociologia, psicologia e mesmo pela filosofia, não estão exatamente em pauta;

6
2. Pode-se entender representação como modelo, o que permite denominar como
modelagem todo processo de elaboração de representações;
3. O reconhecimento da inadequação do termo representação conduz a considerar
toda representação como a apresentação de uma forma original,
independentemente de haver alguma relação com algo que a preceda e com a
qual, eventualmente, se relacione: uma intenção, uma idéia, outras
representações, uma arquitetura, etc;
4. Sendo assim a elaboração de toda e qualquer representação – um croquis, ou
uma maquete, por exemplo – pode acrescentar aspectos imprevisíveis, inusitados,
ignorados e inovadores ao conhecimento de algo construído ou em projeto. Por
exemplo, por mais familiar que seja um determinado edifício ou espaço urbano, o
desenho de um corte dessa situação costuma revelar aspectos ignorados ou, ao
menos, evidenciar aspectos intuidos. A partir dessa noção, a interação
complementar entre diferentes representações é sempre mais ampla do que uma
simples somatória;
5. Se no mundo sensível todos concordam que o mapa não é o território. No campo
dos processos projetuais, o território não tem outra matéria senão seus mapas.
Em outras palavras, a palpabilidade dos desenhos, esquemas gráficos, maquetes,
constitui a máxima materialidade arquitetônica de tudo o que se encontra em
projeto, e dos ensaios que eventualmente se encerram como tal;
6. O caráter construtivo não é exclusivo do fazer arquitetônico, a elaboração de suas
representações compartilha a mesma natureza construtiva. Contudo, tais
analogias são mais diretas nas faturas tridimensionais, por enfrentarem os
mesmos desafios gravitacionais;
7. O caráter de ensaio também é comum a todas as representações quando se
considera seu papel aproximativo, impreciso, tateante, investigativo, sugestivo e
inconclusivo. Tal caráter é inerente a procedimentos experimentais. Não sendo
experimental, qualquer processo projetual ou de estudo reduz o potencial da
representação a reapresentar conteúdos pré-definidos;
8. A pesquisa no campo das representações hoje, demanda uma articulação entre a
“descrição arqueológica” e a experimentação, que pode vir a constituir um
“campus descritivo-experimental” no qual operam, integradas, e mirando-se
mutuamente, ação e reflexão, prática e teoria;
9. Se as obras de amanhã não se encontram no tempo presente como idéias, só
como possibilidade, cabe então estudar as formas de trabalho possíveis
experimentadas hoje. Estas formas germinais apresentam-se nos modi operandi
dos alunos graduandos, dos jovens arquitetos, e demandam pesquisa;

7
Referências bibliográficas
BAILLY, M.A. Dictionnaire Grec-Français. Paris: Librairie Hachette, 1933.
BRAGA, P. (Org.) Fios soltos: a arte de Hélio Oiticica. São Paulo: Perspectiva,
2008.
FOCILLON, Henri. A vida das formas. Lisboa: Edições 70, 1988.
FOUCAULT, M. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
____________. A Arqueologia do saber. Rio de Janeiro : Forense Universitária,
2000.
GAFFIOT, Félix. Dictionnaire Illustré Latin-Français. Paris: Librairie Hachette, 1934.
ISIDRO PEREIRA, S.J. Dicionário Grego-Português, Português-Grego. Braga:
Livraria Apostolado da Imprensa, 1990.
LIDDELL, Henry George; SCOTT, Robert. A Greek- English Lexicon. Oxford:
Claredon Press, 1996.
SARAIVA, F.R. Dos Santos. Novíssimo Dicionário Latino-Português. Rio de
Janeiro: Livraria Garnier, 1993.
SYLVESTER, D. Entrevistas com Francis Bacon. São Paulo: Cosac & Naify, 2007.