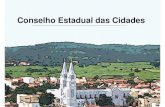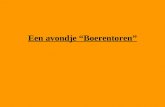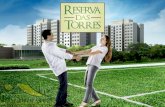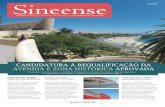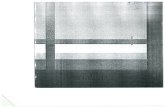TORRES FronteiraUrbana ABEP2004 64
-
Upload
jose-paulo-gouvea -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of TORRES FronteiraUrbana ABEP2004 64
-
1
Fronteira Paulistana
Haroldo da Gama Torres
Resumo A dinmica demogrfica intra urbana de So Paulo na dcada de 90 pode ser definida como selvagem. Enquanto algumas regies da cidade perdem volumes significativos de populao em termos absolutos, particularmente nas reas centrais dos principais municpios da Regio (So Paulo, Osasco, Guarilhos e ABC), outras reas crescem a taxas muito expressivas, superiores a 5% ao ano. De fato, as reas que denominamos aqui por fronteira urbana cresceram, em mdia, 6,3% ao ano, passando de 19 para 30% da populao total da Mancha Urbana de So Paulo entre os anos de 1991 e 2000, atingindo um total de quase 5 milhes de habitantes. Sem esta regio, a metrpole teria apresentado crescimento demogrfico nulo. Assim, o objetivo do artigo o de apresentar tal dinmica, alm discutir suas implicaes para polticas sociais e ambientais.
Trabalho apresentado no XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxamb- MG Brasil, de 20- 24 de Setembro de 2004. Pesquisador do Cebrap.
-
2
Fronteira Paulistana
Haroldo da Gama Torres
Introduo A dinmica demogrfica intra urbana de So Paulo na dcada de 90 pode ser definida como
selvagem. Enquanto algumas regies da cidade perdem volumes significativos de populao
em termos absolutos, particularmente nas reas centrais dos principais municpios da Regio
(So Paulo, Osasco, Guarilhos e ABC), outras reas crescem a taxas muito expressivas,
superiores a 5% ao ano. De fato, as reas que denominamos aqui por fronteira urbana
cresceram, em mdia, 6,3% ao ano, passando de 19 para 30% da populao total da Mancha
Urbana de So Paulo entre os anos de 1991 e 2000, atingindo um total de quase 5 milhes de
habitantes.1 Sem esta regio, a metrpole teria apresentado crescimento demogrfico nulo.
Tal dinmica, alm de suas bvias implicaes para polticas pblicas, tm importantes
repercusses analticas.
Este processo no deixa de ser surpreendente. De fato, ao longo da dcada de 90, viemos
aprendendo a repensar o papel de So Paulo na dinmica scio-econmica nacional. Em
termos de gerao de empregos, por exemplo, So Paulo deixou de ser definida como
locomotiva industrial do Brasil. A Regio Metropolitana perdeu empregos industriais em
escala impressionante. Os empregados na indstria passaram de 36% da populao ocupada
em 1985 para 19% em 2001, segundo os dados da PED.2 Em termos demogrficos, So Paulo
tambm no pode mais ser pensada como o mais importante plo de atrao populacional. A
regio como um todo passou a crescer prximo mdia do Brasil nos anos 90 (1,6% ao ano),
deixando de desempenhar o papel de grande magneto de migrantes, verificado desde os anos
20.
No plano da estrutura urbana, no entanto, tais transformaes no se manifestaram com a
mesma intensidade. A regio da periferia que definimos como fronteira urbana continua a Trabalho apresentado no XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxamb- MG Brasil, de 20- 24 de Setembro de 2004. Pesquisador do Cebrap. 1 A mancha urbana aqui considerada abrange 21 municpios, os mais significativos em termos demogrficos e formam uma malha urbana conurbada. Ver mapa 1. Esses 21 municpios correspondem a 91,4% da populao total da RMSP, que atingiu 17,9 milhes em 2000. 2 Pesquisa de Emprego e Desemprego, Seade/Dieese.
-
3
receber migrantes, continua crescendo a taxas aceleradas, continua apresentando uma
estrutura urbana precria, continua sendo o lugar de problemas fundirios, com a expanso de
favelas e loteamentos clandestinos; continua sendo o lugar de conflitos ambientais, com
ocupao de reas florestais e de mananciais; e continua a ser uma vlvula de escape, o
lugar de concentrao daqueles que no tem lugar. Um dos objetivos principais deste artigo
dar substncia a esta proposio.
A ocupao das reas peri-urbanas por parte de uma populao predominantemente de baixa
renda ainda um dos elementos fundamentais da estruturao da metrpole paulistana no
incio do sculo XXI, no que pese sua grande transformao produtiva e demogrfica. O
crescimento desta regio peri-urbana - ou a expanso pela produo de novas periferias -
continua a se dar, apesar da morte do debate sobre a marginalidade urbana, do debate sobre
o dualismo centro-periferia e sobre seu significado e suposta funcionalidade para a
acumulao capitalista no Brasil.3
Em outras palavras, pretendemos argumentar que a persistente expanso das reas peri-
urbanas - que chamaremos aqui de fronteira urbana - parece ser um fenmeno de longa
durao, que continua a condicionar a forma urbana e os modos de organizao da vida social
em So Paulo, a despeito das intensas transformaes ocorridas no setor produtivo e no
mercado de trabalho. Alm disto, este texto pretende caracterizar a fronteira urbana, bem
como extrair algumas de suas principais implicaes para as polticas pblicas.
Apresentamos inicialmente uma discusso sobre a categoria de fronteira urbana. A seguir,
procuramos dimensionar e caracterizar esta fronteira do ponto de vista emprico. Ao final,
discutimos seus significados principais.
1. Porque falar de fronteira urbana?
A categoria fronteira tm um longa trajetria no exterior e no Brasil, onde a discusso passa
pelos processos de ocupao do Oeste do Paran nos anos 40, a marcha para Oeste nos anos
3 Para este debate, ver Cardoso e Faletto (1970), Oliveira (1972; 1978), Singer (1976). Por exemplo, o argumento de Oliveira era que, nas reas urbanas, o crescimento pela expanso das periferias seria funcional para acumulao capitalista, uma vez que a massa de trabalhadores migrantes formaria um exrcito industrial de reserva, o que rebaixaria o custo da fora de trabalho. Nas reas de fronteira agrcola, a expanso da produo camponesa produtora de alimentos bsicos seria tambm funcional, ao contribuir para a reduo do chamado custo de reproduo da fora de trabalho nas reas urbanas.
-
4
50, e a ocupao da Amaznia de 70 em diante.4 Nas cincias sociais, essa categoria se refere
ocupao demogrfica de uma dada regio e a sua integrao ao mercado nacional, seja
enquanto produtora de bens agrcolas ou minerais, seja como consumidora de bens industriais
e servios.5
A categoria fronteira urbana no indita nas cincias sociais, particularmente na rea de
planejamento urbano. O categoria j estava presente no clssico de Richard Wade, The Rise
of Western Cities 1790-1830, que j no sculo XIX refletia a respeito do processo de
ocupao do oeste americano, fortemente baseado na formao da rede urbana que servia
como suporte ao processo. Mais recentemente, a categoria foi reapropriada nos Estados
Unidos por autores como Smith (1996), tentando refletir a respeito das transformaes
contemporneas das cidade norte-americanas, particularmente sobre o processo de
revalorizao imobiliria dos centros urbanos.
A idia de fronteira urbana tambm est presente no debate brasileiro, refletida
particularmente no trabalho de Monte-Mr (2003). Este autor trabalha com a categoria de
urbanizao extensiva, que diz respeito penetrao crescente do tecido urbano no
territrio nacional, atravs da consolidao da rede de cidades, atravs da conurbao das
regies metropolitanas e aglomerados urbanos, ou mesmo atravs do espraiamento de
equipamentos urbanos como estradas e escolas.6
Porque assumir aqui a categoria fronteira urbana e no outras categorias, como periferia ou
reas peri-urbanas?7 Por um lado, porque as noes de periferia e peri-urbano remetem
geometria da cidade. Isto torna mais difcil ao analista trabalhar com, por exemplo, reas com
elevada concentrao de pobres e de forte crescimento demogrfico no localizadas na
periferia, como algumas favelas por exemplo. As fronteiras, em termos abstrados, podem 4 Na lingua portuguesa, a palavra fronteira remente a dois significados distintos: as fronteiras polticas de um dado territrio (borders em ingls) e a fronteira entendida como rea limite da expanso demogrfica e econmica de uma dada sociedade (frontier). Netes ltimo sentido, o termo tem sido empregado frequentemente no Brasil para definir a regio limite de expanso agrcola, a chamada fronteira agrcola. 5 Ver, por exemplo, Velho (1976), Mahar (1978), Foweraker (1982), Becker (1982), Sawyer (1984), Goodman (1986), Hecht & Cockburn (1989), Schmink & Wood (1992). 6 Para Monte-Mr, o urbano entendido na acepo de Henri Lefbvre: o urbano como expresso espacial das formas de produo capitalista. 7 A categoria periferia amplamente utilizada na literatura sociolgica e urbanstica brasileiras para descrever as regies do entorno urbano precariamente dotadas de infra-estrutura, tipicamente habitadas por populao de baixa renda, residentes em loteamentos irregulares. Ver, por exemplo Ver, por exemplo, Chinneli (1980), Santos (1982) e Bonduki e Rolnik (1982). A categoria peri-urbana mais utilizada na disciplina da geografia, descrevendo os espaos de transio entre campo e cidade. Esta ltima categoria tem sido retomada de modo interessante na descrio dos processos de urbanizao da sia, onde se passa a entender a questo peri-urbana como um importante desafio para a gesto urbana (ADB, 1996).
-
5
tambm ser internas (no perifricas), embora no caso de So Paulo, como veremos, ela
predominantemente externa.8 Por outro lado, crescentemente a associao entre pobreza e
periferia tm sido relativizadas, seja devido ao crescimento de condomnios de luxo nas
bordas de vrias metrpoles (Caldeira, 2000), seja porque a periferia parece estar se tornando
cada vez mais heterognea socialmente (Marques e Bitar, 2002).
Como temos destacado ao longo deste livro (ver captulos X e X), existem periferias mais
consolidadas do ponto de vista urbanstico e dos servios pblicos, enquanto outras
encontram-se com maior degradao urbana. Em ambas, persiste nveis elevados de pobreza.
Nesta perspectiva, a categoria fronteira urbana aponta para um tipo particular de periferia,
com altissima taxa de crescimento demogrfico e precariedade no acesso a servios pblicos,
particularmente saneamento.9
No contexto do debate sobre a heterogeneidade da periferia, a expresso fronteira urbana
pode ser entendida como uma metfora poderosa do ponto de vista analtico, uma vez que
diversos paralelos entre fronteira agrcola (tradicionalmente tratada nas cincias sociais) e
fronteira urbana podem ser estabelecidos, de modo a sugerir a existncia de uma lgica de
ocupao desses espaos em transio referidos talvez a elementos mais profundos da
formao social brasileira:10
a. As fronteiras so regies com altas taxas de crescimento demogrfico e com
substancial migrao;
b. As fronteiras apresentam infra-estrutura precria e em construo. De modo geral, o
Estado est pouco presente, seja regulando o uso da terra, seja atravs da oferta de
servios pblicos;
c. A fronteira parece funcionar como uma vlvula de escape, o lugar de concentrao
daqueles que no tem lugar nem em reas urbanas consolidadas, nem em reas rurais
tradicionais (Velho, 1976); 8 Isto o que faz Smith (1996), ao chamar o antigo centro de Nova York de nova fronteira urbana. Fronteiras tambm no precisam se referir necessariamente expanso da ocupao por parte da populao de baixa renda, podendo estar referida a outras formas de expanso, como o caso da expanso da agricultura empresarial em certas frentes da fronteira agrcola (Sawyer, 1984). 9 A rigor, existem algumas reas peri-urbanas com crescimento elevado e renda alta como Santana do Parnaiba e Barueri, onde encontra-se Alfaville. No entanto, reas deste tipo constituem mais a exceo do que a regra do ponto de vista da dinmica de crescimento urbano. Ver mapa 1 e grfico1, frente. 10 A conexo entre fronteira agrcola e periferia urbana j tinha sido identificada nos anos 70 (Oliveira, 1972; Singer, 1976). A expresso de Oliveira crescimento pela elaborao de periferias se refere tanto periferia urbana quanto fronteira agrcola. Ambas seriam objeto de ocupao por parte de migrantes de origem rural e, em muitos casos, de origem nordestina. Ver discusso frente.
-
6
d. A fronteira objeto de importantes conflitos sobre a posse da terra urbana
(loteamentos clandestinos, favelas) ou rural;11
e. A fronteira apresenta intensos conflitos ambientais relativos a ocupao de reas
florestais e de mananciais.
Enfim, podemos utilizar a categoria fronteira urbana de modo a distinguir esta regio de
outras reas urbanas com alta concentrao de pobres. Muitas das periferias mais antigas
so reas mais consolidadas, onde o Estado se apresenta regularizando a ocupao e
extendendo a rede de servios. Tal distino essencial para as polticas pblicas e para a
compreenso do lugar da Regio Metropolitana de So Paulo no contexto socioeconmico
nacional. Detalhamos estes elementos abaixo.
2. A Fronteira urbana em So Paulo: uma aproximao emprica
Apresentamos no mapa 1, abaixo, a distribuio espacial da taxa de crescimento demogrfico
para as reas de ponderao dos 21 municpios que formam a mancha urbana de So Paulo.12
Podemos observar que o crescimento demogrfico desta regio foi muito desigual na ltima
dcada. Enquanto as rea centrais dos principais municpios da Regio - incluido So Paulo
(no centro) Guarulhos (a Nordeste), do ABC (a Sudeste) e de Osasco (a Oeste) tinham
perdido populao em termos absolutos, existem reas localizadas principalmente nas franjas
urbanas que cresceram a taxas extremamente aceleradas.
De fato, podemos observar que a rea localizada no anel externo da regio apresenta uma
taxa de crescimento populacional superior a 3% ao ano e que praticamente no existem reas
mais centrais com crescimento positivo.13 Para fins operacionais, assumimos que a fronteira
corresponde s reas de ponderao do censo demogrfico de 2000 que apresentaram taxas
11 Uma parcela importante dos conflitos fundirios no Brasil contemporneo tem se dado na fronteira agrcola, particularmente no Bico do Papagaio (Tocantins), Sul do Par e Norte do Mato Grosso. 12 A area de ponderao uma nova unidade de analise do Censo Demogrfico, menor que o distrito e maior do que o setor censitrio. So aproximadamente 850 unidades espaciais para a Regio Metropolitana de So Paulo em 2000 e 760 para a Mancha Urbana. 13 As principais excees ocorrem em reas de ponderao dos distritos de Vila Andrade, onde localiza-se a favela de Paraispolis, e no distrito de Ipiranga, onde localiza-se Helipolis. Estas so as duas maiores favelas de So Paulo.
-
7
de crescimento demogrficas superiores a 3% ao ano no perodo de 1991 a 2000.14
Analogamente, denominamos de periferia consolidada s reas com taxas de crescimento
entre 0 e 3% ao ano e consideramos toda a rea com crescimento negativo como sendo a
cidade consolidada.
Mapa 1
Taxa de crescimento geomtrica anual das reas de ponderao da Regio Metropolitana de
So Paulo, 1991-2000.
Fonte: IBGE, Censos Demogrficos de 1991 e 2000.
Em termos scio-econmicos, tal distino parece fazer sentido, conforme apresentado no
quadro 1 abaixo, embora ela possa ser melhor especificada quando se trata de produzir uma
anlise mais detalhada a respeito da heterogeneidade do espao urbano (ver o captulo 2 nesta
coletnea). De fato, podemos observar neste quadro que a curva que exprime a relao entre 14 Apenas 13, das 205 reas de ponderao nesta condio tem densidade populacional inferior a mil habitantes por quilometro quadrado. Nestas 13 reas residem 470 mil habitantes, menos de 10% da populao total das reas de fronteira. Em outras palavras, o fenmeno da fronteira urbana no pode ser definido, a priori, como sendo referido apenas a reas de baixssima densidade demogrfica.
-
8
crescimento demogrfico e renda no pode de ser definida como uma reta, como seria
esperado por numa viso centro-periferia clssica (Taschner e Bgus, 2000). Existe um
grande contingente de reas pobres com elevado crescimento demogrfico (fronteira urbana),
assim como existe um nmero muito significativo de reas urbanas pobres com baixo
crescimento (periferia consolidada). Analogamente, praticamente no existem reas de renda
mais elevada com altssimo crescimento demogrfico, sendo as excesses mais importantes
as reas de ponderao em Santa do Parnaba (onde est Alfaville) e do distrito de Vila
Andrade (onde encontra-se parte do Morumbi).
Quadro 1:
Taxa de Crescimento Populacional e Renda Domiciliar Mdia por rea de Ponderao. Mancha
Urbana de So Paulo, Censo Demogrfico de 2000.
Fonte: IBGE, Censo Demogrfico de 2000.
Do ponto de vista das polticas pblicas, tal distino fundamental. Enquanto nas reas de
fronteira urbana que em alguns casos estava crescendo a mais de 10% ao ano - tudo est por
construir (incluindo arruamento, escolas, postos de sade e saneamento bsico), na periferia
-
9
consolidada grande parte dos equipamentos sociais se encontram presentes, e a poltica social
tende a implicar outros elementos, tais como a melhoria do ensino bsico, melhor habitao,
o acesso ao mercado de trabalho e a crdito.
Em outras palavras, embora a fronteira urbana e a periferia consolidada possam ser
genericamente consideradas como reas segregadas, elas so distintas do ponto de vista dos
contedos que explicam esta segregao e so distintas, sobretudo, do ponto de vista da
natureza das polticas que podem ser mobilizadas no sentido da transformao destes locais.
Em tese, poderamos trabalhar com outras variveis socioeconmicas ou urbansticas para
caracterizar a fronteira, como a presena de saneamento ou a rea construda por habitante,
mas entendemos que o crescimento demogrfico uma varivel de grande interesse porque
aponta para a dinmica de transformao do espao metropolitano ao longo do tempo. O
corte de 3% de crescimento demogrfico arbitrrio, mas razovel considerando que
desejamos caracterizar reas em forte expanso demogrfica, ou seja, aquelas crescendo
muito acima da mdia da mancha urbana (1,4% ao ano).
Em termos agregados, podemos observar - como mencionamos na introduo - que as
transformaes demogrficas verificadas na Mancha Urbana de So Paulo so, de fato,
selvagens (Tabela 1). Enquanto o conjunto da regio crescia a uma taxa relativamente
moderada, de 1,4% ao ano na dcada de 90, a rea que denominamos de cidade consolidada
perdia populao em ritmo acentuado (-1,3% ao ano) e a fronteira urbana crescia
impressionante taxa de 6,3% ao ano! A periferia consolidada, neste perodo cresceu num
ritmo prximo mdia da Mancha Urbana (1,3%).
Como conseqncia, a cidade consolidada perdeu populao em termos absolutos, passando
de 6,7 para 6 milhes de habitantes, a periferia consolidada cresceu suavemente, passando de
4,9 para 5,5 milhes de habitantes e a fronteira urbana teve um acrscimo impressionante,
ganhando 2,1 milhes de habitantes na dcada, passando de 2,8 para 4,9 milhes, passando a
representar 30% da populao do total da Mancha Urbana. Sem a contribuio da fronteira
urbana para o crescimento demogrfico, a Mancha Urbana de So Paulo teria mantido estvel
sua populao na dcada de 90.
-
10
Tabela 1
Populao e Taxa de Crescimento Demogrfico da Mancha Urbana de So Paulo, 1991-
2000
Nmeros absolutos Taxa de Crescimento 1991- 2000 Indicadores
Total Fronteira Periferia consolidada
Cidade consolidada
Total Fronteira Periferia consolidada
Cidade consolidada
Populao 1991 14433279 2792215 4902889 6738175
Populao 2000 16346908 4860477 5494694 5991737
1,39 6,35 1,27 -1,30
Fonte: IBGE, Censos Demogrficos de 1991 e 2000.
Variaes demogrficas to dramticas tm conseqncias importantes para as polticas
pblicas. A expectativa de que o ritmo mais lento de crescimento demogrfico do conjunto da
regio pudesse aliviar a presso sobre a demanda de servios pblicos apenas parcialmente
verdadeira. A continuidade do crescimento horizontal da cidade implica a necessidade da
contnua extenso da rede de servios pblicos (transportes, infra-estrutura viria, sade,
educao, cultura, etc.) para a fronteira, mesmo quando os equipamentos localizados nas
reas centrais encontram-se ociosos. Vale lembrar que a regio apresentada na mapa 1
implica uma extenso mdia de 70 por 60 km e o sistema de transportes sobrecarregado e
caro. Em outras palavras, no plausvel imaginar que moradores da fronteira usem com
facilidade servios pblicos disponveis apenas em reas centrais (Torres, 2002a).
Em termos do debate mais geral sobre as tendncias metropolitanas, o crescimento da
fronteira urbana faz algum eco com o debate norte-americano a respeito do urban spraw, ou
espraiamento urbano. De fato, o crescimento urbano no ps guerra foi baseado neste urban
sprawl, significando o crescimento da populao nos subrbios num tipo de desenvolvimento
urbano avesso cidade, baseado na forte migrao de famlias brancas de renda mdia e alta
para as reas peri-urbanas (Badassare, 1986).15 Embora o espraiamento urbano esteja
ocorrendo no No Brasil, trata-se porm de um fenmeno de outro tipo, implicando a ocupao
das reas peri-urbanas por parte de uma populao migrante e de baixa renda (Torres, 2002b).
15 Tanto o significado social quanto o ambiental deste processo tem sido longamente discutidos. Por um lado, ele parece implicar num aumento da segregao racial, uma vez que as comunidades negras foram deixadas para a trs nos centros das cidades (Massey and Denton, 1993). Por outro lado, tal processo intensifica o uso da terra e, mais importante, induz a um uso universal do automvel, com fortes conseqncias em termos de poluio e em termos de estilos de vida (Gans, 1967; Duany, Zyberk and Speck, 2000).
-
11
Tais dinmicas tm tem fortes implicaes sociais e ambientais. Detalhamos estes elementos,
abaixo.
2.1. Migrao para a Fronteira Urbana
Alguns analistas poderiam interpretar o crescimento da fronteira enquanto resultado da
migrao intra urbana do centro para as regies peri-urbanas. De fato, estes resultados podem
ser observados para os anos 80, quando os municpios so tomados enquanto unidade de
anlise (Cunha, 1994). No entanto, quando trabalhamos com reas de poderao e tomamos a
fronteira urbana enquanto unidade de anlise, podemos perceber que embora alguma
migrao intra urbana possa existir, tal fenmeno no significativo. O principal razo que
magnitudes envolvidas so completamente diferentes.16 Enquanto a cidade consolidada
perdia 0,7 milhes de habitantes na dcada, a periferia consolidada e a fronteira urbana
ganharam 2,7 milhes, sendo que 2,1 milhes apenas na fronteira urbana. Ainda que o
crescimento vegetativo da populao da fronteira seja positivo, a suposta migrao centro-
periferia e o crescimento vegetativo no seriam capazes, em conjunto, de explicar o
impressionante incremento populacional observado.17
Ao contrrio, os dados indicam que o crescimento da fronteira em grande parte explicvel
pela migrao originria de outras regies (Tabela 2). Se considerarmos o conjunto de 2,1
milhes de pessoas que passaram a residir na fronteira entre 1991 e 2000, um total de 703 mil
(33%) vieram de outras unidades da federao nos ltimos 10 anos, sendo que 521 mil (25%)
vieram do Nordeste. Alm disso, se considerarmos os dados sobre migrao nos ltimos 5
anos, podemos observar que o nmero de migrantes para a fronteira oriundos de municpios
fora da regio metropolitana (303 mil) significativamente superior ao de oriundos de outros
municpios da regio (236 mil).18
16 Um outro aspecto que, como veremos a frente, o perfil socio-econmico dos residentes da cidade consolidada e da fronteira urbana so bastante diferentes. A no ser no caso da migrao para condomnios fechados do tipo de Alfaville, este tipo de migrao implicaria simultaneamente mobilidade social descendente. Tal movimento, mesmo que esteja acontecendo em algum grau, no parece ter acontecido em larga escala na dcada de 90, a ponto de permitir pensar o crescimento fronteira urbana como fruto da decadncia econmica dos grupos de renda intermediria. 17 O crescimento vegetativo da populao para o conjunto de So Paulo tem caido substancialmente, sobretudo em funo das taxas de fecundidade, que presentemente se aproximam dos nveis de reposio populacional. 18 possvel que boa parte da migrao para a fronteira urbana originria de outros municpios da regio metropolitana tenha se originado de municpios da prpria fronteira urbana.
-
12
Tabela 2
Populao e No Naturais do Estado de So Paulo Residentes na Mancha Urbana de
So Paulo, 1991-2000
Nmeros absolutos Nmeros relativos Indicadores Total Fronteira Periferia
consolidada Cidade
consolidada Total Fronteira Periferia
consolidada Cidade
consolidada Populao 2000 16346908 4860477 5494694 5991737 100 100 100 100
Migrantes oriundos de fora do Estado, nos ltimos 10 anos
1678751 703461 525537 449753 10,27 14,47 9,56 7,51
Migrantes oriundos do nordeste, nos ltimos 10 anos
1140380 520923 360779 258678 6,98 10,72 6,57 4,32
Migrantes oriundos de fora da RMSP, nos ltimos 5 anos
810519 303408 253302 253809 4,96 6,24 4,61 4,24
Migrantes oriundos de outro municpio da RMSP, nos ltimos 5 anos
455933 235681 135404 84848 2,79 4,85 2,46 1,42
Fonte: IBGE, Censo Demogrfico de 2000.
Como resultado, embora a fronteira urbana respondesse por apenas 19% da populao da
Mancha urbana em 1991, ela respondeu por 42% da migrao oriunda de outros estados e por
46% da migrao oriunda do Nordeste ao longo da dcada de 90! Embora no seja o caso de
aprofundar aqui a discusso a respeito da questo migratria, os dados disponveis indicam
claramente que a migrao de populao externa Regio Metropolitana deve ser considerada
o grande fator explicativo para a forte expanso da fronteira paulistana. Nesta contabilidade
possvel tambm os incluir os chamados impactos indiretos da migrao, relacionados ao
crescimento demogrfico gerado pelo filhos dos migrantes nascidos no local de destino.
No deixa de ser relevante destacar a continuidade dos elevados nveis absolutos de migrao
nordestina recente para So Paulo, apesar de sua queda em termos relativos.19 De fato,
mesmo que existam nveis significativos de migrao de retorno (Cunha, 1994; Cunha e 19 justamente na manuteno dos volumes de imigrao proveniente do Nordeste que reside, provavelmente, a questo mais interessante para se entender o fenmeno migratrio contemporneo na RMSP. A reduo dos fluxos provenientes de Minas Gerais e Paran pode ser explicada no como uma recuperao das principais reas de expulso dos dois estados (como o Vale do Jequitinhonha e o Norte do Paran) mas como um redirecionamento desses movimentos principalmente para as respectivas zonas metropolitanas, que cresceram significativamente nos ltimos 15 ou 20 anos. No caso do Nordeste, particularmente para estados como Pernambuco, Cear, Bahia e Paraba, So Paulo continua sendo um destino importante, muito embora a novidade seja a volta em maior intensidade (Cunha e Dedecca, 2000: 101).
-
13
Dedecca, 2000), a continuidade da chegada de nordestinos para uma regio metropolitana
como a de So Paulo - que apresenta baixo dinamismo econmico, elevado desemprego e
perda de empregos industriais - est a desafiar as explicaes que associam os nveis de
migrao ao dinamismo do mercado de trabalho industrial (Singer, 1976). Devem existir
outras razes relacionadas oferta de infra-estrutura urbana, s condies das reas de
origem do migrante e a diferenciais nas taxas de salrio para o mesmo tipo de ocupao que
expliquem a persistncia deste movimento.20
Quanto ao esvaziamento da cidade consolidada devemos considerar, ao lado da clssica
migrao de retorno, a hiptese de que So Paulo expulse migrantes com nvel de renda e
escolaridade mais elevado de seu centro consolidado, principalmente para o Interior de So
Paulo, enquanto continua a receber contingentes importantes de migrantes nordestinos,
direcionados sobretudo para a nova fronteira urbana.21 Tal fenmeno caracterizaria uma certa
troca populacional com amplas repercusses para a vida social da metrpole.
2.2. Renda, Raa e Emprego na Fronteira Urbana
A fronteira urbana agrega um conjunto muito significativo de pessoas de baixa renda, o que
tambm parece estar correlacionado a nveis de desemprego mais elevados, maior proporo
de pessoas de baixa escolaridade e maior proporo de pretos e pardos.22 A periferia
consolidada encontra-se numa situao intermediria e a cidade consolidada apresenta nveis
mais elevados destes indicadores para todas as dimenses consideradas. Tais dados podem
ser observados na Tabela 3, abaixo.
20 Os economistas contemporneos, tendem a explicar a migrao em termos de diferenciais inter-regionais de renda e no de emprego (Henderson, 1988). 21 Esta hiptese foi colocada anteriormente por Walmir Aranha (1996). 22 Os dados de desemprego disponibilizados pelo Censo 2000 no correspondem exatamente s medidas de desemprego tradicionalmente utilizadas pelo IBGE nas PNADs e na PME devido a diferenas metodolgicas entre estes levantamentos e o Censo Demogrfico. Embora os nveis de desemprego sejam mais elevados do que os tradicionalmente observados por estas fontes de dados, o que importa aqui observar as diferenas entre as vrias regies.
-
14
Tabela 3
Indicadores Sociais da Populao Residente na Mancha Urbana de So Paulo, 1991-
2000 Nmeros relativos Indicadores
Total Fronteira Periferia consolidada
Cidade consolidada
Renda mdia domiciliar (salrios mnimos) 10,42 6,52 10,53 14,62 Renda mdia domiciliar per capita (salrios mnimos) 3,86 1,74 3,04 4,65 Taxa de desemprego 19,41 24,25 20,39 15,06 Proporo de chefes de domiclio analfabetos 6,47 9,89 7,12 3,56 Proporo de Pretos e Pardos 31,81 43,97 34,44 19,54 Pessoas residindo em setores sub-normais (%) 10,14 15,50 12,50 3,62 Proporo de crianas de 0 a 15 anos residentes em domiclios com renda per capita familiar inferior a meio salrio mnimo 21,00 28,64 20,48 11,87
Fonte: IBGE, Censo Demogrfico de 2000.
De fato, a renda mdia domiciliar na cidade consolidada mais do que o dobro da observada
na fronteira urbana e a renda per capita familiar quase trs vezes maior. A discrepncia
entre os diferenciais de renda familiar e renda per capita se deve ao maior nmero de pessoas
por domiclio na fronteira.23 Em outras palavras, na fronteira, no apenas os domiclios so
muito mais pobres, mas os recursos a existentes so divididos por um maior nmero de
moradores.
Por outro lado, os diferenciais de renda observados nesta tabela so reflexo tambm de
desemprego muito mais elevado na fronteira e de nveis bastante elevados de analfabetismo
entre os chefes de domiclio (10%), o triplo do nvel observado na cidade consolidada. No
por acaso, esta fronteira mais pobre e analfabeta o local de moradia de uma elevada
concentrao de moradores de cor negra ou parda (44%). Cabe destacar, que este dados
sugerem que a segregao scio-espacial em So Paulo tem alguns componentes raciais.24
Em termos dos domiclios subnormais (a favela para o IBGE), mais elevada a proporo de
populao vivendo nestas condies na fronteira urbana (15,5%) do que na periferia (12,5%),
o que de certa forma contraria a expectativa de que as favelas se constituam sobretudo
enquanto fenmenos intra-urbanos, relacionados a invaso de reas pblicas e privadas em
busca de um melhor acesso ao mercado de trabalho. A grande concentrao de favelas na 23 O nmero de pessoas por domiclio era, em 2000, de 3,82 na fronteira, 3,62 na periferia consolidada e 3,25 na cidade consolidada. 24 H que se verificar at que ponto a segregao racial ou scio-econmica, como argumentam diversos analistas. Este tema mais discutido no captulo 4 deste livro.
-
15
fronteira urbana so um fenmeno ainda a caracterizar em termos sociolgicos, mas que
desde j apontam para a grande fragilidade da ocupao nestas regies. Estes dados tambm
reforam a hiptese colocada inicialmente de que os conflitos fundirios so particularmente
intensos na fronteira urbana.
Finalmente, quando consideramos critrios ligados elegibilidade de famlias para programa
sociais, como o programa de renda mnima do municpio de So Paulo (famlias com crianas
de at 15 anos e menos de meio salrio mnimo de renda per capita familiar), verificamos que
a fronteira apresenta quase 29% de suas crianas vivendo em famlias em condies de
receber esse benefcio, contra apenas 12% da cidade consolidada. Em termos absolutos, do
total de 962 mil crianas nesta situao residentes na Mancha Urbana de So Paulo, 479 mil
(50%) residiam na fronteira urbana em 2000. Em suma, esta regio relativamente
negligenciada em termos da ao do poder pblico deveria ser considerada como sendo de
alta prioridade para polticas de transferncia de renda.
Cabe tambm destacar que embora a regio que identificamos como sendo a periferia
consolidada abrigue um contingente importante de populao de baixa renda, bem como
rena tambm parcelas importantes de analfabetos, ela apresenta para todos os indicadores
selecionados - nveis melhores do que os observados na fronteira urbana, embora nos
indicadores de renda mdia no divirjam tanto, especialmente se exclurmos da periferia
consolidada algumas poucas reas de ponderao que apresentam nvel de rendimento mais
elevado (ver Quadro 1).
Em sntese, mesmo reas de ponderao pertencentes a distritos tradicionalmente
problemticos da periferia paulistana, como Itaim Paulista, Jardim So Luiz e Capo
Redondo, que so quase inteiramente parte da periferia consolidada, apresentam parmetros
socioeconmicos superiores aos observados na fronteira urbana. Tais elementos atestam o
elevado grau de vulnerabilidade social da fronteira e, provavelmente, para o elevado nvel de
desconhecimento que os gestores pblicos e formadores de opinio tem a respeito desta
regio.
2.3 Infra-estrutura Urbana e Meio Ambiente
Quando consideramos os indicadores disponveis para infraestrutura urbana e meio ambiente,
os resultados observados seguem o mesmo padro. Apresentamos na tabela 4, abaixo,
-
16
informaes relativas ao saneamento e a moradia.25 Podemos observar que as condies de
acesso a gua potvel, coleta esgoto e coleta de lixo so bastante inferiores na fronteira
urbana. No caso particular dos dados de coleta de esgoto, cruciais para as reas de sade
pblica e meio ambiente, podemos observar que os nveis verificados so bastante
preocupantes, com apenas 65% de cobertura.
Tabela 4
Indicadores Sanitrios e Ambientais da Populao Residente na Mancha Urbana de So
Paulo, 2000
Nmeros relativos Indicadores
Total Fronteira Periferia
consolidada Cidade
consolidadaCobertura de gua (%) 97,67 93,18 98,84 99,82 Presena de banheiros (%) 99,72 99,53 99,73 99,83 Coleta de esgoto (%) 83,69 64,96 84,65 95,84 Coleta de lixo (%) 99,01 97,58 99,25 99,81
Fonte: IBGE, Censo Demogrfico de 2000.
De modo resumido, podemos resumir os elementos relacionados questo ambiental nos
seguintes elementos:
a. O crescimento da fronteira urbana induz uma continua ocupao de reas de
preservao ambiental de Mata Atlntica, em particular as reas de preservao ao Sul
dos reservatrios de Billings e Guarapiranga e ao longo da Serra da Cantareira, ao
Norte da Regio;26
b. O crescimento da fronteira urbana induz a contaminao da gua, uma vez que boa
parte do esgoto no colhido e grande parte dele no tratada. A lgica de ocupao da
terra tambm no respeita critrios de preservao de recursos hdricos;
c. O crescimento da fronteira implica em substancial aumento das jornadas para o
trabalho, com incremento do trfego e da poluio do ar. Os governos locais so
chamados a investir na infra-estrutura de transportes, o que tende a reduzir os recursos
disponveis para outros objetivos sociais e ambientais;
25 A rea subnormal uma aproximao que o Censo faz da rea de favela. 26 Segundo o Atlas Ambiental de So Paulo, publicado pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de So Paulo, o municpio teria perdido 5.357 hectares de reas verdes entre os anos de 1991 e 2000. A quase totalidade destas reas se localizava nas franjas urbanas, ao Norte, Sul e Leste do Municpio. Ver, O Estado de So Paulo, 27/08/2003, p. C1.
-
17
d. Uma vez que a fronteira cresce rapidamente e de modo desordenado, muitas vezes o
processo de ocupao se d em reas de risco ambiental, como as sujeitas a inundaes
e deslizamentos, colocando em risco a prpria populao residente (Torres e Marques,
2001).
e. A ausncia de moradia adequada e de infraestrutura urbana faz com que a populao
seja menos capaz de evitar o contato com poluentes e com vetores de doenas
transmissveis.
Em suma, a significativa expanso da fronteira urbana deve tambm ser considerada muito
preocupante do ponto de vista de objetivos de polticas de infra-estrutura urbana e de meio
ambiente, fortemente afetadas por esta dinmica. Evidentemente, tal preocupao no pode
implicar a culpabilizao dos migrantes que, a rigor, so os primeiros afetados pelo
agravamento das condies ambientais destas reas.
3. Fronteira Urbana: significados
O exuberante crescimento da fronteira paulistana nos anos 90 perodo marcado por elevado
desemprego e perda de ocupaes industriais - coloca importante desafios para os modelos que
buscam pensar as dinmicas de desenvolvimento metropolitano. Essa fronteira urbana continuou
a crescer a despeito da crise do emprego metropolitano e da reestruturao produtiva dos anos
90. Claramente, continua a se observar o aterrador fenmeno do crescimento por elaborao de
periferias, embora ele se d com outros significados do que os pensados nos anos 70.
De fato, assim como no h mais sentido em falarmos numa funcionalidade da fronteira agrcola
(Goodman, 1986), no h sentido em discutirmos a funcionalidade da fronteira urbana. A
produo capitalista, particularmente em tempos de automatizao e reestruturao produtiva,
no precisa de uma massa de populao migrante para se viabilizar produtivamente, embora
possa lanar mo desta populao dependendo das condies de mercado e em segmentos com
fortes componentes de terciarizao, como a indstria de confeces (Buechler, 2002). A
populao migrante da fronteira urbana, com importantes problemas de escolaridade, bem como
de acesso aos postos de trabalho crescentemente sofisticados tanto nos servios quanto na
indstria, consegue integrar-se apenas precariamente ao mercado de trabalho urbano,
permanecendo em grande medida desempregada ou sub-empregada. Num mercado de trabalho
-
18
crescentemente segmentado, no possvel afirmar que sua presena tenha impactos
substanciais para o rebaixamento do custo de mo-de-obra (Cunha e Dedecca, 2000).
De certo modo, os componentes principais da contnua produo de fronteiras so bastante
conhecidos. Por um lado, persiste a precariedade socioeconmica das reas tradicionalmente
expulsoras de migrantes, particularmente as do Nordeste, o que explica a continuidade da
migrao para a fronteira urbana, a despeito da deteriorao das condies de insero de novos
migrantes nestes locais. De certa forma, o Brasil profundo continua a assombrar a metrpole
moderna em tempos de globalizao e de constituio de redes de cidades mundiais. 27
Por outro lado, a dinmica do mercado imobilirio condicionado pelo aparato jurdico
relacionado regulao da propriedade da terra, pelas polticas urbanas e habitacionais tornam
proibitivo o acesso a terra em reas urbanas mais consolidadas por parte de famlias de baixa
renda. Uma vez que a infra-estrutura urbana e os equipamentos pblicos no se movem
espacialmente, evidentemente um luxo muito caro para o Estado e para a sociedade conceber
que as reas centrais continuem a ter perdas populacionais to significativas, enquanto todo
crescimento metropolitano continue a se dar na fronteira mais urbana cada vez mais distante. O
problema que tais custos sequer so percebidos, pois esto distribudos por dezenas de
instncias estaduais, vrias prefeituras, bem como por milhes de cidados residentes da
fronteira.
Neste sentido, podemos falar de um contnuo processo de produo de fronteiras e de periferias,
de uma fronteira urbana em movimento. Pelo lado migratrio, a fronteira urbana , apenas
temporariamente, uma vlvula de escape para os sem lugar. Rapidamente esta terra tambm se
torna proibitiva, na medida em que o Estado investe, dota-a de infra-estrutura e equipamentos
sociais. Esta terra se valoriza, e isto produz simultaneamente novos mecanismos de expulso via
mercado imobilirio, enquanto os novos migrantes pobres deixam de ter a possibilidade de
residir nestes locais.
27 Tericos da teoria da marginalidade argumentavam que a dinmica industrial relativamente anmica dos pases perifricos num contexto de presso demogrfica acarretaria necessariamente um crescimento hipertrofiado do setor servios pessoais, com baixa densidade de capital, baixa produtividade, instabilidade ocupacional e baixos salrios. Tal populao tenderia a ocupar predominantemente a periferia urbana (Kowarick, 1976). Faria (1986), critica esta perspectiva argumentando que o rpido crescimento do emprego industrial no perodo de 1950 a 1980, permitiria descartar a teoria da marginalidade como processo explicativo da dinmica de gerao de empregos no Brasil. Sua hiptese era que, nas reas mais modernas do Brasil, como So Paulo, o advento de perodos significativos de recesso econmica seriam seguidos de crescimento do desemprego aberto e no de aumentos substanciais da informalidade. Nos anos 90, tanto o desemprego aberto quanto a informalidade aumentaram substantivamente, dando ironicamente razo aos dois autores.
-
19
Nestas circunstncias cabe indagar: por quanto tempo ainda continuaremos a produzir novas
periferias? Ser que o fim da transio demogrfica, aliado a um contexto de universalizao da
modernizao da agricultura, ser capaz de reduzir o estoque de populao potencialmente
migrante para a fronteira urbana como sugeriram na dcada de 60 os adeptos da teoria da
modernizao - ou seguiremos ao longo das prximas dcadas produzindo novas fronteiras,
ainda mais distantes e precrias?
Bibliografia
ADB. Mega Cities Management in Asia and Pacific. Manila: Asian Development Bank. 1996. ARANHA, Valmir. Migrao na metrpole paulista. In: So Paulo em perspectiva, vol.10, n2,
1996. pp.83-91.
BECKER, Bertha. Geopoltica da amaznia: a nova fronteira de recursos. Rio de Janeiro, Zahar, 1982.
BALDASSARE, Mark. Trouble in paradise: the suburban transformation of America. New York, Columbia University Press, 1986.
BONDUKI, N. e ROLNIIK R. Periferia da Grande So Paulo: reproduo do espao como expediente de reproduo da fora de trabalho. In: Maricato, E. (org.) A produo capitalista da casa (e da cidade) do Brasil industrial. So Paulo, Alfa-mega, 1982.
BUECHLER, Simone. Enacting the global economy in So Paulo, Brazil. New York, Columbia University, 2002 (Phd. Thesis).
CALDEIRA, Teresa, P. Cidade de muros. So Paulo, Edusp, 2000
CARDOSO, Fernando Henrique e FALETTO, Enzo. Dependncia e desenvolvimento na Amrica Latina. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1970.
CHINELLI, F. Os loteamentos da periferia. In: Valladares, Lcia (org.) Habitao em questo. Rio de Janeiro, Zahar. 1980.
CUNHA, Jos Marcos Pinto. Mobilidade populacional e expanso urbana: o caso da Regio Metropolitana de So Paulo. Campinas, IFCH/UNICAMP, 1994 (Tese de Doutorado).
CUNHA, Jos Marcos Pinto e Dedecca, C.S. Migrao e trabalho na Regio Metropolitana de So Paulo nos anos 90. Uma abordagem sem preconceito. In: Revista Brasileira de Estudos de Populao, v.17, n.1/2, 2000, pp. 97-118.
DUANY, Andres; ZYBERK E. P. e SPECK, J. Suburban nation: the rise of the sprawl and the decline of the American Dream. New Yoek: North Point Press, 2000.
FARIA, Vilmar. Mudana na composio do emprego e das ocupaes. In: . In: Bacha, E. e Klein, H.S. (Orgs.). A transio incompleta: Brasil desde 1945. Rio de Janeiro, Paz e Terra, vol.2, 1986 pp.108.
FOWERAKER, J. A luta pela terra: a economia poltica da fronteira pioneira no Brasil de 1930 aos dias atuais. Rio de Janeiro, Zahar, 1982.
-
20
GANS, Herbert J.. Levittown and America. New York, Pantheon, 1967. GOODMAN, David Economia e sociedades rurais desde 1945. In: Bacha, E. e Klein, H.S.
(Orgs.). A transio incompleta: Brasil desde 1945. Rio de Janeiro, Paz e Terra, vol.2, 1986. pp.113-75.
HECHT, Susanna. e COCKBURN, Alexander. The Fate of the Forest: Developers, Destroyers and Defenders of the Amazon. London, New York, Verso, 1989.
HENDERSON, J.V. Urban development. Theory, fact and illusion. New York, Oxford University Press, 1988.
KOVARICK, Lcio. Capitalismo e marginalidade na Amrica Latina. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976.
MAHAR, Dennis J. Desenvolvimento Econmico da Amaznia: uma anlise das polticas governamentais. Rio de Janeiro, IPEA, 1978 (Relatrios de Pesquisa, 39).
MARQUES, E. e BITAR, S. Espao e grupos sociais na metrpole paulistana. In: Novos Estudos Cebrap, No 64. 2002.
MASSEY, Douglas S. and DENTON, Nancy A. American apartheid: segregation and the making of the underclass. Cambridge, Harvard University Press, 1993.
MONTE-MR, Roberto Lus. Outras fronteiras: novas espacialidades na urbanizao brasileira. In: Castriota, Leonardo B.(org.) Urbanizao Brasileira: redescobertas. Belo Horizonte, C/Arte, 2003, pp.260-271.
OLIVEIRA, Francisco de. A economia brasileira: crtica razo dualista. In: Estudos Cebrap, N2. 1972.
OLIVEIRA, Francisco de. Acumulao monopolista, contradies urbanas, e a nova qualidade do conflito de classes. In: MOISS, J.A. (org.) Contradies urbanas e movimentos sociais. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978.
SANTOS, C. Velhas novidades nos modos de urbanizao brasileiros. In: Valladares, Lcia (org.). Habitao em questo. Rio de Janeiro, Zahar, 1980.
SAWYER, Donald R. Fluxos e refluxos da fronteira agrcola no Brasil. In: Revista Brasileira de Estudos de Populao, v.1, n.1/2, 1984 pp.3-34.
SINGER, Paul. Migraes internas: consideraes tericas sobre seu estudo. In: Economia poltica da urbanizao. So Paulo, Brasiliense, 1976, pp. 29-60.
SMITH, Neil. The urban frontier: gentrification and the revanchist city. New York, Routledge, 1996
SCHMINK, Marianne e WOOD, Charles H. Contested Frontiers in Amazonia. New York, Columbia University Press, 1992.
TASCHNER S. P. e BGUS, L.) A cidade dos anis: So Paulo. In: QUEIROZ, L. C. (org.) O futuro das metrpoles: desigualdades e governabilidade. Rio de Janeiro, Revan/Fase, 2000.
TORRES, Haroldo G. e MARQUES, Eduardo. Reflexes sobre a hiperperiferia: novas e velhas faces da pobreza no entorno metropolitano. In: Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, no. 4, 2002.
-
21
TORRES, Haroldo G.. Social Policies for the urban poor: the role of population information systems. Mexico city: UNFPA Country Support Team for Latin America and Caribbean. Working Papers Series N. 24, 2002a.
TORRES, Haroldo G.. Population and the environment: a view from Brazilian Metropolitan Areas. In: Hogan, D., Berqu, E. and Costa, H.M. Population and Environment in Brazil. Campinas, CNPD/ABEP/NEPO, 2002b pp.147-166.
VELHO, Otvio. Capitalismo autoritrio e campesinato. So Paulo, Difel, 1976