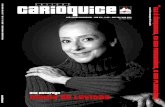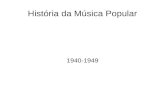Trabalho e MPB
-
Upload
leonardo-tonon -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
description
Transcript of Trabalho e MPB
-
1
Trabalho e Trabalhador em Canes da MPB: Prticas Sociais e Discursivas na
Construo da Realidade e Produo de Sentido.
Autoria: Cassia Helena Pereira Lima, Sonia Maria de Oliveira Pimenta
Resumo
Este artigo aborda trabalho e msica como prticas sociais, a configurao do trabalho e sua subordinao estrutural ao capital com o objetivo de analisar a representao do trabalho e do trabalhador em letras de 325 canes da MPB, gravadas entre 1916 e 2010, utilizando Anlise Crtica do Discurso (ACD). Constatou-se que a representao do trabalho predominantemente negativa, seu universo eminentemente masculino, com desqualificao da capacidade produtiva da mulher e foram identificados diferentes significados para o trabalho nas canes. Enfim, prticas sociais e discursivas sobre trabalho se imbricaram na construo da realidade e na produo de sentido.
-
2
Introduo A vida social feita de prticas associadas a tempos e espaos nos quais as pessoas aplicam recursos materiais ou simblicos para agir conjuntamente no mundo. Presentes em toda a vida social, em domnios econmicos, polticos, culturais e na vida diria, tais prticas envolvem ao, interao, relaes sociais, pessoas com crenas, valores e atitudes particulares, mundo material e discurso. Principalmente desde a dcada de 1970, o discurso assumiu uma considervel importncia na reestruturao do capitalismo, uma vez que a nova economia baseia-se em informao e conhecimento, que circulam e so consumidos discursivamente, tendo a mdia de massa como um dos principais disseminadores. As prticas discursivas das mdias podem influenciar ou determinar comportamentos e atitudes dos receptores, podendo ser novamente reproduzidos nos discursos miditicos, numa atividade reflexiva. Discutir a configurao das prticas discursivas e a relao entre elas pode tanto favorecer a reproduo do sujeito social quanto a sua transformao (FAIRCLOUGH, 2001a). Este artigo aborda trabalho e msica como prticas sociais, cujos discursos assumiram importantes papis sociais, o primeiro por ser pilar do capitalismo e a segunda porque no cenrio brasileiro extrapolou a funo de simples manifestao cultural, sendo tambm responsvel pela produo de sentido. O objetivo analisar a representao do trabalho e do trabalhador, a partir do discurso das letras de 325 canes brasileiras gravadas entre 1916 e 2010 atravs da Anlise Crtica do Discurso (ACD). Para tal, em funo da limitao de espao, optou-se por abordar concisamente a configurao do trabalho, considerando a reflexividade das prticas sociais e discursivas. Breve histrico e configurao do Trabalho O trabalho assumiu diferentes configuraes sociais na histria da humanidade, sempre orientado para o aumento da produtividade do homem ou da mquina e influenciado pelos aparelhos ideolgicos dominantes em cada poca. Mais recentemente, associa-se fortemente ao prprio senso de valor pessoal e utilidade social e ocupa um lugar central na vida das pessoas e nas sociedades industrializadas. Arendt (2003) diferencia trabalho de labor e ao: labor atividade associada aos processos biolgicos do corpo humano e relacionada s necessidades vitais; trabalho a atividade que corresponde ao artificialismo da existncia humana, produz um mundo artificial de coisas e no est contida no ciclo vital da espcie; ao a atividade direta entre os homens sem a mediao da matria. Ao e discurso so os modos pelos quais os seres humanos se manifestam entre si. Trabalho traz uma carga semntica negativa, pois tripaliare (latim) indicava torturar com o tripalium (instrumento de tortura e castigo para escravos e homens no livres, formado de trs hastes ou paus) e laborare significava balanar o corpo sob uma carga pesada e geralmente designava o sofrimento e o mau trato do escravo. A conotao negativa vem desde a Antiguidade, quando a populao trabalhava em regime de trabalho forado e degradante para sustento de uma classe livre que se dedicava a uma vida superior voltada para as necessidades da alma. Na Idade Mdia a mo de obra escrava foi substituda pela dos servos e trabalhava-se para subsistncia e pagamento de tributos sob a forma de mercadorias. No ocidente, pela herana judaico-crist permeada pela greco-romana o trabalho surgiu relacionado labuta penosa, devendo o homem ganhar o po com o suor de seu rosto. Com a Reforma Protestante, comeou a adquirir conotao positiva, sendo a chave para a vida. Weber associou essa tica ao que ele chamou de esprito do capitalismo. O trabalho se tornou um valor em si mesmo e a perda de tempo, a preguia e o cio passaram a ser condenados. A prosperidade era o prmio de uma vida santa e permitiu a reverso do baixo prestgio dos primeiros empresrios, segundo Albornoz (2002); De Masi (2000); Quintaneiro et al (2003) e Ohweiler (1985). A Revoluo Industrial alterou a configurao do trabalho com uma ruptura na sociedade e na economia, criando a classe operria: donos das mquinas de produo e empregados substituram mestres artesos e aprendizes, a fbrica tomou o lugar da produo familiar, o
-
3
salrio substituiu o aprendizado do ofcio, e a relao do proprietrio com o empregado ocupou a do mestre com o aprendiz-arteso (BARROS NETO, 2001; GIANOTTI, 2007). Foi a origem do capitalismo. A lgica passou a ser: pensadores pensando; detentores dos meios de produo fazendo a produo acontecer; e os demais sendo obrigados a cumprir a ordem de produo, em condies de trabalho forado mesmo para mulheres e crianas, segundo Lafargue (2003) e Quintaneiro et al (2003). As gerncias passaram a ter papel de destaque para controlar o trabalho, o que se deu com a correlata diminuio da influncia operria sobre os meios e a natureza da produo, tornando os trabalhadores alienados em relao ao processo produtivo, segundo Ramalho e Santana (2004). Para Foucault (2003, p. 188), esse poder se apoia mais nos corpos e seus atos do que na terra e seus produtos. um mecanismo que permite extrair dos corpos tempo e trabalho mais do que bens e riqueza. Marx foi quem inicialmente postulou esse antagonismo bsico do capitalismo, quando definiu o trabalho coletivo como base do mundo social, com relaes de poder entre os capitalistas e os trabalhadores e o problema da alienao no e do trabalho. A fora de trabalho converteu-se numa mercadoria organizada no pelo desejo de quem a vende, mas pelas necessidades de seus compradores-empregadores, procura de ampliar o valor de seu capital (BRAVERMAN, 1977). Ramalho e Santana (2004, p. 21) destacam que Braverman ateve-se aos elementos objetivos em suas crticas, no discorrendo sobre o fato da natureza do controle lidar com aspectos subjetivos do trabalho, ou seja, com processos polticos e ideolgicos, que envolvem conflito, resistncia e consentimento na complexa relao capital/trabalho. Na vida cotidiana, e principalmente no mundo trabalho, tempo e espao se tornaram categorias importantes da vida e reduziram-se de tal forma que possu-los passou a ser um luxo. Ao traar o cenrio do final do sculo XX, Antunes (2003) caracteriza a subordinao estrutural do trabalho ao capital em quatro aspectos: a) separao e alienao entre trabalhador e meios de produo; b) imposio dessas condies objetivadas e alienadas sobre os trabalhadores, como um poder separado que exerce o mando sobre eles; c) personificao do capital como um valor egosta (voltada para o atendimento dos imperativos expansionistas do capital); e d) personificao dos operrios como trabalho, destinada a estabelecer uma relao de dependncia entre aqueles e o capital historicamente dominante (personificao que reduz a identidade do sujeito desse trabalho a suas funes produtivas fragmentrias). Mas falar de trabalho implica em tambm tratar da sua ausncia, fato marcante em praticamente todas as naes. Os impactos do desemprego vo alm das questes prticas financeiras. Frankl (2008) compara a situao da pessoa desempregada a de prisioneiros chegando a um campo de concentrao, sem poder prever quando chegaria ao fim essa forma de existncia, se que terminaria. O indivduo no consegue viver em funo de um alvo porque simplesmente sua situao no lhe permite prever o final de uma forma provisria de existncia nesse caso o desemprego. Pelo mesmo motivo por estar em uma situao cujo fim imprevisvel e incerto ele tambm no consegue existir voltado para o futuro, como uma pessoa normal, pois se altera toda a estrutura de sua vida interior, com sinais de decadncia interior e mudana da percepo do tempo. Essa sensao tambm pode ser transposta para a situao de instabilidade do empregado frente s novas configuraes cada vez mais prximas de estados continuamente provisrios e de alvos etreos a serem atingidos. A ps-modernidade trouxe a falta de segurana e de estabilidade no trabalho. As organizaes se apropriaram do novo discurso, defendendo o fim do trabalho com caractersticas de pleno-emprego, carteira assinada e garantia de ascenso social, indicando que o trabalho depende de fatores que no podem ser controlados, como mercado, sade financeira, competitividade global e local, humor de grandes investidores e acionistas. Bendassoli (2007, p. 18) afirma que ser ps-moderno em matria de trabalho saber combinar apego e compromisso tnues com a facilidade de realizar o luto pela ruptura do vnculo com a empresa. O vnculo depende de uma cola to incerta quanto desempenho,
-
4
resultados e facilidade de relacionamento. O enfraquecimento deste vnculo e do trabalho devem-se ao enfraquecimento institucional pela exigncia de produtividade dos agentes econmicos e fragilizao da moderna relao entre identidade da pessoa e o trabalho por ela realizado, ou seja, o enfraquecimento do papel do trabalho na construo da subjetividade (Ibidem, p. 19). O trabalho tratado como uma commodity submetida ao mercado, cuja lgica no se pode controlar e gera ambiguidades e dilemas quanto individualidade, identidade e expectativa do prprio trabalhador, fazendo com que este espere daquele mais do que possvel ser oferecido. Dentre outras consequncias, h um nmero crescente de indivduos sobrecarregados e culpados pelo tempo correspondente que no dedicado famlia ou vida pessoal. [Eles] vivem uma vida que percebem ser de outra pessoa ou como uma resposta automtica, mecnica, a foras e presses de que nem se do conta por completo. Essa ausncia de percepo do exerccio desse poder sobre si aumenta a fora e a autoridade de tais aparelhos ideolgicos. Ento, a instncia ideal na qual todos devem se espelhar com sucesso e autorrealizao a todo custo se transforma numa difcil misso para o indivduo pequeno-burgus (BENDASSOLI, 2007, p. 296). O autor ressalta que o conceito de eu reflexivo, de Giddens (2002), com uma identidade passvel de revises na modernidade tardia, encaixa-se bem nesse indivduo que tem sua ao individual sem assistncia, demandando sua dimenso ativa, independente e solitria, de um eu que encontra seu prprio caminho em meio dvida, incerteza e ao risco, mas um caminho de libertao e individualizao, no qual s pode recorrer, com certeza, a si prprio. Sua rede pessoal quando existe pode ajudar, mas no necessariamente garantir algo. Outro aspecto importante ao remeter ao trabalho identificar a motivao que serve como base para a fixao do indivduo ao fenmeno do trabalho, o seu significado. A equipe do Meaning of Working International Research Team (MOW, 2003) investigou os resultados ou produtos do trabalho aos quais se d valor. Com base neles, Lima (2006) adequou-os realidade observada em sua pesquisa e redefiniu nos grupos, que foram utilizados aqui: a) de lhe permitir obteno de status, prestgio e aceitao social; b) financeira, sobrevivncia, sustento, atendimento a demandas consumistas; c) de mant-lo ocupado; d) de contato social, permitindo o estabelecimento de relaes interpessoais; e) de se sentir til sociedade, ser reconhecido; f) autoexpressiva ou intrnseca, autoconhecimento, aumento de autoestima, crescimento pessoal, autorrealizao; g) aborrecimento, obrigao; e h) sublimao. Em linhas gerais, a configurao do trabalho no Brasil acompanha os movimentos histricos mundiais, com particularidades relativas aos aspectos polticos e econmicos. A industrializao comeou efetivamente no incio do sculo XX, ganhando fora aps a I Guerra Mundial. A regulamentao do trabalho ocorreu a partir do primeiro Governo de Getlio Vargas e o movimento de entrada da mulher no mercado de trabalho foi significativo na segunda metade do sculo, intensificado na dcada de 70 (CARDOSO, 2010). A histria do trabalho geralmente contada pelo ponto de vista dominante, a voz dos trabalhadores passa por um filtro. Os relatos histricos do margem ao entendimento de que as conquistas em termos de benefcios tenham vindo de graa, pela benevolncia de governantes o que, segundo Gianotti (2007), no corresponde realidade, mas refora uma caracterstica do trabalhador brasileiro de alienao e passividade, utilizada pela burguesia para manter sua dominao. A msica pode ser uma das vozes para manifestao de outras verses. Como elemento cultural veiculado em diversas mdias, inclusive de massa, a msica torna-se uma autntica fonte para investigar a formao da realidade e de aspectos nem sempre explcitos da histria de um pas. Ela delineia traos importantes para o entendimento de determinada sociedade por estar incorporada na cultura e por poder trazer um rico acervo histrico-cultural. Particularmente a cano popular brasileira (verso e msica) metfora e mosaico de nosso estar no mundo, uma vez que encena, em dinmico estado de catarse
-
5
multicultural, nossos desafios, nossas carncias e nossos desejos (MORAES, 2000, p. 2). Metodologia Essa uma pesquisa bsica, do ponto de vista da natureza. A abordagem do problema qualitativa, pois considera a relao dinmica entre o mundo real e o sujeito, em um vnculo indissocivel entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, o que no pode ser traduzido em nmeros (TRIVIOS, 1992, p. 79). Quanto aos objetivos ou fins, exploratria (GIL, 1999), tendo como procedimentos tcnicos a pesquisa bibliogrfica e a documental. O tratamento dos dados foi prioritariamente qualitativo utilizando-se de recursos quantitativos para tabular os tpicos de codificao, baseada em premissas de ACD de Fairclough (2001a). Identificou-se na histria da msica brasileira um ponto inicial para o recorte no tempo para seleo das canes mencionando o trabalho. Como a msica cantada somente encontrou meios para sua difuso no Brasil a partir da primeira metade do sculo XX, a pesquisa avaliou canes gravadas a partir desta poca, terminando com msicas compostas em 2010. Esse perodo atende a premissa de corpus que d acesso aos processos de mudana por incorporar perodo razovel nos dados, bem como a quantidade de material selecionado representativa da diversidade da prtica discursiva estudada (FAIRCLOUGH 2001a). A amostra foi selecionada por tipicidade e acessibilidade dentro do universo de canes do perodo estabelecido (1916-2010). Os critrios para incluso foram: ser msica popular brasileira gravada em disco ou CD, divulgada em meios difusores da poca e a letra deveria mencionar o trabalho, o trabalhador, o emprego, a profisso ou as consequncias direta destes. Considerou-se como msica popular brasileira a definio do 2 Encontro de Pesquisadores de Msica Popular Brasileira, em1976: msica popular aquela criada por autor conhecido, dentro da tcnica mais ou menos aperfeioada, e se transmite pelos meios comuns de divulgao musical (MARIZ, 2006, p. 28). A coleta fechou com 325 canes. Os dados foram analisados pela ACD, que tem uma abordagem social, porm linguisticamente orientada, considerando o discurso constituinte da estrutura social e por esta constitudo. A linguagem um instrumento para a interao social, o discurso a linguagem em uso e o poder na sociedade exercido por meio de prticas discursivas institucionalizadas (FAIRCLOUGH 2001a, 2001b). Essa Teoria Social do Discurso analisa as estruturas lingusticas em seus contextos sociais amplos para recuperar os significados sociais expressos, pois alm de representar prticas sociais, a lngua capaz de criar, influenciar ou modificar a realidade social, podendo estabelecer, minimizar ou reforar diferenas entre as pessoas. Foucault (2006, p. 10) refora esta competncia ao afirmar que o discurso no simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominao, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar. A ACD considera que o contexto afeta mais ou menos intensamente a interpretao do texto variando com o tipo de discurso, podendo, ainda, reduzir sua ambivalncia (FAIRCLOUGH, 2001a). Por isso, ao longo da anlise foram recuperados dados histricos do trabalho no Brasil para embasar essa avaliao. As letras das canes foram classificadas em ordem cronolgica e nesta sequncia analisadas pelo que Fairclough denominou decomposio em classes particulares de questes ou formulaes ou codificao em tpicos. Esses tpicos de codificao foram determinados a priori, tomando por base aspectos importantes sobre a configurao do trabalho e sobre seu significado. No decorrer da anlise foram estabelecidos tpicos a posteriori, devido riqueza da amostra. Anlise dos Dados
O mapeamento das canes confirmou que a amostra contempla a maioria dos anos do perodo selecionado, estando distribudas ao longo do perodo estudado (1916-2010) sem uma frequncia ou regularidade na quantidade de composies por ano. A classificao por tpicos possibilitou avaliar a incidncia das representaes do trabalho e do trabalhador. A TABELA 1 apresenta a quantidade absoluta de cada tpico e o percentual em relao quantidade total
-
6
de canes. Percebeu-se que houve apenas um ncleo de incidncias em pocas especficas, como descrito adiante no tpico b, representao do trabalho. Na anlise, trechos de letras de canes que exemplificam cada tpico so assinalados com o smbolo ().
TABELA 1 Resumo de classificao das letras do corpus por tpicos de codificao
Categoria Classificao Quantidade Percentual
Abordagem do tema trabalho
Principal 113 34,77 Perifrico 200 61,54 Cita apenas o profissional 12 3,69
Total 325 100,00
Viso Positiva /sacro ofcio 56 17,23 Negativa / sacrifcio 154 47,38 Viso no indicada 117 36,00
Total 327 100,62 (a)
Vnculo do sujeito
Empregado / trabalhador 191 58,77 Desempregado / no trabalhador 47 14,46 Ambos 37 11,38 Malandro/bomio/moleque 34 10,46 (b) No especificado 47 14,46
Total 356 109,54
Universo do trabalho
Feminino 8 2,41 Masculino 161 48,64 Gnero indiferente 96 29,00 Ambos 58 17,52 Infantil 8 2,41 (c) Idoso 0 0,0
Total 331 100,00
Gnero do trabalhador
Homem 213 65,54 Mulher 24 7,38 Ambos 52 16,00 No cita 36 11,08
Total 325 100,00
Tipo / ambientao
Urbano 190 58,10 Rural 43 13,15 (d) No especificado 94 28,75
Total 327 100,00
Significado / fim do trabalho(e)
Status 26 8,00 Financeiro / sobrevivncia 152 46,77 Ocupao 41 12,62 Ser socialmente til e reconhecido 60 18,46 Autoexpressiva 41 12,62 No indicado 124 38,15
Total 418 128,62 Obs: (a) duas msicas apresentam ambas as vises; (b) h casos de citar empregado, desempregado e malandro; (c) h casos de citar o gnero e tambm infantil; (d) h dois casos em que a letra cita o trabalho rural e o urbano; (e) permite respostas mltiplas. Fonte: Dados da pesquisa
a) Abordagem do tema trabalho nas canes do corpus Das 325 canes que compem o corpus, 113 (34,77%) tm o trabalho como tema principal, 200 (61,54%) o abordam de forma perifrica e 12 (3,69%) enfocam uma categoria profissional e seu trabalho. O total de letras com o trabalho como tema principal pequeno em relao ao imenso e incontvel volume de canes da MPB no perodo avaliado o que contrasta com a importncia e com a centralidade do trabalho na sociedade nesse perodo.
-
7
b) Representao do trabalho A viso do trabalho predominantemente negativa de acordo com 154 canes (47,38%), em contraposio a 56 (17,23%) com viso positiva e 117 (36,%) que no explicitam sua opinio. Mas considerando apenas as canes com um posicionamento, seja positivo ou negativo, as letras com representaes desfavorveis do trabalho so 73,3% deste total de 210. A viso negativa geralmente explicitada de forma clara, objetiva e contundente: Mas o que eu tenho/ s um emprego /E um salrio miservel/ Eu tenho o meu ofcio/ Que me cansa de verdade (Msica de trabalho); Trabalhar pra quem pobre gostar de penitncia.../ O trabalho d cansao e suor de experincia (Viva Rica). Nas consideraes desfavorveis, o trabalho por vezes colocado em franca oposio a aes e coisas boas: Trabalho pra mim guerra, prefiro fazer amor (S vou criar galinha). O trabalho frequentemente associado ao sofrimento: Eu no nasci pro trabalho/ eu no nasci pra sofrer (Vamos danar). O trabalho representado majoritariamente por diferentes expresses negativas: sina, labuta, batente, tarefa, luta, penitncia, loucura, estorvo, guerra, meio de vida, ganha po. Trabalhar associado a enforcar, estragar, entregar, labutar e caducar, o que pode ser um reflexo do discurso negativo sobre trabalho: Vai trabalhar, vagabundo/ Vai trabalhar, criatura / Deus permite a todo mundo / Uma loucura (Vai trabalhar vagabundo). Nas vises positivas, pode ser um meio efetivo para se conseguir algo dignamente e uma atividade honrada e enobrecedora: Mas pra chegar at o ponto em que cheguei/ Eu trabalhei, trabalhei, trabalhei/ Eu hoje sou feliz (Eu trabalhei); Conheci um moo pobre, honrado e trabalhador (Jogador de Baralho); E sem o seu trabalho/ o homem no tem honra (Guerreiro Menino). H uma pequena concentrao da viso positiva em letras em algumas pocas. Levantou-se a hiptese da relao com momentos poltico, econmico e social brasileiros, nos quais o trabalho esteve em evidncia, seja por incentivo governamental, seja pela participao intensa do trabalhador e de seus sindicatos em disputas polticas.Nas letras, o trabalho como sacrifcio se sobrepe viso positiva. Essas duas letras demonstram tal antagonismo: lavar roupa de madame,/ Sem medir o sacrifcio (As lavadeiras da favela); e Quando em perigo a minha presena esperana produz/ Pe sua confiana em quem sempre fez jus/ Fiz da coragem ofcio, minha profisso/ Na sua fraqueza estendo a mo, conte comigo meu irmo (Profisso coragem). c) Vnculo: empregado ou desempregado O discurso retrata diferentes situaes de trabalho, tal como a realidade brasileira. O sujeito representado como empregado em 191 canes (58,77%), exercendo funes para um patro ou senhor, e as mulheres tambm vinculadas a trabalhos domsticos. Mas se o trabalho o foco, a sua ausncia tambm significativa, citada em 47 canes (14,46%), seja pelo personagem estar desempregado como em Procuro emprego, esse o enredo da nossa vida (Desemprego), seja por medo ou por ameaa velada de vir a ficar em tal situao: A nova dana do desempregado/ Amanh o danarino pode ser voc (Dana do desempregado); Ele furou a greve porque tambm teme ficar desempregado (Po de cada dia). Somando as 37 canes que mencionam tanto o emprego quanto o desemprego, o percentual de canes com o sujeito trabalhando passa para 70,15 % e do desempregado chega a 25,84%. A representao do indivduo sem trabalho feita em perodos diversificados ao longo do sculo. O que novo a crescente situao de instabilidade do emprego frente s novas configuraes do mercado de trabalho, em contraposio s exigncias institucionais de desempenho do trabalhador, apontado por Bendassoli (2007) e inserido no discurso musical. Entre emprego e desemprego, existem situaes de disfunes ou subemprego acentuadas nas ltimas dcadas na sociedade brasileira, o que retratado nas canes Trabalhador, gravada em 2007 e Dana do Desempregado, de 1977 Trabalhador brasileiro/ Tem gari por a que formado engenheiro; E vai vendendo vai vendendo vai/Sobrevivendo feito camel. d) Malandro e vagabundo
-
8
Malandro e vagabundo tem conotaes diferenciadas. Ambos no querem trabalhar, mas a vagabundagem est relacionada exclusivamente ao no-trabalho, a malandragem traz consigo outras conotaes. Eles aparecem em 34 canes, ou seja, 10,46% do total. O vagabundo simplesmente no trabalha e por isso um ser marginalizado na sociedade: Voc grita que eu no trabalho,/ Diz que eu sou um vagabundo (Cad trabalho); Eu sou mendigo um indigente um indigesto um vagabundo/ Eu sou o resto do mundo (O resto do mundo); Porque ser que os vagabundos no gostam de trabalhar? (Trabalho). A presena do malandro em letras vai alm das includas nessa pesquisa. Constam do corpus apenas as que o citam em sua relao com o trabalho, desconsiderando canes sobre golpes, espertezas, confuses e amores. O perfil desse personagem se modifica ao longo do tempo e, tambm, a sua representao. Como heri que moralmente nega o trabalho (WISNIK, 2006), ele aparece em O que ser de mim em 1931 ( Pois vivo na malandragem/ E vida melhor no h). Em uma ao institucionalizada, durante a cruzada antimalandragem e a valorizao profissional no perodo Vargas, em 1940 o malandro devia ser recuperado pelo trabalho para ser amado: O amor regenera o malandro ( Sou de opinio/ de que todo malandro/ tem que se regenerar/ se compenetrar/ que todo mundo deve ter/ o seu trabalho para o amor merecer). Na dcada de 70, ele inserido nas malhas do processo produtivo (OLIVEN, 1982) e retratado em Homenagem ao malandro ( Mas o malandro para valer, no espalha,/ aposentou a navalha, tem mulher e filho e tralha e tal./ Dizem as ms lnguas que ele at trabalha). Em 1975, numa anttese ao trabalhalhador, continua no imaginrio social ( O bar mais perto depressa lotou/ Malandro junto com trabalhador, em De frente pro crime), porm sua esperteza e jeitinho so reconhecidos como qualidade, alternativa e estratgia de sobrevivncia, como em Po de cada dia ( Eu sou PM/ No pense que fcil/ Tem que ser malandro pra viver se arriscando rondando pra cima e pra baixo/ Na corda bamba). Na anlise do mito do malandro atravs da msica, fica clara a funo do discurso constituinte e constituidor da estrutura social, bem como sua ao como prtica social, poltica e ideolgica, agindo sobre a sociedade, formando a identidade social, a relao entre pessoas e o sistema de crenas, conforme relatado por Fairclough (2001a). e) O universo masculino e masculinizado do trabalho A representao do universo de trabalho nas canes eminentemente masculina e o trabalho aparece na maioria das canes como tarefa do homem. O cenrio em 161 canes (48,64%) representado como masculino; em oito (2,41%) como feminino; e em 96 (28,29%) inclui ambos. O universo de autoria de canes tambm foi prioritariamente como masculino no corpus da pesquisa: a maioria dos autores do gnero masculino. Em apenas nove canes as mulheres so tambm autoras e apenas uma cano composta s por mulher: Z do Caroo, de Leci Brando, mas que retrata o universo masculino. De acordo com o contexto social e poltico brasileiro, a mulher comea a participar mais do mercado de trabalho a partir do final da dcada de 1930, intensificando sua presena na dcada de 70. Nas autorias das canes dessa pesquisa, Rita Lee a primeira mulher na lista de autoria musical em 1979. O universo do trabalho nas canes adquire configuraes eminentemente masculinas e masculinizadas. Pode-se inferir que o mercado de trabalho musical e o representado nos discursos, ento, acompanham o movimento hegemnico masculino na sociedade brasileira. f) O trabalhador mais representado homem ou mulher? A viso do trabalho apresentada a partir do ponto de vista dos homens e raras vezes o eu lrico corresponde a uma figura feminina ou fala-se da mulher relacionada ao seu trabalho. Em 65,54% das canes o participante representado homem; em 7,38 % so mulheres; em 16% ambos so citados e 11,08% no definem o gnero. A hiptese levantada relaciona-se maioria dos compositores serem do gnero masculino, a elaborarem suas obras a partir desse ponto de vista e ao reflexo da sociedade eminentemente masculinizada do perodo analisado. g) Como a mulher representada?
-
9
A mulher representada principalmente como esposa ou companheira, quem cuida do lar e dos filhos, a que espera o marido trazer o sustento da rua ( hora de voltar p'ra casa/ Dou graas a Deus que lindo/ Os filhos e a mulher em paz dormindo em O taxista); ou como objeto de cobia ( Queria uma mulher daquelas de revista/ Uma aeromoa, uma recepcionista em Invejoso). So poucas as canes nas quais ela independente e tem autonomia, como em Neide Candolina e Mama frica. Nesta, inclusive, registra-se a tripla jornada da mulher, como trabalhadora, responsvel pelo lar e pelos filhos ( E tem que/ Fazer mamadeira/ Todo dia/ Alm de trabalhar/ Como empacotadeira). Esse fato tambm est em A mulher do leiteiro ( Mas a mulher do leiteiro sofre mais;/ Ela passa, lava e cose/ E controla a freguesia/ E ainda lava as garrafas vazias). Na maioria das canes que mencionam a mulher trabalhadora, o trabalho est relacionado a tarefas domsticas, com alguma dose de subservincia: Minha me no tanque lavando roupa.../ Minha me na cozinha lavando loua... ( preciso); Ser que ela t na cozinha guisando a galinha cabidela (Morena de Angola). Em Maria Moita, em 1963, a mulher trabalha e tem que cuidar do homem: Por isso que a mulher/ Trabalha sempre pelos dois/ Homem acaba de chegar, t com fome/ A mulher tem que olhar pelo homem/ E deitada, em p, mulher tem que trabalhar. Em casos extremos, a mulher ainda a responsvel por acordar o marido para ir trabalhar: O bonde do horrio j passou/ E a Rosalina no me acordou/ Fazem cindo dias/ Que eu no vou trabalhar/ Rosalina me deixa/ Em m situao/ J no tenho mais desculpa/ Para dar ao meu patro (O bonde do horrio j passou, 1941). A mesma situao aparece em Emlia (1942): Eu quero uma mulher, que saiba lavar e cozinha / Que de manh cedo, me acorde na hora de trabalhar. A ocupao feminina mais mencionada a de lavadeira, aparecendo at em uma cano do sculo XXI (!): Lavadeira do rio, gravada em 2003 ( Lavadeira do rio /Muito lenol pra lavar [...]). Vale lembrar que em 1991 a maioria das mulheres ainda migrava da escola para a inatividade ou para a construo da famlia, conforme Cardoso (2010). Assim a cano no deveria gerar estranhamento, visto que a tarefa domstica ainda no reconhecida como trabalho e pode estar dentro do que considerado inatividade ou construo da famlia. De forma isolada, h algumas letras que invertem esses esteretipos: Eu dou duro o dia inteiro/ E voc colcho e fronha... [...]/ Bem que minha me falou/ Pr eu no casar com voc/ Chego em casa do trabalho/ Voc t vendo TV... (Safado, Cachorro, Sem Vergonha); Haroldo era um rob domstico/ Cozinheiro de forno e fogo/ Quebrava o galho na limpeza/ Assumindo sua profisso (Haroldo o rob domstico). h) Trabalho infantil e idoso O trabalho infantil um problema social considerado crime no Brasil, sendo proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condio de aprendiz, conforme artigo 60 do Estatuto da Criana e do Adolescente (PLANALTO, 2010, n.p.). A criana deveria ter direito educao e ao aprendizado profissional para ingressar adequada e gradativamente no mercado de trabalho a partir de sua adolescncia, sem atividades nocivas ao seu desenvolvimento psicossocial e fsico. Mas uma realidade cuja prtica est ligada necessidade de gerao de renda, devido a desemprego ou subemprego dos responsveis pela criana. Essas prticas sociais no passaram despercebidas no discurso das canes do corpus: oito (2,41%) incluem o trabalho infantil em suas letras, das quais quatro apenas o mencionam como um fato do cotidiano (Vendedor de bananas, Filho de carpinteiro, Marvin, Trabalhadores do metr); duas fazem uma crtica social, recriminando-o (Criana no trabalha e No serio) e duas o fazem sob o vis da delinquncia (Cara feia e O meu guri). O trabalho do idoso no foi mencionado nas canes do corpus. i) Trabalho urbano, trabalho rural e xodo rural Na classificao por tpicos de codificao, foram identificadas 190 letras (58,10%) se referindo ao trabalho urbano, 43 (13,15%) ao trabalho rural e 94 (28,75%) sem especificao
-
10
da ambientao do tipo ou local de trabalho. Esses dados retratam a realidade brasileira que se tornou prioritariamente urbana na segunda metade do sculo XX. As canes relacionadas ao trabalho rural descrevem, principalmente, as dificuldades e as mazelas do trabalho com a terra e a seca: s danos todo ano nunca vi/ pacincia j num guento a pirsiguio/ j s um caco vi nesse meu serto/ tudo qui juntei foi s pra ladro/ futuca a tuia, pega o catado/ vamo plant feijo no p (Arrumao); Essa terra to dura, to seca, poeirenta.../ Trabia, trabia ngo (Terra seca). Algumas destacam o orgulho de plantar, colher e de abastecer a mesa dos demais: E com orgulho digo com certeza/ O alimento que vai em sua mesa/ o fruto do meu trabaio (Fruto do meu trabalho). Parte dessas canes se utiliza de verses modificadas do lxico, buscando aproximao de uma forma coloquial tpica do interior. A quantidade de letras de canes que mencionam o trabalho rural equivale curva do fluxo migratrio que, conforme Camarano e Abramovay (1999), foi mais intensa nos anos 60, 70 e 80. As ocorrncias desse tipo de letras por dcada foram as seguintes: anos 30 1 cano; anos 40 2 canes; anos 50 3 canes; anos 60 7 canes; anos 70 11 canes; anos 80 9 canes; anos 90 6 canes; anos 2000 4 canes. Mas se quantitativamente as letras acompanham o ritmo migratrio, o mesmo no se d em relao ao contedo. Camarano e Abramovay (1999) indicaram que, salvo nos anos 60, a migrao para os centros urbanos foi prioritariamente feminina, mas as letras relatam o homem deixando sua terra e a famlia em busca de sustento na cidade grande: Veja Margarida ( Eu vou partir pra cidade garantida, proibida/ Arranjar meio de vida, Margarida/ Pra voc gostar de mim); em Lamento de um nordestino ( S Deus sabe o quanto sofre um nordestino/ [...] Eu sei que vou, vou pra So Paulo/ Mas vou deixando a minha fonte de alegria/ Deus por favor, me d trabalho); em Retirada ( Vai pela estrada enluarada/ Tanta gente a retirar/ Levando s necessidade/ Saudades do seu lugar). Atribui-se essa divergncia entre a prtica social e a discursiva ao fato de a autoria das canes ser eminentemente masculina, retratando o homem indo a busca do sustento enquanto a mulher o espera em casa. j) Significado do trabalho Foi possvel identificar na maioria das canes (71,85%) a motivao para fixao do indivduo ao trabalho. Em 152 das 325 canes, ou seja, 47%, a finalidade ou o significado do trabalho obter condies financeiras para o bsico ou para o luxo: Eu hoje tenho tudo, tudo que um homem quer/ Tenho dinheiro, automvel e uma mulher/ Mas pra chegar at o ponto em que cheguei/ Eu trabalhei, trabalhei, trabalhei (Eu trabalhei, em 1941); Voc diz que operrio/ Vai em busca do salrio/ Pra poder me sustentar (Com acar, com afeto, em 1966); Eu pago tudo que eu consumo com o suor de meu emprego (Maneiras, em 2007). Mas financeiramente, recorrente a reclamao que a remunerao no suficiente para viver: em 1933, Leno no pescoo ( Eu vejo quem trabalha/ Andar no miser); em 1948, Falta um zero no meu ordenado ( Trabalho como louco/ Mas ganho muito pouco); em 1975, Milagre Brasileiro ( Quanto mais trabalho/ Menos vejo dinheiro/ o verdadeiro boom/ Tu t no bem bom/ Mas eu vivo sem nenhum); em 1994, Operrio Brasileiro ( No trabalho ganho pouco/ J no d pra suportar/ Esse tremendo sufoco). Para sobreviver ou sair do sofrimento infligido pelo trabalho, os jogos de azar e as loterias so citados como alternativas almejadas para se ganhar dinheiro, parar de trabalhar e adquirir os bens materiais desejados: Dessa vez acerto na loteria/ j cansei de todo dia me vestir pra trabalhar... (S vou criar galinha); Pedro pedreiro espera o carnaval/ E a sorte grande do bilhete pela federal todo ms (Pedro Pedreiro); Ai meu Deus se o avestruz der na cabea/ Vou ganhar dinheiro bessa/ Fao minha redeno (Dias de Santos e Silvas). O trabalho como ocupao surge na rotina e na fuga de conscincia crtica sobre o que se faz e est em 41 canes (12,62%): em Morto de Frias, na qual h ausncia de sentido de vida e opinio prpria, restando, ento, o trabalho ( Querem me ver melhorar/ Eu sei e mesmo
-
11
sabendo/ No sei onde vou parar/ Voltei, vou trabalhar); em Rotina e na repetio continuada de aes de Pedro Pedreiro ou de Construo; ou ainda nas atividades incessantes que ocupam o dia em Preciso ( Minha me no tanque lavando roupa.../ Minha me na cozinha lavando loua.../ Lavando loua/ Lavando roupa/ Levando a luta, cantando um fado/ Alegrando a labuta/ Labutar preciso, menino, lutar preciso, menino, lutar preciso). Em 60 canes (18,46%), o trabalho uma prtica que visa o reconhecimento e o sentimento de ser socialmente til e respeitado: Conversa de Barbeiro ( Eu sou barbeiro cabra respeitado/ No fao pouco dessa profisso); Cano do trabalhador ( Trabalhador/ Expresso verdadeira/ Do lema altivo/ Da nossa bandeira); O homem da terra ( Trabalhando a terra, ele est feliz/ Ele a fora desse pas). Trabalhar em determinadas funes ou ascender atravs do trabalho motivo de orgulho e status o que aparece em 26 canes (8%), como na letra de Barca Grande ( Eu que j sa do mangue/ J consegui trabalhar/ Na barca do Beberibe). Em 41 canes (12,62%), o trabalho pode ser uma forma de autoconhecimento, aumento de autoestima, crescimento pessoal e autorrealizao: Fruto do meu trabaio ( E com orgulho digo com certeza/ O alimento que vai em sua mesa / o fruto do meu trabaio); em Cantar ( Eu canto e a msica me encanta e me faz sonhar/ Cantar e trabalhar deixar tudo no ar) ou em Nos bailes da vida ( Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol [...] cantando me desfao e no me canso de viver). Apesar de focar na ausncia, Msica de trabalho atribui ao trabalho dignidade, valor pessoal, identidade, tudo enfim: Sem trabalho eu no sou nada/ No tenho dignidade/ No sinto o meu valor/ No tenho identidade. Em algumas canes, como Vendedor de Bananas, so retratados vrios significados do trabalho em uma mesma atividade profissional: aspecto financeiro (Eu sou um menino/ que precisa de dinheiro); ocupao e reconhecimento social ( O mundo bom comigo at demais/ Pois vendendo bananas/ Eu pretendo ter o meu cartaz/ Pois ningum diz pr mim/ Que eu sou um palha no mundo/ Ningum diz pr mim/ Vai trabalhar vagabundo) e como autoexpresso ( me, me,/ me mas eu sou honrado, me). Ao codificar pelos tpicos determinados a priori identificaram-se outros aspectos relevantes, estabelecendo, ento, novos temas determinados a posteriori: a) O lamento pelo excesso de trabalho O lamento ou arrependimento de ter se dedicado tanto ao trabalho ou a advertncia para se evitar tal comportamento foi tema recorrente em diversas canes: Testamento (1971), Capito de Indstria (1972), Viva Rica (1976), Por sempre andar (1998), Epitfio (2001). O discurso socioeconmico dominante do capitalismo traz o trabalho como essencial para sobrevivncia e valorizao do homem, que adquire valor correspondente ao desempenho como trabalhador, a seu cargo e remunerao at porque trabalho e consumo retroalimentam o sistema. Mas nem sempre essa atividade considerada enobrecedora e desejada. Existem vozes que manifestam o direito ao lazer e qualidade de vida alm do trabalho, conforme dito por Lafargue (2003) e De Masi (2000). A nova configurao social ps-moderna acena com outros interesses e estimula a busca pelo prazer intenso, efmero e consumista. Essa discusso est refletida nas prticas discursivas que podem favorecer a reproduo de um novo sujeito social menos envolvido no trabalho: Voc que no pra pra pensar/ Que o tempo curto e no pra de passar / Voc vai ver um dia, que remorso! / Como bom parar (Testamento); Devia ter complicado menos/ Trabalhado menos/ Ter visto o sol se pr (Epitfio). b) Trabalho ou amor? Em algumas letras o trabalho surge para tirar o homem dos braos da mulher amada. O conflito da obrigao/responsabilidade com o prazer simbolizado pelo dever profissional e pela mulher/amor, como nas canes Izaura ( Hoje eu no posso ficar [...] O trabalho um dever,/ Todos devem respeitar); Primeiro de maio ( Quando a sirene no apita/ Ela acorda mais bonita); Cheirosa ( Cheirosa, cheirosa/ Meu bem, isso no se faz com quem trabalha/
-
12
E j vai sair pra cumprir o seu dever); e Veja Margarida ( Trabalhar minha sina... eu gosto mesmo doc). c) A nfase na rejeio ao trabalho: Algumas canes trazem interjeies que desconstroem ou rejeitam o suposto valor do trabalho. So nfases que remetem carga valorativa negativa: Tributo ao Malandro ( Voc infelizmente continua igual/ Fala bonito e passa fome/ Vai ver que ainda vai virar trabalhador/ Que horror!); Eduardo e Mnica ( Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer/ E decidiu trabalhar, Oh!); O amor regenera o malandro ( Regenerado ele pensa no amor/ mas pra merecer carinho tem que ser trabalhador, que horror!). d) Valores capitalistas: reproduo do discurso hegemnico de produtividade Os valores capitalistas, o discurso de produtividade, eficincia e dedicao extrema ao trabalho so identificados em diversas canes, independente do ano de sua gravao: A escassa produo/ Alarma o patro/ As galinhas srias/ Jamais tiram frias/ Ests velha, te perdo/ Tu ficas na granja/ Em forma de canja (A galinha 1977); O patro vem com aquela histria/ Que o servio no est rendendo (Que trabalho esse? 1982); Eu trabalhei como um louco,/ At fiz calo na mo/ O meu patro ficou rico/ E eu pobre sem tosto (Trabalhar? Eu no! 1945). e) O patro tudo pode Vrias canes mencionam a rigidez e a autoridade do Patro, colocando-o como par antittico do trabalhador: Empregado e patro duas linhas paralelas (O patro e o empregado). A adversidade apresentada pelos dois lados. Por um, na fala do empregado se explicando, se defendendo ou reclamando de cobranas e exigncias: O trem atrasou, meia hora/ O senhor no tem razo/ Pra me mandar embora! (O trem atrasou) e Patro reclama e manda embora quem atrasar (Trabalhador). Por outro, o patro se manifesta reconhecendo sua postura ou exercendo seu papel: Essas coisas me deprimem e tal Mas que eu tenho que manter a minha fama de mau/ Duro afinal eu sou o patro/ No posso ser sentimental (Po de cada dia). Ele tambm representado como homem de negcios exigente, na msica homnima: Homem de negcios fique de lado/ Eu no sou um rob nem um computador (Homem de negcios). Na letra de Se eu fosse teu patro, Chico Buarque faz uma analogia ao confronto da sexualidade (homem versus mulher) com a luta de classes (patro versus empregada). O eu lrico idealiza ser patro de uma morena para poder fazer com ela o quiser, pois na posio de patro poderia domin-la e viol-la, sob os auspcios de valores capitalistas e burgueses que do anuncia s relaes de explorao impostas a subalternos. Ainda destaca-se que tal posse tem lugar na cozinha, indicando a mulher em atividades domsticas servindo plenamente ao seu senhor: Eu te encarcerava/ Te acorrentava/ Te atava ao p do fogo/ No te dava sopa, morena/ Se eu fosse o teu patro. Mas a cano tem duas vozes, a masculina que explicitamente idealiza comandar e a resposta feminina, na qual ela, empregada/mulher, responde praguejando, idealizando uma dominao pacfica, sutil, acenando com uma iluso: E tu s pegava veneno/ beijando a minha mo [...] eu sempre te dava esperana/ dum futuro bo/ tu me idolatrava, criana/ se eu fosse teu patro. Em Despedi o meu patro, Zeca Baleiro e Capinan invertem os poderes capitalistas quando o empregado quem despede seu patro, chamando-o de ladro, por no concordar com a explorao: Ele roubava o que eu mais valia/ E eu no gosto de ladro. Em Desafio do bia-fria essa dicotomia e luta de classes fica explcita, com argumentaes do bia-fria e do patro, respectivamente requisitando e negando o registro da atividade em carteira. As canes do voz a sentimentos que nem sempre podem ser verbalizados na prtica social (despedir e xingar o patro). Seriam, ento, uma vlvula de escape e, segundo Wisnik (2006), um dos cdigos ideolgicos pelos quais a contestao e as diferenas so naturalmente mostradas socialmente, em detrimento da imagem harmoniosa perseguida por grupos
-
13
dominantes. So, tambm, materializao dos sinais de reao aos ritmos impostos e repulsa situao de docilidade e submisso dos corpos, descritas por Foucault (2004) e Dejours (2001). f) Falta de perspectiva de mobilidade social pelo trabalho As letras retratam diferenas sociais e parte delas indica a falta de perspectivas de mobilidade social. Se em algumas o trabalho apresenta-se como meio de melhoria de vida, em outras o trabalhador no tem motivos para acreditar que a vida pode, um dia, melhorar. A rotina rdua mina as esperanas em Construo. Pedro Pedreiro est sempre esperando, at a morte, ( mas pr que sonhar se d o desespero de esperar demais?). Raul Seixas e Paulo Coelho respondem ao Pedro de Chico Buarque mantendo a descrena, em um exemplo de intertextualidade nessa amostra discursiva: Pedro, onde voc vai eu tambm vou/ Mas tudo acaba onde comeou (Meu amigo Pedro). Essa falta de perspectiva tambm fica patente em Retrato de um pas: Trabalho uma vida inteira/ e depois no tenho onde morrer. g) O sonho de poder parar e da aposentadoria Diversas vezes o trabalhador pensa em parar e descansar, como em Construo ( Todo dia eu s penso em poder parar), ou em se divertir como em Chopis Centis ( Quando eu estou no trabalho,/ No vejo a hora de descer dos andaime/ Pra pegar um cinema). Apesar de existir desde o final do sculo XIX no Brasil, a aposentadoria parada definitiva com remunerao citada pela primeira vez em 1979 em T na hora, sendo mencionada mais duas vezes: em 1996, em Tudo em dia, e em 2000 em O jeito trabalhar. h) Racismo e trabalho H poucas menes racistas nas canes. Se, por um lado, em 1962, a cano 13 de maio de 1988 propala uma suposta igualdade ( Preto ganha um milho/ Hoje preto patro); por outro, em 1992, na cano Lavagem Cerebral, fica clara a segregao e a discriminao: Negro e nordestino constrem seu cho/ Trabalhador da construo civil conhecido como peo/ No Brasil o mesmo negro que constri o seu apartamento ou que lava o cho de uma delegacia/ revistado e humilhado por um guarda nojento que ainda recebe o salrio e o po de cada dia graas ao negro ao nordestino e a todos ns. Em Morro Velho (1969), Milton Nascimento caracteriza a diferena entre o branco e o preto ao longo da vida. Quando so crianas, brincam juntos. Ao crescerem, o filho do branco sai da fazenda, vai para a cidade grande, estuda, depois retorna com ttulo de doutor para administr-la, enquanto que o filho do negro cresce e j no brinca, mas trabalha. Mas em 1998, Caetano Veloso e Jorge Mautner do destaque a uma negra que se destaca pela elegncia e correio em Neide Candolina: Essa preta mesmo preta/ democrata social racial/ [...] Ela muito cidad/ Ela tem trabalho e tem carnaval. Percebem-se na matriz social do discurso as questes da hegemonia branca, pois, mesmo nas letras que destacam conquistas de seus personagens negros, h elementos que remetem discriminao. Algo que seria natural dever ser destacado pelo fato de ser negro: ela muito cidad; tem um Gol que ela mesma comprou; hoje preto patro. Esse pode ser, ainda, um reflexo das marcas escravocratas no imaginrio social, citados por Cardoso (2010). i) Vises polarizadas de uma mesma atividade Uma mesma profisso pode ser vista sob diferentes ngulos, como no caso da atividade policial. Por vezes representada com atributos positivos e o policial um heri que leva esperana populao em Profisso Coragem. Em outras vezes, como na cano Po de cada dia, configura-se perigosa, difcil, com o profissional mancomunado com o trfico e extorquindo viciados. interessante considerar a autoria das canes, posto que a data de composio 2008 a primeira e 1995 a segunda no acrescenta informaes relevantes para a dicotomia. Na primeira, a composio e gravao foram feitas por um sargento militar que tambm msico reconhecido positivamente na corporao em que exerce suas atividades. Supem-se um interesse do autor em fortalecer a imagem da instituio policial, colaborando
-
14
para a hegemonia institucional. A segunda foi composta por Gabriel O Pensador, um rapper cuja maioria das letras faz uma crtica social, seja pelo retrato bem dimensionado da realidade, por exacerbar fatos, se utilizar de ironias ou por utilizar da msica para traar o retrato da desigualdade social, do preconceito, do desemprego ou da falta de perspectiva. O mesmo acontece com o trabalhador da terra, cuja representao traz, em um extremo, a dificuldade, o desnimo, o esforo e o desgosto pelas intempries e imprevistos (na cano Arrumao, por exemplo) e em outro, apesar de reconhecer que o trabalho pesado, ressalta o orgulho de contribuir com a nao e de ganhar honestamente o po (Fruto do meu trabalho). A diversidade desses discursos ilustra os interesses especficos que constroem os discursos e a escolha dos signos. Escolha essa que um indicativo de significado relacionado ao contexto social e s ideologias, que por sua vez so dimenses da construo dessa mesma prtica discursiva, conforme Fairclough (2001a). j) Criatividade e diversidade na representao do trabalho Alm dos diversos termos utilizados para indicar o trabalho, alguns compositores, cantam o trabalho com maestria sem sequer mencionar esse lxico, fazendo associaes semnticas curiosas. Vincius e Toquinho, em Testamento, ao se referirem ao trabalho e s consequncias do seu excesso, exclamam e tome gravata!: Mas voc, que esperana... Bolsa, ttulos, capital de giro, public relations (e tome gravata!), protocolos, comendas, caviar, champanhe (e tome gravata!), o amor sem paixo, o corpo sem alma, o pensamento sem esprito (e tome gravata!) e l um belo dia, o enfarte; ou, pior ainda, o psiquiatra. Aqui, a representao do trabalho feita atravs de elementos da rotina de uma determinada categoria de trabalhador de alto nvel, criando uma imagem eminentemente destrutiva dessa atividade. As escolhas lexicais no passam por processos indicando a atividade do trabalho, mas de forma criativa os autores induzem a compreenso das aes apenas criando uma sequncia de nominalizaes. Em Primeiro de Maio, Chico Buarque faz uma analogia entre o amor e o trabalho em um feriado, com expresses que remetem ao mundo do trabalho para falar do relacionamento entre um homem e uma mulher: E vai sorrindo, vai aflito/ Pra mostrar, cheio de si/ Que hoje ele senhor das suas mos/ E das ferramentas/ Quando a sirene no apita/ ela acorda mais bonita. [...] Hoje eles ho de consagrar/ O dia inteiro pra se amar tanto/ Ele, o arteso/ Faz dentro dela a sua oficina/ E ela, a tecel/ Vai fiar nas malhas do seu ventre/ O homem de amanh. Chico Buarque, em parceria com Novelli, faz um retrato do operrio comum brasileiro como peas de uma Linha de Montagem. O sofrimento do trabalhador est em conhece a prensa, a brasa da fornalha. A sua falta de individualidade captada pela associao dele a apenas mais uma pea do sistema: Na mo, o ferro e ferragem/ O elo, a montagem do motor/ E a gente dessa engrenagente/ Dessa engrenagente. Consideraes Finais Esse artigo mapeou letras de canes da msica brasileira para analisar a representao do trabalho e do trabalhador pela Anlise Crtica do Discurso. A viso, em sua maioria, coaduna com a imagem deixada pela herana judaico-crist no Ocidente, permeada pela herana greco-romana e que no Brasil ainda sofre influncias indgenas e africanas: o trabalho como labuta penosa qual o homem est condenado como punio pelo seu pecado, devendo ganhar o po com o suor de seu rosto. H diversas canes com a perspectiva do trabalho como punio e do trabalhador se sentindo escravo da situao e de um patro. Embora de forma minoritria, algumas letras expressam a percepo positiva e promissora das atividades profissionais, sendo incentivadas como forma de alcanar bens materiais, de ser honrado e respeitado socialmente. a viso que surgiu com a Reforma Protestante. Foram localizadas letras com a viso de Weber, que associou a tica protestante ao esprito do capitalismo, a partir do que o trabalho se tornou um valor em si e passando o operrio e o capitalista puritano a viverem em funo de sua atividade para terem a sensao de tarefa cumprida. H referncias a tal modelo econmico, hierarquia do
-
15
patro, necessidade de resultados, diferena de classes e centralidade do trabalho. A subordinao estrutural do trabalho ao capital tambm foi localizada, pois foram retratadas a separao e a alienao entre trabalhador e meio de produo, a imposio dessas condies ao trabalhador; a personificao do trabalho como um valor egosta; e a personificao do operrio com o trabalho que reduz a identidade desse sujeito s suas funes produtivas. Na anlise das letras das canes por tpicos de codificao definidas a priori, o trabalho tem representao predominantemente negativa, situado em oposio a coisas boas da vida; o universo do trabalho eminentemente masculino; o mesmo ocorre no mercado da msica, com a maioria dos compositores sendo homens; o sujeito mais representado como empregado e principalmente do gnero masculino; constante a desqualificao da capacidade produtiva da mulher, reduzindo-a, na maioria das vezes, apenas trabalhadora domstica ou esposa/companheira; o desemprego tambm mencionado associado ao desejo de encontrar um trabalho, mas resguardando uma parcela que optou por efetivamente no trabalhar e/ou viver na malandragem; o malandro adquire deferentes representaes ao longo do tempo; o trabalho infantil tambm foi mencionado; o trabalho prioritariamente urbano; h referncias ao xodo rural; a remunerao nunca suficiente e sonha-se em poder parar e/ou ganhar em loterias. Mas o material analisado demonstrou-se to rico que suscitou outras categorizaes a posteriori: o lamento pelo excesso de trabalho; o dilema entre trabalhar e curtir a vida/amar; a reproduo do discurso hegemnico capitalista de produtividade; o antagonismo patro/empregado; algumas menes ao racismo. Foi possvel identificar diversos significados para o trabalho nas letras das canes: ser uma ocupao; buscar reconhecimento social; sentir-se til e respeitado e ser uma forma de aumentar a autoestima, de crescimento pessoal e realizao. Mas a principal motivao que serve de fixao do indivduo ao trabalho foi apontada, sem dvida, como obter remunerao financeira. Quanto ao universo masculino e a masculinizao do trabalho, cogitou-se que essa representao deveu-se pequena presena das mulheres como compositoras nas canes pesquisadas considerando, portanto, que as msicas com temas relacionados ao trabalho so feitas a partir de uma viso masculina de mundo. Logo, pode-se inferir que o mercado de trabalho musical acompanha o movimento hegemnico masculino geral do trabalho. Sugere-se que outras pesquisas aprofundem a motivao da manuteno do esteretipo feminino nas canes e da participao minoritria das mulheres nesse contexto musical. Houve a representao das atividades nas trs segmentaes feitas por Arendt (2003). O labor foi representado em algumas canes evocando a atividade que leva o po para a mesa e possibilita a sobrevivncia. Em outras, o trabalho destinado a suprir os desejos de ter e de poder, ou seja, ao artificialismo da existncia humana. Nas demais houve a representao como ao que junto com o discurso so as formas de manifestao dos seres humanos, sujeitos de suas vidas, e no como seres inanimados. Enfim, prticas sociais e discursivas sobre trabalho se imbricaram na construo da realidade e na produo de sentido. Constatou-se, tambm, a funo da cano como um dos cdigos ideolgicos atravs dos quais a contestao e as diferenas so mostradas socialmente de forma natural, em detrimento da imagem harmoniosa perseguida pelos grupos dominantes. O trabalho, enfim, representado na msica assim como na vida e, numa ao reflexiva, lana modelos que nela so reproduzidos. Referncias ALBORNOZ, Suzana. O que trabalho. So Paulo: Brasiliense, 2002. ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaios sobre a afirmao e a negao do trabalho. So Paulo: Boitempo, 2003.
-
16
ARENDT, Hannah. A condio humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2003. BARROS NETO, Joo Pinheiro. Teorias da administrao. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001. BENDASSOLLI, Pedro Fernando. Trabalho e identidade em tempos sombrios. Insegurana ontolgica na experincia atual com o trabalho. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2007. BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital monopolista: degradao do trabalho no sculo XX. Rio de Janeiro: Zahar, 1977. CAMARANO, Ana; ABRAMOVAY, Ricardo. xodo rural, envelhecimento e masculinizao no Brasil: panorama dos ltimos 50 anos. Rio de Janeiro: IPEA, 1999. Texto para discusso n 621. Disponvel em Acesso 19 jan. 2011. CARDOSO, Adalberto Moreira. A construo da sociedade do trabalho no Brasil: uma investigao sobre a persistncia secular das desigualdades. Rio de Janeiro: FGV, 2010. DE MASI, Domenico. O cio criativo. 5. ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2000. DEJOURS, Christophe. A banalizao da injustia social. 4. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2001. FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudana social. Braslia: Universidade de Braslia, 2001a. FAIRCLOUGH, Norman. Language and Power. 2 ed. London: Pearson, 2001b. FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. So Paulo: Loyola, 2006. FOUCAULT, Michel. Microfsica do poder. 18. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2003. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da priso. Petrpolis: Vozes, 2004. FRANKL, Viktor E. Em busca de sentido: um psiclogo no campo de concentrao. 25. ed. So Leopoldo: Sinodal, 2008. GIANNOTTI, Vito. Histria das lutas dos trabalhadores no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007. GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. GIL, Antnio Carlos. Mtodos e tcnicas de pesquisa social. So Paulo: Atlas, 1999. LAFARGUE, Paul. O direito preguia. So Paulo: Claridade, 2003. LIMA, Cssia Helena Pereira; VIEIRA, Adriane. Do sacrifcio ao sacro ofcio: um modelo para a compreenso do significado do trabalho. In: ris Barbosa Goulart. (Org.). Temas de Psicologia e Administrao. So Paulo: Casa do Psiclogo, 2006, p. 17-67. MARIZ, Vasco. A cano popular brasileira. 7 ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2006. MORAES, Jos Geraldo V. Histria e msica: cano popular e conhecimento histrico. Revista brasileira de Histria. So Paulo, v. 20, n. 39, 2000. Disponvel em: Acesso 25 Jan. 2009. MOW Meaning Of Working. Webpage desenvolvida por S. A. Ruiz-Quintanilla, 1997, rev. por R. Claes, 2003. Apresenta atividades, eventos, pesquisas, publicaes e peties do MOW Center. Disponvel em: . Acesso em: 03 fev. 2004. OLIVEN, Ruben George. Violncia e cultura no Brasil. Petrpolis (RJ): Vozes, 1982. OHLWEILER, Otto Alcides. Materialismo histrico e crise contempornea. 2. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1985. PLANALTO. Site da Presidncia da Repblica Federativa do Brasil. Braslia: Subchefia para assuntos jurdicos. Estatuto da Criana e do Adolescente. 2010. Disponvel em < http://www.planalto.gov.br /ccivil_03/Leis/L8069.htm >. Acesso em 10 dez. 2010. QUINTANEIRO, Tnia et al . Um toque de clssicos: Marx, Durkheim, Weber. 2. ed. rev. ampl. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2003. RAMALHO, Jos Ricardo; SANTANA, Marco Aurlio. Sociologia do Trabalho no mundo contemporneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. TRIVIOS, Augusto N. S. Introduo pesquisa em cincias sociais. So Paulo: Atlas, 1992. WISNIK, Jos Miguel. Algumas questes de msica e poltica no Brasil. In: BOSI, Alfredo. Cultura Brasileira. Temas e Situaes. 4ed. So Paulo: tica, 2006.
/ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False
/CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice