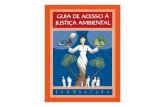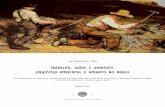TRABALHO, SAÚDE E AMBIENTE: (in)justiça ambiental e amianto ...
Um pensamento sobre justiça ambiental
-
Upload
pedro-dantas -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of Um pensamento sobre justiça ambiental

Gustavo Fialho (diurno) Marina Pasquetto (diurno) Pedro Dantas (noturno)
Justiça ambiental: uma possibilidade
No século XVIII, Rousseau apontou que a civilização e a sociedade corrompem
o homem e seria necessário voltar-se à sua natureza (estado primitivo e
originário), pois a vida em sociedade corrompe a sua bondade.
Consequentemente as leis da natureza englobam uma totalidade em que o
Homem é apenas uma parte. Antes dele, Hobbes (no século XVII) apontava a
natureza humana como intrinsecamente má, perversa, onde só um bom
Governo seria capaz de sanar essa sua essência perturbadora. Obviamente se
mostram como filosofias opostas e divergentes.
O artigo de Zanirato et al traça um panorama bastante desenvolvido dos riscos
colocados frente às ameaças à humanidade gerados justamente por ela.
Mediante a nova forma de ordem global “trata-se”, referindo-se a Beck, “de
uma sociedade na qual a produção social de riquezas é acompanhada
sistematicamente pela produção social de riscos”. Pior: são riscos cujas
proporções não são homogêneas; eles são o reflexo de um acúmulo de
desigualdades não apenas circunscritas a um determinado território, mas
principalmente sociais e econômicas que implicam em uma estrutura
representativa de poder.
A partir de lutas de base contra iniquidades ambientais, o Movimento de Justiça
Ambiental (fundado nos EUA nos anos 1980) definiu que caberia à “justiça
ambiental” a luta pelos direitos civis quanto às condições inadequadas de
saneamento, de contaminação química de locais de moradia e trabalho e de
disposição indevida de lixo tóxico e perigoso. Para isso, foram utilizadas
pesquisas multidisciplinares sobre as condições da desigualdade ambiental no
país, procurando tornar evidente que forças de mercado e práticas das
agências governamentais concorriam de formas perturbadoras,
articuladamente, para a produção de desigualdades ambientais.
Para evitar o embate e o desmanchamento dos grandes órgãos e instituições
poluidoras, a exportação dessa “injustiça ambiental” em direção dos limites
mais pobres e politicamente menos organizados a níveis internacionais se
tornou uma prática, e como resposta, o Movimento trouxe o lema “poluição
tóxica para ninguém” como um de seus principais gritos, iluminando a
necessidade de maior participação e articulação internacional das
comunidades de baixa renda e das minorias no processo decisório relativo às
políticas ambientais (ACSERALD).

Na madrugada do dia 3 de dezembro de 1984, 40 toneladas de gases tóxicos
vazaram da fábrica de pesticidas da empresa norte-americana Union Carbide
na cidade de Bhopal na Índia. Cerca de 500 mil pessoas foram expostas ao
gás, três mil mortes diretas logo nos primeiros dias e mais 10 mil em
decorrência de doenças causadas pelo desastre. Atualmente aproximadamente
150 mil pessoas ainda sofrem com o efeito do acidente e destas, 50 mil estão
incapacitadas para trabalho devido a problemas de saúde. A fabrica
permanece abandonada e até apenas há poucos anos que as agencias de
saúde indianas conseguiram obter informações precisas acerca da real
composição química dos gases. A antropóloga Veena Das em um artigo ainda
acrescentou a esse desastre o maciço impacto na cultura local, onde gerações
se perderam ou foram perturbadas em razão da perda de familiares, problemas
de saúde, emprego. Enfim, a situação apresentada é apenas uma de tantas
que serviriam como exemplo da disseminação dos já referidos riscos
ressaltados pela expansão do poder capitalista da divisão territorial do trabalho.
Pois bem, a complexificação da DTT e consequente extinção simbólica dos
limites promove toda uma distribuição desigual dos riscos provenientes desse
modelo de desenvolvimento que além de dessemelhante torna-se hierárquico.
O pensamento ecológico dominante se constitui basicamente por dois
aspectos: a maior parte dos riscos ambientais socialmente induzidos, seja no
processo de extração dos recursos naturais, seja na disposição de resíduos no
ambiente incide desproporcionalmente sobre os mais pobres e os grupos
étnicos desprovidos de poder, pouco sensível às suas dimensões sociológicas.
Essa concepção dominante contribuiu para que o tema do “desperdício” ou da
“escassez” da matéria e energia se apresentasse, mundialmente, como o mais
importante impasse ecológico. De modo a erradicar esses problemas
específicos, passou-se a discutir, no meio dos governos e das grandes
corporações, o conceito de “modernização ecológica”, que visa designar
estratégias de cunho neoliberal, que propõem ênfase à adaptação tecnológica,
à crença na colaboração e no consenso, ao estímulo do crescimento
econômico de mercado, legitimando o próprio livre-mercado como melhor
instrumento para equacionar os problemas ambientais.
No Brasil onde a desigualdade é parte inquestionável da estrutura social,
agregou-se ao conceito de justiça ambiental a luta por inclusão das populações
de baixa renda em suas diversas faces. Organizações não Governamentais,
Movimentos Sociais, Universidades e Centros de Pesquisa são importantes
peças na luta contra o que chamamos de "injustiça ambiental".
O conceito de Justiça Ambiental refere-se ao tratamento justo e ao
envolvimento pleno de todos os grupos sociais, independente de sua origem ou
renda nas decisões sobre o acesso, ocupação e uso dos recursos naturais em
seus territórios. Ao menos é o que se propõe a fazer ainda que seus resultados

não sejam propriamente efetivos em razão da contrapartida dos grandes
conglomerados empresariais e detentores de um certo poder.
Afinal há um limite para os interesses? Qual a finalidade da perpetuação de um
ciclo vicioso de reprodução de riscos? Como a justiça ambiental pode ter um
papel determinante nessas questões fundamentalmente éticas e morais? Até
que ponto o que é cunhado como justiça ambiental é capaz de promover suas
práticas nessas questões extra-territoriais? Questões como essa continuarão
permeando o debate dessa questão. A reflexão proposta permite um viés
crítico da posição do homem perante as atrocidades geradas em detrimento de
interesses particulares de uma minoria. Neste nosso contexto, Hobbes
ganharia notoriedade se adotássemos a natureza humana como perversa e
através das forças de uma justiça ambiental sua reparação. Ao mesmo tempo.
Rousseau estaria mais preciso se olhássemos sob o prisma de que sua
natureza benévola se corromperia pelo estímulo atual da apropriação
capitalista. A justiça ambiental, portanto, é um sopro que mesmo com suas
limitações e críticas possui determinação positiva como objetivo.
Textos base:
ACSERALD, Henri, Mello, Cecilia e BEZERRA, Gustavo. O que é justiça
ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009
BURNS, Thomas e LEMOYNE, Terri. Como os movimentos ambientalistas
podem ser mais eficazes [online] 2007
MORENO JÌMENEZ, Antonio. Justiça ambiental [online] 2010
ZANIRATO, RAMIRES, AMICCI, ZULIMAR e RIBEIRO [online] 2008