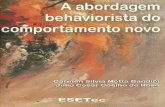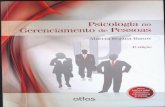Uma Abordagem Psicossociológica No Estudo Do Comportamento Político
-
Upload
marjorie-belanno -
Category
Documents
-
view
220 -
download
6
description
Transcript of Uma Abordagem Psicossociológica No Estudo Do Comportamento Político
Associao Brasileira de Psicologia Social ABRAPSO
PSICOLOGIA & SOCIEDADE
volume 8 nmero 1 janeiro/junho 1996 ISSN 0102-7182
ndice
3 Entrevista com Silvia T. M. Lane
16 CAMINO, L. "Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico"
43 CROCHK, J.L. "Notas sobre a psicologia social de T. W. Adorno"
63 FREITAS, M.F.Q. "Contribuies da psicologia social e psicologia
poltica ao desenvolvimento da psicologia social comunitria"
83 GENTIL, H.S. "Individualismo e modernidade"
102 MONTERO, M. "Paradigmas, corrientes y tendencias de La psicologa social finisecular"
120 OZELLA, S. "Os cursos de psicologia e os programas de psicologia social: alguns dados do Brasil e da Amrica Latina"
144 PRADO, J.L.A. "O pdio da normalidade: consideraes sobre a teoria da ao comunicativa e a psicologia social"
174 SPINK, P. K. "Organizao como fenmeno psicossocial: notas para uma redefinio da psicologia do trabalho"
Capa: Arte de Roberto Temin a partir de detalhe
do quadro "Jogos infantis", de Peter Bruegel (1560)
PSICOLOGIA & SOCIEDADEVol. 8 n 1 janeiro/junho de 1996
ABRAPSO
PRESIDENTE:. Zulmira Bonfim
VICE-PRESIDENTES: Ceclia P. Alves, Karin E. Von Smigay, M. de Ftima Q.de Freitas, Neide P. Nbrega, Pedrinho Guareschi.
CONSELHO EDITORIAL
Celso P. de S, Csar W. de L. Ges, Cllia M. N. Schulze, Denise Jodelet, Elizabeth M. Bonfim, Fernando Rey, Karl E. Scheibe, Lencio Camino, Luis F. R. Bonin, M. de Ftima Q. Freitas, M. do Carmo Guedes, Marlia N. da M. Machado, Mario Golder, Maritza Monteiro, Mary J. P. Spink, Pablo F. Christieb, Pedrinho Guareschi, Regina H. F. Campos, Robert Farr, Silvia T. M. Lane, Sylvia Leser de Mello.
EDITOR
Antonio da Costa Ciampa
COMISSO EDITORIAL
Ceclia P. Alves, Helena M. R. Kolyniak, J. Leon Crochik, Marcos V. Silva, Marlito de S. Lima, Mnica L. B. Azevedo, Omar Ardans, Salvador A. M. Sandoval, Suely H. Satow.
PRODUO EDITORIAL E EDITORAO ELETRNICA Hacker Editores
ARTE DE CAPA AREA
IMPRESSO
Grfica Circulo
JORNALISTA RESPONSVEL Suely Harumi Satow (MTb 14.525)
APOIO EM BIBLIOTECONOMIA
Srgio Tadeu G. Santos
A revista Psicologia & Sociedade editada pela Associao Brasileira de Psicologia Social - ABRAPSO. Correspondncia:
Rua Ministro Godi, 969 - 4 andar - sala 415 - CEP 05015-000 So Paulo SP fone/fax: (011) 873 2385
E-mail: [email protected] artigos assinados no representam necessariamente a opinio da revista.
"P ARAR PARA PENSAR ...
E DEPOIS FAZER!"
Entrevista com Silvia Tatiana Maurer Lane
(por Antonio da Costa Ciampa, Omar Ardans e Suely Satow)
Silvia Tatiana Maurer Lane completou, em 1995, trinta anos de dedicao psicologia social, metade dos quais postos tambm ao servio da criao e consolidao da Associao Brasileira de Psicologia Social - ABRAPSO, fundada por ela e outros pesquisadores e estudiosos em 1980, associao que, desde sua origem, um espao privilegiado para a discusso dos grandes temas da sociedade e dos esforos tericos e de pesquisa que contribuam para sua transformao desde a perspectiva da psicologia social.
Neste momento em que retomamos a edio da revista Psicologia & Sociedade, o Comit Editorial quer homenage-la pela longa e fecunda trajetria como cidad, pensadora, pesquisadora e formadora de numerosas geraes de profissionais, pesquisadores e docentes no Brasil e no exterior. Ao mesmo tempo queremos, na sua pessoa, fazer extensiva essa homenagem a todos os membros fundadores da ABRAPSO cuja iniciativa e anseias fazemos nossos.
PERGUNTA: Gostaramos que voc falasse, para comear, a respeito da palavra "social" posta junto palavra "psicologia". O que isso quer dizer para voc?
SILVIA: Costuma-se dizer que toda psicologia psicologia social. Pelo menos a psicologia que estuda o ser humano (no estou dizendo que estuda o "organismo"). Toda a psicologia que estuda o ser humano , por natureza, histrica: o essencial do homem social. Muitas vezes, inclusive na ABRAPSO, tem sido levantada essa questo: "ento, vamos acabar com essa subdiviso da psicologia 'social'?". Eu digo no. Ela tem uma funo histrica que a de estimular a reflexo crtica da prtica do psiclogo, seja onde for: seja psiclogo do desenvolvimento, no trabalho com a criana, seja o psiclogo clnico que trabalha em seu consultrio, seja o psiclogo do trabalho, dentro da empresa, subordinado empresa... Eu acho
______________________________________________________________
Entrevista com Silvia T. Maurer Lane: "Parar para pensar... E depois fazer!"
Psicologia & Sociedade: 8(1): 3-15: jan./jun.1996
3
que, simplesmente, nesse momento temos que estimular essa reflexo crtica. Quem o psiclogo dentro de uma sociedade? O que ele est fazendo? O que ele est produzindo? O que ele faz com seu semelhante? O quanto ele preventivo? O quanto ele curativo? O que significa ser preventivo e ser curativo? Uma vez levantei uma questo para um grupo de estudantes do ps. Eu falei: escuta, na hora em que a gente for mais gente, mais humanos, ns nos relacionarmos melhor entre ns (seja famlia, amigos, seja o que for) no vai ter mais a necessidade do psiclogo clnico. Sinto muito. O clnico vai ser, assim, uma raridade dentro de uma sociedade que seja mais igualitria, mais justa e tudo o mais, porque o relacionamento entre os seres humanos ser outro. Ento, o psiclogo no ter que estar l para curar. Ele ter um papel fundamental dentro da sociedade, o papel da preveno, exatamente, de formao, de educao. por isso que estou achando hoje, na minha viso, que a psicologia tem dois caminhos que no se excluem (ao contrrio), que so o da tica e o da esttica.
PERGUNTA: Poderia explicar esses dois caminhos?
SILVIA: Acho que a arte, para mim, foi algo que me aproximou do mundo como um todo. E historicamente. Acho que os valores ticos nos aproximam do mundo atual, como mundo universal. Ns somos todos irmos, somos todos iguais, no importa raa, cor, sexo, etc. H uma igualdade, apesar das diferenas, mas isso torna a tica um produto histrico atual. A arte, para mim, foi o momento universal histrico de eu ser capaz de entender tanto a arte do primitivo, como o abstracionismo, de me emocionar com o abstracionismo do mesmo jeito que me emocionava com o Fra Anglico, com o Da Vinci, ou com a arte primitiva. Quer dizer, a emoo que suscita a mesma. A emoo me identifica com o resto da humanidade, de certa forma. E outra coisa: sem dvida alguma, at concordo com Agnes Heller, acho que a grande revoluo vai ser uma revoluo tica. Na hora em que mudarmos nossa maneira de nos relacionarmos, gente com gente, vamos mudar esse mundo. Na hora em que eu respeitar profundamente o outro como um igual a mim, apesar das diferenas existentes, a relao ser outra. nesse sentido que eu estou vendo os caminhos da psicologia hoje. Acho que funo da psicologia social (e no abro mo do "social", por enquanto,
______________________________________________________________
Entrevista com Silvia T. Maurer Lane: "Parar para pensar... E depois fazer!"
Psicologia & Sociedade: 8(1): 3-15: jan./jun.1996
4
por isso) estimular a reflexo crtica das prticas da psicologia e das teorias psicolgicas e suas consequncias.
PERGUNTA: Aproveitando que ao falar de tica e esttica, voc fala da Heller: h um texto dela alertando para o fato de no se psicologizar a tica. Isso por um lado. Por outro lado, quando voc fala da esttica, h um tema dos frankfurtianos em que falam que provavelmente o ltimo recurso emancipatrio do Homem esteja na arte. Gostaramos que voc aprofundasse um pouco mais, principalmente para no se perder o perfil do que seja psicologia social.
SILVIA: Acho que Heller tem razo quando diz que no podemos psicologizar a tica. Claro que no. Porque psicologizar seria exatamente atribuir ao indivduo e s ao indivduo os seus valores, quando seus valores so construdos histrica e socialmente. gozado, agora me lembrei de um curso que fiz em Filosofia. Estudei a histria das religies, onde estudei o que vem a ser uma tica e a base religiosa dessa tica. O curso discutiu o que o bem, a bondade, o bem que voc faz para o outro, o bem que o outro te faz, at que o professor chegava noo de bem supremo. Ser que esse bem supremo a perfeio? Deus, acabava em Deus. Excluindo Deus dos valores ticos, comeando do valor moral, individual, voc ia acabar nessa idia de perfeio, de Ser Supremo, etc. Enfim, acabava se confundindo com a religio, sem dvida alguma. Nessa concepo, o homem como produto histrico, social, um ser gentico, fundamentalmente; apesar de no negar jamais a filognese, ele vai ter que enfrentar essa questo tica dos valores: o que o bem, o que o mau, o que o certo e o que errado, sem cair em nenhum extremismo, obviamente. Acho que a psicologia vai ter que enfrentar isso e, para mim, via emoo. Porque quando a gente chegou concluso de que a conscincia no era meramente racional, mas ela era tambm constituda de emoes e afetos, no adiantava voc trabalhar a conscincia no nvel da racionalidade, se voc tambm no trabalhasse no nvel da afetividade, porque a afetividade, s vezes, at mais forte para fragmentar a conscincia, do que a racionalidade. Nesse sentido, a meu ver, a arte tambm tem essa funo. Ela pode fragmentar, mas ela pode fazer avanar a conscincia.
______________________________________________________________
Entrevista com Silvia T. Maurer Lane: "Parar para pensar... E depois fazer!"
Psicologia & Sociedade: 8(1): 3-15: jan./jun.1996
5
PERGUNTA: Como v a esttica nisso? Como poderia tornar mais clara a importncia da esttica nessa perspectiva?
SILVIA: Eu no sei se um pouco a minha histria. Sempre gostei muito de arte, desde a minha poca de faculdade. Tive um professor, Gilles G. Granger, que mexeu comigo em dois caminhos distintos: um da lgica, outro da arte. Esse homem me deu, acho, a coisa mais bonita que h no ser humano. Estudei toda a Histria da Arte e senti que eu absorvia um universo muito mais amplo. A arte vai nos dando um carter de universalidade, de no fronteiras, vamos dizer assim, onde voc capaz de apreciar uma arte grega, clssica, extremamente perfeita, mas tambm capaz de vibrar com o impressionismo, que quebrava todo esse classicismo; do mesmo modo voc capaz de vibrar com um desenho numa pedra, feito por um primitivo, sem nenhuma idia do sculo em que ele estava fazendo isso. Um exemplo clssico que toda hora dou Guernica, do Picasso. Eu entendi a revoluo espanhola olhando para o quadro do Picasso e todos os valores que estavam implcitos naquela revoluo. Minha emoo artstica, minha sensibilidade artstica, a arte como algo que mexe com a gente profundamente, algo que tem, eu acho, um carter universal, uma outra linguagem.
PERGUNTA: Voltando para a psicologia social, para juntar essas coisas, pegando um gancho da prpria Agnes Heller. Quando ela fala em valores universais, fala na verdade, no bem e no belo. O belo poderia ser visto no esttico, o bem na tica e a verdade na cincia. Pensando na psicologia social, como voc a v como cincia? Como fica a distino entre fazer cincia, tica ou esttica? H uma nova maneira de fazer cincia, de fazer psicologia social considerando esses aspectos?
SILVIA: Verdade, bem e belo so produes do ser humano. Esto em ns. So produtos histricos, so produtos sociais, so produtos do homem, do homem na relao histrica com o mundo, com a natureza, com os outros homens. As noes de bem e de belo se transformaram ao longo do tempo. A cincia muitas vezes no admite que sua noo de verdade uma noo transitiva, relativa. No posso dizer que o que eu sei de psicologia hoje vale para o grego do seco N, V a.C., e nem que definitivo. Como estou aprendendo que no vale para o xavante, no vale para o bororo. As nossas
______________________________________________________________
Entrevista com Silvia T. Maurer Lane: "Parar para pensar... E depois fazer!"
Psicologia & Sociedade: 8(1): 3-15: jan./jun.19966
psicologias so diferentes. A cincia psicolgica pode ser uma verdade hoje, aqui, agora, localizada e ela tem que assumir isso.
PERGUNTA: Isso d alguma especificidade para a psicologia social? D para responder pergunta: qual o papel fundamental do psiclogo social hoje, na academia?
SILVIA: Voc no professor toa. Voc tem que influenciar a realidade social na qual voc est inserido. Intelectual orgnico? Adoro! Intelectual orgnico do Gramsci. Mas eu acho que tudo fruto de uma reflexo crtica que voc faz em cima da realidade. Acho que a academia no tem feito isso; vejo na Psicologia Social, principalmente na ao da ABRAPSO, esse potencial, de realmente democratizar a academia, democratizar o saber antes de qualquer coisa. Dar o saber a quem de direito.
PERGUNTA: No fundo voc est querendo dizer que a academia, mais que mero transmissor de informao, deveria fazer com que as pessoas que compartilham seu saber, se tomem capazes de refletir sobre si mesmas e sua prpria realidade? Em ltima anlise, desenvolver a capacidade de reflexo para que o indivduo se torne autnomo?
SILVIA: Exatamente. Por exemplo, veja aquela discusso de que na sociedade capitalista, todo cidado alienado. Voc se considera alienado? Voc no capaz de dizer que voc alienado. Eu no sou capaz de dizer. Eu no me considero alienada. Por que no me considero alienada? Porque adquiri um conhecimento, adquiri uma viso, uma reflexo critica, que me permite ter uma outra dimenso do mundo em que vivo. Ento eu quero isso para todo mundo. Grupo importantssimo para mim por causa disso. Porque um se encontra no outro. Somos iguais, na medida em que somos grupo. Diferente, mas somos iguais. Historicamente, temos determinaes iguais. Extrapolo do meu individualismo e chego a uma viso universalista, que isso que Habermas quer, que Heller quer, a maioria dos neomarxistas acho que procura isso, essa viso mais universal do ser humano. Sem discriminaes. Martin Bar foi a meu ver a grande reflexo dentro de um pequeno pas como El Salvador, maltratado, explorado, explorado no s por uma ditadura, explorado pelo mundo inteiro, de fato. Esse homem estava l naquele
______________________________________________________________
Entrevista com Silvia T. Maurer Lane: "Parar para pensar... E depois fazer!"
Psicologia & Sociedade: 8(1): 3-15: jan./jun.1996
7
meio, naquele foguetrio todo, procurando exatamente aceitar at o mais universal do ser humano, ajudando o guerrilheiro a refletir um pouco mais para lutar, no por si mas para o pequeno pas deles ou por uma humanidade melhor, sem dvida alguma.
PERGUNTA: Como voc responderia eventual crtica de que essa sua perspectiva de levar as pessoas a se tornarem mais gente, desenvolvendo esta reflexo, uma utopia irrealizvel, diante do poder do Capital, da influncia da tecnologia, do mundo sistmico?
SILVIA: Estou me lembrando do ncleo de psicologia comunitria, de um grupinho de meninas de famlias tradicionais se chocando horrivelmente ao entrar em contato com a pobreza de Osasco, a favela em Osasco e em outros lugares. Foi um conflito de valores violento. Ento elas me perguntaram: "mas, afinal, ento todo psiclogo tem que ir para a periferia, trabalhar na periferia?" Eu no tive dvida: "gente, o que eu estou fazendo dentro dessa sala de aula? Eu no estou na periferia, eu estou trabalhando com vocs!, classe mdia alta, ento, o que que eu estou fazendo? Que significa isso?" O mal-estar das meninas desse grupo era o choque de valores. Estavam se deparando coma diferena de valores em classes sociais diversas e era muito natural pararem para pensar um pouquinho. Por que esta diferena de valores? Havia um aluno que chegava e dizia "bom, Slvia, ento voc est propondo a revoluo?" Respondia: "No. Estou propondo que cada um reflita sobre a realidade que est vivendo - o seu dia-a-dia, o que o pas, o que o Brasil, o que ns somos, o que histria - e opte por uma ao poltica que ache que deve optar. Se a grande maioria decidir por uma revoluo, a revoluo vai acontecer. Se a grande maioria decidir pela no revoluo, a revoluo no vai acontecer. E por a que ns vamos". Foi isso mesmo que eu respondi na poca dura da represso. por isso que eu acredito no indivduo. E, se o psiclogo lida com o indivduo, a grande responsabilidade dele essa, sem dvida alguma. Dar a esse indivduo exatamente a recuperao de sua individualidade integral, universal. H mais algum que lida com o indivduo dentro das cincias humanas? Com o indivduo, com a pessoa humana? s o psiclogo, o que lhe d uma grande obrigao. Por isso venho me preocupando com a comunicabilidade cientfica. Temos que falar uma linguagem simples, simples e verdadeira. Voc tem de ser capaz de comunicar esse
_____________________________________________________________
Entrevista com Silvia T. Maurer Lane: "Parar para pensar... E depois fazer!"
Psicologia & Sociedade: 8(1): 3-15: jan./jun.19968
conhecimento e comunicar para todo mundo. No s entre ns na academia, no. No mundo todo somos muito semelhantes. Ns falamos a mesma lngua, seja ingls, portugus, francs, ns falamos a mesma lngua. Agora, quando que ns vamos conseguir falar, transmitir todo nosso conhecimento a quem de direito? A grande obrigao nossa como cientistas, antes de mais nada, principalmente como cientistas sociais, com o grosso da populao e no com a academia. Quanto eu posso ajudar uma populao a ter conhecimento de si mesma? E assumir!
PERGUNTA: Como evitar o risco de transformar esta posio na afirmao de um discurso hegemnico da academia? Ela a fonte do conhecimento? isso?
SILVIA: Calma. Uma vez na Frana falei para o Moscovici: "escuta, vocs fizeram a Revoluo Francesa contra a Monarquia, mas eu acho que vocs no fizeram, no. A Monarquia est presente na academia. Os donos da verdade so os cientistas, so os que esto dentro da academia, so os nobres atuais. Vou num outro plo que o Martin Bar. A autoridade, o poder um fato, existe, est a. Desde a era primitiva at hoje, sempre a sociedade se organizou em torno do poder. A grande questo o que eu fao com minha autoridade e meu poder. Se eu estou na academia, tenho que dividir meu poder com o restante da populao. Enquanto eu mantiver esse poder s para mim, ou s restrito, estou sendo autoritria, estou explorando o outro, estou explorando o sujeito que eu pesquiso. Ento, a academia deve se tornar democrtica abrindo esse espao para todo mundo, para quem quiser aprender e mais: fazendo o esforo de falar a linguagem de todo o mundo. Transmitir nosso saber numa linguagem do cotidiano. um desafio. Mas uma briga entre o poder autoritrio e o poder democrtico. Acho que esta a questo fundamental da academia.
PERGUNTA: A reflexo para a emancipao e o poder democrtico na academia, ento, so essenciais no trabalho cientfico?
SILVIA: s vezes corremos o risco de sermos filsofos demais, com uma viso ampla demais. No trabalho cientfico o importante o conhecimento que voc adquire, que voc corrobora e que voc transmite. s vezes digo: "gente, estamos falando em afetividade
______________________________________________________________
Entrevista com Silvia T. Maurer Lane: "Parar para pensar... E depois fazer!"
Psicologia & Sociedade: 8(1): 3-15: jan./jun.1996
9
como categoria, mas cuidado! Isso uma idia que est na nossa cabea; vamos pesquisar e vamos ver como isso emerge." Para mim, como psicloga social, a coisa fundamental a pesquisa, no o saber filosfico. Cabe a ns, como pesquisadores, mostrarmos por a + b, demonstrarmos claramente uma realidade que est a. Elaboramos a teoria a partir da demonstrao. Partir para o emprico para fazer a anlise do concreto. pesquisar. nisso que acho que est o trabalho cientfico.
PERGUNTA: Alm dos j mencionados, voc v outros desafios para a psicologia social?
SILVIA: A criatividade. Criatividade sempre foi um tema que muitos psiclogos tentaram estudar, tentaram entender. uma condio essencialmente individual, num certo sentido. E da qual nunca deram conta: Acho que pelo caminho que estamos trilhando agora, com a questo da esttica, vamos conseguir jogar alguma luz nesse processo que leva algum a criar alguma coisa. Por exemplo, no meu curso de emoo e linguagem temos entrevistado artistas. No s, mas principalmente artistas; est ficando claro o que Vigotski tinha dito sobre a percepo esttica como um processo catrtico, quando voc se depara com a contradio entre forma e contedo na obra de arte. Ento haveria uma catarse diante dessa contradio. E pelo que tenho visto na produo artstica, est parecendo isso tambm. Vrios exemplos esto aparecendo. um processo que ocorre no indivduo. Ento, por que a psicologia no d conta disso? um desafio que est a e que a psicologia tem que dar conta. Agente est comeando com artistas, porque a gente acha que o artista fala mais facilmente das emoes.
PERGUNTA: O que impede a psicologia de dar conta disso?
SILVIA: Eu acho que a velha fragmentao do ser humano. Sabe, voc v o ser humano como percepo, ento voc tinha todo um estudo da percepo esttica, voc tinha todo um estudo da criao artstica. Ento, voc fragmentou o ser humano de tal forma que no juntava emoo com percepo. Voc no juntava o fazer algo com a percepo ou com a emoo de qualquer coisa. medida que ns estamos captando o homem como totalidade histrica, social, biolgica, essas coisas esto emergindo como coisas
______________________________________________________________
Entrevista com Silvia T. Maurer Lane: "Parar para pensar... E depois fazer!"
Psicologia & Sociedade: 8(1): 3-15: jan./jun.1996
10que pertencem a esse ser humano, que tem suas razes em processos psquicos fundamentais. Por exemplo, a emoo passa a ser algo que tinha que estar presente, por exemplo, no s nos valores estticos, mas tambm nos valores ticos.
PERGUNTA: Haveria uma criatividade no sentido mais geral ou a esttica sempre seria uma forma de, escamoteadamente, colocar uma questo de poder?
SILVIA: No, ao contrrio. Eu acho que a criatividade surge quando ela recusa o poder estabelecido. Volto a lembrar de Bachelard. Bachelard falando do cientista. Ele diz que o cientista s d um salto quando ele questiona: "por que no o contrrio?" Igualmente, o artista vai criar uma nova forma na hora que ele rejeita a imposio do existente e quer inventar algo de novo ou quer criar um objeto novo.
PERGUNTA: Quando voc diz criar algo novo, dar um salto e no aceitar o estabelecido, significa que a esttica estaria sempre nessa coisa de vanguarda, criando um novo e instituindo um novo poder, ou a gente pode pensar numa beleza...
SILVIA: Universal?
PERGUNTA: No universal. Existe uma beleza de dominao e existe uma beleza de emancipao?
SILVIA: Existe uma beleza de emancipao, mas acho que a beleza histrica. Quer dizer, na medida em que voc compreende o ser humano historicamente inserido, voc capaz de compreender a obra de arte deste e se sensibilizar com a obra de arte. Pela beleza de conseguir transpor todo um movimento de dentro de uma determinada poca para uma pedra, por exemplo. a impresso daquele momento histrico. A criao artstica sempre um processo histrico, um produto histrico. Vigotski chega a falar nisso. Que o artista no cria do nada, ele cria daquilo que o momento histrico est lhe oferecendo. Mas ele tem que criar algo de novo. O desafio da arte o novo, tanto que quem reproduz no faz arte, no considerado artista.
PERGUNTA: Quando voc fala da fragmentao, parece que o texto
______________________________________________________________
Entrevista com Silvia T. Maurer Lane: "Parar para pensar... E depois fazer!"
Psicologia & Sociedade: 8(1): 3-15: jan./jun.1996
11
de Vigotski sobre o significado histrico da crise da psicologia poderia ser escrito at mesmo hoje, no ?
SILVIA: Ele de uma atualidade! Porque essa fragmentao continua existindo e no por acaso que Vigotski tinha uma grande preocupao esttica, de como a experincia do homem podia, pela experincia esttica, superar sua prpria condio. E, de certa forma, contribuir para um mundo novo, inventar um mundo novo. Eu acho que a arte tem muito essa funo.
PERGUNTA: Falando agora em desafios, como voc v a questo da prtica da psicologia? A Comisso, discutindo o tema do prximo encontro da ABRAPSO regional, levantou muito a questo da violncia, da barbrie. Mais que nunca a violncia em todos os sentidos: violncia urbana, violncia simblica, violncia racial, etc. A violncia est explodindo entre grupos, entre pessoas nas condies mais diversas possveis. Como voc v a prtica da psicologia social a partir dessas consideraes?
SILVIA: (suspiro)
PERGUNTA: Voc concorda que a violncia pode ser, talvez, o ponto de partida para analisar os grandes desafios?
SILVIA: Lembrando de vrios estudos, por exemplo sobre gagueira, em que qualquer distrbio parece decorrer de um paradoxo... Estudos sobre esquizofrenia sugerindo que ela surge de um paradoxo que est na famlia do esquizofrnico... A natureza social da doena mental, tendo um paradoxo na origem, sempre um paradoxo no resolvido. So estudos indicando que a violncia fruto de um paradoxo. A relao muito estreita. Eles localizam um paradoxo, que uma criana foi criada dentro de um paradoxo. um processo de anos, um paradoxo inconsciente da situao familiar geral. Quando voc pega os pequenos pontos, os pequenos problemas, as pequenas neuroses, talvez fique at mais fcil detectar os paradoxos. Agora, para isso, deveramos estar pesquisando muito.
PERGUNTA: Pesquisar muito, certo! Mas pensando como algum que est se iniciando na psicologia e que se entusiasma pela
______________________________________________________________
Entrevista com Silvia T. Maurer Lane: "Parar para pensar... E depois fazer!"
Psicologia & Sociedade: 8(1): 3-15: jan./jun.1996
12psicologia social, perguntaramos: o que fazer? Qual o caminho? H possibilidade?
SILVIA: A noo de identidade como metamorfose que Ciampa desenvolve abre portas para isso. Se eu me assumo como algum que posso me transformar no dia-a-dia, posso ser algum que vai inventar uma obra, vai criar alguma coisa, vou questionar valores que esto estabelecidos... Sabe, eu no me atenho mesmice. Por isso que eu acho que a separao da identidade como categoria fundamental, porque ela vai, vamos dizer assim, de certa forma, coordenar na relao com o outro, a conscincia, a atividade, e a afetividade. ela que torna a imbricao destas trs uma relao com o outro, ao mesmo tempo em que se constitui nas trs tambm. E exatamente a identidade como metamorfose: eu aceito que eu tenho o direito de me transformar, de ser outro, eu assumo o direito de votar, de criar, etc.
PERGUNTA: H espao, h possibilidade concreta, histrica, do indivduo construir uma realidade, uma identidade, escapar dessa mquina social que destri?
SILVIA: H toda uma discusso dizendo que o homem consciente impossvel numa sociedade capitalista, que a prpria caracterstica da sociedade capitalista o homem alienado. Tudo bem, quando voc olha no seu genrico. Agora, quando voc olha no seu cotidiano, voc como pessoa, voc acha isso impossvel? Voc mais consciente ou menos consciente? Voc acha que no avanamos enquanto conscincia histrica?
PERGUNTA: Gostaramos de saber que argumentos voc acrescentada para defender essa tese.
SILVIA: Exatamente a capacidade que o ser humano tem de analisar, de pensar, de refletir criticamente, e de sentir.
PERGUNTA: Aproveitando o intervalo para fazer propaganda do prximo encontro regional da ABRAPSO, a Comisso definiu o tema: "Emancipao e/ou barbrie?". Gostaramos de chamar a ateno para a expresso "e/ou" que sugere um dilema a ser discutido na possibilidade de emancipao...
______________________________________________________________
Entrevista com Silvia T. Maurer Lane: "Parar para pensar... E depois fazer!"
Psicologia & Sociedade: 8(1): 3-15: jan./jun.1996
13
SLVIA: Eu acho impossvel uma emancipao sem uma revoluo. Agora, no precisa ser uma revoluo armada. Mas preciso mexer com valores, preciso mexer com pensamentos estabelecidos, preciso cutucar o ser humano para que ele pense diferente do que ele vinha pensando. Ento, isso uma revoluo. Quando falamos numa revoluo tica, a revoluo tica no um indivduo que a vai produzir. uma sociedade, uma cultura. Falei da revoluo tica, porque Agnes Heller, analisando bem a questo do Leste europeu e as revolues comunistas que ocorreram, descobre que elas no resolveram os grandes problemas sociais. A luta de classes, por exemplo, no resolveu absolutamente nada, ao contrrio. Caiuse num marasmo, numa negao do ser humano, numa negao da identidade. Ento, o que transformaria? Transformaria, exatamente, valores outros que no esses que esto imperando na nossa sociedade. Como dizia o Claude Lefort: "meia dzia de catlicos bem dispostos muda o filmo da histria"; agora, c entre ns, voc precisa de algo semelhante.
PERGUNTA: Se, em vez de meia dzia de catlicos, falarmos em meia dzia de psiclogos sociais bem dispostos, como eles poderiam estar contribuindo para mudar a histria que mostra esta crescente violncia? Sabemos que uma resposta que voc no daria em dois minutos, mas como voc provocaria os leitores desta entrevista?
SLVIA: Refletir criticamente sobre a sua prtica cotidiana. Sinto muito! Eu acho que essa a questo fundamental: pensar no que que eu estou fazendo no dia-a-dia; bvio, voc no vai fazer isso todos os momentos da vida, porque voc no agenta. Mas h momentos em que voc pra e voc v criticamente o que est construindo, o que est fazendo e isso vale para qualquer pessoa. Eu acho que a nica forma de eu superar uma alienao imposta pela minha sociedade refletir criticamente. Ento, o psiclogo pode parar para pensar: por que est usando o teste? Ser que se ele parasse e conversasse com o sujeito, ele no aprenderia muito mais a respeito, do que aplicando o teste? Se ele conhecesse as condies de vida desse sujeito? Voc vai por a afora. Eu tenho exemplos disso, de psiclogos na indstria.
PERGUNTA: Quando voc deu a resposta, usou uma expresso muito brasileira: "parar para pensar". Ora, "parar para pensar", sempre
______________________________________________________________
Entrevista com Silvia T. Maurer Lane: "Parar para pensar... E depois fazer!"
Psicologia & Sociedade: 8(1): 3-15: jan./jun.1996
14
tem um peso forte. Parar com o circuito da inconscincia da vida cotidiana e pensar. isso?
SLVIA: Vocs fizeram isso comigo. Vocs me obrigaram a parar para pensar.
PERGUNTA: Voc aceita que o nome da entrevista seja: Parar para pensar?
SLVIA: Eu acho que sim, porque sem isso no h a emancipao. Parar para pensar e depois fazer, fazer. Eu acho que por a.
Entrevista realizada nos dias 15 e 22 de novembro de 1995
______________________________________________________________
Entrevista com Silvia T. Maurer Lane: "Parar para pensar... E depois fazer!"
Psicologia & Sociedade: 8(1): 3-15: jan./jun.1996
15
UMA ABORDAGEM "PSICOSSOCIOLGICA"
NO ESTUDO DO COMPORTAMENTO POLTIC01
Leoncio Camino
RESUMO: Neste artigo analisa-se a evoluo da perspectiva terica do Grupo de Pesquisa em Comportamento Poltico da Universidade Federal da Paraba. Para tanto apresenta-se a conjuntura poltico-cultural dos anos 60 e 70 e o modelo de psicologia social que o Grupo de Pesquisa se propunha desenvolver nesse perodo. Reflete-se sobre as mudanas poltico-culturais do Brasil entre 1985 e 1988 e as consequncias destas mudanas na maneira do Grupo de Pesquisa pensar a Psicologia Social. Apresenta-se a perspectiva psicossociolgica atualmente utilizada pelo grupo na anlise do comportamento poltico. Finalmente apresentam-se os projetos de pesquisa desenvolvidos pelo Grupo e os resultados mais importantes obtidos at o presente.
PALAVRAS-CHAVE: psicologia social, comportamento poltico, identidade poltica, anlise psicossociolgica.
Considerando de um lado que nos encontramos festejando os 15 anos da fundao da ABRAPSO e de outro lado que os pesquisadores precisam em certos momentos fazer um balano de sua trajetria cientfica, pretendo dar ao tema uma perspectiva histrica e de auto-anlise. Comeo apresentando brevemente o contexto histrico e cultural dos 60 e 70, que precedeu a formao de nosso Grupo de Pesquisa sobre o Comportamento Poltico, e o modelo de psicologia social que nos propusemos desenvolver nesse momento. Num segundo momento, reflito sobre as mudanas do cenrio poltico e cultural no Brasil entre 1985 e 1988 e as influncias que estas mudanas trouxeram na maneira de pensar a psicologia social. Terceiro, apresento brevemente a perspectiva em que hoje postulo e descrevo como a abordagem psicossociolgica pode ser
_______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan;/jun.1996
16
utilizada na anlise do comportamento poltico. Por ltimo apresento brevemente os projetos de pesquisa que estamos desenvolvendo e os resultados mais importantes obtidos at o presente.
A CRISE NA PSICOLOGIA SOCIAL
Nossa formao em psicologia social remonta ao final dos anos 60, quando fizemos nosso doutorado na Blgica. Posteriormente, na Paraba, trabalhando no curso de Psicologia da UFPb (974), descobrimos que no estvamos ss nas insatisfaes e dvidas desenvolvidas durante a dcada passada. Pelo mundo inteiro surgiam crticas abordagem individualista dominante na psicologia social e aos experimentos em laboratrio. O cerne dessas crticas era a idia de que, ao retirar os fenmenos sociais de seu meio prprio, terminava-se por abstrair-lhes a natureza social. Quo social era esta cincia que se denominava psicologia social?
Vivia-se nesse perodo uma situao que tem-se denominado de crise ela psicologia social. Seja ela real ou pretensa como alguns autores sustentam2, ser suficiente para os objetivos deste trabalho assinalar brevemente algumas caractersticas novas que a psicologia social foi adquirindo na Amrica Latina e no Brasil, entre os anos 60 e 70, e que influenciaram nosso trabalho. Deve-se observar que a psicologia social comeou a desenvolver-se na Amrica Latina nos anos 60, sob o impulso de alguns pesquisadores, como A. Rodrigues e J. VareI a entre outros, formados nos Estados Unidos e que se congregaram na Associao Latino Americana de Psicologia Social ALAPSO.
Nesse perodo a situao na Amrica Latina era bastante singular.
Viviam-se os movimentos de resistncia e oposio s ditaduras militares que tinham chegado ao poder com apoio aberto dos Estados Unidos, sufocando as reformas e reivindicaes populares dos anos 60. Em conseqncia, os movimentos de luta pela democracia estavam impregnados de forte anti-americanismo. Durante a dcada do 70, com a crise econmica, houve um aumento da presso popular.
Durante os anos 70 cresce, praticamente em toda Amrica Latina, um forte descontentamento em relao psicologia social americana. Alm das crticas ao mecanicismo e falta de relevncia social dessa perspectiva, levantavam-se fortes crticas ao carter ideolgico do
______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan;/jun.1996
17
positivismo. Apontava-se igualmente a necessidade de se construir uma psicologia em consonncia com a problemtica social de nosso continente3. Acrescente-se que, nesse perodo, comeam a ser traduzidos para o espanhol e para o portugus pesquisadores importantes da psicologia sovitica, como Leontiev, Luria e Vigotski, que tero uma influncia considervel no pensamento dos psiclogos latinoamericanos.
No Brasil, o crescimento desse posicionamento crtico levou um grande grupo de psiclogos sociais ao rompimento, em 1980, com a ALAPSO, e a criao da Associao Brasileira de Psicologia Social - ABRAPSO, que se propunha construir uma psicologia voltada aos interesses das classes mais desfavorecidas. Todos ns, fundadores e participantes da ABRAPSO, considervamos no s que os conhecimentos da psicologia social deveriam ser colocados a servio dos movimentos e lutas populares, mas tambm que a base da construo terica deveria ser constituda por uma reflexo filosfica que sustentasse a unidade da teoria cientfica e da luta popular. Em geral, encontravam-se os fundamentos desta psicologia nos princpios do materialismo histrico e dialtico4. Os encontros da ABRAPSO desempenharam um papel importante na tentativa de construir uma nova psicologia que respondesse a essas preocupaes sociais.
Nessa conjuntura poltica, vrios profissionais adicionaram s tarefas de ensino e de pesquisa tarefas poltico-sindicais, consideradas necessrias para a reconstruo de um Brasil mais justo e democrtico. Vivia-se intensamente a dicotomia de ser, simultaneamente e em tempo integral, militantes e pesquisadores. Nesta conjuntura a pesquisa participante converte-se na prtica dominante no mbito de ABRAPSO.
No incio dos anos 80 muitos psiclogos sociais latino-americanos compartilhavam a concepo de que a melhor maneira de elaborar teorias sobre os movimentos sociais era inserir-se neles e acumular, atravs da prtica, os conhecimentos tericos necessrios para fazer avanar o movimento popular simultaneamente obteno de seus objetivos e compreenso de sua prpria natureza.
Nosso Grupo de Estudo encontrava-se totalmente identificado a esta perspectiva. Participvamos como educadores do Centro de Educao e Cultura dos Trabalhadores Rurais (CENTRU), instituio cujo objetivo era formar o trabalhador rural e colaborvamos com a Secretaria de Formao Sindical da Central nica dos Trabalhadores CUT6. Ao mesmo tempo, no mbito do Mestrado em Psicologia
_______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan;/jun.199618
Social da UFPb, procurvamos planejar nossa interveno nos movimentos, sob a forma de pesquisa-ao7.
A TRANSIO-TRANSAO DEMOCRTICA E A CRISE DE PERSPECTIVA
Mas os anos 85-88 trouxeram para o Grupo de Pesquisa sobre o Comportamento Poltico um conjunto de insatisfaes e dvidas que o levaram a uma parada para refletir sobre a sua prpria identidade e sobre os novos caminhos a seguir. As insatisfaes relacionavam-se a dois aspectos de nossa atividade.
Primeiro, questionamos a forma de insero no movimento social, que pretendia converter-se num projeto de pesquisa participante com os companheiros da CUT e do Centru, constatando que este projeto nunca fora realizado.
Apenas conseguimos reconstruir, com o mtodo de histrias de vida, alguns elementos do desenvolvimento da conscincia sindical de lideranas urbanas8 e mrais9 desse perodo. Mesmo assim, consideramos este saldo bastante decepcionante.
Segundo, questionamos criticamente as concepes tericas que nos tinham guiado. Estas reflexes, apresentadas num encontro de Psicologia Marxista em Cuba10, apontavam a impossibilidade de deduzir categorias psicolgicas diretamente do materialismo histrico.
Alis, hoje, com a perspectiva que d o passar do tempo, conseguimos entender melhor tanto as condies polticas e sociais daquele perodo como as suas consequncias em nossa prtica cientfica e poltica. Entendemos agora que apesar do fracasso das Diretas J abriu-se na prtica, com a eleio indireta (transio-transada) de Tancredo e Sarney um espao democrtico rapidamente aceito por grande parte da sociedade civil. Esta situao no era vivida por ns com a compreenso que hoje nos possvel. Mesmo assim, a prpria conjuntura nos levou a revisar nossa prtica.
De um lado comeamos a perceber que no se colocava mais, ao menos com a urgncia anterior, a necessidade da participao direta de intelectuais nas organizaes populares. Por outro lado, chegamos concluso de que a idia subjacente nossa forma de insero direta no movimento no era correta.
Uma melhor reflexo sobre a prxis11 nos levou a concluir que os critrios da verdade do conhecimento so construdos no interior de cada cincia particular e no so deduzveis diretamente das
______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan;/jun.1996
19
concepes tericas do materialismo. Deduz-se desta reflexo a necessidade de construir uma psicologia social que fosse compatvel com estas concepes sobre o homem e a sociedade e que, ao mesmo tempo, permitisse construir um conjunto de conhecimentos cientficos sobre os processos subjetivos subjacentes s relaes sociais no interior de uma sociedade determinada.
Percebamos claramente que nossa estratgia de pesquisa, a qual consistia em escolher certas noes psicolgicas e retir-las de seu contexto individualista e mecanicista, para utiliz-las como sinnimos de conceitos do materialismo dialtico, no se havia mostrado eficaz para construir uma teoria psicolgica diferente. No tnhamos mo nenhuma teoria completa de psicologia social que fosse ao mesmo tempo articulvel com as nossas vises bsicas do homem e da sociedade, que tivesse capacidade heurstica no estudo dos fenmenos sociais e que fosse operacionalizvel no planejamento de estudos empricos.
Mas havia na psicologia social europia perspectivas tericas que nos pareceram teis para a tentativa de construir uma teoria adequada a nossos pressupostos e expectativas. Devemos lembrar que na Europa dos anos 60 viveu-se a necessidade de indepen-dentizar-se poltica, econmica e culturalmente da influncia americana, exercida no ps-guerra atravs do plano Marshall.
No que se refere psicologia social, deve-se observar que a procura de uma identidade europia no implicou, como foi o caso da Amrica Latina, numa ruptura nem com a produo cientfica da psicologia social americana nem com o mtodo experimental empregado por ela. Na Europa esta procura de identidade implicou numa reflexo mais filosfica sobre a natureza da psicologia social. Esta reflexo centrou-se sobre a oposio clssica entre o individuo e a sociedade, sobre a interdisciplinaridade inerente ao estudo do social e, finalmente, sobre a prpria natureza da psicologia social12.
Nesta procura por uma identidade prpria destacam-se Serge Moscovici e Henri Tajfel, os quais colocam-se frente do movimento de formulao de uma psicologia social europia13. Para Vala o novo paradigma da psicologia social se apia em trs conceitos essenciais: a representao social14, a identidade social15 e a influncia das minorias ativas16. Finalmente Doise17 aprofundar esta concepo propondo como campo especifico da psicologia social a articulao psicossociolgica.
_______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan;/jun.199620
UMA PSICOLOGIA POLTICA NA PERSPECTIVA PSICOSSOCIOLGICA
Foi a esta psicologia europia que nos dirigimos a fim de redirecionar nossa pesquisa. Desde 1988 nossa preocupao dirigiuse elaborao de uma teoria capaz de explicar o conjunto de dados obtidos e permitir a compreenso de novos fenmenos na rea do comportamento poltico. Neste sentido situamos nosso projeto na rea da pesquisa bsica, sem deixar de acreditar que um melhor conhecimento dos aspectos subjetivos do comportamento poltico pudessem ajudar nos processos de organizao popular, sem abandonara compromisso de construir uma cincia a servio das causas populares.
A fim de que se possa entender melhor o tipo de reflexo e de pesquisa que estamos desenvolvendo apresentaremos primeiro os pressupostos bsicos e a perspectiva terica que orientam e do base as nossas pesquisas.
1. A nossa concepo de poltica
A Cincia Poltica refere-se fundamentalmente ao estudo das relaes de poder no interior da sociedade18. Estas relaes podem ser analisadas a partir de duas perspectivas tericas19. A sistmica20 concebe a sociedade como um sistema integrado cuja existncia mantida por relaes complementares entre seus elementos. Estas relaes so sustentadas sobre um conjunto de objetivos e crenas comuns21.
O modelo alternativo, a dialtica, toma como ponto de partida a existncia de contradies e conflitos em todos os sistemas sociais e considera a existncia destes antagonismos como conseqncia da formao de grupos dominantes e subordinados na processo econmico22. A perspectiva dialtica pressupe que as relaes sociais e os grupos constitudos nestas relaes estabelecem-se em tomo da produo da subsistncia e constituem a trama da sociedade. Os antagonismos seriam inerentes aos vrios modos de produo da subsistncia.
Nesta abordagem no se pode entender uma sociedade sem analisar as relaes sociais que se estabelecem no seu interior. Da mesma maneira, no se pode entender relaes sociais especficas sem entender a sociedade em sua totalidade. Esta viso implica que ,3
______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan;/jun.1996
21
as maneiras de pensar, sentir e agir das pessoas devem ser examinadas a partir das relaes sociais bsicas: "A vida no determinada pela conscincia e sim a conscincia pela vida"23.
Adotamos, em nosso estudo do comportamento poltico, a perspectiva dialtica, com a viso de homem e de sociedade que ela implica.
2. A nossa concepo de psicologia social
No tnhamos mo nenhuma teoria completa de psicologia social que por um lado fosse articulvel com as nossas vises bsicas do homem e da sociedade e por outro lado tivesse capacidade heurstica no estudo dos fenmenos sociais e fosse operacionalizvel no planejamento de estudos empricos. Mas no decorrer do projeto fomos construindo nossa prpria viso a partir da anlise de algumas perspectivas hoje presentes no campo da psicologia social.
A cognio social, perspectiva dominante neste campo24, deve ser entendida como uma forma ampla de abordar e analisar os fenmenos sociais. Nela os processos mentais so vistos no atravs do modelo S-R behaviorista mas como um processo ativo que se desenvolve em seqncias definidas. Considera-se tambm que, por causa das limitaes inerentes ao aparelho psquico no processamento de informaes concretas, o indivduo desenvolve estruturas de conhecimento relativamente abstratas que lhe permitem enfrentar a enorme variedade de estmulos e situaes. Neste sentido, as informaes processadas no so uma cpia da realidade ma; uma construo pessoal do indivduo25.
A cognio social americana tem-se limitado anlise do processo individual26. Sob nossa perspectiva essencial considerar que o conhecimento do indivduo no se processa no vazio. A sociedade produz seu prprio conhecimento social e a construo do conhecimento individual se insere nesse processo27. Trata-se de entender a maneira em que as diversas sociedades constrem suas representaes sociais e como os indivduos e grupos se apropriam dessas representaes28.
A perspectiva das relaes intergrupais29 oferece a possibilidade de fundamentar esta perspectiva dialtica do conhecimento humano. A partir da perspectiva cognitiva, a pertena ao grupo pode ser considerada no s como forma de relao, mas principalmente
_______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan;/jun.199622
como forma de conscincia ou categorizao social. As relaes intergrupais estudam portanto as relaes sociais na medida em que estas so afetadas pela conscincia da pertena a um grupo30. Esta viso pressupe que toda relao interpessoal efetua-se no horizonte das relaes intergmpais31.
A importncia do papel da categorizao social tem sido colocada em relevo por Tajfel, Billig, Bundy e Flament32, que constataram a existncia do fenmeno de diferenciao grupal mesmo em situaes onde s existe pura categorizao sem interao nem real nem antecipada entre os dois grupos. Tajfel33 explica a existncia deste fenmeno utilizando o conceito de identidade social, que se refere tanto conscincia de pertencer a um determinado grupo social como a carga afetiva que esta pertena traz para o sujeito. O pressuposto fundamental que os indivduos procuram, diferenciando-se positivamente do outro grupo, realizar uma identidade social que contribua para obter uma imagem positiva de si mesmo. Desse modo, quanto maior for o senso de pertena a um grupo, maior ser a tendncia a diferenciar favoravelmente seu prprio grupo dos outros.
A identidade social um processo dialtico, na medida em que por um lado muda o sujeito, facilitando a incorporao de valores e normas do grupo social, mas por outro lado, implica numa participao ativa do sujeito na construo da identidade grupal e portanto na transformao contnua do grupo. Mas a propriedade dialtica dos processos de identidade no se limita relao entre o individuo e seu grupo.
Ela aplica-se s relaes dos grupos entre si e com o sistema social. Deve-se considerar que, segundo Tajfel34, o processo de identidade social no ocorre no vazio social mas num contexto histrico onde os diversos grupos mantm relaes concretas entre si, mediadas pela identidade social. O processo de identidade social afetaria no s a maneira como indivduos e grupos percebem a organizao da sociedade, sua estrutura, estabilidade e legitimidade, mas tambm o modo como nela atuam, procurando modific-la em funo de seus interesses sociais. Por sua vez, as estruturas sociolgicas influenciariam de alguma maneira as representaes que os indivduos fazem de si mesmos e da sociedade.
Consideramos que as relaes entre grupos desenvolvem-se sempre no interior de formaes sociais, econmicas, polticas e ideolgicas com caractersticas especficas. Estas caractersticas influenciam
______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan;/jun.1996
23
as relaes intergrupais, mas tambm so conseqncias dessas relaes.
Sendo assim, como pode considerar-se simultaneamente aspectos subjetivos (psicolgicos) e aspectos estruturais (sociolgicos)? Consideramos que as interaes entre os dois nveis (o psicolgico e o sociolgico) so fenmenos de mo dupla. Numa direo, os processos subjetivos so influenciados pelas formas concretas que adota uma formao social. Na direo oposta, as formaes sociais so construdas dinamicamente pelo conjunto de representaes e aes dos indivduos que as constituem. Qualquer articulao psicossociolgica dever ter em conta a natureza dialtica dos processos de influncia social35.
Esta articulao dialtica, no mecanicista, s possvel a partir da integrao da perspectiva cognitiva com a perspectiva das relaes intergrupais. Segundo Vala36, articulando-se a idia de um sujeitoator com a idia de um sujeito indissocivel do social, a cognio ser entendida como uma atividade no s individual mas social, uma vez que os indivduos esto necessariamente ligados a outros indivduos em todos os planos. Entretanto, graas a esta articulao, o indivduo ser concebido como agente ativo, dotado de uma atividade cognitiva prpria, essencial criao dos laos sociais onde est inserido, laos estes decorrentes da atividade sciocognitiva dos atores sociais.
A perspectiva acima descrita permite construir uma psicologia social que tenha em conta nossas concepes sobre o homem e a sociedade.
3. Anlise psicossociolgica das formaes sociais
Em concordncia com nossa perspectiva bsica que postula a impossibilidade de entender as relaes sociais existentes sem analisar as caractersticas concretas da sociedade especfica onde se situam as aes a serem analisadas, descreveremos brevemente um esquema das formaes sociais, onde situaremos as diversas aes polticas e as experincias subjetivas que lhes podem ser relacionadas. Este esquema coloca no centro das formaes sociais os processos de produo, considerando-os base ltima, mas no nica das relaes e conflitos sociais (Figura 1).
A sociedade civil constituda pelo conjunto de grupos e insti-
_______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan;/jun.199624
Figura 1 : Representao esquemtica da sociedade e de seu funcionamento institucional (jurdico-poltico, ideolgico e cultural) com destaque para os conflitos intergrupais e as alternativas de ao.
SOCIEDADE CIVIL
______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan;/jun.1996
25
tuies que mantm relaes sistmicas (de cooperao e conflito) entre si. A unidade deste sistema garantida pela estrutura jurdico-poltica do Estado, que possui poder coercitivo para tanto. Esta unidade sustenta-se tambm num conjunto de concepes, valores e normas sociais que possuem uma certa homogeneidade no sistema, conjunto este que denominado estrutura ideolgica e cultural.
No interior deste sistema os indivduos se educam e trabalham, a fim de garantir a subsistncia, entendida aqui num sentido amplo. Estas aes individuais/grupais, embora se efetuem num sistema poltico e sejam afetadas por ele, no possuem carter poltico expresso.
O comportamento poltico constitudo pelas aes de indivduos e grupos que se dirigem a pressionar ou controlar o Estado. O acesso ao Estado pode ser direto e as aes que se desenvolvem atravs desses canais institudos para este fim so denominadas de aes institucionais. A alternativa institucional fundamental nas sociedades democrticas o voto, embora as aes judiciais estejam ocupando cada vez mais um espao importante na vida dos cidados.
Nos casos em que as aes institucionais no produzam os resultados esperados, os diversos grupos tm como alternativa aes coletivas que, independentemente dos agentes que as realizam e de seus destinatrios, no fazem parte do conjunto de aes previstas na estrutura jurdico-poltica do Estado. Enumeramos na Figura 1 vrias formas de ao coletiva em ordem crescente de ilegalidade, que vo desde o simples abaixo assinado at a revoluo.
Todo o conjunto de aes, tanto institucionais como coletivas, desenvolvem-se no quadro institucional do Estado. Portanto, faz-se necessrio analisar a estrutura jurdico-poltica do Estado para entender melhor a natureza das atividades polticas. Mas na sociedade civil distingue-se igualmente a estrutura ideolgico-cultural, constituda pelo conjunto de idias existentes numa sociedade sobre sua origem, o valor de suas instituies, sua estrutura social etc. Este conjunto de idias gera-se basicamente das relaes sociais estabelecidas no processo de produo e difunde-se atravs de instituies da sociedade civil: meios de comunicao de massa, escolas, igrejas, famlia, etc.
Neste processo, a psicossociologia da poltica estuda tanto as diversas formas de conscincia que os indivduos adquirem nos diferentes processos do sistema poltico como as aes que eles efetuam a fim de modific-lo.
_______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan;/jun.1996
26PROJETO DE PESQUISA SOBRE O COMPORTAMENTO POLTICO
Desde 1988 iniciamos um projeto de pesquisa sobre o comportamento poltico. Duas formas de atividade poltica atraram inicialmente nossa ateno. Um primeiro interesse foi o comportamento eleitoral, pois ficava claro desde 1988 que o voto deveria ocupar um espao essencial no desenvolvimento poltico do pas. As invases urbanas foram uma outra atividade poltica que atraiu nossa ateno, devido sua grande incidncia nesse perodo.
No aprofundamento destes dois aspectos do comportamento poltico sentimos a necessidade de entender o desenvolvimento poltico dos indivduos em termos de pertena a organizaes, instituies e redes sociais. As identidades e afinidades que se desenvolvem nestes grupos a partir do sentimento de pertena a eles constituem-se em parmetros que modulam a vida poltica dos cidados.
Este tipo de preocupao nos tem levado ultimamente a estudar os aspectos cognitivos da socializao poltica, principalmente o modo como as crianas desenvolvem suas concepes de classe social. Descreveremos agora brevemente nossos avanos em cada um desses tpicos: comportamento eleitoral, aes coletivas de invaso de terras e desenvolvimento das percepes das diferenas scio-econmicas.
1. Anlise do comportamento eleitoral
Desde 1988 temos acompanhado atravs de um projeto de pesquisa todas as eleies realizadas em Joo Pessoa. Para guiarnos elaboramos um mapeamento do conjunto de variveis susceptveis de intervir no comportamento eleitoral37.
Procurvamos organizar a diversidade de variveis comumente relacionadas com o voto a partir de alguns critrios. Utilizamos inicialmente como primeiro eixo organizador a distino introduzida por Fisichiella38 entre variveis concernentes existncia na sociedade de alternativas polticas concretas e variveis ligadas ao ato individual de escolher pelo voto uma destas alternativas.
Por outro lado, as diversas variveis pertencentes a cada uma dessas duas dimenses mostravam possuir naturezas heterogneas,
______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan;/jun.1996
27
necessitando ser organizadas em diferentes nveis de anlise. As diversas perspectivas de anlise constituram um segundo critrio de organizao dessas variveis, formando assim trs nveis: conjuntural-comportamental, cultural- disposicional e psicossociolgico.
Assim, para classificar as variveis intervenientes no processo eleitoral usamos duas dimenses independentes. A primeira constituda pelo fato das variveis poderem referir-se ao desenvolvimento objetivo da sociedade poltica assim como ao desenvolvimento das disposies subjetivas de seus membros; esta distino metodolgica sustenta-se em vrias maneiras de pensar a construo da realidade social39.
A segunda dimenso constituda por trs nveis de anlise da realidade localizados horizontalmente no Quadro 1.
a) O nvel conjuntural-comportamental, constitudo pelas variveis observveis que se referem s atividades da campanha eleitoral e participao dos eleitores nessas atividades;
b) O nvel cultural-disposicional, onde por um lado existe um conjunto de atitudes, normas, crenas e esteretipos largamente partilhado pelos membros de uma formao social e por outro lado existem as formas individuais de insero nesse conjunto;
c) O nvel psicossociolgico, constitudo pelos aspectos subjetivos subjacentes s estruturas polticas. Em tomo das relaes sociais estabelecidas nas atividades de produo desenvolvem-se simultaneamente tanto estruturas sociais concretas e formas de conscincia social dos indivduos.
Mas o fato de termos situado inicialmente o processo eleitoral entre dois plos, no implica na aceitao do dualismo sujeitosociedade. Esta distino, localizada no Quadro 1 em forma de coluna e restrita aos dois primeiros nveis de anlise, expressa a necessidade metodolgica de diferenciar entre as matrizes ideolgicas e normativas pr-existentes na sociedade e as disposies cognitivas e afetivas dos sujeitos.
A disposio grfica horizontal do terceiro nvel tenta, por sua vez, traduzir a relao dialtica entre os dois aspectos da mesma realidade. A distino portanto possui apenas uma funo didtica, uma vez que existe uma dialtica fundamental entre fatores objetivos referentes s alternativas polticas e fatores subjetivos referentes a deciso de votar40.
_______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan;/jun.199628
Quadro 1
Relevamento do conjunto de fatores que intervem no
comportamento eleitoral em funo dos nveis de anlise
___________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan;/jun.1996
29
Procura-se descrever esta relao dialtica no terceiro nvel. Situase em cima o aspecto psicolgico, constitudo pela conscincia da pertena a grupos e organizaes sociais e em baixo localiza-se o aspecto sociolgico, referente s relaes sociais inter-grupais. A pertena social constitui a base formadora do conjunto de disposies subjetivas que se relacionam com a escolha eleitoral. Das relaes intergrupais e seus conflitos de interesses, desenvolvem-se as alternativas polticas existentes.
Prope-se neste nvel uma articulao psicossociolgica na qual ambos aspectos se originariam de uma mesma realidade: a natureza social do modo como o homem produz sua subsistncia41.
O modelo proposto no Quadro 1 tem sido fundamental no conjunto de pesquisas que realizamos desde 1988, fornecendo inicialmente um roteiro para a investigao de variveis relevantes ao comportamento eleitoral42 e posteriormente mostrando-se til na interpretao do conjunto de resultados obtidos43.
Nesta srie de pesquisas entrevistamos estudantes da UFPb e eleitores de Joo Pessoa poucos dias antes das eleies, indagando basicamente sobre sua inteno de voto, atitudes polticas e, nas ltimas pesquisas, sobre sua participao nas diversas organizaes da sociedade civil. Do vasto conjunto de dados obtidos44 nos limitaremos a descrever brevemente os mais importantes.
Em primeiro lugar, constatamos nveis muito baixos de participao na campanha eleitoral tanto em estudantes da UFPb como nos eleitores de Joo Pessoa. Faltava conhecimento e interesse pelas campanhas e coerncia nas opinies polticas. Mais da metade dos entrevistados no possua simpatia por um partido45.
Anlises mais aprofundadas com os dados dos eleitores que se identificavam com um partido mostraram que estes possuam maior coerncia poltica e escores mais elevados em todos os ndices que utilizamos para avaliar o grau de participao poltica46. Esta constatao nos motivou a estudar a relao entre simpatia partidria e representao poltica atribuda aos partidos, com o objetivo de determinar a natureza da identificao partidria.
Estudamos a representao poltica a partir do cruzamento entre a percepo que o eleitor tem dos setores sociais defendidos ou representados por seu partido de simpatia e a percepo dos setores sociais representados pelos partidos opostos sua viso poltica. Os resultados mostraram que a viso que o sujeito possui da estrutura social, implcita nas atribuies de representao poltica, relaciona-
_______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan;/jun.199630
se com as posies polticas fundamentais do seu partido de simpatia.
Nos interessamos, a partir desta constatao, em estudar como se desenvolvem estas vises scio-polticas. Procurando responder a esta questo, deduzimos do modelo proposto no Quadro 1 que a participao do individuo em organizaes da sociedade civil ajudaria na construo de sua identificao partidria e de sua viso sociopoltica47.
Um de nossos estudos, realizado durante as eleies de 1990 com estudantes universitrios, mostrou que a viso social em termos de classes sociais se desenvolvia entre aqueles estudantes que, tendo ingressado jovens na UFPb e estando prximos ao fim do curso, destacavam-se pela participao ativa no movimento estudantil48. Isto significa que a participao nas organizaes estudantis da UFPb relaciona-se com o desenvolvimento de uma viso classista.
No estudo realizado durante as eleies de 1992 com os eleitores de Joo Pessoa, observamos que a viso scio-poltica do eleitor era influenciada pelo tipo de organizao da Sociedade Civil na qual participava49. Assim, um tero dos participantes em organizaes trabalhistas considerava que seu partido representava a classe trabalhadora e que os partidos opostos representavam a classe alta. Por sua vez mais de 40% dos participantes em organizaes de bairro de cunho assistencialista consideravam que seu partido de simpatia defendia os interesses do povo enquanto que os partidos opostos representavam os interesses egost1.S dos polticos, seja de direita ou de esquerda50.
Este conjunto de dados sobre a representao poltica confirma nossa hiptese terica, a qual afirma que no processo de participao nas diversas organizaes da sociedade civil desenvolvem-se tanto vises da estrutura social como sentimentos de pertena a um dos grupos dessa estrutura. Ns temos denominado este complexo cognitivo-afetivo de identidade poltica e temos considerado que ele funciona como uma matriz ideolgica que orienta a escolha eleitoral do sujeito51.
Entretanto, no afirmamos que esta escolha apia-se exclusivamente em consideraes ideolgicas. Nossos dados desde 1988 mostram claramente que a grande maioria dos eleitores despolitizada no sentido clssico que se d ao termo.
No nos referimos pois a uma identidade poltica que implique identidade programtica e doutrinria com alguma fora poltica. O que afirmamos que muitos cidados possuem uma viso elementar
______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan./jun.1996
31
da estrutura social, desenvolvida em sua insero nas redes sociais. Esta viso lhes serve como marco de orientao em boa parte de suas atividades intergrupais. Particularmente no perodo das eleies esta viso estaria relacionada escolha de um partido ou candidato.
Denominamos este complexo de informaes e avaliaes de identidade poltica porque sua caracterstica principal localizar o sujeito atravs do sentimento de pertena a um setor social na arena poltica52. Resta ainda saber como articulam-se as disposies subjetivas. de um eleitor com as propostas polticas de setores sociais.
Postulamos que as identidades sociais (entre as quais situa-se a identidade poltica), ao dar significado posio social do sujeito, orientam-no a escolher politicamente de acordo com a compreenso que tem de sua insero na estrutura social. Por outro lado, na medida em que as identidades scio-polticas inserem ativamente os indivduos na estrutura social, podem por sua vez transform-lo em agente da construo de alternativas polticas 53.
2. Anlise das aes coletivas de invaso de terrenos
A proliferao de invases urbanas em Joo Pessoa no ano de 1988 nos levou a estudar esse fenmeno. Em nosso primeiro contato com uma invaso, uma constatao casual mostrou a influncia que a participao em organizaes da sociedade civil possui na escolha de alternativas no institucionais de ao social. Lima54 constatou que a maioria dos invasores de um terreno morava antes numa rua vizinha, da qual a metade dos moradores no participara da invaso e desenvolvia uma certa rivalidade com os invasores.
As entrevistas com este grupo de no-invasores mostraram que, alm de possuir os mesmos problemas de moradia, tinham sido convidados a participar da invaso desde o incio. Mostraram tambm que mais de 60% deles pertencia Assemblia de Deus e compartilhava as mesmas idias sobre a falta de moradia ("existe muita gente para pouco espao") e sobre a ilegalidade das invases. O ato de invadir agredia suas concepes religiosas, o que produzia a hostilidade contra os baderneiros.
Os invasores por sua vez culpavam os polticos pela falta de moradia, acreditavam na legalidade da ao e percebiam os noinvasores como acomodados. Estes dados permitiram supor que aes coletivas como invases ou outras esto relacionadas com
_______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan./jun.199632
certas formas de conscincia social que se desenvolvem na participao dos indivduos em grupos ou instituies. De fato, no estudo de outra invaso, usando a mesma estratgia de comparar invasores com no-invasores, verificou-se que os invasores possuam menor crena no sistema de mobilidade social baseada no esforo pessoal e maior crena na mudana social realizada coletivamente55.
Estas concepes mostraram-se bastante teis no s para entender o engajamento de pessoas em aes coletivas mas tambm para analisar as dificuldades encontradas no desenvolvimento dessas aes coletivas. Membros do grupo de pesquisa, observando um assentamento agrcola constitudo durante a ocupao de uma fazenda, constataram as dificuldades que as lideranas do Movimento dos Sem Terra (MST) encontravam, aps a ocupao, em implementar os objetivos de produo coletiva56.
Entrevistas com os participantes do assentamento permitiram comparar as diferentes representaes sobre o que a terra significava para eles. Observou-se que todos os dirigentes do MST atribuam carter ideolgico posse da terra, enquanto que os simples participantes e os ativistas informais representavam a terra seja como me mstica e generosa, seja como um instrumento de subsistncia. No de estranhar que o sistema de produo coletiva, ligado ao projeto socializante do MST, seja totalmente aceito pelos dirigentes, cujas representaes da terra so ideolgicas, e praticamente ignorado pela maioria dos outros participantes, que possuem representaes ligadas ao carter fecundo da terra e relao individual com ela.
A influncia da insero em organizaes scio-polticas tinha j aparecido em nossos estudos sobre o comportamento eleitoral quando constatamos que a viso dos eleitores sobre a estrutura da sociedade relaciona-se no s com a definio ideolgica do partido de simpatia mas principalmente com a participao em certas organizaes da sociedade civil. Isso nos levou a supor'que a viso scio-poltica e a disposio em participar de atividades polticas desenvolveriam-se na participao dos jovens nas diversas organizaes da sociedade civil57.
Recentemente Moreland, Levine e Cini58 tm analisado a influncia do engajamento do sujeito nas atividades de um grupo em relao s suas disposies quanto a este grupo. Para estes autores, o grau de comprometimento com os objetivos do grupo seria ao mesmo tempo causa e conseqncia do processo de socializao no grupo.
______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan./jun.1996
33
3. Estudos de socializao poltica em termos de identidade
Este conjunto de constataes e reflexes nos dirigiu ao estudo do desenvolvimento poltico de jovens e adultos. Concretamente, voltamo-nos ao estudo da formao da identidade poltica do sujeito atravs da sua participao em organizaes da sociedade civil. Mais especificamente procuramos analisar como as diversas vises da estrutura social se desenvolvem juntamente com as identidades scio-polticas.
Iniciamos esta abordagem num estudo realizado com filhos de trabalhadores antes de seu ingresso no mercado de trabalho59. Observamos que a participao em organizaes sociais prediz o contato prvio com sindicalistas e o conhecimento do mundo sindical. Este conhecimento correlaciona-se com as opinies favorveis sobre sindicatos, varivel que a melhor preditora da disposio afiliar-se futuramente a um sindicato (Quadro 2).
Os resultados parecem sugerir a existncia de dois processos diferentes (mas no antagnicos) de socializao sindical. Um processo desenvolve-se no mbito das organizaes da sociedade que o jovem freqenta e influencia seus contatos e seus conhecimentos sindicais. O outro se processa na famlia e relaciona-se especificamente com aspectos mais avaliativos da socializao sindical, como as opinies etc.
Embora fique difcil avaliar a importncia de cada processo isoladamente, outros dados confirmaram a influncia da insero ativa do jovem na estrutura social sobre suas concepes do mundo. Constatamos que os jovens que se identificam com a classe trabalhadora, embora possuam os mesmos conhecimentos e as mesmas opinies sobre sindicatos que os outros, so os que tm maior disposio a filiar-se e os que acreditam mais na ascenso de classe atravs do processo coletivo da mudana social.
Mas de que maneira as diferentes formas de viso da estrutura social seriam afetadas pelo nvel de participao nas diversas organizaes da sociedade civil? Como se processa esta influncia?
Para responder a esta pergunta, decidimos estudar em crianas e jovens de 7 a 16 anos de idade, em Joo Pessoa, o desenvolvimento das vises da estrutura social, supondo que elas originam-se na percepo das desigualdades socioeconmicas numa sociedade.
Postulamos a existncia de dois fatores na evoluo destas formas de representao social. O primeiro fator seria o desenvolvimento
_______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan./jun.199634
Quadro 2
Coeficientes de correlao, obtidos atravs de um conjunto de correlaes mltiplas efetuadas pelo mtodo gradual, testandoos melhores preditores da disposio de jovens trabalhadores a filiar-se num sindicato.
de estruturas cognitivas cada vez mais complexas, o qual vai capacitando a compreenso das diversas perspectivas presentes nas relaes socio-econmicas60. O segundo fator seria a aquisio, a partir da insero ativa do indivduo no seu meio social, das vises sociais concretas prprias desse meio.
Estudamos crianas e adolescentes de trs meios sociais totalmente diferentes: uma escola particular muito bem conceituada
______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan./jun.1996
35
socialmente, uma escola pblica de um bairro da periferia e famlias de sindicalistas da CUT. Dividimos cada uma das trs amostras em trs grupos de idade: 8 a 9, 11 a 12 e 15 a 16 anos, idades cronolgicas que contemplam diversas fases do desenvolvimento cognitivo61.
No que diz respeito ao desenvolvimento dos critrios de categorizao social constatamos uma evoluo em funo da idade. As crianas mais novas utilizaram critrios concretos de posse ou de aparncia para caracteriz-los e nenhuma delas utiliza critrios mais. complexos. Os adolescentes, por sua vez, utilizaram critrios sociocntricos que tm em conta a perspectiva social, o que permitiu encontrar nesse grupo uma boa percentagem de respostas em termos de classe social.
Entretanto, as imagens dos grupos sociais foram influenciadas pelo meio social. A maioria dos alunos da escola particular caracterizam os pobres como miserveis e necessitados ou como marginais e s 10% os percebeu como cidados. J entre os alunos do colgio pblico, um tero deles os considerou cidados trabalha-dores e nenhum deles os qualificou de marginais. Observamos igual-mente que mais de 50% dos filhos de sindicalistas atribuam a existncia da pobreza estrutura social. Este tipo de explicao mal chegou a 10% nas outras amostras62.
Finalmente observamos que entre os que se identificaram com a classe baixa mais de 33% considerou os pobres como cidados bons, trabalhadores e sofridos. Estes jovens e crianas foram igualmente os que com maior freqncia expressaram espontaneamente afetos positivos para com os pobres e negativos para com os ricos.
Desejando aprofundar o estudo das consequncias, na viso da estrutura social, da identificao dos jovens com uma classe social, entrevistamos 362 jovens de Joo Pessoa que cursavam a 3a srie do 2o Grau, distribudos nas trs classes sociais. Pudemos observar inicialmente que a identificao com a prpria classe aumentava com o decrscimo do status grupal. Os que identificavam-se com a classe trabalhadora possuam maiores ndices de identificao com sua prpria classe que os jovens de classe mdia e de classe alta63.
No de estranhar que se possa observar nos jovens que identificaram-se com a classe trabalhadora o efeito da diferenciao grupal, a tendncia a favorecer o prprio grupo e diminuir os grupos opostos64 . De fato, aqueles que em nossos estudos identificaram-se com a classe trabalhadora avaliaram positivamente as caractersticas sociais de sua classe e negativamente as da classe alta e mdia65.
_______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan./jun.199636
Neste grupo constatamos correlaes significativas entre o grau de identificao com seu prprio grupo e a avaliao do grupo, o que indica que quanto mais um jovem se identifica com a classe trabalhadora mais ele a avalia positivamente. Ao contrrio, no foi observada esta relao nos jovens que se auto-classificaram nas outras classes sociais.
Os dados que estamos obtendo nas pesquisas sobre desenvolvimento poltico ajustam-se mal aos modelos clssicos de socializao. Na perspectiva funcionalista a socializao poltica servi-ria para dar continuidade sociedade pela aprendizagem gradual das normas, atitudes e comportamentos aceitos e praticados pelo sistema66. Este modelo, como observaram Moscovici e Faucheux67, limitase a explicar a tendncia ao continusmo, no dando conta das mudanas que se produzem numa sociedade.
As pesquisas que atualmente realizamos sobre o desenvolvimento poltico mostram a importncia do meio onde estas crianas e jovens vivem. Mas este meio s influente na medida em que eles identifiquem-se com a sua categoria social68, identificao que processase principalmente atravs da participao em organizaes sociais prprias desta categoria69.
Nossos dados sugerem um modelo de socializao que, alm de apontar a importncia do desenvolvimento de certas estruturas cognitivas como condies prvias da aprendizagem social clssica, mostra a necessidade de se estudar a participao dos jovens nas diversas organizaes da sociedade. atravs dessa participao ativa num grupo que eles constrem conjuntamente com os outros membros desse grupo, tanto um sistema grupal de valores e normas como representaes sociais sobre si mesmos e seus grupos.
Conclumos afirmando que os jovens no s adaptam-se a grupos j existentes (modelo clssico de socializao) mas tambm participam de grupos onde ativamente constrem suas normas e valores e suas identidades sociais. Pensamos que na dinmica social no so os indivduos que se socializam individualmente mas os grupos que se auto-definem nas relaes que mantm com os outros grupos70.
Diversos estudos tm mostrado que medida em que um grupo se engaja em atividades competitivas com outros grupos aumenta a nitidez de sua prpria imagem e a coeso dos membros entre si71 Pode-se ento afirmar que os grupos, ao engajarem-se em relaes intergrupais, socializam-se no mbito da sociedade,
______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan./jun.1996
37
diferenciando-se dos outros e adquirindo sua identidade. Os grupos e movimentos sociais definem-se com maior clareza nas situaes de conflito intergrupal. evidente pois que a participao ativa do sujeito nos conflitos intergrupais tanto refora seu sentimento de pertena ao grupo como colabora na construo da nova identidade do grupo.
Leoncio Camino professor doutor da Universidade Federal da
Paraba. Correspondncia para: Caixa Postal 5069 Cidade
Universitria - Joo Pessoa - PB - CEP 58051-970
ABSTRACT: (A psychosociological approach to the study of political behavior). In this paper we present the theoretical development of the Research Group on Political Behavior of the University of Paraiba during the last 20 years. In order to accomplish this aim we analyse the political context of the 1960s and 1970s and the theoretical approach that the Research Group intended to develop in that period. Special attention is given to Brazil's poltical changes between 1985 and 1988 and its consequences on the scientific activities of the Research Group. The Psychosociological approach, currently adopted, is described together with the research projects that are being developed and the data already obtained.
KEY WORDS: social psychology, political behavior, political identity, psychosociological analysis.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
1 As idias deste artigo foram apresentadas na Mesa Redonda: "Pesquisa, Ensino e Extenso na ABRAPSO", durante o 8o ENCONTRO NACIONAL DA ABRAPSO. Fortaleza, julho de 1995.
2 RODRIGUES, A. Aplicaes da psicologia social. Rio de Janeiro, Vozes, 1983.
3 MONTERO, M. Ideologia, alienacin e identidad nacional. Caracas: EBUC, 1984.
4 LANE, S. Psicologia social. So Paulo, Brasiliense, 1981., LANE, S. e CODO, W. Psicologia social: o homem em movimento. So Paulo, Brasiliense, 1983., MARTINBARO, I. Un psiclogo social ante la guerra civil en El Salvador. Revista de la Associacin Latinoamericana de Psicologia Social V. 2, p. 91-112, 1983. e CAMINO, L. Psicologia dialtica: novos horizontes na psicologia. Conferncia dada no I Seminrio de Pesquisa, Natal, 08 a 11 de maio de 1984.
5 CAMINO, L. "O movimento dos trabalhadores rurais do estado da Paraba". Proposta Experincia Educao Popular, n. 26, p. 29-32, 1985. e CAMINO, L. Psicologia e
_______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan./jun.199638
educao popular. Revista de Psicologia, v. 5, p. 21-8, 1987.
6 CAMINO, L. e VERAS, R. Formao de quadros: propostas para um trabalho de educao popular no sindicalismo rural da Paraba. Cadernos do CENTRU, n. 2, 1985. 7 Comunicao realizada na I JORNADA NORDESTINA DE PSICOLOGIA, por CAMINO, L. intitulada "Objetivos e natureza da linha de pesquisa participante', Natal, outubro de 1984.
8 AMADO, V. O engajamento nos movimentos sociais: origem de Z Pio, movimento de oposio sindical da construo civil de Joo Pessoa. Dissertao (Mestrado em Psicologia) - Universidade da Paraba, 1988. e CAMINO, L. e AMADO, V. Anlise psicossocial dos engajamentos nos movimentos sociais. In: XXII Congresso Interamericano de Psicologia, Buenos Aires, 25 a 30 de junho de 1989.
9 NOBRE, G. F. O desenvolvimento do sindicalismo rural na Paraba. Dissertao (Mestrado em Psicologia) - Universidade Federal da Paraba, 1988.
10 CAMINO, L.; MENDONZA, R; AMADO, V. e COSTA, J. B. A construo de uma linha marxista de pesquisa em psicologia: um estudo de caso. In: Intercmbio de experincias prticas y teoricas. Havana, Editora da Universidade de la Havana, 1988, v. 1, p. 139-45. e MARX, K. Teses sobre Feuerbach. So Paulo, Hucitec, 1986.
11 SANCHEZ VASQUEZ, A. Filosofia da prxis. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977.
12 MOSCOVICI, S. Preface. In: JODELET, D; VIET, J. e BERNARD, P. (eds.) La psychologie sociale: une discipline en mouvement. La Haye, Monton, 1970.
13 JESUNO, J. C. A psicologia social europia. In: VALA, J. e MONTEIRO, M. B. (eds) Psicologia social. Lisboa, Fundao Calouste Gulberikian, 1993.
14 MOSCOVICI, S. (op. cit. nota 12).
15 TAJFEL, H. Human groups and social categories. New York, Cambridge Unversity Press, 1981.
16 MOSCOVICI, S. e FAUCHEUX, C. Social influence, conformity bias and the study of active minorities. In: BERKOWITZ, L. (ed.) Advances in experimental social psychology. New York, Academic Press, v. 6, p. 150-202, 1972.
17 DOISE, W. L'articulation psychosociologique et les relations entre groupes. Bruxelas, De Boeck, 1976.
18 BOBBIO, N. Poltica. In: BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N. e PASSQUINO, G. Dicionrio de poltica. Braslia, Editora da Universidade de Braslia, p. 954-62, 1986 e HELLER, A. The concept of poltical revisited. In: HELD, D. (ed). Poltical theory today. Califomia, Stanford University Press, p. 330-43, 1991.
19 BOTTOMORE, T. Political sociology. London, Hutchinson e Co, 1979.
20 EASTON, D. A system analysis of poltical life. Wiley, 1965.
____________A re-assessment of the concept of political suport. British Journal of Political Science, v. 5, 1975, p. 435-57.
21 MERTON, R. Social of theory and social structure. Glencoe, Free Press, 1975.
22 MARX, K. Manuscritos econmicos e filosficos. In: GIANNOTI, J. A. (ed). Karl Marx. So Paulo, Abril Cultural, 1974. (Pensadores)
23 MARX, K. e ENGELS, F. A ideologia alem. So Paulo, Hucitec, 1986.
24 SCHENEIDER, D.J. Social cognition. Annual Review of Psychology, New York, v. 42, p. 527-61, 1991 e MARKUS, H. e ZAJONC, R B. The cognitive perspective in social psychology. In: LINDZEI, G. e ARONSON, E. (eds). Handbook of social psychology. 3th ed. Massachussets, Addison e Wesley, 1985.
25 Ver HIGGINS, E. T.e BARGH, J. A. Social cognition and social perception. Annual Review of Psychology, New York, V. 38, p. 369-425, 1987.; HOLYOAK, K. J. e GORDON, P. C. Information processing and social cognition. In: WYER, R S. e SRULL, T. K. (eds). Handbook of socialcognition, New Jersey, Lawrence Erlbaun, 1984. v. 1. ;
______________________________________________________________
CAMINO, L. Uma abordagem psicossociolgica no estudo do comportamento poltico Psicologia & Sociedade; 8(1): 16-42; jan./jun.1996
39
HUNTT J. M. Traditional personality theory in the light of recent evidence. In:
HOLLANDER, E. P. e HUNT, R. G. Ceds). Current perspectives in social psychology. 2nd ed. New York, University Press, 1967.; LANDMAN, J. e MANIS, M. Social cognition: some historical and theoretical perspectives. In: Advances in experimental social psychology. New York, Academic Press, 1983. v. 16.; MARKUS, H. e ZAJONC, R. B. (op. cit. nota 24); SCHENEIDER, D. J. (op. cit. nota 24). e STHEPHAN, W. G. Intergroup relational In: LINDZEY, G. e ARONSON, E. Ceds). The handbook of social psychology. New York, Random House, 1985. v. 2.
26 SAMPSON, E. E. Social psychology and contemporary society. New York, John Wiley & Sons, 1971. e MOSCOVICI, S. (op. cit. nota 12).
27 BERGER, P. L. e LUCKMAN, T. A construo social da realidade. Petrpolis, Vozes, 1973.
28 MOSCOVICI, S. Le psychanalyse, son image et son publico Paris: Presses Universitaires de France, 1961.
29 STEPHAN, W. G. (op. Cit. nota 25). BREWER, M. B. e KRAMER, RM. The psychology of intergroup attitudes and behavior. Annual Review of Psychology, New York, V. 36, p. 219-43, 1985.
30 STEPHAN, W. G. (op. Cit. nota 25).
31 TAJFEL, H. (op. cit. nota 15)., TAJFEL, H. e TURNER, J. C. An integrative theory of intergroup conflict. In: AUSTIN, W. G. e WORCHEL, S. Ceds). The social psychology of intergroup relations. Monterrey, Brooks/Cole, 1979. e TURNER, J. C. e GILLES, H. Intergroup behavior. Chicago, The University of Chicago Press, 1981.
32 TAJFEL, H., BILLIG, M., BUNDY, R e FLAMENT, C. Social categorization and intergroup behavior. European Journal of Social Psychology, 2, p. 149-78. 1971.
33 TAJFEL, H. Experiments in vacuum. In: ISRAEL, J. e TAJFEL, H. Ceds). The contex of social psychology: a critical assessment London, Academic Press, 1972.
34____________ op. cit. nota 15.
35 Comunicao realizada no 4 SIMPSIO BRASILEIRO DE PESQUISA E INTERCMBIO DA ANPEPP, por CAMINO, L. intitulado "Uma articulao psicossociolgica na anlise do comportamento poltico" Braslia, de 07 a 09 de maio de 1992.
36 VALA, J. As representaes sociais no quadro dos paradigmas e metforas da psicologia social. Anlise Social, 27, p. 887-919, 1993.
37 CAMINO, L. Mediadores psicossociais do comportamento eleitoral. In. XXII CONGRESSO INTERAMERICANO DE PSICOLOGIA, Buenos Aires, 25 a 30 de junho de 1989.
38 FISICHIELLA, D. Comportamento eleitoral. In: BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N. e PASQUINO, G. (eds). Dicionrio de poltica. Braslia, Editora da Universidade de Braslia, 1986. p. 189-92.
39 BERGER, P. L. e LUCKMAN, T. (op. cit. nota 27). e VALA, J. (op. cit. nota 36).
40 CAMINO, L. Anlise psicossociolgica do comportamento eleitoral: a construo de um modelo emprico. In: XLV REUNIO ANUAL DA SBPC. Recife, 11 a 16 de julho de 1993.
41 Idem nota 35.
42 Idem nota 37.
43 Idem nota 35.
44 O Grupo de Estudos est preparando o livro Voto, participa