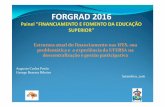Uma análise da descentralização e do financiamento público...
Transcript of Uma análise da descentralização e do financiamento público...
1
Uma análise da descentralização e do financiamento público da alfabetização e educação
básica de jovens e adultos no Brasil1
Maria Clara Di Pierro2
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo
José Marcelino de Rezende Pinto
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
Introdução
Os dados do Censo Demográfico de 2010 confirmaram o que as pesquisas amostrais
vinham indicando ao longo da década: o Brasil ainda tem mais 14 milhões de jovens e adultos que
declaram não saber ler ou escrever um bilhete simples, o que representa 9,6% das pessoas com 15
anos ou mais de idade. Outros 20% são considerados analfabetos funcionais por possuírem
escolarização reduzida e de má qualidade, que não lhes assegura um manejo apropriado da leitura
e da escrita para responder às exigências cotidianas em ambientes letrados ou para prosseguir
aprendendo ao longo da vida. Por detrás dessas médias nacionais encontram-se profundas
desigualdades entre as classes sociais, gerações e regiões geográficas: o analfabetismo é mais
agudo entre as pessoas mais pobres e com mais de 60 anos, os afrodescendentes, moradores das
zonas rurais e da região Nordeste do país (Tabela 1). A despeito das políticas de educação de
jovens e adultos e dos programas de alfabetização desenvolvidos no período, o analfabetismo
regrediu apenas 29% no transcorrer da década, um ritmo bastante lento quando consideradas as
décadas anteriores, as metas perseguidas no planejamento nacional e os compromissos assumidos
nos âmbitos nacional e internacional.
Enquanto os levantamentos demográficos contabilizaram mais de 57 milhões de jovens e
adultos com idade superior a 18 anos com escolaridade inferior ao ensino fundamental que não
estudam, indicando uma extensa demanda potencial por oportunidades de aprendizagem ao longo
da vida, as estatísticas educacionais para o ano de 2011 registraram apenas 4.046.169 matrículas
1 Documento de referência para o 2º Relatório Global sobre Educação e Aprendizagem de Adultos (GRALE),
apresentado ao Instituto da Unesco de Aprendizagem ao Longo da Vida (Hamburgo, Alemanha) em fevereiro de 2012.
2 Os autores agradecem a colaboração de Roberto Catelli Jr., Bruna Gisi M. de Almeida e Mariana Sucupira (da Ação
Educativa) e de Rosilene Silva Vieira (da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo).
2
no ensino de jovens e adultos (2/3 das quais no ensino fundamental, e 1/3 no ensino médio), o que
representava 7,9% do total de inscritos na educação básica. No ano em que as matrículas na
educação básica de jovens e adultos alcançaram o ápice, em 2006, os índices médios de
atendimento da demanda potencial eram de apenas 9% para a alfabetização, 9,2% para o primeiro
ciclo do ensino fundamental, 6,7% para o segundo ciclo do ensino fundamental, e 7,4% para o
ensino médio (GATTO, 2008, p. 225). Mais preocupante que o baixo índice de cobertura,
entretanto, é a análise de tendência, que evidencia um paradoxo: havendo consenso sobre a
necessidade de elevar a escolaridade média da população, as matrículas e o número de escolas que
oferecem ensino básico aos jovens e adultos vêm diminuindo desde 2004, e mais acentuadamente
a partir de 20063 (Tabela 2). O recuo ocorre nas cinco regiões geográficas, em todas as etapas da
educação básica, incluindo o primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental e também o ensino
médio, sendo mais acentuado nas redes estaduais do que nas redes municipais de ensino.
Esses dados indicam que as políticas públicas de educação de jovens e adultos têm sido
pouco efetivas, e impõem identificar os entraves e superá-los. Com esse objetivo, este texto
examina brevemente dois aspectos-chave das políticas públicas de alfabetização e educação de
jovens e adultos no Brasil: a distribuição de responsabilidades entre as esferas de governo e o
financiamento público atribuído à modalidade de ensino.
Antecedentes e marco legal
Desde 1899, quando da proclamação da República, o Estado brasileiro foi organizado
como Federação com três níveis de governo: nacional, estadual e municipal. Com extenso território
3 As análises da evolução das matrículas na educação básica no Brasil devem considerar a mudança de metodologia
de coleta do Censo Escolar ocorrida em 2006. Entretanto, essa mudança por si só não justifica a queda no número de
inscritos no ensino básico de jovens e adultos, pois o fenômeno persistiu nos anos subsequentes.
3
e numerosa população4, a federação brasileira conta hoje com 26 estados, um Distrito Federal e
mais de 5.500 municípios, todos muito heterogêneos entre si no que se refere ao porte e à riqueza5.
Desde 1824, no período do Império, a responsabilidade pela provisão da instrução
elementar foi atribuída às províncias e cidades, dedicando-se o governo nacional ao ensino
superior das elites. A proclamação da República em 1889 acentuou a natureza descentralizada e
fragmentada das políticas de instrução popular, de modo que a oferta e a qualidade do ensino
básico reproduzem as diferenças de riqueza entre as regiões e unidades da Federação. A história
das políticas de educação tem sido marcada pelo desafio da equidade em um país continental e
desigual, mantendo as relações federativas e o regime de colaboração entre as esferas de governo
na provisão do ensino na pauta do debate público e acadêmico.
A configuração contemporânea do Estado brasileiro e as bases das políticas públicas de
educação básica foram delineadas a partir da década de 1930, quando o governo nacional
estruturou a administração do setor e promulgou leis de caráter mandatório que tornaram a
instrução elementar obrigatória e gratuita e vincularam um percentual da arrecadação de impostos
das três esferas de governo para o financiamento do ensino. Nos cinquenta anos subsequentes, em
que se alternaram períodos ditatoriais e democráticos, enquanto o sistema educacional se expandiu
para abrigar contingentes mais amplos de estudantes provenientes de todas as camadas sociais, as
leis e as políticas educacionais sofreram modificações, mantendo-se a provisão descentralizada do
ensino básico. O financiamento baseado na vinculação constitucional de tributos, entretanto,
vigorou apenas nos períodos democráticos (1934-1937; 1946-1967; 1988 aos dias atuais).
A Constituição democrática vigente na atualidade, promulgada em 1988, reafirmou essa
herança histórica: Estados e Municípios são obrigados a destinar 25% da receita de impostos
(incluídas as transferências intergovernamentais) para a manutenção e desenvolvimento do ensino,
enquanto a União deve destinar a essa finalidade 18% da respectiva receita. Se de um lado assegura
fontes continuadas de recursos para a educação, a vinculação constitucional de impostos submete
4 O Censo Demográfico de 2010 contabilizou uma população de mais de 190 milhões de habitantes, 84% dos quais
vivendo em zonas urbanas, e predomínio de jovens entre 15 e 29 anos (36%) e adultos entre 30 e 59 anos (37%).
5 De acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o período 2005-2009,
cinco municípios – São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte –, que concentravam 12,6% da
população nacional, respondiam por 25% da riqueza gerada no país.
4
o financiamento público do setor às oscilações cíclicas da economia, bem como às políticas fiscal
e tributária6. Até o presente, em que o gasto público em educação alcançou o patamar de 5% do
PIB, esse modelo de financiamento não assegura um investimento mínimo por aluno suficiente
para prover um ensino de qualidade (conforme atestam as comparações internacionais7 e as
avaliações sistêmicas), o que faz com que as metas e fontes de investimento ocupem o centro do
debate no Congresso Nacional sobre o novo Plano Nacional de Educação (box).
Box
A Educação de Jovens e Adultos no Plano Nacional de Educação 2012-2022
Tramita desde 2010 no Congresso Nacional o Projeto de Lei 8035 que trata do II Plano Nacional
de Educação da era pós-redemocratização, cujo desafio maior é fazer cumprir a Emenda 59 à
Constituição, que prevê a superação do analfabetismo entre os jovens e adultos e a ampliação
da educação compulsória dos 4 aos 17 anos de idade, de modo a universalizar a pré-escola, o
ensino fundamental e médio. O projeto determina também a ampliação do número de anos de
estudos da população de jovens e adultos, e do acesso ao ensino superior.
O Projeto do poder executivo contempla apenas parcialmente as resoluções da Conferência
Nacional de Educação (CONAE) - convocada pelo próprio governo -, mas projeta metas
ambiciosas para a educação de jovens e adultos: elevar a 12 anos de estudos a escolaridade da
população de 18 a 24 anos; elevar os índices de alfabetização da população com 15 anos ou mais
para 93,5% em 2015 e 100% em 2020; reduzir à metade a taxa de analfabetismo funcional;
elevar para 25% da matrícula total a educação profissional integrada ao ensino fundamental e
médio.
6 Nas últimas décadas as políticas tributárias pautaram-se pela criação de outro tipo de tributos que não se caracterizam
como impostos, os quais atualmente representam apenas metade da carga tributária, o que diminui a base de cálculo
sobre a qual incide a vinculação de recursos para a educação. Além dos recursos advindos da receita de impostos, o
ensino elementar de crianças, jovens e adultos depende também de uma fonte adicional de recursos proveniente de
uma contribuição social compulsória criada na década de 1960 que incide sobre a folha de pagamento das empresas,
denominada Salário-Educação, cuja receita atual corresponde a 0,3% do PIB.
7 De acordo com a publicação da OCDE Education at a Glance 2009, o investimento por aluno no ensino primário no
Brasil equivale a 1/6 do efetivado nos Estados Unidos e ¼ da média dos países da Organização, situando-se abaixo
do efetivado em outros países latino-americanos, como o Chile e o México.
5
No debate público e parlamentar, o principal ponto de dissenso reside na fixação da meta de
investimento público, expressa em proporção do PIB, que o governo estima em 7% e que a
CONAE definiu em 10%. Dentre outras omissões, as estimativas de custo do projeto do governo
não preveem recursos específicos para a alfabetização de jovens e adultos. Segundo nossos
cálculos, o cumprimento das metas do Plano implicaria elevar progressivamente o investimento
público na educação de jovens e adultos a um patamar de 0,86% do PIB até 2016 e 1,5% do PIB
até 2020, com a progressiva redução desses índices a partir dessa data.
A Carta Magna de 1988 deu continuidade à duplicidade de redes de escolares mantidas
pelos poderes públicos e aprofundou a orientação descentralizadora, elevando os municípios à
condição de entes autônomos, autorizados a eleger os representantes nos poderes executivo e
legislativo, a instituir e arrecadar tributos, governar segundo lei orgânica municipal e estruturar
sistemas de ensino próprios8. A Constituição também responsabilizou os governos subnacionais
pela provisão universal do ensino básico público e gratuito, com a colaboração técnica e financeira
da União. Como a mediação redistributiva do governo federal é insuficiente, esse padrão
descentralizado tende a reproduzir as desigualdades sócio territoriais, fazendo com que mesmo
municípios vizinhos de um mesmo Estado apresentem patamares de investimento por aluno muito
díspares, ou que escolas mantidas por diferentes redes de ensino em uma mesma unidade federada
apresentem padrões de qualidade marcadamente desiguais9.
A Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional definem como
Educação Básica o contínuo formado pela educação infantil (para crianças de 0 a 5 anos, em
creches e pré-escolas), o ensino fundamental (para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos ou jovens
e adultos que a ela não tiveram acesso na infância ou adolescência), e o ensino médio (para
8 Até 1988 os Municípios podiam manter redes escolares, mas não tinham autonomia, submetendo-se às políticas,
supervisão e normas estaduais. A Constituição atual não obriga, mas permite que os municípios configurem sistemas
de ensino próprios, desde que constituam conselhos de educação responsáveis por definir as normas no seu âmbito, o
que já acontece em boa parte deles.
9 Para exemplificar a magnitude das disparidades regionais, basta mencionar que a arrecadação de impostos por
habitante do rico Estado de São Paulo é o dobro daquela do Maranhão, um dos mais pobres do país. Para uma visão
da enorme variabilidade de gasto realizado nas diferentes regiões e estados, segundo as redes de ensino e etapas da
educação básica, consultar: Farenzena et al, 2005.
6
adolescentes de 15 a 17 anos ou jovens e adultos que a ela não tiveram acesso na infância ou
adolescência). A distribuição de responsabilidades pela oferta do ensino básico atribuiu aos
municípios a provisão da educação infantil, e aos estados a manutenção do ensino médio; e ambos
– em regime de colaboração, e com a assistência da União -, devem assegurar a todas as crianças,
jovens e adultos o direito público subjetivo ao ensino fundamental. A Constituição reserva para a
União o papel de coordenação nacional, a prerrogativa de legislar sobre diretrizes e bases da
educação, e as obrigações de coordenar o planejamento plurianual e a avaliação dos sistemas de
ensino. Quanto à educação básica, a União cumpre função supletiva e redistributiva, ficando
desobrigada de manter escolas próprias, o que lhe permite investir na rede federal de ensino
superior a maior parte da receita vinculada à educação.
A iniciativa privada é livre para atuar no campo educacional, mas (excetuadas algumas
modalidades de bolsas de estudos) a legislação restringe o subsídio público às organizações sociais
e instituições de ensino particulares sem fins lucrativos. Na atualidade, o setor privado com fins
de lucro tem seus interesses concentrados no ensino superior, onde responde por ¾ das matrículas;
na educação básica, sua participação é inferior a 20% do total. Por outro lado, a maior parte da
formação profissional realizada no país se encontra sob gestão privada, a cargo de um subsistema
criado na segunda metade do século XX, financiado com recursos paraestatais administrados por
confederações empresariais10.
As políticas públicas e o financiamento de educação de jovens e adultos na segunda metade
do século XX
A educação de jovens e adultos constituiu, ao longo da história republicana brasileira, um
capítulo particular, pois desde o final da década de 1940 o governo nacional desempenhou
importante papel indutor, estimulando – inclusive com incentivos financeiros – os governos
10 Formado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), dos Transportes (SENAT) e Rural (SENAR),
pelo Serviço Social da Indústria (SESI) e do Comércio (SESC), e por outras instituições voltadas à formação
profissional, assistência social e educacional, ao esporte e à cultura dos trabalhadores, o Sistema S (como é conhecida
essa rede) geriu em 2007 um orçamento de R$11,8 bilhões
(http://www2.conselhonacionaldosesi.org.br/site/content/forum_sist_s/forum_sist_s_sobre_forum.php). O controle
público do uso desses recursos ainda é incipiente e é tema politicamente controverso, que continua sem
equacionamento na legislação vigente.
7
subnacionais a se engajarem em campanhas e programas de alfabetização e elevação de
escolaridade, em que organizações civis de natureza diversa também estiveram envolvidas. A
indução federal foi responsável, em grande medida, pela constituição dos serviços públicos de
educação de jovens e adultos dos estados e municípios.
Os estados estruturaram serviços de educação de jovens e adultos a partir das campanhas
de alfabetização promovidas pelo governo federal nos anos 50 e 60 do século XX. Durante o
regime militar, nos anos 1970, num contexto de urbanização e crescimento econômico, os estados
expandiram os cursos acelerados e exames de certificação em obediência à legislação que instituiu
o ensino supletivo, de modo a preparar e absorver no mercado de trabalho urbano o afluxo de
migrantes rurais pouco escolarizados. Também nessa época, os municípios começaram a atuar na
educação de jovens e adultos como parceiros do governo federal na campanha de alfabetização
intitulada Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) e, na transição à democracia, do
organismo que sucedeu o Mobral, a Fundação Educar. Esse processo de progressiva
responsabilização dos governos subnacionais pela provisão da alfabetização e do ensino elementar
de jovens e adultos culminou na Constituição de 1988, que incluiu as pessoas com idade superior
a 14 anos entre os sujeitos do direito público subjetivo ao ensino fundamental, cuja provisão é
responsabilidade concorrente dos Estados e Municípios, com a assistência técnica e financeira da
União. A alfabetização e educação básica dos jovens e adultos, contudo, ainda hoje ocupa posição
secundária no rol de prioridades dos governos, e representa proporções reduzidas da matrícula,
bem como do gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino, como veremos mais adiante.
Durante a segunda metade da década de 1990, o governo federal brasileiro – incitado pelas
novas demandas sociais por conhecimento e competitividade, pelos diagnósticos críticos do
desempenho do sistema educativo, pela iniciativa de Educação para Todos e pelo assessoramento
de organismos internacionais -, liderou um processo de reforma que priorizou a universalização
do ensino elementar das crianças e adolescentes e impulsionou a descentralização da provisão e
financiamento da educação básica, retendo para si mecanismos de regulação e controle como a
definição de parâmetros curriculares e os sistemas de avaliação de resultados (OLIVEIRA, 2000).
Ao lado da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, o principal
instrumento dessa reforma foi o condicionamento do financiamento da educação a um regime de
fundos que focalizou e subvinculou 60% dos recursos atribuídos à educação pelos estados e
8
municípios à ampliação da matrícula escolar do ensino fundamental de crianças e adolescentes,
bem como à melhoria da formação e das condições de trabalho dos docentes. Ao aprovar a
instituição desses fundos, o Congresso incluiu o ensino de jovens e adultos entre os beneficiários,
mas o Presidente Fernando Henrique Cardoso vetou essa parte da lei com o intuito de minimizar
a complementação financeira devida pelo governo federal aos Estados mais pobres, mantendo
assim coerência com a diretriz de contenção do gasto social público e com as demais medidas de
ajuste estrutural da economia então realizado nos moldes neoliberais (DI PIERRO, 2001, 2005;
GOUVEIA, 2008).
Vigente por uma década, o FUNDEF (sigla pela qual a política de fundos do período 1997-
2006 ficou conhecida) induziu a uma maior participação dos municípios na oferta do ensino
fundamental e, embora tenha logrado um significativo incremento da cobertura escolar na faixa
etária de 7 a 14 anos, assim como uma discreta elevação do piso salarial docente nos municípios
mais pobres, não equacionou questões cruciais como a qualidade do ensino e as desigualdades
regionais, até mesmo porque o governo federal – a quem caberia exercer a função redistributiva -
se absteve de participar com recursos mais substantivos dos fundos estaduais, contribuindo com
apenas 3% do total11. Esse processo de ampliação das responsabilidades dos municípios pela oferta
das matrículas do ensino fundamental não é sustentável, pois os fundos são temporários, faltando
mecanismos institucionalizados de redistribuição entre as esferas de governo, já que na federação
brasileira os municípios são o ente com menor parcela na receita tributária líquida, de cerca de
16% do total, ao passo que em 2011 já respondiam por 45,7% da matrícula da educação básica.
Nesse período, os demais níveis e modalidades de ensino – inclusive a educação de jovens
e adultos – sofreram severas restrições de financiamento e amargaram posição secundária na
agenda de políticas educacionais. O governo federal absteve-se do papel indutor que
historicamente desempenhou nas políticas de educação de jovens e adultos, recolhendo-se
11 A União pôde manipular sua contribuição para os FUNDEF, pois o Executivo Federal detinha a prerrogativa de
estabelecer os valores mínimos de investimento por aluno ao ano, os quais foram continuamente subestimados.
Alertados por essa experiência, os dirigentes dos Estados e Municípios pressionaram o Congresso para que o novo
fundo (FUNDEB), criado na década seguinte, fosse estabelecido um patamar mínimo de participação da União, e que
a fixação do valor mínimo por aluno ao ano fosse definida por uma comissão tripartite, em que os governos
subnacionais têm maioria.
9
discretamente em funções de regulação e delegando ao empresariado e aos cidadãos grande parte
do financiamento do Programa Alfabetização Solidária, posteriormente convertido em
organização não governamental. Reagindo a esse processo de retração do papel do Estado, os
atores sociais desse campo – educadores, pesquisadores, técnicos, lideranças e ativistas de
organizações sociais - se articularam em fóruns, constituindo um movimento nacional em prol da
educação de jovens e adultos que monitora e incide nas políticas educacionais nos âmbitos estadual
e nacional.
Para remediar parcialmente a escassez de meios de financiamento da educação de jovens e
adultos no contexto do FUNDEF, e respondendo às críticas e à pressão dos governos subnacionais
e dos fóruns, a União criou em 2001 um mecanismo de apoio aos municípios e estados mais pobres
que mantivessem serviços de educação de jovens e adultos. Denominado Recomeço, esse
programa focalizava os municípios com baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)12 e
provia uma suplementação orçamentária proporcional ao número de matrículas no ensino
fundamental de jovens e adultos. A partir de 2003, já sob o governo subsequente, esse programa
foi estendido a todos estados e municípios que mantivessem oferta de ensino fundamental para
jovens e adultos, recebendo a denominação Fazendo Escola e operando até 2006, às vésperas da
vigência do novo Fundo, que viria a contemplar também a educação de jovens e adultos (Tabela
3). Contudo, quando realizamos uma análise retrospectiva, comparando com os mecanismos de
financiamento adotados posteriormente, verificamos que o Programa Fazendo Escola foi mais
eficiente na indução da expansão das oportunidades de estudos para os jovens e adultos do que a
inclusão da modalidade no Fundo de financiamento da educação básica (FUNDEB), como ver-se-
á adiante.
Ao final de século XX, o analfabetismo entre os jovens e adultos brasileiros regrediu
lentamente, e o pequeno incremento observado nos índices de escolaridade deveu-se, sobretudo, à
ampliação dos anos de estudos da população jovem, combinada à dinâmica demográfica (Tabela
4).
12 Trata-se do indicador criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) que pondera
variáveis econômicas e sociais.
10
Os fenômenos mais relevantes nas políticas de educação de jovens e adultos do período
foram a difusão das parcerias entre o poder público e as organizações sociais na provisão dos
serviços educativos, especialmente na alfabetização, e o crescimento da participação dos
municípios na oferta educativa, pois apesar das condições adversas do financiamento, no período
de vigência do FUNDEF (1997 a 2006) a matrícula no ensino fundamental presencial de jovens e
adultos teve um incremento total de 59%, enquanto que esse crescimento nas redes municipais de
ensino foi de 257% (Tabela 5). Observa-se, assim, que a municipalização transcorreu pela
transferência de atribuições dos estados para os municípios, e também pela expansão do
atendimento municipal. A mesma Tabela demonstra que, não obstante o declínio das matrículas
no quinquênio 2006-2010, a participação relativa dos municípios na oferta manteve-se no patamar
de 60%. Os estados, por sua vez, redirecionaram seus recursos para o ensino médio de jovens e
adultos que, partindo de um atendimento muito reduzido até 1997, se expandiu no transcorrer da
década, sobretudo pelo incremento da matrícula nas redes de escolas estaduais (Tabela 6). O
crescimento da matrícula na educação de jovens e adultos nas adversas condições de financiamento
do período de vigência do FUNDEF provavelmente se deve à demanda social, uma vez que a
transição do milênio foi marcada pela elevação dos requisitos de escolaridade para permanência e
progressão no mercado de trabalho, bem como pela crescente importância da informação e do
conhecimento para a participação na vida política e cultural.
A indisponibilidade de indicadores nacionais de desempenho13 impede avaliar com rigor
os resultados dessa descentralização e expansão quantitativa realizada em condições de recursos
escassos, mas é legítimo inferir, com base na literatura disponível (que enfatiza os elevados índices
de abandono dos cursos), que a educação básica de jovens e adultos continuou se desenvolvendo
com sérios problemas de relevância e qualidade, decorrentes da abordagem estritamente setorial
(que raramente articula formação geral e para o trabalho), da inadequação dos currículos e rigidez
do modelo escolar prevalente, da improvisação de instalações físicas, rotatividade e despreparo
13 O Censo Escolar realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) coleta
dados de rendimento e fluxo escolar do ensino básico de jovens e adultos, entretanto não os tem divulgado, alegando
que, devido à flexibilidade e diversidade de formas de organização dos cursos e metodologias de registro escolar num
sistema descentralizado, os dados coletados são de difícil compatibilização.
11
dos educadores, insuficiência de materiais didáticos apropriados e ausência de meios de assistência
aos estudantes que incentivem e viabilizem sua permanência nas escolas.
Um dos efeitos da desconsideração das matrículas no ensino de adultos para os cálculos do
FUNDEF foi a reorientação de uma parte da demanda para outras formas de atendimento ou o
simples falseamento das estatísticas, configurando as turmas da modalidade como se foram classes
de aceleração do ensino regular, de que encontramos evidência na Tabela 7, mostrando que um
terço dos jovens e adultos inscritos na educação básica em 2006 frequentavam cursos outros que
não os da modalidade. Esse tipo de distorção na identidade pedagógica dos cursos tem reflexos
negativos na adequação da organização escolar, do currículo, dos materiais didáticos e do preparo
dos docentes para atender às necessidades de aprendizagem dos jovens e adultos.
As políticas públicas e o financiamento de educação de jovens e adultos no início do terceiro
milênio
No início do novo milênio, em um contexto econômico mais favorável, a alternância
política no governo federal conduziu a redefinições nas políticas econômica, social e educacional.
Sob a Presidência de Lula da Silva, o Ministério da Educação procurou adotar uma perspectiva
mais sistêmica, pela qual a prioridade conferida à educação compulsória das crianças e
adolescentes não se desenvolvesse em detrimento aos demais níveis e modalidades de ensino.
Esgotada a capacidade de investimento dos estados e municípios, essa reorientação implicou um
incremento da participação federal no financiamento da educação básica.
Nesse contexto, a alfabetização e a elevação de escolaridade e pessoas jovens e adultas
voltaram a ocupar a atenção do governo federal, que em 2003 lançou a campanha de alfabetização
Brasil Alfabetizado e em 2005 instituiu um programa de elevação de escolaridade, iniciação
profissional e formação para a cidadania denominado ProJovem, destinado a jovens de baixa renda
de 18 a 24 anos com ensino fundamental incompleto. Ambos são programas modelados e
financiados com recursos federais, porém, executados de modo desconcentrado pelos estados e/ou
municípios, mediante adesão voluntária.
Ainda em 2005, a pequena e prestigiosa rede de centros federais de ensino técnico e
educação tecnológica foi compelida a ocupar-se também dos jovens e adultos por meio da
educação profissional integrada ao ensino básico, num programa conhecido pela sigla PROEJA.
12
Iniciativas herdadas do governo anterior, como o Programa Nacional de Educação na
Reforma Agrária – PRONERA e o Exame Nacional de Certificação de Competências da Educação
de Jovens e Adultos – ENCCEJA, foram reformulados e ampliados14.
A gestão dos diversos programas está dispersas em diferentes ministérios e órgãos federais,
de modo que a Diretoria de Políticas de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de
Alfabetização, Educação Continuada, Diversidade e Inclusão (SECADI) do Ministério da
Educação até hoje não logrou uma efetiva coordenação de todas as ações do governo federal.
Somados, os dois principais programas federais de alfabetização e elevação de escolaridade
de jovens e adultos – Brasil Alfabetizado e Projovem - executaram, em 2008, um orçamento
recorde de mais de R$ 727 milhões (Tabela 8) e, em 2010, contabilizaram mais de 1,8 milhão de
participantes. Envolvendo investimentos significativos e números multitudinários de inscritos,
ambos os programas têm frustrado as expectativas geradas: no caso do Brasil Alfabetizado, são
escassos os resultados de aprendizagem e reduzido o número de participantes que dá continuidade
nos estudos (Tabela 9); no caso do ProJovem, a proficiência final dos estudantes é inferior à média
nacional do ensino público, resultado negativo que se soma ao elevado índice de abandono dos
cursos, persistente apesar do subsídio financeiro concedido aos estudantes para viabilizar e
incentivar sua permanência15 (Brasil, 2010; ProJovem Urbano, 2010).
Por outro lado, os estados e municípios que aderem aos programas federais para receber
um aporte adicional de recursos ao escasso financiamento das atividades de educação de jovens e
adultos, necessitam ajustar-se aos critérios e procedimentos diferenciados de cada um dos
programas e órgãos federais, desdobrando-se para atender múltiplas exigências administrativas e
pedagógicas, o que nem sempre está ao alcance das frágeis estruturas de gestão da educação dos
14 A trajetória do ENCCEJA, desde que foi instituído em 2002, foi descontínua, o que se reflete no número de estados
e municípios que aderem ao Exame e na intensa variação no número de inscritos de cada edição. A tendência
dominante, porém, é de crescimento do número total de participantes que, segundo o INEP, evoluiu de 14.488 em
2002 para 846.182 em 2008, declinando para 681.771 em 2010, com predomínio na atualidade dos candidatos ao
diploma do ensino médio, cuja certificação, desde 2009, passou a ser realizada através do Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM).
15 Um dos diferenciais do Projovem, que eleva substancialmente seus custos, é a concessão de um auxílio mensal de
R$ 100 aos estudantes que mantenham frequência superior a 75% das aulas.
13
municípios mais pobres e de menor porte. A tentativa da SECADI de superar essa dificuldade
contratando temporariamente consultores para apoiar alguns municípios com esse perfil do Norte
e Nordeste do país teve pequena abrangência, não se mostrou efetiva nem sustentável por prazos
mais longos.
A principal mudança na colaboração intergovernamental para a educação de jovens e
adultos ocorreu a partir de 2006, quando a modalidade foi progressivamente incorporada aos
mecanismos estruturantes do financiamento da educação básica, e suas matrículas passaram a ser
consideradas na política de fundos e, a partir de 2009, também nos aportes federais para a
assistência estudantil (envolvendo os programas de provisão gratuita de livros didáticos,
alimentação e transporte escolar)16. Encerrada a década de vigência do FUNDEF (em que o ensino
básico de jovens e adultos fora marginalizado no financiamento público), entrou em vigor de 2007
a 2020 o FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. O Programa Fazendo
Escola foi suspenso, uma vez que os recursos do orçamento da União a ele destinados foram
redirecionados para a maior participação que o governo federal passou a ter no FUNDEB17.
Atendendo parcialmente as reivindicações dos governos subnacionais e das articulações da
sociedade civil, o novo fundo passou a cobrir - com peso relativo variado - todas as etapas e
modalidades da educação básica, inclusive o ensino dos jovens e adultos. A EJA, porém, foi tratada
no FUNDEB como uma modalidade de menor custo, as matrículas em cursos presenciais foram
consideradas progressivamente nos cálculos, com o menor fator de ponderação quando comparado
16 Para dimensionar esses programas, vale mencionar os investimentos realizados em 2011 pelo governo federal para
a distribuição gratuita de livros didáticos às instituições engajadas no Programa Brasil Alfabetizado e às escolas
públicas de ensino fundamental na modalidade de jovens e adultos: foram gastos R$ 140,6 milhões para distribuir
14,1 milhões de livros a cerca de 5 milhões de estudantes em mais de 35 mil escolas. (Fonte:
http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-dados-estatisticos).
17 A lei que instituiu o FUNDEB estabeleceu um piso de contribuição da União de 10% dos fundos, vedado o uso para
esse fim dos recursos da quota federal do Salário Educação. O aporte do governo federal para o Fundo –
correspondente a 0,2% do PIB e estimado em R$ 8 bilhões no ano de 2011 – é o elemento mais positivo dessa política
de financiamento da educação básica, pois diminui a disparidade de investimento por aluno entre os Estados. Para
lograr um investimento equitativo, porém, o aporte da União ao Fundo teria que ser muito maior, da ordem de 1% do
PIB.
14
às demais modalidades18. As regras de funcionamento do Fundo também impuseram um teto de
gasto no ensino de jovens e adultos, que não pode exceder 15% do total. A razão desse tratamento
discriminatório era o temor infundado de que um de financiamento mais equitativo conduzisse a
uma expansão muito rápida das matrículas na educação de jovens e adultos que pusesse em risco
a arquitetura o modelo como um todo.
Essa inserção marginal no sistema de financiamento da educação básica frustrou os
ativistas da educação de jovens e adultos (gestores, educadores e pesquisadores), alguns dos quais
previram que esse fator menor de ponderação teria consequências danosas, como o desestímulo à
matrícula na modalidade, seu falseamento nas estatísticas ou o barateamento dos custos com
sacrifício da qualidade do ensino. A expectativa inicial, porém, era de que o efeito imediato da
medida seria a ampliação dos serviços educacionais, uma vez que as condições criadas, mesmo
que adversas, eram melhores que aquelas da década precedente19. Tais expectativas não se
confirmaram e o FUNDEB não teve o efeito indutor esperado e, ao contrário, as matrículas em
todas as redes entraram em declínio (conforme evidenciado na Tabela 2). Isso ocorre porque, não
obstante as matrículas no ensino de jovens e adultos sejam consideradas como parâmetro para
captação de recursos do FUNDEB, os estados e municípios são livres para realizar os gastos em
quaisquer níveis e modalidades de ensino. Além disso, como o montante total anual do fundo por
estado é fixo, um maior número de alunos tende a reduzir o valor per capita.
O Gráfico 1 mostra que a participação atual das matrículas na educação de jovens e adultos
nos cálculos de composição dos fundos estaduais de financiamento da educação básica é, na média
nacional, de 6%, mas varia bastante entre as unidades da federação: as matrículas na modalidade
18 As matrículas da EJA foram incorporadas paulatinamente no FUNDEB, um terço ao ano, ao longo de três anos
(33% em 2007; 66% em 2008; 100% em 2009). O valor ponderado da matrícula na modalidade foi, inicialmente, de
70% daquele atribuído a uma matrícula no ensino de crianças ou adolescentes; em 2009, esse fator de ponderação foi
elevado para 80%.
19 Em 2007 (quando o fator de ponderação da modalidade era de apenas 0,7) os cálculos do custo por aluno ao ano na
educação de jovens e adultos para efeito de captação do FUNDEB variaram de R$ 662 nos estados mais pobres a R$
1.433 naqueles com maior arrecadação tributária. Embora insuficientes para prover um ensino de qualidade, esses
valores são bem superiores, por exemplo, aos R$ 250 por aluno/ano repassados pela União aos Estados e Municípios
no Programa Fazendo Escola entre 2002 e 2006, ou do per capita gasto pelo governo federal no Programa Brasil
Alfabetizado, cuja média dos anos 2007 a 2010 foi – segundo estimativas de Cara e Araújo (2011) - de R$ 264,70.
15
são proporcionalmente maiores em estados mais pobres do Norte e Nordeste que apresentam
elevados níveis de analfabetismo, como o Pará, a Bahia, o Maranhão, a Paraíba, Alagoas e
Pernambuco. Essa maior participação pode também ser explicada pelo fato destes estados
receberem complementação federal para alcançar o patamar mínimo de recursos disponíveis por
aluno/ano como indica o Gráfico 2. Assim, um número maior de alunos implica em uma
possibilidade maior de repasses federais.
Ainda não há resultados consolidados de pesquisas que expliquem o comportamento dos
gestores e as razões pelas quais a educação de jovens e adultos está perdendo matrículas. Por certo,
um dos aspectos críticos a considerar é o financiamento, mas os gastos realizados nessa
modalidade, entretanto, são de difícil aferição, como veremos no tópico a seguir.
O gasto público em educação de jovens e adultos
Os estudos sobre os custos, o financiamento e os gastos da educação de jovens e adultos
no Brasil são muito escassos, e as raras pesquisas empíricas realizadas nesse campo se defrontaram
com a escassez de informação fidedigna nas quais possam fundamentar suas análises.
Apesar da descontinuidade e fragmentação das políticas em uma multiplicidade de
programas conduzidos por diferentes órgãos federais, o orçamento e o gasto federal no setor são
passíveis de acompanhamento pelo SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira da
Secretaria do Tesouro Nacional ou pelos Relatórios de Gestão que os órgãos federais devem
apresentar para as instâncias de controle interno e externo.
Mas estudos sobre o gasto público das três esferas de governo realizados nos anos 1990 já
mostravam que, devido à descentralização, a maior parte da despesa com educação de jovens e
adultos no Brasil é realizada pelos estados e municípios (DI PIERRO, 2000)20 Os sistemas de
controle do gasto público em educação disponíveis até o momento atual, porém, não logram
oferecer informação fidedigna a respeito da despesa realizada pelos governos subnacionais na
20 Um dos raros esforços rigorosos de análise da despesa pública das três esferas de governo em educação refere-se ao
triênio 1994/1996 e concluiu que o gasto com ensino básico de jovens e adultos oscilou entre 0,3% e 0,5% da despesa
educacional total, sendo a modalidade que recebeu menor investimento, em uma época em que os Estados ainda eram
os principais mantenedores desse tipo de ensino, respondendo por cerca de 70% da matrícula e do gasto efetuado na
modalidade (FERNANDES et al, 1998).
16
modalidade21. Estudo de Volpe (para os municípios do estado de Minas Gerais) e pesquisa que
vimos desenvolvendo sobre os municípios do Estado de São Paulo (DI PIERRO e SUCUPIRA,
2011), demonstram claramente que os gastos em educação de jovens e adultos estão subdeclarados,
permanecendo invisíveis sob outras rubricas, o que impede quantificar com precisão os custos ou
analisar a evolução dos gastos, fazendo com que os resultados de trabalhosos estudos sejam
meramente indicativos
O gasto com pessoal é o principal componente de custo do ensino básico, em proporções
que as estimativas situam entre 75 e 85% (Relatório, 2001; CARREIRA e PINTO, 2006). Como a
maior parte dos docentes e equipes técnico-pedagógicas do ensino de jovens e adultos no Brasil
são professores da educação básica de crianças e adolescentes que complementam sua jornada de
trabalho nessa modalidade no período noturno, raramente a despesa com pessoal que atua na
educação de jovens e adultos é contabilizada a parte, permanecendo invisível em meio às despesas
com a educação básica. O mesmo ocorre com o gasto com a construção e manutenção das
instalações físicas e equipamentos, que são compartilhados, e contabilizados como despesas do
ensino básico de crianças e adolescentes.
A tabela 10, construída a partir das despesas declaradas em programas de educação de
jovens e adultos pela União, estados e municípios, dá uma clara visão dessa subestimação dos
gastos na área, como indicam os ínfimos valores obtidos para o gasto por aluno, que correspondem
a menos de 10% do gasto efetivamente realizado, mesmo quando consideramos sistemas de ensino
de baixa qualidade. Em media, o gasto por aluno na rede pública de educação básica no Brasil no
21 As despesas dos governos subnacionais devem ser registradas em dois bancos de dados, organizados em sistemas
computacionais distintos: o SIOPE – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação foi instituído
em 2004 pelo INEP e reúne informações prestadas pelos gestores da educação dos estados e municípios, como
condição para assinatura de convênios e recebimento de complementação do FUNDEB pela União; a base FINBRA
- Finanças Brasil é mantida pela Secretaria do Tesouro Nacional e alimentada pelos gestores das finanças estaduais
ou municipais por exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os dados constantes em ambas as bases para um
mesmo estado ou município são divergentes e, mesmo quando considerada apenas uma das bases, a omissão de
informações ou os reduzidos montantes declarados, incompatíveis com as matrículas constantes nos Censos, tornam
evidente a sub declaração dos gastos na modalidade, tornando questionável sua confiabilidade para o estudo das
políticas de educação de jovens e adultos.
17
período foi de 15% do PIB per capita. Nos países ricos este índice chega a 25% do PIB per capita,
o que implica um gasto por aluno muitas vezes maior considerando o valor de seu PIB per capita.
Mais um nítido exemplo da subdeclaração de gastos de educação de jovens e adultos foi
encontrado logo na fase inicial de pesquisa que vimos desenvolvendo sobre o impacto do
FUNDEB na configuração da educação de jovens e adultos nos municípios paulistas: dos 645
municípios do Estado mais rico e populoso do país, 339 não informaram ao FINBRA qualquer
despesa na modalidade no intervalo de tempo considerado no estudo (2005-2010), e apenas 128
forneceram informações para pelo menos quatro anos desse período (DI PIERRO e SUCUPIRA,
2011). Por outro lado, encontramos entre 10 e 13 municípios a cada ano para os quais não constam
matrículas em EJA no Censo Escolar que, contudo, declaram ter efetuado despesas na modalidade.
Mesmo cientes dessas limitações, analisamos detidamente o comportamento do gasto com
educação de uma amostra dos municípios para a qual dispúnhamos de dados e encontramos
enorme variação de valores em torno de uma mediana que cresceu no período em análise, mas
manteve-se em valores inferiores à terça parte daqueles utilizados como referência para os cálculos
do FUNDEB (Tabela 11).
Finalmente, em 2012 foi lançado um estudo de gasto por aluno das redes municipais feito
pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) que reforça a existência
de subestimação dos gastos declarados no ensino fundamental de jovens e adultos (ARAÚJO
2012). Trabalhando com uma amostra de 224 municípios, aos quais se solicitou um maior
detalhamento dos gastos com as diferentes etapas e modalidades de ensino, o estudo chegou a um
valor gasto por aluno em educação de jovens e adultos treze vezes superior àquele declarado nas
estatísticas oficiais. Tendo por base o ano de 2009, o estudo chegou a um valor médio nacional de
gasto por aluno atendido nas redes municipais de R$ 1.882 (11 % do PIB per capita). Por região,
os valores obtidos de gasto por aluno do ensino fundamental de jovens e adultos foram de R$ 1.076
(6,5% do PIB per capita) para a região Nordeste; R$ 2.418 (15% do PIB per capita) para a região
Centro Oeste; R$ 2.779 (17% do PIB per capita) para a região Sudeste; e R$ 2.370 (14% do PIB
per capita) para a região Sul; a amostra não permitiu a obtenção do valor para a região Norte.
Comparados com os gastos/aluno declarados para o ensino fundamental regular, os valores
despendidos com a educação de jovens e adultos representam apenas 64% dos mesmos,
considerando a média nacional, com grandes variações entre as regiões: 53% no Nordeste; 81%
no Centro Oeste; 71% no Sudeste; e 66% no Sul. Esse menor gasto com o ensino dos jovens e
18
adultos em relação ao ensino regular mostra, mais uma vez, a pouca prioridade atribuída à
modalidade. Contudo, o próprio coordenador da pesquisa, na apresentação do relatório, afirma
que, embora melhores que os indicadores oficiais, esses valores de gasto/aluno ainda estejam
subestimados, dada a dificuldade, no atual modelo de contabilização dos gastos no país, de
desagregar as despesas que são feitas em uma mesma escola com alunos da educação de jovens e
adultos em relação aos demais, tanto em termos de gastos com pessoal, como com as demais
despesas de custeio, assim como com os gastos de capital.
Em um contexto de escassez de informação fidedigna, é válido realizar estimativas do gasto
público realizado no ensino de jovens e adultos, inferindo-o indiretamente a partir da matrícula.
Um exercício desse tipo foi realizado às vésperas da VI CONFINTEA para subsidiar o documento
nacional apresentado à UNESCO: baseando-se na estimativa de gasto público com educação
básica em proporção do PIB, estimado em 3% para o período 1995-2005 (CASTRO, 2007) e
considerando que a matrícula no ensino de jovens e adultos aproximava-se de 10% do total da
educação básica, inferiu-se que o gasto público na modalidade no período 2000-2005 se situaria
em torno de 0,3% do PIB e, se consideradas também as matrículas de jovens e adultos no ensino
comum, essa proporção se aproximaria de 0,5% do PIB (RIBEIRO e PINTO, 2008). Esse tipo de
estimativa geral, entretanto, não permite verificar ao certo a despesa realizada por cada ente
federado, aferir o custo por aluno ou conhecer a importância relativa das transferências
intergovernamentais.
Observa-se assim que, se o conhecimento do financiamento da educação de jovens e
adultos é essencial para analisar e reorientar as políticas públicas, essa informação permanece de
difícil acesso enquanto não forem devidamente normatizadas exigências de alimentação e
realizados controles efetivos de consistência das informações que tornem os bancos de dados
públicos mais confiáveis.
Uma tentativa de síntese e conclusão
A estrutura federativa tridimensional é uma das balizas do processo político brasileiro ao
longo da história republicana, condicionando a reforma do Estado em curso nas duas últimas
décadas e incidindo sobre o desenho das políticas sociais, perante as quais as responsabilidades
dos governos subnacionais (especialmente dos municípios, alçados à condição de entes federados
autônomos) foram ampliadas desde a redemocratização da segunda metade da década de 1980.
19
Esse é o caso das políticas de educação básica que, por determinação constitucional, estão
submetidas ao regime de colaboração entre as três esferas de governo. Contudo, até hoje esse
regime de colaboração não foi regulamentado em lei, restando a política transitória de fundos (o
FUNDEF tem vigência até 2020) e os eventuais convênios e parcerias entre os entes federados,
que muitas vezes são pautados por fatores de natureza político-partidária.
As relações federativas figuram entre os temas candentes do debate público e acadêmico
contemporâneos a respeito das políticas de ensino básico no Brasil, envolvendo os mecanismos de
articulação sistêmica e coordenação intergovernamental, bem como as tensões inerentes aos
processos de descentralização das responsabilidades pelo financiamento e provisão dos serviços,
vis a vis a centralização dos mecanismos de regulação e controle em mãos do governo federal.
No caso das políticas públicas de educação básica de jovens e adultos, a questão adquire
contornos singulares em virtude da herança histórica (pela qual o governo nacional exerce papel
estratégico na indução do comportamento dos demais entes federados) e das profundas
desigualdades sócio territoriais, que convocam a União ao exercício da função redistributiva e à
coordenação de redes colaborativas e mecanismos intergovernamentais de parceria.
A questão da colaboração intergovernamental adquire maior relevância devido ao
crescimento da participação dos municípios na matrícula de jovens e adultos, revertendo o
histórico predomínio das redes estaduais de ensino na provisão desse serviço educativo. A
tendência à municipalização faz com que o principal provedor da alfabetização e do ensino
fundamental de jovens e adultos seja o ente mais frágil da federação (quando considerada sua
heterogeneidade e capacidades financeira, administrativa e técnico-pedagógica). Por outro lado,
os municípios são também o principal lócus de inovação político-pedagógica dessa modalidade de
ensino (HADDAD, 2007), ao lado dos movimentos sociais e organizações da sociedade civil
(ARROYO, 2005).
Ao longo deste artigo procuramos demonstrar que o regime de colaboração
intergovernamental para a provisão da educação básica de jovens e adultos é negativamente
afetado por fenômenos típicos do que Abrucio (2005) qualificou como “federalismo
compartimentalizado”: isolamento e heterogeneidade dos estados e municípios, cuja capacidade
financeira, administrativa e pedagógica é muito desigual; descontinuidade de políticas e
fragmentação de programas; competição político-eleitoral entre os governos das três instâncias;
20
falta de mecanismos efetivos de redistribuição e coordenação entre elas. O equacionamento desse
quadro é complexo, e dois caminhos parecem promissores: de um lado, a melhoria da coordenação
intragovernamental federal, de modo a conferir maior coerência e eficácia aos diferentes
programas implementados de maneira descentralizada; e de outro, o desenvolvimento de
mecanismos de coordenação intergovernamental horizontais que considerem o território como
unidade de planejamento e ação, produzindo colaboração e sinergias que minimizem as
desigualdades existentes entre os municípios brasileiros.
Vimos também que a arquitetura do financiamento público do ensino – constituída pelo
montante de recursos mobilizados para o setor e pelos mecanismos de distribuição existentes – é
componente-chave da formação das políticas de educação básica de jovens e adultos, ora
impulsionando-as, ora constrangendo-as. Face ao modelo descentralizado de provisão, o
financiamento é também um dos meios pelos quais a União exerce a indução de políticas
desconcentradas, empregando recursos fiscais na operação de transferências condicionadas à
adesão dos governos subnacionais aos programas concebidos e controlados pela esfera federal.
Embora a análise de realidade seja limitada pela escassez de informações fidedignas sobre os
custos e o gasto público das três esferas de governo com a alfabetização e o ensino de jovens e
adultos, os dados disponíveis nos levam a concluir que o montante de recursos disponíveis é
insuficiente para uma provisão de qualidade e que, nos moldes vigentes, a política de fundos que
rege a colaboração intergovernamental é ineficiente para induzir os governos subnacionais a
ampliar e qualificar o atendimento, que vem minguando ao longo do último quinquênio. Para além
do incremento do financiamento público total para o setor educacional (em debate no âmbito do
novo Plano Nacional de Educação em discussão no Congresso Nacional), os caminhos de correção
da situação atual passam, no curto prazo, pela remoção do teto de gasto e pela elevação do fator
de ponderação do valor por aluno atribuído ao ensino de jovens e adultos nos fundos de
financiamento da educação básica (FUNDEB), de modo a incentivar os gestores a realizar
investimentos na modalidade. Essa estratégia só terá eficácia, porém, se os valores de referência
forem considerados não só para efeitos de captação dos recursos dos fundos, mas também para a
execução dos gastos, cuja transparência pública requer urgente regulamentação nacional.
Este texto deixa sem resposta a pergunta sobre o custo no Brasil de programas de
alfabetização e educação básica de jovens e adultos de qualidade, pois as informações e resultados
de pesquisas existentes não permitem respondê-la. Não obstante essas dificuldades, as evidências
21
nos autorizam afirmar a existência de sub declaração dos gastos efetivamente praticados, de tal
forma que somente uma pequena parcela dos valores investidos nesses programas são
contabilizados como tal, com impactos negativos no desenvolvimento das políticas e na avaliação
de sua efetividade. Mais do que um bom programa de investigação a convocar a capacidade
intelectual dos pesquisadores brasileiros, o conhecimento dos valores efetivamente investidos na
educação de jovens e adultos constitui um desafio às autoridades públicas com poder de decisão e
um tópico relevante da agenda política dos movimentos sociais em prol de uma educação de
qualidade para todos no país.
Referências
ABRUCIO, Fernando L. A coordenação federativa no Brasil: a experiência do período FHC e os
desafios do Governo Lula. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, n. 24, p. 41-67, jun. 2005.
ARAÚJO, Raimundo Luiz S. (coord.) Perfil dos gastos educacionais nos municípios brasileiros-
ano base 2009. Relatório de pesquisa. Brasília, União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação, 2012.
ARAÚJO, Gilda C. de. A relação entre federalismo e municipalização: desafios para a construção
do sistema nacional e articulado de educação no Brasil. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 36, n.
1, p. 389-402, jan./abr. 2010.
ARROYO, Miguel González. Educação de jovens-adultos: um campo de direitos e de
responsabilidade pública. In: SOARES, L.; GIOVANETTI, M. A. G. C.; GOMES, N. L. (orgs.).
Diálogos na educação de jovens e adultos. Belo Horizonte: Autêntica, 2005, p. 19- 50.
BEISIEGEL, Celso. A educação de jovens e adultos analfabetos no Brasil. Alfabetização e
Cidadania, São Paulo, n. 16, p. 19-27, 2003.
BRASIL. MEC. SECAD. Documento base nacional preparatório à VI CONFINTEA. Brasília, set.
2008. Disponível em http://forumeja.org.br/files/docbrasil.pdf
BRASIL. Relatório final de avaliação do ProJovem Original, 2005-2008. Programa Nacional de
Inclusão de Jovens – Educação, Qualificação e Ação Comunitária. Brasília: Secretaria-Geral da
Presidência da República, Secretaria Nacional de Juventude, 2010.
22
CARA, Daniel; ARAÚJO, Luís. Nota técnica: por que 7% do PIB para a educação é pouco?
Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ago. 2011. Disponível em
http://portal.aprendiz.uol.com.br/wp-content/uploads/2011/08/estudo-campanha-nacional.pdf
CARREIRA, Denise; PINTO, José Marcelino Rezende. Custo aluno qualidade inicial: rumo à
educação pública de qualidade no Brasil. São Paulo, Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
2007.
CASTRO, Jorge A. Financiamento e gasto público na educação básica no Brasil: 1995-2005.
Educação e Sociedade, Campinas, vol. 28, n. 100, p. 857-876, out. 2007.
CATELLI, Roberto. Alfabetização em marcha lenta. Missões, n. 10, dez. 2011, p. 32-33.
COSTA, Valeriano M. F. Federalismo e relações intergovernamentais: implicações para a reforma
da educação no Brasil. Educ. & Soc., Campinas, v. 31, n. 112, p. 729-748, jul./set. 2010.
DI PIERRO, Maria Clara. O financiamento público da educação básica de jovens e adultos no
Brasil no período 1985/1999. São Paulo, out. 2000. Trabalho apresentado na 23ª Reunião Anual
da ANPEd. Disponível em http://www.anped.org.br/reunioes/23/textos/1806t.PDF
DI PIERRO, Maria Clara. Descentralização, focalização e parceria: uma análise das tendências
nas políticas públicas de educação de jovens e adultos. Educação e Pesquisa, São Paulo, vol. 27,
n. 2, p. 321-337, jul./dez. 2001.
DI PIERRO, Maria Clara. Notas sobre a redefinição da identidade e das políticas públicas de
educação de jovens e adultos no Brasil. Educação e Sociedade, Campinas, v.26, p.1115–1139,
2005.
DI PIERRO, M. C. A VI CONFINTEA e as políticas de alfabetização de jovens e adultos no
Brasil. In: COSTA, Renato Pontes; CALHAU, Socorro. (Org.). ... e uma educação pro povo, tem?
2 ed. Rio de Janeiro: Caetés, 2010, p. 117-133.
DI PIERRO, M. C. A educação de jovens e adultos no Plano Nacional de Educação: avaliação,
desafios e perspectivas. Educ. Soc.. 2010, vol.31, n.112, pp. 939-959.
DI PIERRO, M. C.; ANDRADE, E. R.; VOVIO, C. L. Youth and adult literacy in Brazil: learning
from practice. Brasília DF: Unesco, 2009. Available
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001626/162640e.pdf
23
DI PIERRO, M. C.; SUCUPIRA, M. O impacto da inclusão da EJA no FUNDEB no Estado de
São Paulo: relatório técnico de pesquisa em andamento. São Paulo, 2011.
FARENZENA, Nalú. (org.). Custos e condições de qualidade da educação em escolas públicas: aportes de
estudos regionais. Brasília, INEP/MEC, 2005. Disponível em www.publicacoes.inep.gov.br
Financiamento da educação: necessidades e possibilidades. Comunicados do IPEA, n. 124.
Brasília, IPEA, dez. 2011.
GATTO, Carmen I. O processo de definição das diretrizes operacionais para a educação de
jovens e adultos. Porto Alegre, Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Tese de Doutoramento. 2008.
GOMES, Ana Valeska do Amaral. Educação de jovens e adultos no PNE 2001-2010. Brasília,
Câmara dos Deputados, 2011. Available
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/6244/educacao_jovens_gomes.pdf?seque
nce=1
GOUVEIA, Andreia B. Políticas e financiamento da EJA: As mudanças na política de
financiamento da educação e possíveis efeitos na educação de jovens e adultos. Eccos, São Paulo,
v. 10, n. 2, p. 379-395, jul./dez. 2008.
HADDAD, Sérgio (Coord.). Novos caminhos em Educação de Jovens e Adultos: um estudo de
ações do poder público em cidades de regiões metropolitanas brasileiras. São Paulo: Global, Ação
Educativa, Fapesp, 2007.
IBGE. Síntese dos indicadores sociais 2010. Disponível em
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sintesei
ndicsociais2010/SIS_2010.pdf
MACHADO, M. M. A educação de jovens e adultos no Brasil pós Lei n. 9394/96: a possibilidade
de constituir-se como política pública. Em Aberto, Brasília, v. 22, n. 82, p. 17-39, nov. 2009.
MEC. INEP. Resumo técnico do Censo Escolar 2010. Disponível em: portal.mec.gov.br
OLIVEIRA, Romualdo. Reformas educativas no Brasil na década de 90. IN: CATANI, A. M. e
OLIVEIRA, R. (orgs.). Reformas educacionais em Portugal e no Brasil. Belo Horizonte,
Autêntica, 2000.
24
OLIVEIRA, Romualdo P.; SANTANA, Wagner (orgs.). Educação e federalismo no Brasil:
combater as desigualdades, garantir a diversidade. Brasília: UNESCO, 2010.
PINTO, J. M. R A política recente de fundos para o financiamento da educação e seus efeitos no
pacto federativo. Educação e Sociedade, v. 28, p. 877-897, 2007.
PINTO, J. M. R. Uma proposta de custo-aluno-qualidade na educação básica. Revista Brasileira
de Política e Administração da Educação, v. 22, p. 197-227, 2006.
Projovem Urbano: Relatório de avaliação do programa (setembro/2008-dezembro/2009). S.l.,
junho de 2010.
Relatório sobre Financiamento da Educação. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília,
v.82, n.200/201/202, p.117-136, jan./dez 2001.
RIBEIRO, V. M; PINTO, J.M.R. Desenvolvimento e situação atual da Educação de Jovens e
Adultos: Informe Nacional – BRASIL. Ministério da Educação, abril 2008.
SENA, Paulo. A legislação do FUNDEB. Cadernos de Pesquisa, v. 38, n. 134, maio/ago. 2008.
Disponível em http://www.scielo.br/pdf/cp/v38n134/a0438134.pdf
VIEIRA, Rosilene S. As relações federativas e as políticas de EJA no Estado de São Paulo no
período de 2003-2009. São Paulo, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2011
(Dissertação de Mestrado).
VOLPE, Geruza C. M. O financiamento da educação de jovens e adultos no período de 1996 a
2006: farelos de migalhas. Campinas, Faculdade de Educação da Universidade Estadual de
Campinas, 2010 (Tese de Doutoramento). Disponível em
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000477569&fd=y
25
Table 1
Brazil: Illiteracy, schooling and income in the population aged 15 to 64 years (2009)
Income strata22 Average years of
schooling
Illiteracy rate
(%)
Absolute and functional
illiteracy rate (%)
Extremely poor 3,4 32,7 54,1
Poor 4,3 24,6 43,9
Vulnerable 9,3 3,4 10,6
Not poor 9,5 2,3 8,9
Total 7,4 9,7 21,5
Source: IPEA – Perfil da pobreza no Brasil e sua evolução no período 2004-2009.
Table 2
Brazil: Enrollment in youth and adults education* by administrative level (2002-2011)
Year Total Federal State Municipal Private
2002 4.734.117 3.327 2.555.890 1.784.155 390.745
2003 5.432.813 1.284 3.042.401 2.038.757 350.371
2004 5.718.061 697 3.311.296 2.092.825 313.243
2005 5.615.409 875 3.223.775 2.138.237 252.522
2006 5.616.291 1.203 3.226.780 2.180.391 207.917
2007 4.985.338 6.276 2.906.766 1.935.066 137.230
2008 4.945.424 9.745 2.838.264 1.948.027 149.388
2009 4.661.332 12.488 2.619.356 1.886.470 143.018
2010 4.287.234 15.537 2.348.342 1.786.554 136.801
2011 4.046.169 16.131 1.192.996 1.691.715 145.327
Source: Censo Escolar. INEP/MEC. Prepared by Roberto Catelli and Bruna Guisi (Ação Educativa).
* Includes literacy, elementary and high school, and preparation for tests.
22 The study considered "not poor" persons living in families with per capita income equal to or greater than the
national minimum wage (that was R$ 465). The other categories include the strata with lower income.
26
Tabela 3 - Brasil: Cobertura do Programa Recomeço/Fazendo Escola (2001-2006)
Ano Beneficiários Municípios Investimento em R$
2001 823.842 1.381 187.796.610,00
2002 1.226.626 1.772 306.656.500,00
2003 1.549.004 2.015 387.251.000,00
2004 1.920.988 2.292 420.000.000,00
2005 3.342.531 3.380 460.000.000,00
2006 3.327.307 4.305 412.200.000,00
Fonte: Fonte: Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Citado em Di
Pierro et al, 2009, p. 36.
Table 4 - Brasil: Illiteracy in the population aged 15 years or more 2003-2007
Year Total Illiterates Illiteracy Rate (%) Functional Illiteracy
Rate*(%)
2003 128.164.935 14.797.441 11,5 24,9
2004 132.715.811 15.109.136 11,4 24,5
2005 135.700.253 14.994.785 11,0 23,1
2006 138.581.447 14.391.064 10,4 22,4
2007 141.512.501 14.137.991 10,1 21,8
* Less than four years of schooling
Source: IBGE/Microdados da PNAD. Elaboração: IPEA/DISOC/NINSOC; DEAVE/SECAD/MEC.
Tabela 5 - Brasil: Evolução da matrícula total e municipal no ensino fundamental
presencial de jovens e adultos (1997-2010)
Ano Total Variação Municipal Variação % Municipal/Total
1997 2.210.325 100 582.921 100 26,4
2006 3.516.225 159 2.080.798 357 59,2
2010 2.860.230 129 1.740.776 299 60,9
Fonte: Inep. Censo Escolar. Organização dos autores.
27
Tabela 6 - Brasil: Evolução da matrícula total e estadual no ensino médio presencial de
jovens e adultos (1997-2010)
Ano Total Variação Estadual Variação % Estado/Total
1997 390.925 100 248.591 100 63,6
2006 1.345.165 344 1.172.870 472 87,2
2010 1.427.004 365 1.273.671 512 89,3
Fonte: Inep. Censo Escolar. Organização dos autores.
Tabela 7
Brasil - Matrículas de pessoas com 15 anos ou mais segundo as modalidades (2006)
Educação de Jovens e Adultos – Subtotal do Ensino Fundamental
Educação de Jovens e Adultos – Fundamental (semi-presencial / presença flexível)
3.516.225
349.404
Educação de Jovens e Adultos – Subtotal do Ensino Médio 1.345.167
Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio (semi-presencial / presença
flexível)
405.497
Total na Educação de Jovens e Adultos 5.616.293
Ensino Regular 1ª a 4ª séries (alunos com 15 anos ou mais) 592.831
Ensino Regular 5ª a 8ª séries (alunos com 18 anos ou mais) 1.091.561
Ensino Regular Médio (alunos com 25 anos ou mais) 640.536
Educação Profissional / Nível Médio (alunos com 25 anos ou mais) 276.685
Educação Especial / Educação de Jovens e Adultos 36.953
Educação Especial Regular (alunos com 15 anos ou mais) 129.515
Total nas demais modalidades 2.768.081
Total Geral 8.384.374
Fonte: Censo Escolar, 2006. Citado por: Brasil, 2008, p. 7.
28
Tabela 8
Brasil: Execução do Orçamento Federal– Programas de EJA selecionados (2008)
(em milhares de Reais)
Programa Autorizado Liquidado % Execução
Brasil Alfabetizado 297.438 282.192 94,9%
ProJovem 859.002 445.544 51,8%
Fonte: Despesas da União com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. SIAFI. Secretaria do Tesouro Nacional.
Tabela 9
Indicadores de Desempenho do Programa Brasil Alfabetizado 2008-2010
Ano Despesa
em R$
milhões23
Parcei-
ros
Atendidos Reinscri-
tos
Situação final
Não
alfabetizado
Alfabetizado e
não matricula-
do na EJA
Alfabetizado
e matriculado
na EJA
Total
2008 290,46 1.115 1.322.765 n. d. 274.320
(46%)
286.223
48%
35.904
(6%)
596.450
(45%)
2009 290,52 1.469 1.872.807 153.008
(8%)
439.452
(51%)
357.687
42%
57.859
(7%)
854.998
(46%)
2010 626,48 1.443 1.551.295 260.321
(17%)
145.888
(48%)
128.173
42%
28.694
(10%)
302.755
(20%)
Fontes: Para execução orçamentária: Relatório de Gestão da SECAD 2010. Demais dados: Apresentação da SECADI
realizada no XI Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos (Salvador, BA: 2011).
23 O PBA realizou em 2005 e 2006 gastos superiores a R$ 600 milhões, mas esse orçamento sofreu drástico corte a
partir de 2007, quando os recursos foram redirecionados para a complementação da União ao FUNDEB. Em 2010 o
orçamento executado pela Diretoria de Educação de Jovens e Adultos da SECAD voltou a crescer para cobrir as
despesas com o novo Programa Nacional do Livro Didático de Educação de Jovens e Adultos, que distribuiu 14
milhões de livros a 5 milhões de estudantes do PBA e das redes públicas de ensino.
29
Tabela 10
Gastos declarados pela União, Estados e Municípios em programas de educação de jovens e
adultos 2004-2010 (% do PIB)
Ano União Estados Municípios Total Gasto/aluno% PIB
per capita
2004 0,000 0,025 0,014 0,040 1,3
2005 0,031 0,027 0,012 0,070 2,4
2006 0,025 0,027 0,015 0,067 2,3
2007 0,005 0,018 0,012 0,036 1,4
2008 0,011 0,017 0,011 0,039 1,5
2009 0,011 0,019 0,012 0,042 1,8
2010 0,017 0,019 0,014 0,051 2,4
Fonte: STN-FINBRA e Censo Escolar para as matrículas. Organização dos autores.
Tabela 11
Gasto por aluno no ensino fundamental presencial de jovens e adultos dos municípios do
Estado de São Paulo e valores de referência do FUNDEB (2007-2009)
Ano Mediana da despesa por
aluno/ano em R$ (A)
Valor de referência da EJA no
FUNDEB para o Estado em R$ (B)
A/B
2007 440,12 1.292,03 34%
2008 443,40 1.439,33 31%
2009 540,66 1.810,44 30%
Fonte: Di Pierro e Sucupira (2011) para A; FNDE/MEC para B. Organização dos autores.
30
Gráfico 1 – FUNDEB: Participação das matrículas na educação de jovens e adultos para a
formação dos fundos estaduais, por Estado e média nacional
Fonte: MEC/FNDE, 2012
Gráfico 2 – FUNDEB 2012: Estimativa do valor por Aluno/ano por Estado e valor mínimo
nacional para EJA
Fonte: MEC/FNDE (Portaria MEC/MF nº 1.809 de 28/12/11)
Obs: Os estados de PB, PE, AM, AL, PI, CE, BA, PA e MA apresentam o mesmo valor (o Valor Mínimo Nacional)
que é propiciado pelo complemento feito pelo governo federal. O peso desta participação é indicado no gráfico pela
cor vermelha.
3,5
%
3,6
%
3,7
%
3,9
%
4,1
%
4,5
%
4,5
% 5,5
%
5,7
%
5,9
%
5,9
%
6,1
%
6,3
%
6,4
%
6,7
% 7,8
%
8,1
%
8,1
%
8,4
%
8,8
%
8,9
%
9,3
%
9,5
%
11,9
%
12,0
%
12,1
%
12,9
%
14,3
%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
TO SP SC RS GO PR MG MS ES AM RR BR CE RJ AC DF SE AP RN RO PI MT PE AL PB MA BA PA
%