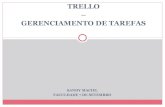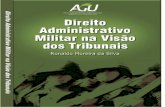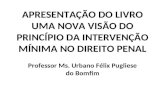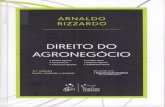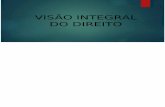Uma visão do Direito
Transcript of Uma visão do Direito


Brasília • ano 35 • nº 137janeiro/março – 1998
Revista deInformaçãoLegislativa
Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal

Revista deInformaçãoLegislativaFUNDADORES
Senador Auro Moura AndradePresidente do Senado Federal – 1961-1967Isaac BrownSecretário-Geral da Presidência – 1946-1967Leyla Castello Branco RangelDiretora – 1964-1988
ISSN 0034-835xPublicação trimestral daSubsecretaria de Edições Técnicas
Senado Federal, Via N-2, Unidade de Apoio III, Praça dos Três PoderesCEP: 70.165-900 – Brasília, DF. Telefones: (061) 311-3575, 311-3576 e 311-3579Fax: (061) 311-4258. E-Mail: [email protected]
Diretor: Raimundo Pontes Cunha NetoREVISÃO DE ORIGINAIS
João Evangelista Belém e Wellington de Araújo MoreiraREVISÃO DE PROVAS
Alessandra da Silva Moreira, Eloisa N. de Moura Silva, Helena Maria Vieira da Silvae Fábio José Dantas de Melo
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA
Angelina Almeida Silva e Paulo Henrique Ferreira NunesIMPRESSÃO
Secretaria Especial de Editoração e PublicaçõesCAPA
Paulo Cervinho e Cícero Bezerra
Revista de Informação Legislativa / Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas. - -Ano 1, n. 1 ( mar. 1964 ) – . - - Brasília: Senado Federal, Subsecretaria deEdições Técnicas, 1964– .v.Trimestral.Ano 1-3, nº 1-10, publ. pelo Serviço de Informação Legislativa; ano 3-9, nº 11-
33, publ. pela Diretoria de Informação Legislativa; ano 9- , nº 34- , publ. pela Subsecretariade Edições Técnicas.
1. Direito — Periódico. I. Brasil. Congresso. Senado Federal, Subsecretariade Edições Técnicas.
CDD 340.05CDU 34(05)
© Todos os direitos reservados. A reprodução ou tradução de qualquer parte destapublicação será permitida com a prévia permissão escrita do Editor.
Solicita-se permuta.Pídese canje.On demande l´échange.Si richiede lo scambio.We ask for exchange.Wir bitten um Austausch.

Revista deInformaçãoLegislativaBrasília · ano 35 · nº 137 · janeiro/março· 1998
Flávio Sátiro Fernandes
Willis Santiago Guerra Filho
Maria Elizabeth GuimarãesTeixeira Rocha
Orlando Venâncio dos SantosFilho
Mauro Roberto Gomes de Mattos
Sebastião Alves dos Reis
Antônio Carlos Lessa
Marcílio Toscano Franca Filho
José Alfredo de Oliveira Baracho
Paulo de Bessa Antunes
Fernando Braga
Álvaro Melo Filho
Sálvio de Figueiredo Teixeira
Otto Eduardo Vizeu Gil
Fernando Cunha Júnior
Admissão irregular de servidores públicos e suasconseqüências jurídicas 5
A dimensão processual dos direitos fundamentais e daConstituição 13
A reelegibilidade dos Vices e a desincompatibilização àluz da Emenda Constitucional nº 16/97 23
O ônus do pagamento dos honorários advocatícios e oprincípio da causalidade 31
Do enquadramento do Banco Central no RegimeJurídico Único 41
Uma visão do Direito: Direito Público e DireitoPrivado 63
A vertente perturbadora da política externa duranteo governo Geisel: um estudo das relaçõesBrasil-EUA (1974-1979) 69
Princípios da tributação internacional sobre a renda 83
A prática jurídica no domínio da proteção internacionaldos direitos do homem (A Convenção Européia dosDireitos do Homem) 91
Auditorias ambientais: competências legislativas 119
Pombal e o Positivismo como indicadores de influ-ência 125
“Projeto Pelé”: inconstitucionalidades e irrealidades 129
A formação do juiz contemporâneo 137
A mecânica da prestação alimentícia 145
Prisão-albergue domiciliar. Discrepância da realidadesocial com a positivação penal. Dissonânciajurisprudencial 151

As idéias de Peter Häberle e a abertura da interpretaçãoconstitucional no direito brasileiro 157
A disponibilidade remunerada dos servidores públicosà luz da Constituição de 1988 165
Direito e hermenêutica multidimensionais 179
A nova Lei de Diretrizes e Bases e o cumprimento daobrigatoriedade escolar 185
Tentativas de criação da justiça agrária após a Consti-tuição Federal de 1988 195
Aspectos da avaliação institucional dos programas depós-graduação em Direito: instrumentos econcepções 203
Papel dos tribunais administrativos e sistemajudicial 215
A Reforma do Poder Judiciário 239
A democracia e suas dificuldades contemporâneas 255
A Lei de Diretrizes Orçamentárias e a política deaplicação das agências financeiras oficiais defomento 265
Da anarquia para a polícia (Elysio de Carvalho, lacunana história do Direito Nacional) 281
A questão agrícola no Mercosul e na União Européia(UE) 297
O habeas data na Lei nº 9.507/97 303
Observações sobre a proposta de convocação de umaAssembléia Constituinte em 1999 313
A Região Administrativa Especial de Macau e o legadode Portugal 323
Inocêncio Mártires Coelho
Gustavo Henrique Justino deOliveira
Dilvanir José da Costa
Candido Alberto Gomes
A. Marcos da S. de Jesus
Luiz Edson Fachin e MariaFrancisca Carneiro
Antonio Fonseca
Cármen Lúcia Antunes Rocha
Celso Antônio Bandeira de Mello
James Giacomoni
Rossini Corrêa
Carlos A. Moreira Leite, Jamile B.Mata Diz e Daniel de SáRodrigues
Arnoldo Wald e Rodrigo Garcia daFonseca
Gustavo Just da Costa e Silva
Edivaldo Machado Boaventura

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 5
1. IntroduçãoA Constituição Federal de 5 de outubro de
1988 erigiu os princípios da legalidade, impes-soalidade, moralidade e publicidade como nor-teadores da administração pública no Bra-sil, a qual se insere em um sistema nacional,de que participam a União, os Estados, o Dis-trito Federal e os Municípios, conforme o dis-posto no seu artigo 37, caput.
Como exigência da moralidade e da impes-soalidade, vislumbrou o constituinte a neces-sidade de impor a prévia aprovação em concursopúblico de provas ou de provas e títulos, comorequisito indispensável à admissão de qualquerpessoa ao serviço estatal, como ocupante de car-go ou emprego. Excepcionado dessa regra ficouo provimento de cargos em comissão, tendo emvista, em primeiro lugar, a confiança que devepresidir a escolha do nomeando, em segundo, atemporariedade do exercício e, em terceiro, ademissibilidade ad nutum dos ocupantes de taiscargos.
Em termos literais está assim disposta aprescrição constitucional:
“Art. 37. A administração públicadireta, indireta ou fundacional, de qual-quer dos Poderes da União, dos Estados,do Distrito Federal e dos Municípiosobedecerá aos princípios da legalidade,impessoalidade, moralidade, publicida-de e, também, ao seguinte:
I - ......................................................
Admissão irregular de servidorespúblicos e suas conseqüências jurídicas
FLÁVIO SÁTIRO FERNANDES
Flávio Sátiro Fernandes é Professor da Univer-sidade Federal da Paraíba e Conselheiro do Tribunalde Contas do Estado.
SUMÁRIO
1. Introdução. 2. Abrangência da norma. 3.Registro dos atos de admissão. 4. Admissõesirregulares. 5. Conseqüências jurídicas da admissãoirregular ao serviço público. 6. Conclusões.

Revista de Informação Legislativa6
II - a investidura em cargo ou em-prego público depende de aprovação emconcurso público de provas ou de provase títulos, ressalvadas as nomeações paracargo em comissão declarado em lei delivre nomeação e exoneração”;
2. Abrangência da normaA simples leitura do dispositivo acima dá-
nos algumas indicações dos propósitos do cons-tituinte de 1988 e da abrangência por ele atri-buída à norma em apreço.
Inicialmente, há de se salientar que a obri-gação se dirige tanto para o provimento decargos quanto para o preenchimento de empre-gos. Trata-se, como se sabe, de inovação daCarta Magna em vigor. Os textos consti-tucionais anteriores determinavam a realiza-ção de concurso público apenas para os cargospúblicos. Os empregos eram providos livre-mente pelos administradores. Hoje, os empre-gos, em qualquer setor da administração, tam-bém se sujeitam a concurso público, com o quese depreende a maior amplitude dada pelaConstituição à exigência do artigo 37, II.
Verifica-se, outrossim, como acima já fize-mos ver, que a sujeição da admissão ao serviçoestatal à prévia aprovação em concurso públi-co satisfaz aos princípios da moralidade e daimpessoalidade, porquanto:
a) evita o favorecimento de afilhados outerceiros, o que ocorre sempre em detrimentodaqueles que, embora capazes, não tenhamaproximações com o administrador e não pos-sam beneficiar-se de seus favores;
b) privilegia o mérito, apurado de maneiraimpessoal e comprovado mediante a aprova-ção em certame no qual se observem as nor-mas comezinhas da correção, decência e trans-parência;
c) assegura a lealdade à administração, namedida em que o administrador só convocaráos mais capazes, que demonstrem aptidão parao serviço público, rejeitados os que não preen-cham tais requisitos.
Por outro lado, com referência ao âmbitode aplicação da norma, fácil é constatar quetoda a administração pública a ela se sujeita.Nesse sentido, quer sejam da União, dos Esta-dos, do Distrito Federal ou dos Municípios, quersejam da administração, direta, indireta ou fun-dacional, os órgãos estatais só podem admitirservidores após sua prévia aprovação em con-curso público.
Por algum tempo discutiu-se sobre a inclu-
são das sociedades de economia mista e em-presas públicas no rol das entidades submetidasao acatamento da disposição constitucionalacima transcrita. Na discussão que se travou,no começo da vigência da nova Constituição,pensavam uns, pouquíssimos aliás, que aadministração indireta estaria excluída da exi-gência do concurso público para admissão depessoal; outros consideravam que somente asempresas que prestassem serviço público se acha-vam obrigadas ao cumprimento daquele precei-to, ficando deste desobrigados os órgãos da ad-ministração indireta que se dedicassem à explo-ração de atividade econômica, por força do dis-posto no artigo 173, § 1º, da CF.
“A empresa pública, a sociedade deeconomia mista e outras entidades queexplorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empre-sas privadas, inclusive quanto às obri-gações trabalhistas e tributárias”.
Finalmente uma terceira corrente defendiao ponto de vista de que todas as entidades pa-raestatais, componentes da administração in-direta estariam vinculadas à realização de con-curso público para admissão de pessoal.
A grande maioria, porém, de cujo enten-dimento resultou a mansa e induvidosa juris-prudência em vigor, concluiu estarem todos osórgãos da administração indireta sujeitos aoprincípio da prévia aprovação em concursopúblico para admissão de servidores, inde-pendentemente de suas finalidades, ou seja,destinem-se à mera prestação de serviços ou àexploração de atividade econômica.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgarmatéria constante do Mandado de Segurançanº 21.322-1-DF (DJ, 23 abr. 1993), determi-nou a realização de concurso público para ad-missão de empregados em empresas paraesta-tais, em cumprimento ao que dispõe o art. 37,II, da Constituição Federal.
No âmbito do Tribunal de Contas da União,o entendimento é tão reiterado que originou aSúmula 231, segundo a qual:
“A exigência de concurso públicopara admissão de pessoal se estende atoda a administração indireta, nela com-preendidas as autarquias, as fundaçõesinstituídas pelo Poder Público e, ainda,as demais entidades controladas diretaou indiretamente pela União, mesmo quevisem objetivos estritamente econômicos,em regime de competitividade com a ini-ciativa privada”.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 7
Em nosso Estado, o Tribunal de Contas foium dos primeiros a filiar-se à corrente vence-dora, ao dar pela ilegalidade da admissão deservidores pela Sociedade Anônima de eletri-ficação da Paraíba (Saelpa) e pelo Banco doEstado da Paraíba (Paraiban).
Em suma, o que rege a admissão de servi-dores públicos, com o advento da Constituiçãode 1988, sob o manto da universalidade, é oprincípio da prévia aprovação do nomeando emconcurso público. Disso resulta que ninguém, emnenhum órgão público, quer federal, estadual,distrital ou municipal, quer, ainda, da admi-nistração direta, indireta ou fundacional, poderáser admitido ao serviço público sem que satisfa-ça aquela exigência constitucional.
3. Registro dos atos de admissãoAo mesmo tempo em que tornou obrigató-
ria a prévia aprovação em concurso público,para admissão válida ao serviço estatal, a Cons-tituição de 1988, suprindo lacuna existente nosordenamentos políticos anteriores, determinouque os atos respectivos fossem apreciados porum órgão competente para lhes conferir regis-tro.
Digo que a Carta Magna em vigor supriulacuna, porque, efetivamente, essa era umamedida que se impunha e que jamais fora ado-tada pelas Constituições ou pelas legislaçõesanteriores. Os atos de admissão de pessoal eramprolatados e quaisquer que fossem seus defei-tos passavam a vigorar sem nenhum ques-tionamento, justamente pela falta de um exa-me ou verificação, por um órgão a quem fossedada a atribuição de analisá-los e certificar asua correção.
De acordo, pois, com mandamento cons-titucional em vigor, cabe aos Tribunais de Con-tas apreciar, para fins de registro, a legalidadedos atos de admissão de pessoal, a qualquer títu-lo, na administração direta e indireta, incluídasas fundações instituídas e mantidas pelo poderpúblico, excetuadas as nomeações para cargo deprovimento em comissão.
Mais uma vez se vê que a exigência es-tende-se a toda a administração direta, indire-ta e fundacional de todas as esferas estatais –União, Estados, Municípios e Distrito Federal–, a todos os atos de admissão seja em cargosou empregos, e a que título for.
A negativa de registro do ato pelo Tribunalde Contas decorre da sua nulidade e acarretauma série de conseqüências que vão desde o
seu desfazimento até a aplicação de multa aoresponsável pelo não atendimento às deter-minações do Tribunal.
4. Admissões irregularesComo já vimos, a atual Constituição brasi-
leira, em seu artigo 37, II, dispõe, expres-samente:
“A investidura em cargo ou empregopúblico depende de aprovação prévia emconcurso público de provas ou de provase títulos, ressalvadas as nomeações paracargo em comissão declarado em lei delivre nomeação e exoneração”;
Importante é, sem dúvida, cotejar a dicçãoconstitucional em vigência com a que vigora-va no texto constitucional derrogado.
A Constituição de 1967, com a redação dadapela Emenda nº 1, em relação à matéria aquitratada, assim dispunha (art. 97, § 1º):
“A primeira investidura em cargopúblico dependerá de aprovação prévia,em concurso público de provas ou deprovas e títulos, salvo os casos indica-dos em lei”.
Do enunciado supra, duas conclusões po-dem ser extraídas:
a) sabendo-se que são mais de uma as for-mas de investidura em cargo público, somentepara a primeira exigia a Constituição de 1967a prévia aprovação em concurso de provas oude provas e títulos;
b) a própria Constituição autorizava, ex-pressamente, que a lei criasse exceções ao prin-cípio da prévia aprovação em concurso público.
Como está claro, o texto constitucional emvigor trilhou caminho diametralmente opostoao anterior e, nesse passo, não limitou a exi-gência de concurso à primeira investidura, nemtampouco autorizou a lei indicar casos em quea mesma possa ser dispensada.
Assim, a investidura em cargo público po-dia-se dar mediante nomeação (primeira inves-tidura) após aprovação em concurso público, epor meio dos chamados provimentos deriva-dos, dos quais são exemplos costumeiros atransferência, a ascensão, o acesso etc. O art.37, II, da atual Constituição da República éenfático ao dispor que “a investidura em cargopúblico depende de aprovação prévia em con-curso público”. Ao fazê-lo, pois, não se refere,restritamente, à primeira investidura, como ofazia a Constituição anterior, mas, ao contrá-rio, reporta-se a investidura, de maneira geral.Da dicção constitucional, a unanimidade dos

Revista de Informação Legislativa8
intérpretes entende que o constituinte direcio-nou-se no sentido de considerar que o novoordenamento constitucional não mais permiteas formas derivadas de provimento de cargospúblicos, salvo os casos expressamente postosno texto da Carta Magna.
Com respeito a tal matéria, veja-se a fulmi-nante decisão do Supremo Tribunal Federal,na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº231-7, na qual se diz que:
“O critério do mérito aferível por con-curso público de provas ou de provas etítulos é, no atual sistema constitucional,ressalvados os cargos em comissão de-clarados em lei de livre nomeação e exo-neração, indispensável para cargo ouemprego público isolado ou em carreira.Para o isolado, em qualquer hipótese;para o em carreira, para o ingresso nela,que só se fará na classe inicial e pelo con-curso público de provas ou de provas e tí-tulos, não o sendo, porém, para os cargossubseqüentes que nela se escalonam até ofinal dela, pois para estes, a investidura sefará pela forma de provimento que é a pro-moção.
Estão, pois, banidas das formas deinvestidura admitidas pela Constituiçãoa ascensão e a transferência, que são for-mas de ingresso em carreira diversa da-quela para a qual o servidor público in-gressou por concurso, e que não são, porisso mesmo, ínsitas ao sistema de provi-mento em carreira, ao contrário do quesucede com a promoção, sem a qual ob-viamente não haverá carreira, mas, sim,uma sucessão ascendente de cargos iso-lados.
O inciso II do artigo 37 da Cons-tituição Federal também não permite oaproveitamento , uma vez que, nessecaso, há igualmente o ingresso em outracarreira sem o concurso exigido pelomencionado dispositivo”.
No corpo do Acórdão proferido na supra-citada ADIn, esclarecem-se melhor os seus fun-damentos, inclusive com apelo à justificativadada aos dispositivos correspondentes, duranteos trabalhos constituintes:
“Não mais aludindo a atual Cons-tituição, em seu artigo 37, II, à (primei-ra) investidura, nem admitindo que a leipossa dispensar o concurso público deprovas ou de provas e títulos, é evidenteque caíram por terra os argumentos quecompatibilizavam os institutos da trans-
ferência e da ascensão (ou acesso) com oartigo 97, § 1º, da Emenda Constitucio-nal nº 1/69, por exigir este concurso pú-blico, e serem aqueles institutos formasde provimento derivado de quem já forainvestido, originariamente, em cargopúblico por concurso.
Essa interpretação que decorre, ine-quivocamente, do próprio texto consti-tucional, independentemente do elemen-to histórico de sua formação, é corrobo-rada categoricamente por este, que de-monstra que se trata de modificaçãoconsciente e que visou exatamente –como resulta da justificativa da emendaque suprimiu o adjetivo ‘primeira’ quequalificava a ‘investidura’ – impedir oque a expressão ‘primeira investidura’permitia”.
Ou seja:“O texto, da forma como está redigi-
do, permite o ingresso no serviço públi-co através de um concurso público paracarreira cujas exigências de qualificaçãoprofissional sejam mínimas como merotrampolim para, por mecanismos inter-nos, muitas vezes escusos, atingir car-gos mais especializados.
Da mesma forma, por este dispositi-vo, nada impede que alguém ingresse porconcurso em um órgão “x”, onde não hágrande concorrência, e isto sirva comojustificativa para admissão em outro ór-gão sem qualquer concurso” (Emendasupressiva 2T00736-1, apresentada em11.7.88 e aprovada em votação plenária).
Lembra, porém, o Supremo TribunalFederal ainda persistirem algumas formas deprovimento derivado, porquanto expressamenteadmitidas no texto constitucional, a exemplodo “aproveitamento” para os casos de servido-res em disponibilidade que devam voltar aoserviço ativo (art. 41, § 3º) e a “promoção”,por merecimento ou antigüidade. A promoçãoé imprescindível, tendo em vista que a Consti-tuição prevê a existência de carreira no serviçopúblico e esta, segundo o entendimento daSuprema Corte, sem a promoção seria umamera “sucessão ascendente de cargos isolados”.
Lembraríamos, ainda, que a Constituiçãoautoriza, expressamente, outras formas de pro-vimento derivado, tais como, a reintegração ea recondução. A primeira quando invalidadapor sentença judicial a demissão de servidorestável; a segunda quando, na mesma ocasião,o eventual ocupante daquela vaga tiver de ser

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 9
reconduzido ao cargo de origem. Nenhuma ou-tra forma de provimento derivado é permitida.
Também alijou-se a possibilidade de a leiestabelecer exceções ao princípio de que oratratamos, como permitia a Carta Magna derro-gada, por meio de enquadramentos, inclusões,aproveitamentos etc.
Em resumo, apenas mediante prévia apro-vação em concurso público de provas ou deprovas e títulos, pode alguém ser investido emcargo público.
Em que pese a expressa vedação constitu-cional à admissão de servidores sem a satisfa-ção dessa exigência, inúmeros são os exemplosde atos violadores do preceito constitucional,acarretando a corrida ao Poder Judiciário da-queles que se vêem prejudicados em face demedidas saneadoras tomadas por órgãos encar-regados de fazer prevalecer a Constituição e aLei.
As irregularidades mais encontradas, em talmatéria, dizem respeito à:
a) admissão sem a prévia aprovação emconcurso público;
b) admissão mediante aprovação em con-curso público em cuja realização não se segui-ram os princípios da legalidade, moralidade,impessoalidade e publicidade;
c) admissão mediante aprovação em con-curso público regularmente instituído e reali-zado, mas violando a ordem de classificaçãooficialmente divulgada;
d) admissão mediante aprovação em con-curso público regularmente instituído e reali-zado, mas procedida após decorrência do prazode validade do certame, com violação ao dis-posto no artigo 37, III;
e) admissão mediante qualquer uma dasantigas formas derivadas de provimento, taiscomo, transferência, enquadramento, ascen-são etc.
5. Conseqüências jurídicas da admissãoirregular ao serviço público
Ao chegarmos a este ponto, cabe-nos indi-car as conseqüências jurídicas da admissão ir-regular ao serviço público.
A própria Constituição Federal já prescre-ve, de maneira taxativa, o resultado desse pro-cedimento anômalo. Segundo o texto constitu-cional (art. 37, § 2º),
“a não-observância do disposto nos in-cisos II e III implicará a nulidade do atoe a punição da autoridade responsável,nos termos da Lei”.
Assim sendo, as conseqüências da admis-são irregular de servidores, com infringênciado artigo 37, II e III, da Constituição, centram-se em dois pólos: nulidade do ato e punição daautoridade responsável.
Tocante ao primeiro deles, cabe observarque, sendo o ato nulo, nenhum efeito ocasio-nará. E a nulidade, no caso, tem sede constitu-cional, o que representa um dado fundamentalpara análise da questão. A violação ao preceitomaior fulmina de nulidade o ato, impedindo-ode gerar efeitos.
A jurisprudência tendente a determinar anulidade dos atos irregulares de admissão depessoal é copiosa, avolumando-se dia-a-dia, enão poderia ser diferente. Tratando-se de ques-tão eminentemente de ordem pública, reconhe-ce-se até que tem prevalência sobre certos as-pectos de ordem individual.
Uma visão, perfunctória, do decisório ju-risprudencial dá-nos uma idéia de como o pro-blema tem sido visto pelos Tribunais:
1) A primeira medida que o ato irregularde admissão de pessoal exige é o seu desfazi-mento pela própria administração. Se o admi-nistrador não o faz sponte sua, haverá de fazê-lo por decisão judicial, por determinação deautoridade superior ou por deliberação do Tri-bunal de Contas correspondente, quando doexame do ato, nos termos do artigo 71, III, daConstituição Federal.
É entendimento pacífico, aliás, sumuladopelo Supremo Tribunal Federal, que à admi-nistração cabe anular seus próprios atos, quan-do se mostrarem irregulares. Mas se ela não ofaz, espontaneamente, haverá de fazê-lo com-pulsoriamente, por imposição de qualquer dosórgãos acima mencionados, sob pena de sujei-tar-se a cominações de natureza administrati-va, penal ou civil.
2) Se o caráter irregular da admissão depessoal decorre de vícios que contaminaram oconcurso público correspondente, nasce para aadministração a necessidade imperiosa de, anu-lando o certame, anular igualmente as admis-sões dele decorrentes.
É entendimento assente e revelado em su-cessivas decisões de nossos Pretórios. A pro-pósito, é tão relevante a questão, do ponto devista do interesse público, sobrepondo-se aointeresse individual, que o Supremo TribunalFederal já deliberou no sentido de que a anula-ção de concurso público viciado dispensa anotificação dos interessados e beneficiários dosatos nulos originados de certame inválido.

Revista de Informação Legislativa10
No julgamento do RE nº 85557-SP, que as-sim decidiu, o Ministro Moreira Alves enfati-zou:
“Decidiu o acórdão recorrido que aAdministração Pública pode declarar anulidade de concurso público em virtu-de de ilegalidades ocorridas na sua rea-lização, independentemente de ouvir, emprocesso administrativo, os candidatosnomeados em virtude dele, e em períodode estágio probatório”.
E, a meu ver, decidiu corretamente:Com efeito, dispõe a Súmula nº 346
que a administração pública pode decla-rar a nulidade dos seus próprios atos.
E, declarada a nulidade do ato – queopera ex tunc – não há que se falar emdireitos dele decorrentes.
A circunstância de os candidatos neleaprovados já terem sido nomeados e seencontrarem em estágio probatório emnada modifica a questão. Nulo o concur-so, nulas as nomeações e investiduras.
Hipótese, evidentemente, diversa da-quela a que se refere a Súmula nº 21:
“Funcionário em estágio probatórionão pode ser exonerado nem demitidosem inquérito ou sem as formalidadeslegais de apuração de sua capacidade”.
A exoneração ou a demissão pressu-põem investidura válida, sendo formasde ruptura de vínculo preexistente entrea Administração Pública e o servidor. Porisso, para que se apure a falta ou a inca-pacidade alegada como fundamento des-sa ruptura, é mister, nos termos da Sú-mula nº 21, que haja processo adminis-trativo em que se possa defender o servi-dor regularmente investido.
O mesmo, porém, não ocorre quan-do se trata de nulidade do ato adminis-trativo em virtude do qual houve a in-vestidura do servidor. Nesse caso, comosucede com qualquer outro ato adminis-trativo – que também pode causar preju-ízo ao seu beneficiário – o que há é osimples restabelecimento da ordem jurí-dica, violada pela administração públi-ca, e passível de ser restaurada por elamesma. Não teria sentido a exigência deprocesso administrativo em que tomas-sem a defesa, não de si mesmos – não setrata de falta pessoal ou de incapacidadeprofissional –, mas do ato impugnadocomo nulo, por ilegalidade, pela própria
administração que o praticou e que pos-teriormente reconheceu sua falha, os be-neficiários do ato. Ademais, é de consi-derar-se que a declaração de nulidade doconcurso é ato impessoal, já que atingea todos os classificados nele, e não a esteou àquele candidato.
Por outro lado, os prejudicados coma nulidade poderão atacá-la judicial-mente, para demonstrar que ao contrá-rio do que entendeu a administração pú-blica, o ato declarado nulo não o era porinexistirem as razões em que esta se fun-dou para caracterizar a nulidade.
3) Se nula é a admissão de pessoal, querpela nulidade do certame, quer pela falta des-te, evidentemente nenhum efeito dela decorre-rá. Daí resulta que nenhum direito, inclusivepecuniário, têm os servidores admitidos irre-gularmente.
A questão apresenta uma importância sig-nificativa em relação à Justiça do Trabalho,cujos integrantes, em sua grande maioria, abra-çam o entendimento de que nenhum direitopossuem, em tais casos, os interessados, no to-cante às diferentes parcelas asseguradas pelalegislação laboral aos empregados.
Entendemos inteiramente procedente a ori-entação adotada.
Se nulo é o ato de admissão, incapaz semostra de gerar efeitos. Mesmo frente a direi-tos trabalhistas, tutelados por justiça especi-alizada. Com respeito a isso, é de todo colacio-nável o judicioso pronunciamento da 3ª Juntade Conciliação e Julgamento de João Pessoa,em que se lê:
“É certo que o Direito do Trabalhorevela um inquestionável caráter tutelar,almejando proteger o hiposuficiente faceà maior força econômica da entidadepatronal, e é igualmente verdade que otrabalho é um elemento infungível, sen-do impossível retornar ao status quo anteapós a prestação ao serviço (motivo peloqual o trabalhador teria direito a umacontraprestação ou indenização pelastarefas executadas). Assim, uma parteconsiderável dos juslaboristas defende atese de que no âmbito trabalhista inexis-te a nulidade do contrato de trabalho, masapenas a sua anulabilidade com efeitosex nunc, sendo anulado o pacto sem re-troagir a ineficácia à data da sua cele-bração (sob pena de permitir o enrique-cimento ilícito do tomador dos serviços).

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 11
O presente caso concreto, no entan-to, revela uma peculiaridade: a nulidadeencontra-se expressamente estabelecidaem dispositivo constitucional. O parágra-fo segundo do artigo 37 dispõe explici-tamente sobre a nulidade do ato da con-tratação. Não se refere a anulabilidadedo ato. A primazia da norma constitucio-nal expressa, assim, é indubitável. Acontratação de servidor celetista após5.10.1988, sem a observância de suasregras, torna o elo de emprego nulo depleno direito. E, registre-se, não pode oobreiro alegar o desconhecimento danorma em seu benefício (artigo 3º da Leide Introdução ao Código Civil: ‘Nin-guém escusa de cumprir a lei, alegandoque não a conhece’).
Tal é o entendimento dominante noE. TRT da 13ª Região, conforme revelaa seguinte ementa: Contrato nulo. Im-procedência do pedido. Nulo é o contra-to de trabalho celebrado com infração àsdisposições do artigo 37, inciso II, daConstituição Federal, não gerando qual-quer efeito na ordem jurídica. Remessaoficial conhecida e provida para decre-tar a improcedência do pedido. (TRT. 13ªRegião. Acórdão nº 16048-REO 452/93.Relator: Juiz Tarcísio de Miranda Monte.DJPB, 21 ago. 1994).
Como conseqüência de tais consta-tações, incumbe a este colegiado decla-rar a nulidade absoluta do contrato detrabalho celebrado pelas partes, motivopelo qual improcede na íntegra a recla-matória quanto às postulações do deman-dante”.
A propósito da observação acima, de quenão pode o obreiro alegar o desconhecimentoda norma, devemos atentar também para outroaspecto. É que, quando se trata de atos de cor-rupção, de suborno, inclusive, nós temos o vezode censurar apenas aquele que se deixa cor-romper ou subornar, e nos esquecemos da fi-gura do corruptor ou subornador, quase sem-pre deixado ao abrigo de acusações. Recentesepisódios de repercussão nacional deixarambem clara essa tendência. É necessário, pois,que tanto um quanto o outro sejam censuradose punidos.
O mesmo ocorre no caso de que ora trata-mos, quando há necessidade de punir tanto oagente público, do que falaremos adiante, comoo beneficiário do ato irregular. Ambos são res-ponsáveis pela violação à norma constitucio-nal. Não há que falar, no caso em hipossufici-
ência do contratado. Inúmeros são os casos emque os beneficiários do ato irregular são pes-soa de nível superior de escolarização, bem ci-entes, por conseguinte, do caráter irregular desua contratação.
Alguns Pretórios trabalhistas têm entendi-do serem devidos os salários, se constantes dareclamação ajuizada. O contrário, porém, pa-rece-me mais aceitável, porquanto se o contra-to laboral é nulo, não há de gerar qualquerefeito.
Nesse sentido, veja-se decisão do TribunalRegional do Trabalho, 8ª Região:
“A investidura em cargo ou empregopúblico depende de aprovação prévia emconcurso público, ressalvadas as nome-ações para cargo em comissão declaradoem lei de livre nomeação e exoneração.A não observância desse dispositivoconstitucional implicará a nulidade doato de contratação e a punição da autori-dade responsável (art. 37, II, § 2º daConstituição Federal). Tratando-se denulidade absoluta, a sua declaração ju-dicial independe de provação dos litigan-tes. Os seus efeitos são ex tunc. Incabí-vel, portanto a condenação mesmo a tí-tulo de verbas salariais, eis que a nuli-dade, no caso, decorre de norma consti-tucional, cuja sanção prevalece sobre adoutrina clássica do direito do trabalho.Apenas por eqüidade não se determina adevolução dos salários e vantagens jápercebidas pelo reclamante, ante a im-possibilidade de restituição da força detrabalho. O princípio da moralidade pú-blica, consagrado no texto constitucio-nal, deve ser observado”. (TRT. 8ª Re-gião. 2ª Turma. AC. unânime. REX-OF-RO-7457/93. Relator: Juiz Vicente JoséMalheiros da Fonseca. 16 de março de1993. LTr , n. 58/59, p. 1104).
O Ministro Nogueira de Brito, em voto la-pidar, assim se manifesta:
“A natureza e importância do prin-cípio constitucional posto em evidênciatem, sem dúvida, significado especialís-simo. Não se está aqui examinando umarelação pura e simples entre patrão eempregado, mas sim uma relação entreEstado, lato sensu, e o cidadão. E aquias normas de ordem pública assumemespecial relevância. Se a Constituição,no caso específico da investidura em car-go ou emprego público, penaliza com anulidade o ato praticado sem observar o

Revista de Informação Legislativa12
requisito por ela estabelecido – o con-curso público – não podemos nós, a pre-texto de resguardar suposto direito em-preender novo tipo de conspiração a LeiMaior, suavizando os efeitos da penali-dade nela contida. Se o ato é nulo, assimdeve ser considerado”.
Ao defendermos o ponto de vista de que nemo pagamento de salários deve ser reconhecidoem favor do empregado irregularmente admi-tido, não queremos com isso defender a idéiade que o Estado, em sentido lato, possa se lo-cupletar à custa do trabalho alheio. Se o em-pregado prestou serviços ao ente público, estetem obrigação de pagar-lhe por essa prestação,mas não a título de salário. Salário é a remune-ração paga ao trabalhador legalmente contra-tado. Na hipótese, como não há contrato váli-do, não há direito a salários. No entanto, se ocontratado prestou serviços, há de ser remune-rado pela prestação desses serviços, do mesmomodo como são remunerados todos os presta-dores de serviço que usualmente contratam coma administração, sem ter, contudo, tal retribui-ção caráter salarial.
Tal orientação consubstancia, aliás, o en-tendimento do Tribunal de Contas da União,
“no sentido de dispensar o recolhimentodos valores despendidos a título de re-muneração dos empregados irregular-mente contratados, uma vez que tais va-lores correspondem ao pagamento deserviços prestados e, por isso, devidos”(Acórdãos 78/95 e 182/96 - Plenário).
A outra decorrência constitucional da ad-missão irregular de servidor público é, ao ladoda sua nulidade, a punição da autoridade res-ponsável, nos termos da lei.
As punições aplicáveis ao responsável pelaadmissão irregular de servidores públicos vãodesde a aplicação de sanções administrativas,até a aplicação de pena, se configurado algumtipo delituoso, assim definido em lei.
As decisões dos Tribunais de Contas, porexemplo, compreendem o julgamento irregu-lar das contas, por configurar-se, no caso, aprática de gestão ilegal, e a aplicação de multaao responsável, com todos os seus consectári-os, entre os quais a possível declaração de ine-legibilidade pela Justiça Eleitoral, conformedispõe a legislação própria. Da mesma forma,a admissão irregular de servidor público, re-presentando um ato que viola os deveres dehonestidade, imparcialidade, legalidade e le-aldade às instituições, pode configurar impro-bidade administrativa, nos termos da Lei
nº 8.429, de 2 de junho de 1992.Não se têm as Cortes de Contas manifesta-
do pela devolução aos cofres públicos, pelo res-ponsável, das quantias pagas, a título de ven-cimentos, aos servidores admitidos irregular-mente, por entenderem, como já dissemos aci-ma, que os valores pagos correspondem aosserviços prestados e, por isso, devidos.
Tocante, particularmente, aos Prefeitos, hálegislação específica (Decreto-Lei nº 201/67)que tipifica como crime de responsabilidade,de apuração privativa do Poder Judiciário epunível com pena, principal, de detenção, detrês meses a três anos, e com pena acessória deperda do cargo e inabilitação para o exercíciode cargo público, eletivo ou de nomeação, oato de “nomear, admitir ou designar servidor,contra expressa disposição de lei”.
Do mesmo modo recai sobre os adminis-tradores municipais a possibilidade de seu en-quadramento como gestores ímprobos, na for-ma do disposto na lei acima mencionada.
6. ConclusõesDo que até aqui expusemos, podemos con-
cluir que:1) as admissões de servidores em cargos ou
empregos, nos órgãos da administração direta,indireta e fundacional, da União, dos Estados,do Distrito Federal e dos Municípios, só se po-dem efetuar mediante a prévia aprovação emconcurso público de provas ou de provas e títu-los;
2) em vista da dicção constitucional em vi-gor, não mais se permitem as formas derivadasde provimento de cargos públicos, tais como,transferência, ascensão, acesso, somente per-mitidas aquelas expressamente autorizadas pelaConstituição: aproveitamento de disponíveis,promoção por antigüidade ou merecimento,reintegração e recondução, nas hipóteses deinvalidar-se por sentença judicial a demissãode servidor estável;
3) todos os atos de admissão de pessoal, aqualquer título, têm de ser apreciados pelo Tri-bunal de Contas correspondente, o qual, parafins de registro, apreciará a sua legalidade;
4) os atos irregulares de admissão de pes-soal, por expressa disposição constitucional, sãonulos de pleno direito, não gerando quaisquerefeitos, acarretando a sua prática a punição daautoridade responsável, do ponto de vista pe-nal, administrativo, civil e até mesmo político.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 13
1. Os direitos fundamentais, assim como aConstituição e o próprio Direito, podem serestudados, projetando-os em muitas dimensões.Essa multidimensionalidade é uma carac-terística do próprio modelo epistemológico quese considera mais adequado para investigá-los1.Tal modelo é dito tridimensional, e pode servisto como uma tentativa de conciliar de modoprodutivo as três principais correntes dopensamento jurídico, a saber, o positivismonormativista, o positivismo sociológico ourealismo e o jusnaturalismo.
A primeira dimensão em que devem serealizar os estudos jurídicos é dita analítica,sendo aquela em que se burila o aparatoconceitual a ser empregado na investigação,num trabalho de distinção entre as diversasfiguras e institutos jurídicos situados em nossocampo de estudo. Uma segunda dimensão édenominada empírica, por ser aquela em quese toma por objeto de estudo determinadasmanifestações concretas do direito, tal comoaparecem não apenas em leis e normas dogênero, mas também – e, principalmente –, najurisprudência. Finalmente, a terceira dimensãoé a normativa, enquanto aquela em que a teoriaassume o papel prático e deontológico que lheestá reservado, no campo do direito, tornando-se o que com maior propriedade se chamariadoutrina, por ser uma manifestação de poder,apoiada em um saber, com o compromisso decomplementar e ampliar, de modo compatívelcom suas matrizes ideológicas, a ordem jurídicaestudada.
A dimensão processual dos direitosfundamentais e da Constituição
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO
Willis Santiago Guerra Filho é Professor daFaculdade de Direito da UFC, Doutor (Bielefeld/Alemanha) e Livre-Docente (UFC) em Direito.
1 É o que propõe Robert Alexy, em sua Habilita-tionschrift, tese de livre-docência, versando sobre a Teoriados Direitos Fundamentais (TDF), com apoio em seu mestre,Ralf Dreier.

Revista de Informação Legislativa14
Tomando inicialmente a dimensão analí-tica, em que se há de elaborar precisamentosconceituais, em trabalho verdadeiramenteconstrutivista, defrontamo-nos com a possi-bilidade – que logo se revela, igualmente, umanecessidade teórica – de situarmos os direitosfundamentais em várias dimensões, quando,então, assumem conotações e uma diversidadetal, que torna recomendável distingui-las,nomeando-as diferentemente.
A primeira dessas distinções é entre“direitos fundamentais” e “direitos humanos”.De um ponto de vista histórico, ou seja, nadimensão empírica, os direitos fundamentaissão, originalmente, direitos humanos. Contudo,estabelecendo um corte epistemológico, paraestudar sincronicamente os direitos funda-mentais, devemos distingui-los, enquantomanifestações positivas do direito, com aptidãopara a produção de efeitos no plano jurídico,dos chamados direitos humanos, enquantopautas ético-políticas, situados em umadimensão suprapositiva, deonticamente diversadaquela em que se situam as normas jurídicas –especialmente aquelas de direito interno.
Já no âmbito do próprio direito interno, háque se distinguir direitos fundamentais dos“direitos de personalidade”, por serem essesdireitos que se manifestam em uma dimensãoprivatista, em que também se manifestam osdireitos fundamentais, mas de forma indireta,reflexa, como mostra a doutrina alemã daeficácia perante terceiros (Drittwirkung) dessesdireitos. Já numa dimensão publicista, não háque se confundir direitos fundamentais com“direitos subjetivos públicos”, pois se osprimeiros são direitos que os sujeitos gozamperante o Estado, sendo, portanto, nessesentido, direitos subjetivos públicos, não há aíuma relação biunívoca, já que nem todo direitosubjetivo público é direito com a estaturaconstitucional de um direito fundamental. Alémdisso – e o que é mais importante –, comoaprendemos ao estudar direito constitucionalalemão (v., por todos, o manual de KonradHesse, em vias de publicação entre nós), osdireitos fundamentais não têm apenas umadimensão subjetiva, mas também, uma outra,objetiva, donde se falar em seu “duplo caráter”,preconizando-se a figura do status como maisadequada do que a do direito subjetivo paracategorizá-los. A dimensão objetiva é aquelaem que os direitos fundamentais se mostramcomo princípios conformadores do modo comoo Estado que os consagra deve organizar-se e
atuar. Enquanto situação jurídica subjetiva ostatus seria a mais adequada dessas figurasporque é aquela donde “brotam” as demais,condicionando-as. Adiante, essa noção seráesclarecida, quando abordarmos um deter-minado direito fundamental de naturezaprocessual que, aliás, é clássico: o direito deação.
Um outro sentido em que se pode falar emdimensões dos direitos fundamentais é naqueleem que se vem falando em “gerações” dessesdireitos, distinguindo-se a formação sucessivade uma primeira, segunda, terceira e, paraalguns, como nosso Mestre Paulo Bonavides,também, já de uma quarta geração. A primeirageração é aquela em que aparecem as chamadasliberdades públicas, “direitos de liberdade”(Freiheitsrechte), que são direitos e garantiasdos indivíduos a que o Estado omita-se deinterferir em uma de suas esferas juridicamenteintangíveis. Com a segunda geração surgemdireitos sociais a prestações pelo Estado(Leistungsrechte) para suprir carências dacoletividade. Já na terceira geração concebe-sedireitos cujo sujeito não é mais o indivíduo nema coletividade, mas sim o próprio gênerohumano, como é o caso do direito à higidez domeio ambiente e do direito dos povos aodesenvolvimento.
Que ao invés de “gerações” é melhor se falarem “dimensões de direitos fundamentais”,nesse contexto, não se justifica apenas pelopreciosismo de que as gerações anteriores nãodesaparecem com o surgimento das mais novas.Mais importante é que os direitos gestados emuma geração, quando aparecem em uma ordemjurídica que já traz direitos da geraçãosucessiva, assumem uma outra dimensão, poisos direitos de geração mais recente tornam-seum pressuposto para entendê-los de forma maisadequada – e, conseqüentemente, também paramelhor realizá-los. Assim, por exemplo, odireito individual de propriedade, num contextoem que se reconhece a segunda dimensão dosdireitos fundamentais, só pode ser exercidoobservando-se sua função social e, com oaparecimento da terceira dimensão, obser-vando-se igualmente sua função ambiental.
2. Feita essa introdução, passemos aotratamento mais específico de nosso tema.Quando se fala em dimensão processual dosdireitos fundamentais e da Constituição,introduz-se uma distinção que, como sempre,tem dois lados. Em um dos lados, situa-se aquiloque há de processual nos direitos fundamentais,

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 15
que são o seu aspecto garantístico, em que setem direitos, de natureza processual, que sãodireitos, material ou formalmente, funda-mentais. Um catálogo deles foi fornecido empalestra proferida em Fortaleza pelo ProfessorDoutor Wolfgang Grunsky, da Universidade deBielefeld:
1º- Garantia da existência de inde-pendência dos juízes para proferiremsuas decisões – o que pode vir a serincrementado com alguma forma decontrole externo.
2º- Garantia de acesso à justiça, quenão se esgota com a simples previsão dodireito (individual) de ação, mas exigetambém uma efetividade social daprestação de tutela judicial, compen-sando aqueles mais desfavorecidos eatendendo a reclamos de celeridade, pelodesenvolvimento do processo cautelar eoutras técnicas de elaboração judicial.
3º- Garantia de tutela judicial paratodas as posições jurídicas subjetivas,tanto por meio de um processo deconhecimento como de um processo deexecução aptos a induzirem o adimple-mento específico de obrigações fungíveise infungíveis.
4º- Garantia de devido processo legal,com previsão do juiz natural, do contra-ditório, da ampla defesa, da oralidade epublicidade nos procedimentos.
5º- Garantia de arbitragem privada.Para bem entender o significado da
caracterização desses princípios processuaiscomo princípios constitucionais e como direitosfundamentais, examinemos mais de perto doisdeles. Pelos motivos explicitados em seguida,tomemos o princípio do contraditório e o direitode ação.
Primeiramente, lembremos que há, na maisrecente doutrina italiana, posição sobre anatureza jurídica do processo, desenvolvidapelos professores da Universidade de Roma N.Picardi e E. Fazzalari, segundo a qual oprocesso nada mais seria que um procedimentocaracterizado pela presença do contraditório,isto é, no qual necessariamente deve-se buscara participação daqueles cuja esfera jurídica podevir a ser atingida pelo ato final desse proce-dimento2.
Em consonância com essa noção, temos oinciso LV do artigo 5º da nossa Constituição,
ao determinar a observação do contraditório emtodo processo judicial e administrativo. Daípodermos afirmar que não há processo semrespeito efetivo do contraditório, o que nos fazassociar o princípio a um princípio informativo,precisamente aquele político, que garante aplenitude do acesso ao Judiciário. Importante,também, é perceber no princípio do contra-ditório mais do que um princípio (objetivo) deorganização do processo judicial ou adminis-trativo – e, logo, um princípio de organizaçãode um instrumento de atuação do Estado, ouseja, um princípio de organização do Estado.Trata-se de um verdadeiro direito fundamentalprocessual, donde se poder falar, com proprie-dade, em direito ao contraditório, ou Anspruchauf rechtliches Gehör, como fazem os alemães3.
Já naquele que pode ser considerado oprimeiro trabalho a explorar em profundidadeessa dimensão, a um só tempo processual econstitucional, o estudo de Eduardo Couture,“Las garantías constitucionales del procesocivil”4,aparece formulada uma concepção sobreo direito de ação como um direito civil, o direitode petição, que tanto dissolve a aparentementeinfindável disputa entre teorias abstratas econcretas sobre a natureza da ação – o direito éabstrato, todo cidadão o possui, estando seuexercício, em uma determinada ação, concre-tamente, vinculado ao atendimento de deter-minadas condições5 –, como fornece um pontode apoio constitucional para a primeiramanifestação do contraditório: a postulação emjuízo de um direito em face de outrem. Também,no mesmo estudo, o genial processualista sul-americano refere a segunda manifestação maisevidente do princípio do contraditório comoestando acobertada na tradição constitucionalanglo-saxônica pela claúsula do “DevidoProcesso Legal” (Due Process of Law), quegarante a possibilidade ao demandado de sercientificado da ação em curso (notice) e de serouvido perante o juiz (hearing)6.
A tese de Couture recebeu ampla aceitaçãono mundo ibérico7, ao mesmo tempo em que
3 Cf., v.g., recentemente, WALDNER. Der Anspruch aufrechtliches Gehör. Colônia : Berlim : Bonn : Munique, 1989,e GUERRA FILHO, Willis S. Die notwendige Streitge-nossenschaft und die Gewährung des rechtlichen GehörsDrittbetroffener bei Statusurteilen. Bielefeld, 1994.
4 Estudios de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires,1948. t. 1, p. 18 e segs.
5 GUERRA FILHO. Estudos jurídicos. Fortaleza, 1985.p. 128 e 153: Análise dos conceitos de ação, pretensão e direitomaterial em face da prescrição.
6 COUTURE, op. cit., p. 59.7 FAIRÉN GUILLÉN, V. Nueva Enciclopedia Juridica
Seix. Barcelona, 1950. t. 2, p. 197-198: Acción. FIX2 FAZZALARI. Istituzioni di diritto processuale. 4. ed.
Pádua, 1986. p.77 e segs.

Revista de Informação Legislativa16
representa um raro exemplo de penetração naEuropa de idéias jurídicas gestadas nesse cantodo planeta, graças ao sucesso de palestrasproferidas pelo processualista uruguaio emParis, bem como pela publicação do mencio-nado estudo em italiano e alemão, nosprincipais periódicos especializados em matériaprocessual nesses idiomas, a “Rivista di dirittoprocessuale civile” e a “Zeitschrift für Zivil-prozeß” (ZZP). Assim é que, um dos estudosapontados como pioneiros na investigação dainterface processo/constituição, na doutrinaalemã, devido a Fritz Baur, trata do princípiodo contraditório e o autor referido sobre o temada tutela constitucional do processo é Couture8.
Ao que parece, contudo, o direito de açãocomo direito fundamental seria melhorcompreendido se o visualizássemos como umstatus, uma espécie daquela figura que P.Häberle denominou status activus processualis.Dessa situação jurídica subjetiva básica, que éo status, derivam outras. No caso do direito deação, além do direito de petição, que não seexerce junto a órgãos jurisdicionais, haveria o“poder de ação”, que se exerce quandoatendidas determinadas condições, parapostular em juízo um determinado direito.Desse poder já decorreria um outro, o “poderde recorrer”, e assim por diante.
3. Até aqui, vínhamos tratando de aspectosde um dos lados da distinção entre Constituiçãoe processo. Do outro lado, tem-se aspectosmenos explorados teoricamente, mas que setornam sempre mais evidentes, em virtude docaráter fundamental do processo para que setenha direitos e uma ordem jurídica digna dessenome. Essa vertente torna-se especialmentesaliente no período histórico que atravessamos,o qual vem sendo chamado de “pós-moderno”,pois faltando ainda uma denominação própria,utiliza-se termo caudatário do período imedia-tamente anterior9.
Desde quando recebemos no Brasil umanova Constituição, muito importa discutir sobreo que vem a ser a chamada Lei Fundamentalde uma ordem jurídica, dentro de uma pers-pectiva também renovada. Cabe, então, buscarum entendimento dessa questão básica que váalém daquilo que tradicionalmente se esta-beleceu, desde o advento do ideário constitu-
cionalista, nos primórdios da Idade Moderna.A ambiência social em que contemporanea-mente se inserem as Constituições apresentaum grau de complexidade tal, que tornainsuficientes as explicações clássicas da suanatureza e significado. Já não basta mais verem uma Constituição o instrumento de defesados membros de uma sociedade políticaindividualmente, diante do poder estatal, aoconferir àqueles direitos fundamentais eorganizar esse poder impondo-lhe o respeito auma delimitação legal de áreas distintas deatuação, na forma de uma tripartição defunções.
Atualmente, uma Constituição não mais sedestina a proporcionar um retraimento doEstado frente à sociedade civil, como noprincípio do constitucionalismo moderno, comsua ideologia liberal. Muito pelo contrário, oque se espera hoje de uma Constituição sãolinhas gerais para guiar a atividade estatal esocial, no sentido de promover o bem-estarindividual e coletivo dos integrantes dacomunidade que soberanamente a estabelece.
A essa mudança de função das Constituiçõese do próprio Estado, que afinal de contas é porelas instaurado, resultante da forma comohistoricamente se desenvolveram as sociedadesem que aparecem, correspondem também,como não podia deixar de ser, modificaçõesradicais no plano jurídico. As normas jurídicasque passam a ser necessárias não possuem maiso mesmo caráter condicional de antes, com umsentido retrospectivo, quando destinavam-sebasicamente a estabelecer uma certa conduta,de acordo com um padrão, em geral fixado antesdessas normas e não, a partir delas, propria-mente. A isso era acrescentado o sancio-namento, em princípio negativo – i.e., umaconseqüência desagradável – a ser inflingidopelo Estado, na hipótese de haver um descum-primento da prescrição normativa. A regulaçãoque no presente é requisitada ao Direito assumeum caráter finalístico, e um sentido prospectivo,pois, para enfrentar a imprevisibilidade dassituações a serem reguladas ao que não se prestao esquema simples de subsunção de fatos a umaprevisão legal abstrata anterior, precisa-se denormas que determinem objetivos a seremalcançados futuramente, sob as circunstânciasque então se apresentem .
Em vista disso, tem-se salientado bastante,ultimamente, a distinção entre normas jurídicasque são formuladas como regras e aquelas queassumem a forma de um princípio. As primeiraspossuem a estrutura lógica que tradicional-mente se atribui às normas do Direito, com a
ZAMUDIO, H. Constitución y proceso civil en Latinoame-rica. México, 1976. p. 57.
8 BAUR, Archiv für die civilistische Praxis, 1955. p. 395:Der Anspruch auf rechtliches Gehör. Nota 5.
9 Cf., extensamente, GUERRA FILHO. Autopoiese doDireito na sociedade pós-moderna. Porto Alegre, 1997.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 17
descrição (ou “tipificação”) de um fato, ao quese acrescenta a sua qualificação prescritiva,amparada em uma sanção (ou na ausência dela,no caso da qualificação como “fato permitido”).Já os princípios fundamentais, igualmentedotados de validade positiva e de um modo geralestabelecidos na Constituição, não se reportama um fato específico, que se possa precisar comfacilidade a ocorrência, extraindo a conse-qüência prevista normativamente. Eles devemser entendidos como indicadores de uma opçãopelo favorecimento de determinado valor, a serlevado em conta na apreciação jurídica de umainfinidade de fatos e situações possíveis,juntamente com outras tantas opções dessas,outros princípios igualmente adotados, que emdeterminado caso concreto podem se conflitaruns com os outros, quando já não são mesmo,in abstracto, antinômicos entre si.
Os princípios jurídicos fundamentais,dotados também de dimensão ética e política10,apontam a direção que se deve seguir para tratarde qualquer ocorrência de acordo com o Direitoem vigor, caso ele não contenha uma regra quea refira ou que a discipline suficientemente. Aaplicação desses princípios, contudo, envolveum esforço muito maior do que a aplicação deregras, em que uma vez verificada a identidadedo fato ocorrido com aquele previsto por algumadelas, não resta mais o que fazer, para se sabero tratamento que lhe é dispensado pelo direito.Já para aplicar as regras, é preciso haver umprocedimento, para que se comprove aocorrência dos fatos sob os quais elas haverãode incidir. A necessidade de se ter umprocedimento torna-se ainda mais agudaquando se trata da aplicação de princípios, poisaí a discussão gira menos em torno de fatos do
que de valores, o que requer um cuidado muitomaior para se chegar a uma decisão funda-mentada objetivamente.
Sendo assim, é de se esperar, na medida emque aumenta a freqüência com que se recorre aprincípios para solução de problemas jurídicos,o crescimento também da importância daqueleramo do Direito ocupado em disciplinar osprocedimentos, sem os quais não se chega aum resultado aceitável, ao utilizar um meio tãopouco preciso e vago de ordenação da conduta,como são os princípios. Isso significa tambémque a determinação do que é conforme aoDireito passa a depender cada vez mais dasituação concreta em que aparece esse proble-ma, o que beneficia formas de pensamentopragmáticas, voltadas para orientar a ação(grego: pragma) daqueles envolvidos na tomadade uma decisão. Procedimentos são séries deatos ordenados com a finalidade de propiciar asolução de questões cuja dificuldade e/ouimportância requer uma extensão do lapsotemporal, para que se considerem aspectos eimplicações possíveis.
Entre os procedimentos regulados peloDireito, podem-se destacar aqueles queenvolvem a participação e a influência de váriossujeitos na formação do ato final decisório,reservando-lhes a denominação técnica de“processo”.
4. Há relativamente pouco tempo é que osestudiosos do Direito passaram a dedicar maioratenção ao seu aspecto procedimental, antesconsiderado como possuidor de uma funçãosubsidiária em relação às normas ditasmateriais, portadoras das valorações e modelosda conduta, restando para as normas proce-dimentais o problema meramente técnico dasua realização. Autores da fase tardia dopandectismo alemão, quando já se inicia ailação do Direito civil de base romana de umateoria geral do Direito, proclamam no últimoquartel do século passado a autonomia daciência processual e de sua categoria funda-mental, o processo, entendido como relaçãojurídica de caráter público, com a peculiaridadede se desenvolver numa extensão temporal coma concorrência de um representante do Estado(o juiz) e dos sujeitos interessados na decisãoque afinal se deveria obter como resultado (aspartes)11. A importância do procedimento para
10 Para uma concepção na qual a autonomia doordenamento jurídico não implica seu total desligamento damoral e da política, consulte HABERMAS. Wie ist Legitimitätdurch Legalität möglich? Kritische Justiz, 20, p. 1 e segs.1987. Para ele foi uma mudança na consciência moral na eramoderna que trouxe a exigência da diferenciação entre normas(rectius: regras), princípios justificadores e procedimentospara examinar a adequação daquelas a esses últimos (p. 6).A “moralidade” do Direito moderno, bem como a sua“racionalidade” e “autonomia”, não resultariam apenas dofato de ter se dado a positivação de exigências morais deracionalização nas Constituições, mas, também, princi-palmente, da circunstância de haverem sido instituídosprocedimentos para (auto) regulação e (auto) controle dafundamentação do Direito, de acordo com esses padrõesmorais de racionalidade (p. 9 e segs.). Fundamentação morale política dos princípios jurídicos, i.e. da legitimidade doDireito, e a sua “procedimentalização”, acham-se intimamenterelacionados, já que os valores legitimadores do mesmo nãose encontrariam propriamente no conteúdo de suas normas,mas sim no procedimento de fundamentação de algum dospossíveis conteúdos (p. l3 e segs.).
11 SILVA, Clóvis Do Couto E. Contribution a une histoiredes concepts dans le droit civil e dans la procedure civile:l’actualité de pensée d’Otto Karlowa et d’Oskar Bülow.Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridicomoderno, n. 14, p. 243 e segs. esp. p. 248, 1985, quando

Revista de Informação Legislativa18
o Direito é enfatizada na influente doutrina“pura” de Kelsen, quando propõe que se estudenão só a estática jurídica, cujo objeto são asnormas, mas também a teoria dinâmicaocupada com a conduta regulada por essasnormas, responsável pelo processo de aplicaçãoe concomitante (auto)produção do Direito12.
Na mesma época, primeiras décadas doséculo em curso, o processualista JamesGoldschmidt realiza uma “crítica do pensa-mento processual”, propondo a consideraçãodo processo como momento regido peladinâmica inerente a essa noção mesma, cujoresultado pode perfeitamente estar em desa-cordo com aquilo que estática e abstratamenteprevê o direito material13. Semelhante é aformulação de Niklas Luhmann, da legiti-midade obtida pelo procedimento, que há duasdécadas chamou a atenção para a dimensãofilosófica e política do fenômeno, numa
investigação de caráter sociológico tendo-ocomo objeto14.
O final dos anos sessenta e o princípio dadécada de setenta marcam o advento de umavirtual renovação dos estudos do direitoprocessual, quando se passa a enfatizar aconsideração da origem constitucional dosinstitutos processuais básicos15. Proliferam,então, as análises da conexão do processo coma Constituição, ao ponto de se poder encarar odireito processual como uma espécie de “direitoconstitucional aplicado”, como certa feitaformulou a Corte Constitucional alemã. Até omomento, porém, essas análises se limitarama ensejar esforços no sentido de realizaradaptações da dogmática processual àsexigências de compatibilidade aos ditames denível constitucional, relacionados diretamentecom o processo, isto é, aquelas garantias dochamado “devido processo legal”: a indepen-dência do órgão julgador, o direito de osinteressados terem acesso ao juízo e seremtratados com igualdade etc. Inexploradapermanece ainda a via que pode levar a umacompleta reformulação do modo de conceber oprocesso ao se tentar estruturá-lo de acordo comos imperativos de um Estado de direito social edemocrático, como atualmente se configuramas sociedades políticas ditas mais desen-volvidas, já que ele se forma modernamente
aponta a disposição dos juristas alemães, na segunda metadedo séc. XIX, de tratar dos conceitos gerais enquanto parteintegrante de uma futura Parte Geral do Direito Civil. Poroutro lado, não encontra aceitação entre os processualistastedescos atuais o tipo de abordagem excessivamente abstratoe conceitualista, afastado da realidade dos interessesconcretamente envolvidos na determinação do sentido denormas e institutos processuais, tal como se praticou atémeados do século em curso na Alemanha, e ainda se praticabastante nos países latinos, por influência daqueles epígonosde um pretenso processualismo científico. Veja-se, progra-mático, F. v. Hippel, Zur modernen, konstruktiven Epocheder deutschen Prozessrechtswissenschaf. ZZP – Zeitschrift fürZivilprozessrecht, n. 65, 1952. p. 424 e segs., agora tb. nacoletânea de ensaios do autor, Rechtstheorie und Rechts-dogmatik. Frankfurt, 1964. p. 357e segs. O paradoxo de aEscola Histórica, em sua fase tardia, dominada pelopandectismo de B. Windscheid, ter se voltado para uma análiseformalista do direito positivo, desvinculando-o de condicio-nantes materiais de natureza histórica ou política, é sublinhadopor Böckenförde, Die Historische Rechtsschule und dieGeschichtlichkeit des Rechts. Basel ; Stuttgart, 1965. p. 24,passim; HOLMES, H. J. van Eikema. Major Trends in theHistory of Legal Philosophy. Amsterdam ; New York ;Oxford, 1979. p. l92 e segs. WIEACKER, F. Industriege-sellschaft und Privatrechtsordnung. Frankfurt,1974. p. 55 esegs., esp. p. 61 e seg: Pandektenwissenschaft undIndustrielle Revolution.
12 É reconhecido de um modo geral que se deve a Kelsena introdução de uma perspectiva dinâmica no estudo doDireito, tal como se encontra em seu opus magnum, ReineRechtslehre. 2. ed., Wien, 1960 (reimp. 1967). O caráter“procedimentalista” dessa doutrina é referido por Luhmann,em Legitimation durch Verfahren. Neuwied ; Berlin, 1969.p. 11, nota 2. Como se sabe, a obra de Kelsen foi traduzidapara o português e publicada em Coimbra sob o título “TeoriaPura do Direito”, enquanto a de Luhmann, “Legitimidadepelo Procedimento”, em tradução sofrível, foi editada pelaUniversidade de Brasília.
13 GOLDSCHMIDT, op. ult. cit., cujo subtítulo é “EineKritik des prozessualen Denkens”, onde “crítica” deve serentendida no sentido epistemológico kantiano.
14 LUHMANN, op. cit. Um outro sociólogo do direito,menos conhecido entre nós, discípulo, como o primeiro, deArnold Gehler, que chama atenção para a função social eespecificamente jurídica de fundamental importânciadesempenhada pelo procedimento, é Helmut Schelsky. Paraele, é desse último que advém a racionalidade própria aoDireito, que não é puramente cognitiva, mas sim voltada,pragmaticamente, para a orientação da conduta, pois para elao que importa não é a “verdade”(das Wahre), e sim que sefaça o “certo” (das Richtige) V. Die jurisdische Rationalität,em SCHELSKY. Die Soziologen und das Recht. Opladen,1980, p. 34 e segs., esp. p. 35 e seg.; Id. Nutzen und Gefahrender sozialwissenschaftlichen Ausbildung von Juristen. JZ –Juristen Zeitung, n. 13, p. 410 e segs., 1974, esp. p. 412.Nesse aspecto, em que sublinha o caráter procedimental daracionalidade jurídica, as idéias de SCHELSKY sãocorroboradas por aquela linha de pensamento crítico, que eleem vida tanto combateu, representaria por HABERMAS (cf.loc. ult. cit.).
15 Um fruto típico dessa tendência, na Itália, é obra deNicolò Trocker, Processo civile e costituzione: Problemi didiritto tedesco e italiano. Milano, 1974. No Brasil, há estudosnesse sentido da lavra, v.g., de Ada Pellegrini Grinover. Aspesquisas reiteradas sobre o tema culminam com suapromoção a objeto do VII Congresso Internacional de DireitoProcessual, em Wurzburg, RFA, no ano de 1983, cujosrelatórios gerais foram publicados em Effektiver Rechtsschutzund verfassungsmässige Ordnung = Effectiveness ofJudicial Protection and Constitutional Order . W.HABSCHEID, editor, Bielefeld, 1983.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 19
sob o influxo das ideologias de cunho liberal, apartir do século passado, passando depois pelainfluência do autoritarismo predominante nosegundo quartel em curso16.
5. O que se pretende realizar a seguir,contudo, não diz respeito tanto ao aprofun-damento da relação do processo com aConstituição, tocando mais de perto o exameda “outra face da moeda”, quer dizer, do queleva à estreita associação entre Constituição eprocesso hoje em dia, quando esse se torna uminstrumento imprescindível na consecuçãodaquela. Colocamo-nos, assim, diante de umduplo movimento em sentidos opostos,nomeadamente, uma materialização do direitoprocessual, ao condicioná-lo às determinaçõesconstitucionais, e, ao mesmo tempo, umaprocedimentalização ou “desmaterialização” dodireito constitucional, à medida que o processose mostre indispensável para a realização da“Lei Maior” e, logo, também das “menores”,ou ordinárias. É ao esclarecimento desse últimoaspecto que se endereçam as considerações quese passa agora a apresentar.
A proposta que se tem em mente sustentaraqui é a de que a Constituição possui a natureza(também) de uma lei processual, assim comoinstitutos fundamentais do direito processualpossuem estatuto constitucional e, logo, são(também) de natureza material. Isso pressupõe,de imediato, que se firme a distinção entre essesdois aspectos ou dimensões do direito, omaterial e o processual, tendo presente que nãose trata propriamente de diferenciar ramos damatéria jurídica ou de uma divisão como a quesepara direito público e privado. Estamos, naverdade, diante de noções relacionais que seconceituam uma em função da outra e se exigemmutuamente. Materiais são as normas, quandofornecem parâmetros para se realizar o controlee ordenação da conduta intersubjetiva peloDireito, enquanto normas processuais seocupam diretamente com essa realização, ouseja, com a determinação das condições paraque esses parâmetros venham a ser aplicadosconcretamente.
Assim sendo, tem-se que, de uma perspec-tiva formalista, segundo a qual o que é própriode uma Constituição seria o estabelecimento
de normas para a elaboração e identificação deoutras normas da ordem jurídica nela baseada,podemos perfeitamente classificar as normas“por natureza” constitucionais como proces-suais. De fato, todo o aspecto organizatório, adistribuição de competências e de poderes entreas diversas esferas estatais, reveste-se de umcaráter processual, ao tratar de matéria diversadaquela que se considera aqui de direitomaterial, já que não impõem diretamentenenhum padrão de comportamento a serassumido pelos integrantes da sociedadepolítica. Por outro lado, não se pode deixar deconsiderar tipicamente constitucional a fixaçãode certos modelos de conduta, pela atribuiçãode direitos, deveres e garantias fundamentais,em que se vai encontrar a orientação para sabero que se objetiva atingir com a organizaçãodelineada nas normas de procedimento.
O vínculo ligando Constituição e processo,que na época atual – como dissemos, jáapelidada de “pós-moderna” – mostra-se tãopronunciado, é uma decorrência natural donovum histórico instaurado pela modernidade,no terreno jurídico-social: a consagração davitória na luta para revolucionar a organizaçãopolítica pela redação de um texto constitucional,isto é “constitutivo” de uma nova ordemjurídica, um fenômeno que no ano em curso setornou bicentenário. O movimento histórico depositivação do direito, desencadeado pelafalência da autoridade baseada no divino,implica a formação de um aparato burocráticocada vez maior para implementação da ordemjurídica. Tanto a legislação como a adminis-tração da res publica e de justiça necessitamde formas procedimentais dentro das quaispossam atuar atendendo aos novos padrõeslegitimadores do direito, baseados na racio-nalidade e no respeito ao sujeito, portador dessafaculdade17.
16 Cf., porém, WASSERMANN, Rudolf. Der sozialeZivilprozess: Zur Theorie und Praxis des Zivilprozesses insozialen Rechtsstaat. Neuwied ; Darmstadt, 1978, eSCHONFELD, K. E. Zur Verhandlungsmaxime im Zivil-prozess und in den übrigen Verfahrensarten : DieModifikation des Prozessrechts durch das Sozialstaatspostulat.Frankfurt; Bern, 1981.
17 Como acentua Vittorio Denti, em Diritto e potere nellastoria europea. Firenze, 1992.v. 2, p. 883 e segs: Dottrinedel processo e riforme giudiziarie tra iluminismo ecodificazioni. Atti del quarto Congresso Internazionale dellaSocietà Italiana di Storia del Diritto, in onore Bruno Paradisi.“(L)a burocratizzazione della funzione giudiciaria rispondead un programma politico di razionalizzazione del modusoperandi degli organi giudiziari che é uno degli aspettifondamentale dell’iluminismo e che, d’altronde, corrispondeal sorgere del diritto amministrativo in senso moderno,(...).Alla razionalizzazione dell’apparato amministrativocorrisponde, sul piano scientifico, l’elaborazione della teoriadell’atto amministrativo, cosi come alla razionalizzazionedell’apparato giudiziario corrisponde l’elaborazione dellacategoria del procedimento” (p. 886-887). Adiante, ressaltaque essa elaboração conceitual culmina na “processualização”de toda a atividade estatal. “Il massimo di razionalizzazione”,

Revista de Informação Legislativa20
À Constituição cabe, portanto, fornecer ofundamento último do ordenamento jurídico,uma vez desaparecida a crença na funda-mentação “sobrenatural” de um direito deorigem divina, e também a confiança na“naturalidade” do direito, que não se precisatornar objetivo pela positivação, por auto-evidente ao sujeito dotado de racionalidade. Osvalores fundamentais, sobre os quais se erigeaquele ordenamento, passam a integrar essemesmo ordenamento, ao serem inscritos notexto constitucional18. A consecução dessesvalores, por sua vez, requer a intermediaçãode procedimentos, para que se tome decisõesde acordo com eles, sendo esses procedimentos,igualmente, estabelecidos com respeito àquelesvalores19. O processo aparece, então, comoresposta à exigência de racionalidade, quecaracteriza o direito moderno20.
6. 0 quadro que se acaba de esboçar revelaa feição atual, eminentemente “autopoiética”,do Direito, como um sistema que regula a suaprópria (re)produção, por meio de proce-dimentos que ele mesmo instaura21. Dentro
desse quadro, não causa surpresa a ênfase dadaà dimensão processual do ordenamento jurídicoem recentes abordagens teóricas22, já que dianteda qualidade dos problemas com que se defrontaa sociedade contemporânea, não se podepretender encontrar naquele ordenamento pré-(e)scritas as soluções, que só se encontramrealmente ex post. Da mesma forma, não semostra satisfatória a dogmática jurídicatradicionalmente praticada, a qual volta aatenção predominantemente para os textoslegais, para, a partir deles, reconstruirautorizadamente o sentido normativo. O objetoda ciência jurídica não seria propriamentenormas, mas sim os problemas que a elas cabeviabilizar a solução23. E para isso, importa,
continua ele, “é dato, infatti, dall’applicazione della categoriadel “processo” a tutte le funzioni pubbliche, e quindi nonsoltanto alla funzione giudiziale, ma anche a quellaamministrativa ed a quella legislativa” (p. 890).
18 LUHMANN, Niklas. Grundrechte als Institution.Berlin, 1965. p. 40 e seg., texto e notas 6/7; p. 74 e seg., 182e segs.
19 RESNICK, David. Due Process and Procedural Justice.In: NOMOS. Yearbook of the American Society for Politicaland Legal Philosophy, n.18, p. 2O6 e segs., esp. p. 217-219,1977.
20 Cf. EDER, Klaus. Prozedurale Rationalitat. ARSoz –Archiv für Rechtssoziologie, n. 7, p. 1 e segs., 1986, bemcomo os estudos críticos de Herbert Treiber, ProzeduraleRationalität : eine verfahrene Sache?, ib. p. 243 e segs.,LADEUR, Karl-Heinz. id., p. 265 e segs., e DIMMEL,Nikolaus. ib., p. 274 e segs.
21 A teoria dos sistemas autopoiéticos foi desenvolvidainicialmente pelos biólogos chilenos Humberto R. Maturana,Francisco E. Varela e R. Uribe, em Autopoiesis : the organi-zation of living systems, its characterisation and a model. BioSystem, n. 5, p. 1897 e segs., 1974. Sua generalização paraos sistemas sociais se deve a Niklas Luhmann, que também aintroduz na teoria do direito, onde tem sido elaborada porGunther Teubner, em sua doutrina do “Direito reflexivo”. Cf.TEUBNER, WILLKE. Kontext und Autonomie. Gesellschaf-tliche Selbststeuerung durch reflexives Recht. ARSoz, n. 5, p.4 e segs.; 1984: TEUBNER. Reflexives Recht. ARSP – Ar-chiv für Rechts, und Sozial-philosophie, n. 68, p. l3 e segs.1982; Id., Das regulatorische Trilemma. Quaderni Fiorenti-ni, 13, p. l09 e segs. 1984; Id., Substantive and ReflexiveElements in modem Law. Law & Society Review, n. 17, p.239 e segs., 1983, e Autopoietic Law : a new approach toLaw and society. Teubner, editor. Berlin ; New York, 1988,com contribuições do próprio Teubner, Luhmann e inúmerosteóricos europeus das mais variadas nacionalidades e norte-americanos. Para uma avaliação crítica, veja-se, e.g., REI-CH, Nobert, Reflexives Recht? Bemerkungen zu einer neuen
Theorie von Gunther Teubner. In: WASSERMANN, Rudolf.Festschrift für. Neuwied ; Darmstadt, 1985; BLANKEN-BURG, Erhard. The poverty of evolutionism : A critique ofTeubners Case for Reflexive Law. Law & Society Review, n.18, p. 273 e segs. 1984; JACOBSON, Arthur J. AutopoieticLaw : the new science of Niklas Luhmann. Michigan LawReview, p. 87, p. 1647 e segs., 1989; MAUS, I. Perspektivenreflexiven Rechts im Kontext gegenwärtiger Deregulierun-gstendenzen. KJ, n. 19, p. 390 e segs., 1986; e as contribui-ções de R. Munch e P. Nahamowitz em ZRSoz., n. 6, 1985.Por último, de TEUBNER, Recht als autopoietisches Sys-tem. Frankfurt, 1989. V., por fim, GUERRA FILHO, WillisSantiago. Autopoiese do Direito na sociedade pós-moder-na. cit.
22 Aqui tem-se em mente, como exemplo típico, além darecém-mencionada doutrina “autopoiética”, a teoriaprocedimental de Wiethölter, sobre a qual nos debruçaremosna conclusão do presente estudo. Para uma tentativa recentede repensar a categoria de “sujeito de direito” incorporandoelementos provenientes de ambas as vertentes, consulte-seReiner Frey, Vom Subjekt zur Selbstreferenz. Rechtstheore-tische Überlegungen zur Rekonstruktion der Rechtskategorie,Berlin, 1989. Também no modelo desenvolvido por K.-H.LADEUR, com base da idéia de “sopesamento” (deinteresses) – em alemão, “Abwägung”, chega-se a uma“procedimentalização auto-referência” que possibilita o(re)equilíbrio e compatibilização de valores e comportamentosdivergentes. Cf. LADEUR, Abwägung : ein neues Rechts-paradigma. ARSP n. 69, p. 463 e segs.,1983; Id. Perspektiveneiner post-modernen Rechtstheorie, Rechtstheorie n.16, p.383 e segs.,1985, cujo texto em inglês vem publicado emAutopoietic Law, cit., p. 242 e segs. Não menos dependentede uma reflexão sobre o processo de realização do Direito semostra a concepção teleológica que propôs recentemente IngoMittenzwei, ao revisar uma antiga tradição filosófica à luzdos novos desenvolvimentos em filosofia da ciência. Cf.Teleogische Rechtsverstandnis, Berlin, 1988. Por fim, é de semencionar a ênfase que nos últimos tempos se tem dado aoestudo dos “processos de sopesamento” (Abwägungsprozesse)dos valores jurídicos na teoria do direito escandinava. Cf.ECKHOFF, Torstein, SUNDBY, Nils K. Rechtssysteme.Berlin, 1988. p. l05 e segs., passim.
23 Uma formulação em que os problemas jurídicos, e nãoas normas, são claramente apontados como o objeto da ciênciado direito, aparece, sem que tenha merecido a devida atenção,em Max Salomon, Grundlegung zur Rechtsphilosophie. 2.ed., Basel, 1925, p. 23 e segs. Essa posição é bastantefortalecida com a predominância do paradigma da “juris-

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 21
acima de tudo, examinar as situações concretasem que os interesses envolvidos manifestam-se e (eventualmente) entram em conflito. Daí aimportância de normas procedimentais, queregulam o modo de atender esses interesses,sem pretender determinar de antemão a soluçãoa ser dada.
A concepção da ordem constitucional comoum processo, no qual se inserem os defensoresde interpretações diversas no momento deconcretizá-la, e não como ordem já estabe-
lecida24, mostra-se condizente com aquela novaorientação em teoria do direito. Um outroaspecto dessa “procedimentalização” doDireito, ou melhor, da forma de concebê-lo,seria a sua crescente “desjurisdificação”(Entrechtlichung), conseqüência paradoxal daimensa “jurisdificação” (Verrechtlichung)acarretada pela modernização da sociedade, eque hoje se torna inócua e antiprodutiva25. Anova Constituição brasileira revela muito bem,por exemplo, o ânimo do legislador constituintepara regulamentar os mais diversos setores davida social, no que, aliás, procurou atenderexpectativas daqueles que o investiram do poderpara elaborar o texto constitucional. Cabe aindaao legislador ordinário viabilizar o cumpri-mento de uma série de mandamentos constitu-cionais por meio de leis complementares. Nãose espere, porém, do incremento da legislaçãoas esperadas soluções para a complexaproblemática nacional, pois decisivo perma-necerá sempre o processo em que se interpretae aplica o Direito Constitucional, às vezes, nolimite, contra legem.
prudência dos interesses” na dogmática jurídica alemã, bemcomo pelo aparecimento de uma teoria tópica do direito,devida a Theodor Viehweg, que encerra a “introdução” desua “Topik und Jurisprudenz” qualificando a dogmáticajurídica (Jurisprudenz) como “um procedimento específicode suscitar problemas, devendo esse procedimento serentendido como o objeto da ciência jurídica” (p. 14 da 5. ed.,München, 1974 - há tradução brasileira do Prof. TércioSampaio Ferraz Jr., publicada em Brasília pelo Ministério daJustiça). Cf., a propósito, ESSER, Grundsatz und Norm inder richterlichen Forbildung des Privatrechts. Rechtsver-gleichende Beiträge zur Rechtsquellen und Interpreta-tionslehre. 2. ed., Tübingen 1964. p. 6, texto e nota 13, e p.48 e segs. Vale ainda mencionar a influência mútua que nesseaspecto se verifica entre a filosofia jurídica germânica e anglo-americana, já que na referida obra de Esser, cuja importânciadificilmente se pode exagerar, dá-se a introdução deconcepções do realismo jurídico praticado nos EUA, comoassinala em sua tese de doutoramento Bernd H. Oppermann,Die Rezeption des nordamerikanischen Rechtsrealismus durchdie deutsche Topikdiskussion. Frankfurt, 1985. p. 62, passim.Ao mesmo tempo, o pensamento da segunda fase de Jhering,tal como aparece em Der Zweck im Recht, de 1877, (há trad.bras., publ. em Salvador, pela Livraria Progresso, em 1950,sob o título “A Evolução – sic – no Direito”), foi não só oponto de partida para a elaboração da Interessenjurisprudenzpor Philip Heck, como também exerceu um grande fascínionos representantes da legal philosophy realista e pragmáticanorte-americana, tais como Roscoe Pound. Nesse sentido,ESSER, loc. ult. cit. V. tb. GROMITSARIS, Athanasios.Theorie der Rechtsnormen bei Rudolph von Jhering. EineUntersuchung der Grundlagen des deuthchen Rechts-realismus. Berlin, 1989. Por outro lado, se pode apontar a“reviravolta” no pensamento iheringiano como resultado deuma adesão à filosofia utilitarista inglesa, patrocinada porJeremy Bentham, representada na Alemanha por EduardBeneke, cujo princípio ético fundamental recomenda que sedecida sobre o que é certo de acordo com o “sopesamento dosinteresses” em questão. Cf. COING, Helmut. BenthamsBedeutung für die Entwicklung der Interessenjurisprudenzund der allgemeinen Rechtslehre. ARSP n. 54, p. 69 e segs.,esp. 75 e segs. 1968; MITTENZWEI, op. cit., p. 389 e segs.Sobre a dimensão jusfilosófica do pensamento benthamniano,extensamente, H. L. A. Hart, Essays on Bentham. Oxford,1982. Em apoio à tese de adesão aos problemas que atravésdas normas do Direito se quer resolver, e não essas normasem si mesmas, que constituem o objeto da ciência jurídica,pode-se, finalmente, invocar o parecer e autoridade de KarlLarenz, quando considera a dogmática jurídica (Jurisprudenz)científica na medida em que ela “problematiza” os textosjurídicos, questionando as diversas possibilidades deinterpretação que eles admitem. Cf. Methodenlehre derRechtswissenschaft. 4. ed. Berlin ; Heidelberg ; New York,1979. p. 181 e seg.
24 A Constituição é vista por Häberle como processo,aberto para a participação pluralística dos representantes dasmais diversas interpretações. Cf. Die offene Gesellschaft derVerfassungsinterpreten : Ein Beitrag zur pluralistischen undprozessualen Verfassungsinterpretation. JZ, n. 30, p. 297 esegs., 1975, agora tb. em Verfassung als offentlicher Prozess.Berlin, 1978, p. l55 e segs., com um registro da discussãosuscitada pelo artigo, recebido com entusiasmo por uns erepudiado pelo positivismo constitucional, com Böckenfördeà frente (p. 180 e seg.). Consulte-se, ainda, no mesmo volume,os estudos inéditos Verfassungsinterpretation als öffentlicherProzess : ein Pluralismuskonzept, p. 121 e segs., eVerfassungsinterpretation und Verfassungsgebung. p. 182e segs., esp. p. 189 e segs. Também nos EUA surge no princípioda década em curso uma série de teorias constitucionais comcaráter processual, como são aquelas de J. Choper, em JudicialReview and National Political Process, J. H. Ely, emDemocracy and Distrust. Cf. o apanhado e exame crítico deR. D. Parker, The Past of Constitutional Teory – And ItsFuture”, Ohio State Law Journal, 1981, p. 223 e segs., e adefesa de HABERMAS, loc. cit. p. 15 e seg., o qual se alinhaentre os simpatizantes de tais teorias, como mostra seu estudoVolkssouveranität als Verfahren, MERKUR (DeutscheZeitschrift für europäisches Denken), n. 43, 1989, p. 465 esegs., esp. p. 475 e seg., agora incluído em “Geltung undFaktiztät”. Um outro filósofo de grande prestígio naatualidade, que subscreveria a tese em pauta, do caráterprocedimental da constituição, é John Rawls, que a concebe,idealmente, como um procedimento balizado por princípiosde justiça, no qual se conformariam as forças políticas,responsáveis pela produção legislativa. Em suas própriaspalavras: “Ideally a just constitution would be a just procedurearranged to insure a just outcome. The procedure would bethe political process governed by the constitution, the outcomethe body of enacted legislation, while the principles of justicewould define an indeperident criterion for both procedure andoutcome”. A Theory of Justice. Oxford, 1972. p. 197.
25 De um modo geral, v. Michael Bock, Recht ohneMass : die Bedeutung der Verrechtlichung für Person undGemeinschaft. Berlin, 1988.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 23
A reelegibilidade dos Vices e adesincompatibilização à luz da EmendaConstitucional nº 16/97
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha éProfessora de Direito Constitucional e Mestra emCiências Jurídico-Políticas pela UniversidadeCatólica Portuguesa.
A promulgação da Emenda Constitucionalnº 16, de 5 de junho de 1997, ao possibilitar areeleição dos Chefes do Poder Executivofederal, estadual, e municipal não fez mençãoexpressa acerca da extensão de sua aplica-bilidade ao Vice-Presidente da República, aosVice-Governadores e Vice-Prefeitos nem, tam-pouco, sobre a obrigatoriedade da desincom-patibilização dos titulares de mandatos quebuscam a permanência nos cargos, disputandonovo pleito.
Sobre o tema trata o presente artigo, embusca da exegese que melhor se harmonize comos princípios norteadores do Texto Máximo.
Demanda a matéria aplicação do métodoteleológico para alcançar o mandamento norma-tivo constitucional contido, não apenas nos arti-gos alterados pela Emenda Constitucional, subexamine – vg, art. 14, § 5º, art. 28, caput; art.29, II; art. 77, caput e art. 82, da Lei Maior –,mas na Carta Federal em sua integralidade.
No tocante à desincompatibilização, pres-cindir-se-ia de diligência interpretativa, setivesse o constituinte derivado atentado para aoportunidade preciosa de fulminar o silêncioda norma, fazendo valer o conhecido aforismo:in claris non fit interpretatio. Não tendo assimprocedido, resta a interposição hermenêuticaque, na lição de Paula Batista, busca
“(...) a exposição do verdadeiro sentidode uma lei obscura, por defeitos de suaredação, (...) duvidosa com relação aosfatos ocorrentes ou silenciosa” (Compên-dio de hermenêutica jurídica: clássicosdo Direito brasileiro. São Paulo, 1984.p. 4).
Nesse mister, cumpre perquirir, preliminar-mente, a mens legislatoris que norteou ostrabalhos parlamentares. Há que se ter presente,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

Revista de Informação Legislativa24
ao fazê-lo, que a intenção volitiva do legisladornem sempre corresponde ao sentido concretorevelado no texto. É que, conforme observouCarlos Maximiliano, as normas, muita vez,correspondem a um labirinto de idéias contra-ditórias que se somaram ao projeto legislativono momento de sua peregrinação pelas duasCasas do Congresso Nacional (Hermenêuticae aplicação do Direito. Porto Alegre : Ed.Globo, 1933. p. 36-37).
Vencido, contudo, tal embaraço, forçosoreconhecer constituir a vox viva legislatoris,não o principal ou mais profícuo, mas um rele-vante elemento da hermenêutica jurídica. Incasu, adentrar no intento do prolator de emendaconstitucional promulgada tão recentementerevela-se de inelutável necessidade para fixarseu sentido, amplitude e elasticidade.
Longo caminho percorreu o Projeto deEmenda Constitucional, que recebeu o númerode ordem 16, até alcançar sua redação final.Na proposta original, posteriormente alterada,lia-se:
“Art. 1º. O parágrafo 5º do artigo 14da Constituição Federal passa a vigorarcom a seguinte redação:
§ 5º O Presidente da República, osGovernadores de Estado e do DistritoFederal e quem os houver sucedido ousubstituído no curso de mandato pode-rão ser reeleitos por um período imedia-tamente subseqüente e concorrer no exer-cício do cargo.
Art. 2º Fica suprimida a expressão‘vedada a reeleição para o período sub-seqüente’ constante do artigo 82".
Com clareza irrefragável, quis a instânciarevisora determinar no Projeto em tramitaçãoa possibilidade de permanência nos cargos dechefia do Poder Executivo federal, estadual emunicipal dos titulares que viessem a disputara reeleição. Nesse sentido, pronunciamento dolegislador, contido na justificação que acom-panhava o projeto em curso, in verbis:
“A exigência da renúncia préviapode, com efeito, impedir a continuidadeadministrativa. A obrigatoriedade derenúncia do substituto implica, por outrolado, a formação de uma segunda chapapara reeleição, o que tumultua o processode negociação intrapartidária para aescolha de candidatura.”
Oferecidas emendas, o texto original sofreualterações diversas, por meio de proposiçõessupressivas, aditivas e aglutinadoras. A confe-
rir, entre uma gama de documentos legislativoscom propostas as mais diferenciadas: as Emen-das de nº 2 e 6, de autoria dos SenadoresAntônio Carlos Valadares e Josaphat Marinho,e os votos em separado dos Senadores EpitácioCafeteira e José Eduardo Dutra, exigindo arenúncia prévia ao princípio da reeleição; e,ainda, os pareceres de números 228 e 127 de1997, da lavra do Senador Francelino Pereira,dispensando, primeiramente da desincompati-bilização o Presidente da República, masestendendo-a aos governadores e prefeitos para,posteriormente, defender seu alcance a todosos chefes do Poder Executivo das entidadesfederadas.
Finalmente promulgada, suprimiu-se dotexto original a expressão e concorrer no exer-cício do cargo, descortinando-se desta maneiraa voluntas legislatoris no sentido de impor oafastamento dos detentores de mandatos nasdiversas esferas do Poder Executivo que buscama reeleição. Quisesse o reformador alijar oinstituto da desincompatibilização para ostitulares de mandatos no Poder Executivofederal, estadual e municipal, teria preservadoa ressalva final, inicialmente contida naemenda, excepcionando na Constituição a regraprevalecente no sistema constitucional.
Entendimento adverso importará em viola-ção à intangibilidade normativa do art. 14,parágrafos 6º e 9º, que impõem, respectiva-mente, a obrigatoriedade da renúncia parahabilitação a outros cargos e o resguardo aosprincípios da moralidade e isonomia. Issoporque o trabalho exegético pressupõe unidadesistemática. Inadmissível o ato gnosiológico deartigo isolado da Constituição, desvinculando-odo complexo orgânico normativo, pois condu-ziria à perplexidade jurídica de um conflito denormas constitucionais. A propósito, PauloBonavides, citando Klaus Stern, notável cons-titucionalista alemão, ao destacar os princípi-os norteadores da hermenêutica constitucional:
“a) a concisão do direito constitu-cional;
b) a freqüência de cláusulas gerais ecláusulas em branco, a par da aberturade inumeráveis normas da Constituição;
c) o grau hierárquico supremo dospreceitos constitucionais;
d) o norte axiológico, isto é, a dire-ção ou inclinação para valores;
e) a necessidade de proceder a esti-mativas ou ponderações impostas pelanatureza mesma dos valores, para efeitode sua aplicação a situações concretas;

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 25
f) e, finalmente, o sentido indecliná-vel de unidade, que faz convergir para ocampo da integração as funções de todaa Constituição, em busca de unidade eestabilidade” (Parecer ao ConselhoFederal da Ordem dos Advogados doBrasil, acerca de ato do Presidente doTribunal de Justiça do Estado do EspíritoSanto, questionado em face do art. 93, Ida Constituição Federal. nov. 1995, p. 4).
Tal sentido indeclinável de unidade é o queos juristas norte-americanos denominam deConstruction: a imparcialidade cognitiva deri-va, obrigatoriamente, do exame das normasjurídicas em seu conjunto e em relação à Ciên-cia, em oposição à velha exegese que as analisaisoladamente, atendo-se, tão-somente, aosentido das palavras ou ao silêncio do legisla-dor (BLACK, Campbell. Handbook on theconstruction and interpretation of the Laws. 2.ed., p. 1-5; BOUVIER, Jonh. Law dictionary,1914. Verbete: Construction e Interpretation).
Nesta ordem de idéias, o sentido exegéticoque merece ser atribuído à Emenda Constitu-cional nº 16/97 converge para a necessidadeda desincompatibilização em consonância como disposto no parágrafo 6º do art. 14 da Cons-tituição.
Uma vez irrecusável ao aplicador a deter-minação imperativa da renúncia aos mandatospelos candidatos que intentam concorrer acargos diferenciados, quanto mais se diga comrelação àqueles que pretendam disputar reelei-ção. Do contrário, como conciliar a determi-nação constitucional mencionada, de objetivaevidência, e o princípio da permanência noscargos de candidatos à reeleição sem a cons-purcação do sentido indeclinável de unidade eintegração da Constituição, a que aludiria KlausStern? Pior, prevalecendo a desobrigatoriedadeda desincompatibilização, como não conculcarvalores axiológicos que emanam do cerne daConstituição como a isonomia, a moralidadeadministrativa e a legitimidade das eleições?
Não se agita aqui, uma vez mais, do pontode vista hermenêutico, a questão da latitude dainterpretação literal em face do silêncio dolegislador, mas da atenção à principiologia daConstituição, a fim de não dissolvê-la na emo-ção política. Deste teor, colhe-se a doutrina dobrilhante constitucionalista lusitano JorgeMiranda:
“A Constituição deve ser tomada, aqualquer instante, como um todo, nabusca de uma unidade e harmonia de
sentido. O apelo ao elemento sistemáticoconsiste aqui em procurar as recíprocasimplicações de preceitos e princípios emque aqueles fins se traduzem, em situá-los e tentar defini-los na sua inter-rela-cionação e em tentar, assim, chegar auma idónea síntese globalizante, credívele dotada de energia normativa;
Isto aplica-se particularmente aochamado fenómeno das ‘contradições deprincípios’ presente nas Constituiçõescompromissórias e, não raro, noutrossectores além do Direito Constitucional.Elas devem ser superadas, para lá da letrada lei, nuns casos, mediante a reduçãoproporcionada do respectivo alcance eâmbito e da cedência de parte a parte e,noutros através de subordinação (...) Epode ter de se solicitar, como critériofinal (mesmo sem aceitar todas as pre-missas do puro método valorativo) a pon-deração dos valores inerentes aos prin-cípios que deverão prevalecer”.
E prossegue:“(...) todas as normas constitucionais
são verdadeiras normas jurídicas edesempenham uma função útil no orde-namento. A nenhuma pode dar-se umainterpretação que lhe retire ou diminuaa razão de ser. Mais: a uma norma fun-damental tende ser atribuído o sentidoque mais eficácia lhe dê; a cada normaconstitucional é preciso conferir, ligadaa todas as outras normas, o máximo decapacidade de regulamentação.
Os preceitos constitucionais devemser interpretados não só no que explici-tamente ostentam como também no queimplicitamente deles resulta. Contudo,a eficácia implícita de quaisquer precei-tos deve, por seu lado, ser pensada emconjugação com a eficácia, implícita, ouexplícita, dos outros comandos...” (Ma-nual de Direito Constitucional. 2. ed. :introdução à teoria da Constituição.Coimbra Ed., 1988. v. 2, p. 228-229 –grifos no original).
Impende observar, ademais, que o institutoda desincompatibilização, ato pelo qual o can-didato se desvencilha da inelegibilidade, paraalém de restringir direitos à capacidade eleito-ral passiva, tem por “objeto proteger a norma-lidade e a legitimidade das eleições contra ainfluência do poder econômico ou o abuso doexercício de função, cargo ou emprego na

Revista de Informação Legislativa26
administração direta ou indireta”, na liçãolapidar de José Afonso da Silva (Curso deDireito Constitucional Positivo. 6. ed. SãoPaulo : Revista dos Tribunais, 1990. p. 334).
Por tal razão, o parágrafo 7º do citado arti-go 14 da Lei Máxima, declara a inelegibilidadedo cônjuge, parente consangüíneo, afim e poradoção no território de jurisdição dos detentoresde mandato eletivo no Poder Executivo nosdiversos níveis da Federação, que não houveremse desincompatibilizado nos seis meses ante-riores ao pleito eleitoral.
A pertinência da restrição há de ser enten-dida como disposição assecuratória da lisurado pleito eleitoral. De fundamento ético rele-vante, a desincompatibilização não visa obstruiro regular funcionamento do Estado; antes,correlaciona-se com o ideal democrático queinspira a Nova Ordem Constitucional Brasi-leira. Ultrapassá-la equivaleria a expurgar doprocesso político a idoneidade da competição,aniquilando o princípio que torna inviolável aintegridade daquela participação.
Despiciendo, bem assim, trazer à colação aLei Complementar nº 64/90 (Lei das Inelegi-bilidades), posto tratar-se de análise objetiva eevolutiva das normas constitucionais e não dasde juridicidade inferior. A querela hermenêu-tica suscitada centra-se na concretização dosprincípios constitucionais e sua definição deabrangência, que devem convergir neutral-mente para o estabelecimento da mais pura emais adequada solução interpretativa.
Acerca da matéria, posicionou-se o TribunalSuperior Eleitoral, em resposta à Consulta 327formulada pelo Senador Freitas Neto, decidindopela desobrigatoriedade de desincompatibi-lização do Presidente da República, dosGovernadores de Estado e do Distrito Federale dos Prefeitos, se houverem de concorrer a ummandato subseqüente.
Acompanhando o voto condutor do Minis-tro Néri da Silveira, entendeu a Corte Eleitoralque as hipóteses de inelegibilidade hão de estarexpressamente configuradas na Norma Cons-titucional, por não comportarem interpretaçãoampliativa.
Procedendo exegese da emenda constitu-cional sub examine, formulou aquela Corte oentendimento de que a nova redação do § 5º doartigo 14 introduzida na Lex Magna, não con-templa regra de inelegibilidade, mas, ao revés,“hipótese em que se garante elegibilidade dosChefes dos Executivos federal, estaduais, dis-trital e municipais, para o mesmo cargo, no
período subseqüente”, razão pela qual “não cabe(...) falar em desincompatibilização para con-correr ao segundo mandato, assim constitucio-nalmente autorizado. O afastamento do cargode Presidente da República, de Governador deEstado e do Distrito Federal e de Prefeito nãoconstitui condição para a elegibilidade previstano § 5º do art.14 da Constituição, na redaçãoda Emenda Constitucional nº 16/1997”, nostermos do voto do relator, acatado à unanimi-dade pelo Colegiado.
Adentrando nos trabalhos legislativos quenortearam a atuação do constituinte derivado,entendeu, ademais, o Judiciário Eleitoral nãoter sido acolhida pelo Congresso Nacional pro-posta de emenda determinando o afastamentode inelegibilidade mediante desincompatibili-zação como requisito para a satisfação dascondições de elegibilidade. Posta em debate,nem na Câmara dos Deputados, nem no SenadoFederal, prevaleceu proposta de emenda deinserção de comando nesse sentido, pelo quepronunciou-se o voto condutor nos seguintestermos:
“Nesse sentido, exame dos comemo-rativos da elaboração da Emenda Cons-titucional nº 16/1997 evidenciam que avontade do legislador constituinte deri-vado prevaleceu no sentido de empres-tar à emenda da reeleição o caráter insti-tucional de que se reveste, alterandopreceito tradicional de nosso sistemarepublicano, para implantar experiênciajá conhecida por nações como os Esta-dos Unidos da América, França, Portu-gal e Argentina, países onde se pratica areeleição sem desincompatibilização dostitulares dos cargos de Presidente daRepública.
Pelos fundamentos antes aludidos,não se tendo, na Emenda Constitucionalnº 16/1997, mantido hipótese de inele-gibilidade, mas, ao contrário, criado casode elegibilidade, não se fazia misterprazo de desincompatibilização, o que épróprio das situações em que o afasta-mento do cargo ou função se faz indis-pensável, no prazo previsto na Consti-tuição ou na Lei das Inelegibilidades,para desobstruir a inelegibilidade. Aexigência de afastamento do cargo, nahipótese definida no § 5º do art. 14 daConstituição, com a redação em vigor,como condição de elegibilidade na normaprevista, somente seria, assim, cabível,

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 27
se resultasse de claúsula expressa naConstituição. A circunstância de nãofigurar, no texto, a autorização para con-correr, permanecendo o titular no exer-cício do cargo, apenas confirma a natu-reza da regra introduzida no § 5º do art.14 da Constituição pela Emenda Cons-titucional nº 16/1997, qual seja, normade elegibilidade. De fato, em se cuidandode norma concernente à elegibilidade,dispensável era a claúsula de permanên-cia; o que se impunha, ao contrário, seriadisposição determinante do afastamentodo titular, se e quando houvesse isso deser exigido. Repita-se: desincompatibi-lização pressupõe existência de inelegi-bilidade, o que não se configura na regrado § 5º do art. 14 da Constituição, naredação atual.”
E prossegue:“Releva ainda conotar que se tem sus-
tentado a necessidade da desincompati-bilização aludida, estabelecendo-se con-fronto entre os §§ 5º e 6º do art. 14 daConstituição, possuindo o último suaredação original. Dá-se, porém, que o §6º do art. 14 da Constituição disciplinacaso de inelegibilidade, prevendo prazode desincompatibilização. Desde oadvento da Emenda Constitucional nº16/1997, o § 5º do art. 14 da Lei Maior,passou, como se aludiu, a reger hipótesede elegibilidade, com disciplina especí-fica, não sendo, em conseqüência, pos-sível invocar, a seu respeito, a regra dedesincompatibilização constante do § 6ºdo mesmo art. 14 da Lei Magna. De outraparte, qual também já se registrou, dosdebates parlamentares e deliberações doCongresso Nacional em torno da Pro-posta de Emenda de que resultou aEmenda Constitucional nº 16/1997, apermanência dos titulares em alusão noscargos, mesmo se candidatos à reeleição,parece ter sido considerada, como medi-da de conveniência, em ordem a nãoocorrer interrupção da ação administra-tiva dos governos por eles chefiados.
Assim, no Senado Federal as Emen-das nºs 2, 5 e 6 ao Projeto originário daCâmara dos Deputados referente àEmenda Constitucional nº 16/1997,foram recusadas. Nelas se pretendia oafastamento dos titulares dos cargos exe-cutivos em foco, pretendentes à reelei-
ção, à semelhança do disposto no § 6ºdo mesmo art. 14”.
Conclui, alfim, que diante do sistema implan-tado e à vista dos princípios aludidos, não hácomo proclamar, a necessidade de desincom-patibilização do Presidente, dos Governadorese dos Prefeitos, para concorrerem à reeleição(CF, art. 14. § 5º), os quais, é certo, se candi-datos, deverão submeter-se aos rigorosos termosda Lei Eleitoral e ao efetivo controle a ser exer-cido, pela Justiça Eleitoral brasileira, sobre oprocesso das correspondentes eleições.
Indagação de relevo acerca da EmendaConstitucional nº 16/97 centra-se, outrossim,na reelegibilidade dos vices.
A Constituição de 18 de setembro de 1946,emendada em 22 de julho de 1964 com o nú-mero de ordem 9 e posteriormente modificadapelo Ato Institucional nº 3, de 5 de fevereirode 1966, a Constituição de 24 de janeiro de1967, “revisada” pela Emenda Constitucionalnº 1 de 17 de outubro de 1969 e a Constituiçãovigente, promulgada em 5 de outubro de 1988,constituem o eixo jurídico em torno do qualgravita o referido questionamento.
Da leitura dessa legislação exsurge a solu-ção da questão suscitada, extraindo-se da dicçãoconstitucional a interpretação que deve ser dadaao § 5º do artigo 14 da Lex Magna, alteradopela Emenda Constitucional nº 16/97.
Dispunha a Constituição de 1946 em seuartigo 81:
“O Presidente e o Vice-Presidente daRepública serão eleitos simultaneamente,em todo o País, cento e vinte dias antesdo termo do período presidencial”.
Alterado em sua redação pela EmendaConstitucional nº 9/64 e, a posteriori, pelo AtoInstitucional nº 3/66, modificar-se-ia a siste-mática constitucional até então adotada, vin-culando-se os mandatos dos candidatos a vicesaos titulares com eles registrados.
É o que se extrai da leitura dos citados dis-positivos legais respectivamente transcritos:
Emenda Constitucional nº 9/64“Art. 81– Omissis§ 4º – O Vice-Presidente considerar-
se-á eleito em virtude da eleição do Pre-sidente com o qual se candidatar, deven-do, para isso, cada candidato a Presidenteregistrar-se com um candidato a Vice-Presidente”.
E ainda,Ato Institucional nº 3/66“Art. 2º – O Vice-Presidente da Re-
pública e o Vice-Governador de Estado

Revista de Informação Legislativa28
considerar-se-ão eleitos em virtude daeleição do Presidente e do Governadorcom os quais forem inscritos como can-didatos”.
A seguir, a Constituição de 1967 em seuartigo 79, modificado em sua forma, mas nãoem sua essência, por sucessivas emendas; a denúmero 1, em 1969, a de número 8, em 1977, ea de número 25, em 1975, manteria o conteúdoda redação original ao estabelecer no artigo 75:
“Art. 75 – Omissis§ 1º – A eleição do Presidente impli-
cará a do candidato a Vice-Presidentecom ele registrado”.
Seguindo esta linha de orientação, o consti-tuinte de 1988 reproduziria a ratio em termosquase idênticos ao dispor no artigo 77, §1º:
“Art. 77 – Omissis§1º – A eleição do Presidente da Re-
pública importará a do Vice-Presidentecom ele registrado”.
A “constitucionalização” da vinculação dosmandatos dá conseqüência ao princípio de uni-cidade de chapa, sobre o qual procede o seguintecomentário de José Afonso da Silva:
“A eleição do Presidente implicaautomaticamente a eleição do Vice-Pre-sidente com ele registrado, que sequer évotado. Foi a mecânica que o sistemaconstitucional engendrou para evitar queo Vice-Presidente eleito pertença a par-tido de oposição ao Presidente, como nãopoucas vezes acontecera, desde FlorianoPeixoto” (op. cit., p. 468).
Ao tratar das inelegibilidades, a Constitui-ção estabeleceu impedimentos à capacidadeeleitoral passiva, superado o parágrafo 5º doartigo 14, que vedava para o período subse-qüente a reeleição do Presidente da República,dos Governadores de Estado e do DistritoFederal e dos Prefeitos, em decorrência darecém-promulgada Emenda Constitucional nº16/97.
Reproduzindo com precisão a técnica ado-tada no Texto Constitucional que se buscoumodificar, o poder derivado restou silente notocante à reeleição dos vices aos cargos atinen-tes ao Poder Executivo nas esferas federal, es-tadual, distrital e municipal. Tal procedimento,contudo, não quer significar o alheamento dasituação jurídica a eles atinentes do corpo daConstituição.
Isso porque a inovação constitucionalintroduzida há de se harmonizar com preceitosconstitucionais outros – vg: o caput do art. 5º e
o próprio artigo 14 – na determinação de seuconteúdo, direção e alcance. Inconcebível seriainterpretá-la desvinculando-a dos demaisdispositivos materializados na Constituição.
A Emenda Constitucional nº 16/97 opera,portanto, como um precepto didactico, acordeo qualificaria o insuperável Professor Sainz deBujanda, mestre dos publicistas espanhóis, aopossibilitar, sem explicitar em sua literalida-de, a reeleição dos vices aos mandatos de quejá são detentores.
Em verdade, o sentido indeclinável dehomogeneidade da Carta Máxima, que seinsiste em afirmar, faz convergir para o campoda integração as funções de toda a Constituiçãopela necessidade de se proceder a estimativasou ponderações impostas pela natureza mesmados valores. Assim, o princípio da isonomiainsculpido no artigo 5º, caput, as determina-ções constitucionais que estabelecem os direitospolíticos negativos e a função decisiva dos prin-cípios jurídicos concorrem por sua clareza eoperatividade para determinação imperativa doque se asseverou.
Princípio basilar do Estado de Direito, aigualdade perante a Lei consagra em sua obje-tividade e concretude o sentido cogente danorma, ao impor tratamento isonômico na suaaplicação.
Na lição de Seabra Fagundes, o princípiosignifica que a lei “deve reger, com iguais dis-posições – os mesmos ônus e as mesmas vanta-gens –, situações idênticas, e, reciprocamente,distinguir, na repartição de encargos e benefí-cios, as situações que sejam entre si distintas,de sorte a quinhoá-las ou gravá-las em propor-ção às suas diversidades... Corresponde à obri-gação de aplicar as normas jurídicas gerais semdistinções que não sejam autorizadas pela pró-pria Constituição”. (O princípio da igualdadeperante a lei e o Poder Legislativo. Revistados Tribunais, p. 255).
Ora, é fato não constituir mais a irreelegi-bilidade dogma norteador da República Brasi-leira, sepultado que foi pela Emenda Constitu-cional nº 16/97.
Nesse sentido, inexiste res dubia queconduza a uma inteligência contrária à tex-tualidade da norma, na expressão de PauloBonavides.
Patenteia-se, pois, a extensão da aplicabili-dade da norma a todos os ocupantes de cargosexecutivos – titulares ou não – por haver o poderrevisor suprimido a inelegibilidade previstapelo § 5º do artigo 14 da Constituição Federal,

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 29
sem excepcioná-la; razão pela qual, deveráprevalecer indistintamente para todos. Entenderser o vice irreelegível implicaria restringirdireitos políticos, instituir privações ao exercí-cio da cidadania, sem previsão constitucionalexpressa.
Não cabe, tampouco, o argumento de ter aLei Complementar nº 64, de 18 de maio de1990, previsto a inelegibilidade dos vices no§ 2º do art. 1º, que deu azo à Súmula nº 8exarada pela Corte Superior Eleitoral. Recep-cionada pela Constituição vigente, essa Lei teveseu texto parcialmente revogado pela novelEmenda Constitucional por arredar-se da alte-ração introduzida na Lei Maior.
Aliás, a elegibilidade/reelegibilidade dosvices para disputarem os mesmos cargos geravacontrovérsias na doutrina, antes mesmo da pro-mulgação da Emenda Constitucional nº 16/97.
Comentando a Súmula nº 8 que assentouser o Vice-Prefeito irreelegível para o mesmocargo, Pedro Henrique Távora afirma: A proi-bição (de irreelegibilidade)
“não apanha a reeleição do Vice-Presiden-te, do Vice-Governador ou do Vice-Pre-feito, ou a sua reeleição para Presidente,governador ou prefeito, salvo se tiver exer-cido, por sucessão ou substituição em certomo-mento, o mesmo cargo almejado”.
E prossegue:“A Constituição atual (...) abandonou
a fórmula adotada por sua antecessora,que previa a irreelegibilidade de quemhouvesse exercido cargo de “Presidentee de Vice-Presidente da República, deGovernador e Vice-Governador, de Pre-feito e de Vice-Prefeito, por qualquertempo, no período imediatamente ante-rior”, sendo inelegível quem, dentro dosseis meses anteriores ao pleito, os ‘hou-vesse sucedido ou substituído’ (art. 151,§1 º, a e b) (...). O entendimento sumu-lado não condiz com os dispositivos quetoma por referência, senão com o art. 14,§ 5º, e a Lei Complementar nº 64/90,art. 1º, § 2º”.
“A lei complementar, que poderiafazê-lo calçada no § 9º do art. 14 da Cartade 1988, não proíbe ao vice que se can-didate ao mesmo cargo, apenas permite-lhe concorrer a outros cargos, preser-vando seu mandato, se não houveratuado no lugar do titular nos últimosseis meses antes da eleição”.
“A regra do § 2º é permissiva, nãoproibitiva, pois, quisesse a lei comple-
mentar contemplar a irreelegibilidadedos vices, o teria feito expressamente, nosincisos do art. 1º. E a aludida lei nãotrata senão de inelegibilidades, ficandosó com a Constituição o impedimento àreeleição, e esta não reeditou regra antigavigorante acerca dos vices. Respeitou alei permissão insinuada pela Constitui-ção, não obstante pudesse estampar, porsi, a vedação” (Direitos políticos:condições de elegibilidade e inelegibili-dade. São Paulo : Saraiva, 1994. p. 49 e96-97 – grifos no original).
Perfilhando posição de igual teor, JoséAfonso da Silva assevera:
“Cumpre observar que o Vice-Presi-dente da República, o Vice-Governadorde Estado ou do Distrito Federal e o Vice-Prefeito de Município não estão proibi-dos de pleitear a reeleição, como tam-bém podem candidatar-se, sem restriçãoalguma, à vaga do respectivo titular,salvo se o sucedera (assim, passou atitular) ou o substituíra nos últimos seismeses antes do pleito (...). Confirma-seaqui que os vices são elegíveis a qual-quer mandato, sem necessidade derenunciarem” (op. cit., p. 337).
Se a doutrina já não era unânime anterior-mente à edição da Emenda nº 16/97, profes-sando orientação interpretativa a favor da reele-gibilidade dos vices, mais não fala posterior-mente à sua edição.
Inconteste o texto reformador haver restadosilente no tocante aos vices, por ter se inspiradodiretamente na sistemática adotada pelo cons-tituinte maior, que também os omitiu pela óbviarazão dos mandatos de titular e vice estaremvinculados, dispensando, outrossim, teor literalda disposição constitucional.
A toda evidência, o parágrafo sub examineabre espaço à aplicação de instrumentos exe-géticos que conduzem à inteligência da inter-pretação formulada, desfazendo o silêncio dolegislador secundário que não pretendeu esta-belecer tratamento diferenciado a situaçõesidênticas – detentores de mandatos executivospoderem reeleger-se para o mesmo cargo.Interpretação diversa implicaria afronta aoprincípio da isonomia, elencado como claúsulapétrea e ao princípio republicano que passou aadmitir a reelegibilidade.
Concluindo, todos os argumentos apontadosconvergem para o sentido indeclinável de uni-dade da Constituição, inovada com a introdução

Revista de Informação Legislativa30
do instituto da reeleição, que alcança, nãoapenas os detentores de mandatos eletivos doPoder Executivo, mas os seus vices, impondo-se, outrossim, com a devida venia à decisão do
Judiciário Superior Eleitoral, a necessidade dedesincompatibilização nos seis meses anterioresao pleito eleitoral, àqueles que, na condição detitulares, buscam concorrer à reeleição.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 31
1. IntroduçãoA temática relativa a honorários advo-
catícios, conquanto seja bastante referida nodia-a-dia, paradoxalmente, recebe poucaatenção dos doutos, razão pela qual é pouco esuperficialmente estudada, mormente, no querespeita aos princípios sobre os quais repousamos posicionamentos em face da quaestio juris,bem como das conseqüências, por vezes,nefastas que a aplicação pelos julgadores demáximas esteriotipadas, no caso concreto,indiscriminadamente, trazem às partes.
Destarte, este trabalho pretende fazer umaabordagem preliminar da matéria, questio-nando, criticamente, o princípio da sucum-bência consagrado pelo nosso Código deProcesso Civil e majoritária jurisprudência,sobrepondo-lhe o princípio da causalidade, queentendemos mais adequado e justo para oestabelecimento da responsabilidade pelasdespesas do processo, particularmente hono-rários advocatícios.
2. Breve históricoNa antigüidade, em decorrência, certa-
mente, da simplicidade do direito, das relaçõescivis e comerciais, da resolução dos conflitospor meio da justiça privada, entre outros fatores,não se tem notícia de referência ao tema relativoaos encargos da lide.
O ônus do pagamento dos honoráriosadvocatícios e o princípio da causalidade
ORLANDO VENÂNCIO DOS SANTOS FILHO
Orlando Venâncio dos Santos Filho é Advogadoe Professor de Processo Civil da Unisinos/RS.
SUMÁRIO
1. Introdução. 2. Breve histórico. 3. Princípioda causalidade – crítica ao princípio da sucum-bência. 4. A sucumbência no Direito pátrio vigente.5. Conclusão.

Revista de Informação Legislativa32
Como vários dos nossos institutos, é noDireito Romano que vem à tona, eviden-temente, com significado diverso, a expressãojus honorarium, acolhida por Justiniano comouma das fontes do Direito, inserindo-a nasInstitutas do Corpus Juris Civilis.
O jus honorarium constituir-se-ia da somados éditos – ordens, decretos – dos magistratuspopuli romani, que eram publicados, em formade programa – edictum –, no início da judica-tura, declarando, previamente, os princípiosnorteadores dos seus trabalhos, durante o tem-po de suas funções.
Verifica-se, desde logo, que embora ovocábulo honorarium pouco tenha se alterado,hoje, ele tem uma significação completamentediversa.
Em face do caráter eminentemente publi-cista do Direito Romano, a questão atinente àremuneração do advogado (jurisprudente), sejapor meio da parte à que prestava serviço, sejapor meio do reembolso das despesas do pro-cesso pelo vencido, a priori, não encontrou res-sonância.
Os jurisprudentes, enquanto intérpretespúblicos do Direito, título que lhes foi conferidopelo Imperador, trabalhavam “gratuitamente”,exercendo relevante função social, em troca deprestígio e favores políticos. Aliás, a Lei Cíncia,250 a.C., proibiu os jurisprudentes de acei-tarem, a título de remuneração de trabalho,qualquer quantia ou presente.
Ratificada por um senatusconsultum maissevero no Império de Augusto, estabeleceu-sea sanção da restituição em quádruplo do paga-mento recebido. Esta sanção foi revogada peloImperador Cláudio por meio de um senatus-consultum, que, sob determinadas condições,permitiu o recebimento de honorários, vedan-do, entretanto, a remuneração quota litis (par-te do que o cliente auferisse na demanda) e opalmarium (honorários excepcionais, na hipó-tese de êxito na causa).
Impende salientar que no Direito Romanoas partes litigantes suportavam as respectivasdespesas do processo, desconsiderando-se oêxito da demanda, a sucumbência ou quaisqueroutros aspectos.
Entretanto, com o tempo algumas regrasforam estabelecidas; nas leges actiones,determinada quantia era depositada por cadalitigante; aquele que fosse sucumbente perderiatal valor, que era revertido, a título de imposto,para os sacerdotes ou Erário e não para a partevitoriosa.
No mesmo período surgiu, outrossim, aactio dupli, que era uma ação direta contra osucumbente que injustamente resistisse àdemanda, pelo dobro do valor do objeto dacondenação.
Enfim, no Direito Romano, o que caracte-rizou a condenação do sucumbente no processo,decorrente do seu comportamento temerário,foi a natureza de pena.
Esse critério, calcado na pena, revertida nãoem favor do vencedor, ao que tudo indica, foiabandonado com a Constituição de Zenão, em487. Estabeleceu-se que, na sentença, o juiz im-poria ao sucumbente a obrigação de pagar to-das as despesas do processo, sendo-lhe faculta-do acrescentar até o décimo das despesas real-mente ocorridas, se convencido da temerida-de. Esse acréscimo seria devolvido ao fisco,desde que o juiz não decidisse atribuir umaparte ao vencedor, para reparação do danosofrido.
Com esta Lei, tivemos a passagem do antigopara o novo sistema, em que a condenação nasdespesas processuais independia de má-fé naconduta do vencido, conquanto houvesse a pos-sibilidade de apenar-lhe com até a décima par-te das despesas efetuadas, em favor do erárioou do próprio vencedor, a título de indeniza-ção para reparação de dano. Assim, teria o pro-cesso romano consagrado o princípio da con-denação do sucumbente nas despesas do juízo.
No Direito Canônico a sucumbência não serevestiu de vigor especial, sendo estranha comoprincípio absoluto, tendo a condenação do ven-cido, nas despesas do processo, caráter de pena,objetivando conter a litigância de má-fé.
Conforme se tem notícia, foi Adolfo Webero primeiro jurista a estabelecer um princípiocapaz de superar o arbítrio judicial a respeitodas despesas do processo. Weber formulouprincípio no qual a condenação do vencido nasdespesas processuais é, tão-somente, o ressar-cimento do prejuízo do vencedor, fundamen-tando-o na culpa aquiliana do Direito Romanoe na eqüidade.
Tal princípio, em parte, sobrevive até hoje,porquanto, sempre presente o seu aspectobasilar, qual seja a natureza ressarcitória dacondenação, afirmando-se, em caráter defi-nitivo, na teoria da sucumbência, concebida emtermos absolutos, não permitindo exceção àregra victus victori.
No Direito Pátrio, à época das Ordenações,o advogado era oficial do foro, exercendo umministério público; assim, não era remuneradopelos cofres públicos, tampouco poderia ajustar

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 33
pagamento de seus serviços com os clientes.Devia contentar-se com os emolumentostaxados no regimento de custas.
Assim, objetivando coibir a contratação dehonorários entre advogados e clientes, normasrigorosas foram aprovadas, entre as quaisdestaca-se alvará de 1.8.1774, agravando aspenas para os profissionais que violassem talproibição. Entretanto, como bem observouSebastião Souza, as exigências sociais violen-tam as muralhas que as comprimem pelosimples emprego da força, sem atenção ao fundodo fenômeno sociológico ou econômico; fato éque o tempo é senhor da razão, e, em 2.9.1874,por meio de regimento de custas estabelecidopelo Decreto nº 5.737, o Direito pátrio permi-tiu ao advogado a contratação de honorários,inclusive, quota litis.
Ressaltamos, entretanto, que, antes da uni-ficação do Direito Processual, em 1939, ine-xistia nas nossas cortes critério uniforme, noque respeita à condenação do vencido em ho-norários do patrono do vencedor.
Enfim, com a uniformização da legislaçãoprocessual, o nosso Direito terminou consa-grando o princípio da sucumbência; entretanto,num primeiro momento, a responsabilidade dovencido portava nítido caráter de pena,conforme se verifica da análise dos artigos 63e 64 do CPC de 1939, que condicionavam asua condenação ao pagamento dos honoráriosda parte contrária, a eventual culpa ou dolo,contratual ou extracontratual, com que tivesseobrado.
Só por meio da Lei nº 4.632, de 18 de maiode 1965, foi suprimida a exigência de dolo ouculpa do vencido, estabelecendo-se a conde-nação do vencido no pagamento dos honoráriosdo patrono do vencedor, acabando com desi-gualdades que não tinham justificativa doutri-nária. Esta Lei é um marco na consagração dateoria da sucumbência na nossa legislação.
O atual CPC, no seu art. 20, caput, manteveo princípio consagrado pela Lei nº 4.632/1965,restando claro, que a condenação do vencidoabrange, outrossim, as demais despesas do pro-cesso, consoante dispõe seu § 2º, sendo delabeneficiário, inclusive, o advogado que atuarem causa própria – modificação introduzidapela Lei nº 6.355, de 8.9.76.
Encerrando este breve histórico, registra-seque homeopáticas mudanças foram feitas nalegislação que trata da matéria, entretanto, anosso juízo, irrelevantes para a abordagem dotema a que nos propomos.
3. Princípio da causalidade – crítica aoprincípio da sucumbência
3.1 Princípio da sucumbência
Devem-se ao engenho de Chiovenda osfundamentos da teoria da sucumbência, paraquem o direito há que ser reconhecido como sefosse no momento da ação ou da lesão: tudoque foi necessário ao seu reconhecimento econcorreu para diminuí-lo deve ser recompostoao titular do direito, de modo que questo nonsofra detrimento dal giudizio.
Daí conclui-se que a condenação do vencidonas despesas processuais, como corolário dadeclaração de determinado direito, não poderiasofrer influência desse direito, tendo naturezade ressarcimento ao vencedor. Em síntese, parao mestre italiano a condenação nas despesasprocessuais estava condicionada alla socom-benza pura e semplice, desimportando aintenção ou o comportamento do sucumbentequanto à má-fé ou culpa.
Reafirmou o insigne processualista italianonas Instituições que o fundamento da conde-nação do vencido nas despesas do processo,inclusive honorários advocatícios, reside, tão-somente, no fato objetivo da derrota que alegitima. Fundamenta-se tal instituto naconclusão de que a atuação da lei não deverepresentar uma redução no patrimônio da parteem favor da qual esta foi aplicada. É dointeresse do Estado que o emprego do processonão se resolva em prejuízo daquele que temrazão, em face do interesse do comércio jurídicode que os direitos tenham valor, tanto quantopossível, nítido e constante.
Enfim, para aqueles que abraçam o prin-cípio da sucumbência tal qual defendido pelomestre italiano, a sentença cabe prover para queo direito do vencedor não saia diminuído deum processo em que foi proclamada a sua razão.
Entretanto, o próprio Chiovenda encontrou,em situações concretas, sérias dificuldades paraa aplicação deste critério unitário, tendo derecorrer casuisticamente a soluções queenfraquecem o princípio da sucumbência, umavez que este, por vezes, mostrou-se injusto einsuficiente quando utilizado de forma indis-criminada e absoluta.
Observa Yussef Cahali que diante desituações insuperáveis, Chiovenda, em Lacondanna nelle spese giudiziali, buscou a so-lução adequada para determinados casos, pormeio do critério da evitabilidade da lide. Assim,

Revista de Informação Legislativa34
reproduzindo o processualista italiano o reco-nhecimento do pedido não salva o réu da su-cumbência, se não é efetivo e oportuno, detal modo que tivesse tornado evitável a lide;pois, nesse caso, prevalece a relação de causa-lidade entre o réu e a lide, a determinar a con-denação nas despesas. O direito do titular deveremanescer incólume à demanda, e a obriga-ção de indenizar deve recair sobre aquele quedeu causa à lide por um fato especial, ou semum interesse próprio contrário ao interesse dovencedor, seja pelo fato de que o vencido é su-jeito de um interesse oposto àquele do vence-dor. O que é necessário, em todo caso, é que alide “fosse evitable” da parte do sucumbente (oque sempre se subentende, sem consideração àculpa). E esta evitabilidade poderá consistir noabster-se do ato a que a lide é dirigida, no adap-tar-se efetivamente à demanda, ou no não-ingresso na demanda mesma. Sob este aspec-to, vemos que a lide é sempre evitável para oautor, não se podendo dizer o mesmo em rela-ção ao réu. Daí não se dizer sucumbente o ad-versário, em todos os casos em que o outro,para obter a declaração de seu direito, tenhanecessidade de obter a sentença do juiz.
Esses textos, observa Cahali, provocarammanifestações e regozijo de vários juristasadeptos do princípio da causalidade. ParaPajardi, Chiovenda havia evidenciado aimportância do vínculo da causalidade, emborafazendo dele elemento da teoria da sucum-bência. Já Grasso afirmou, categoricamente, ele(Chiovenda) termina, de tal modo, por aderirao princípio da causalidade.
Feita esta rápida introdução acerca doprincípio da sucumbência, retornaremos à suacrítica, após breves considerações acerca dasbases da teoria da causalidade.
3.2 Princípio da causalidadeImpende ressaltar que as bases do princípio
da causalidade encontram-se na filosofia,esqueleto em que se apóia a Filosofia do Direi-to, que nasceu quando o pensamento filosóficose propôs a distinguir, originariamente, entrea essência do justo e do injusto.
Para a Filosofia do Direito, é de somenosimportância a causalidade que não seja jurídica,enfim, que não tenha ingressado no mundojurídico. Daí porque não basta a conclusão deque todos os fatos acontecem segundo a lei doenlace de causas e feitos.
Pois bem, a transposição calca-se na pre-
missa de que inexiste, em sentido técnico, fatojurídico sem norma jurídica, cuja hipótese deincidência tenha o fato natural ou fato socialda conduta como base de qualificação. Ou seja,a norma jurídica que não tivesse por objetivonormatizar um fato natural ou social, perderiasua razão de ser, eis que lhe faltaria suportefático.
Daí conclui-se que haverá causalidadejurídica, quanto tivermos norma, fato e eficácia.E sem fato jurídico, eficácia nenhuma advém.
Impende ressaltar, outrossim, que há umarelação de causalidade natural entre a conduta– ação-omissão – e o resultado, que serve desuporte fáctico para a conseqüência punitiva.Mas a relação causal naturalística ingressa nahipótese; qualifica-se, torna-se relevante parao sistema jurídico. Há uma juridicização darelação causal.
Feitas essas considerações, cabe registrarque a aplicação do princípio da causalidade noDireito deu-se, a priori, no âmbito da respon-sabilidade penal e civil, para o qual seu estudoé de grande importância. Só mais recentemen-te, final do século XIX, o estudo do princípioda causalidade, voltado para a problemática doônus do pagamento das despesas processuais,despertou interesse dos estudiosos do ProcessoCivil, particularmente na Itália.
Retornando ao nosso leito, Grasso ressaltaque a doutrina italiana, ao formular o conceitode sucumbência, caminha no sentido de atribuirvalor fundamental a situações e circunstânciasestranhas à vitória da demanda. O critério dasucumbência mostra-se coerente tão-somentequando, na exegese dos textos, atinge uma con-clusão estreme de dúvidas.
Para Carnelutti, ferrenho defensor doprincípio da causalidade, este responde,precisamente, a um princípio de justiçadistributiva e a um princípio de higiene pessoal.Advoga ser justo que quem tornou necessárioo serviço público da administração da justiçalhe suporte a carga, além do seu caráteroportuno, com intuito de tornar o cidadão maiscauteloso e ciente do risco processual que corre.
Observa Cahali que a idéia de causalidadenão se dissocia necessariamente da idéia desucumbência, uma vez que, à indagação singelaa respeito de qual das partes terá dado causa aoprocesso, o bom-senso, imediatamente, sugerea resposta: a parte que estava errada, ou seja,como regra, a parte vencida na demanda;entretanto, o equívoco reside em absolutizar talpreceito.
Conclui então o insigne Cahali, ancorado

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 35
nas lições de Carnelutti, que não há nenhumaantítese entre o princípio da causalidade e oprincípio da sucumbência como fundamentopelas despesas do processo; se o sucumbentedeve suportar, isso acontece porque a sucum-bência demonstra que o processo foi causadopor ele. Mas o princípio da causalidade é maisamplo que o da sucumbência, no sentido de queeste é apenas um dos indícios da causalidade;outros indícios seriam a contumácia, a renúnciaao processo e, conforme o caso, a nulidade doato a que a despesa se refere
Também Pajardi ressalta que entre asucumbência e a causalidade não existecontraste, mas harmonia; trata-se de doisconceitos, o primeiro é o conteúdo, o segundoo continente. O círculo do princípio dacausalidade tem em seu interior vários círculosreveladores da existência do princípio; o maisimportante é constituído pelo subcírculo, porassim dizer, da sucumbência.
É a sucumbência, portanto, o mais reveladore expressivo elemento da causalidade, pois, viade regra, o sucumbente é o sujeito que deu causaà ação; entretanto, impende ratificar, estamáxima não é absoluta, havendo situações emque imputar ao vencido, pelo fato objetivo daderrota, o ônus do pagamento das despesasprocessuais e honorários, configura-se a maisprofunda injustiça.
Assim, conclui-se que o princípio dacausalidade melhor se presta à fixação dasdespesas processuais, porquanto, indubita-velmente, sem as amarras, por vezes insensíveisda sucumbência, atende, no dizer de Carnelutti,a um princípio de justiça distributiva, onerandoquem, efetivamente, deu causa à demanda.
4. A sucumbência no Direitopátrio vigente
Antes de adentrarmos na análise daproblemática no Direito Processual Brasileiro,relevante é, ainda que de forma sintética, referircomo a questão é tratada no Direito Comparado.
O Direito germânico, por exemplo, consa-grou na Zivilprocessordnung de 1877, com al-teração de redação em 12.1.1950, na sua for-ma pura, o princípio da sucumbência, dispen-sando qualquer valoração acerca do comporta-mento das partes, para afirmar que ao vencidocabe o pagamento das despesas processuais. Talregra é absoluta, inadmitindo, inclusive, com-pensação, salvo sucumbência recíproca (§§ 91-92).
O Direito francês, conquanto consagre o
princípio da sucumbência, admite a compen-sação das despesas processuais entre cônjuges,parentes ou afins, concedendo, ainda, ao juiz opoder de compensar tais despesas em caso desucumbência recíproca, consoante se verifica nosartigos 130 e 131 do Código de Processo de 1806.
No Direito italiano, o princípio da sucum-bência foi acolhido pelo artigo 370 do Códigode Processo de 1865, porém amainado pelapossibilidade de compensação por motivo justo;entretanto, estabeleceu a possibilidade dolitigante temerário responder por dano,revelando, assim, ainda, o seu caráter penal.
O novo Código de Processo italiano,promulgado em 28.10.40, conquanto resultadoda escola sistemática dominada por Chiovenda,expoente maior a defender o princípio dasucumbência, consagrou-o – § 1º do art. 91–,moderando-o, na medida em que concedeu aojuiz a faculdade de condenar a parte vencedoranas despesas excessivas ou supérfluas a quetiver dado causa.
O Direito Processual brasileiro preceitua,no artigo 20 do Código de Processo Civil, aquem cabe o ônus do pagamento das despesasprocessuais, verbis: “A sentença condenará ovencido a pagar ao vencedor as despesas queantecipou e os honorários de advogado”.
Verifica-se, portanto, que o Código de 1973consagra o princípio da sucumbência, para oqual, segundo lição de Chiovenda anterior-mente referida, o direito deve ser recompostointeiramente, de modo que o vencedor não sofranenhum prejuízo.
Entretanto, apesar de consagrar o princípioda sucumbência, é induvidoso que o nosso CPC,no seu artigo 22, traz o germe latente doprincípio da causalidade. Este dispositivoestabelece que
“O réu que, por não argüir na suaresposta fato impeditivo, modificativo ouextintivo do direito do autor, dilatar ojulgamento da lide, será condenado nascustas a partir do saneamento do processoe perderá, ainda que vencedor na causa,o direito a haver do vencido honoráriosadvocatícios”.
Ora, neste dispositivo, embora não arcandocom os honorários do patrono do ex adverso, olegislador pátrio onera o réu vencedor com opagamento de custas, retirando-lhe, ainda, odireito de receber do vencido os honoráriosadvocatícios, por ter dado causa, desneces-sariamente, à protelação da relação processual,fazendo com que o Estado mantenha a máqui-na judiciária ocupada.

Revista de Informação Legislativa36
Excepciona, outrossim, o princípio da su-cumbência o disposto no art. 31 do CPC,estabelecendo que as despesas dos atosmanifestamente protelatórios, impertinentes ousupérfluos serão pagas pela parte que os tiverpromovido ou praticado, quando impugnadopela outra. Note-se, independentemente doresultado da demanda.
Embora de forma tímida, a jurisprudênciajá começa a enveredar-se por estes caminhos.
No art. 22 do Estatuto Processual, trans-parece nítido o princípio da causalidade, paraa aferição da responsabilidade pelas despesasprocessuais. A hipótese de extinção do processo,em razão de uma causa superveniente – art.462 do CPC –, é bem o exemplo da legitimidadee da adequação da invocada teoria mencionada,que o rígido sistema da derrota objetiva dolitigante não pode solucionar.
Mesmo julgados procedentes os embargosdo fiador casado, que sofreu execução pararesponder por fiança considerada nula, à faltade outorga uxória, impõe-se uma condenaçãonas despesas processuais, se ele, ao obrigar-secomo fiador, induziu em erro o credor, aoqualificar-se como desquitado, no instrumentoda obrigação.
A bem da verdade, não deve o intérpreteapegar-se à literalidade do art. 20 do CPC.Deve, isto sim, interpretar o princípio dasucumbência como importante elemento doprincípio da causalidade, enfim, seu maisrelevante indício, evitando, assim, equívocosque uma interpretação literal e fria da norma,certamente, pode provocar.
Nesse caminho, observa Yussef Cahali, quea lição de Carnelutti se aplica ao nosso Direito,porquanto, a raiz da responsabilidade está narelação causal entre o dano e a atividade deuma pessoa. Esta relação é denunciada segundoalguns indícios, o primeiro dos quais é asucumbência.
Na compreensão da quaestio acerca docritério adotado pelo sistema processual pátrio,é de utilidade ímpar acórdão do TJSP:
“A ratio do princípio da sucumbênciaestá na causação, sem justo motivo –ainda que de boa-fé – de um processo.Normalmente, o fato da sucumbênciademonstra resistência injustificada àpretensão da parte contrária: aquele aquem o juiz acabou por não dar razãopode, de ordinário, ser considerado oresponsável pela instauração do proces-so, e, assim, a posteriori, ser condenado
nas despesas (Libman, Manuale. v. 1, p.166-167). Casos há, porém, em que aaplicação do princípio puro da sucum-bência (senz´altro , adverte Sérgio Cos-ta) não tem nenhuma razão de ser e fereo da eqüidade. Daí dizer Libman que,em tais hipóteses, a obrigação de pagaras despesas judiciais desaparece sempreque a parte, embora vencida, demons-tre, com seu comportamento, di non avercausato la lite. Tal entendimento, resul-tante da interpretação do art. 91 do Có-digo italiano, que, como o nosso, adotao princípio da sucumbência, encontraguarida no Direito pátrio no art. 22 doCódigo, do qual se infere que a parte,mesmo vencedora, que por sua condutano processo fizer com que este se pro-longue desnecessariamente, e, com isto,acarretar despesas injustificadas, comelas arcará. A contrario sensu, se as des-pesas acarretadas pela parte vencida coma instauração do processo (tratando-se doautor) foram despesas justificáveis, ne-las não deverá ser condenada. De tudo,vê-se que, no Direito brasileiro, como noitaliano, domina o princípio da causali-dade para aferição da responsabilidadepelas despesas do processo, posto queinexista sequer menção a ele nos textoslegais respectivos. E não se veja nele umcorretivo ou um sub-rogado do princí-pio da sucumbência, mas, antes, o ver-dadeiro elemento informador da res-ponsabilidade pelas despesas do proces-so, do qual a sucumbência é simples in-dici revelatori, como parece a Gualandi(Spese e danni nel processo civile, p.251)”.
O fato é que ao intérprete do Código deProcesso Civil cabe utilizar da hermenêuticajurídica para melhor aplicar o disposto no art.20, no sentido da responsabilidade do vencidopelas despesas processuais, ressalvada ahipótese do vencedor ser o causador da açãocontra si ajuizada. Nesse sentido acórdão da 8ªCâmara do 1º TACivSP:
“Temos de ler o art. 20, caput, doCPC (“interpretar” é penetrar, “ler” écolher conteúdo) como se nele estivesseescrito: “a menos que o próprio vence-dor tenha dado causa ao ajuizamento daação contra si”. Não o escreveu o legis-lador; não importa: nem ele é oniscien-te, nem é o responsável por aquilo queda natureza das relações sociais possa

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 37
acontecer de imprevisível por ele, nemse liga com a sua vontade ou intenção aomundo jurídico. Este é outro espaço, ou-tro reino, outro mundo, diverso do mun-do do conhecimento do legislador no mo-mento de sua vida de legislador que éexperiência política, e não vivênciajurídica.”
É indubitável que ao intérprete cabe aresponsabilidade de adequar a letra fria da lei,elaborada em outra época, em que as relaçõessociais e jurídicas eram diversas objetivandoevitar que a sua aplicação mecânica cause in-justiças certamente não previstas nem deseja-das pelo legislador.
Vejamos, ad exemplum, a responsabilidadepelo pagamento de honorários advocatícios edemais despesas processuais nos embargos deterceiros, sem olvidarmos da advertênciapertinente de Pedro Madalena:
“Deve o juiz ter muita cautela naaplicação do princípio da sucumbência,em ações de embargos de terceiros, jáque, nem sempre, o embargado age comculpa de modo a causar o prejuízo aoembargante. É que, às vezes, por não tersido observada norma de ordem pública,o terceiro se insurge contra o ato público.Nesta hipótese, pode o terceiro escolhera via processual menos onerosa, denun-ciando nos próprios autos onde o atoirregular foi praticado, sem necessidadede propor embargos. Geralmente propõeembargos porque teria ressarcimento dasdespesas, em face da aplicação doprincípio da sucumbência. Não o teriase apenas peticionasse e provasse nosautos do processo de execução onde acoisa de sua propriedade foi irregular-mente penhorada. Por outro lado, podeo Judiciário anular o ato com ou semprovocação das partes”.
Entre outras, pelo menos em duas hipóteses,quais sejam, de oferecimento do bem à penhorapelo devedor executado e por indicação docredor/exeqüente, o ajuizamento dos embargospelo compromissário comprador de imóvel,com título não registrado, e penhorado naexecução contra o alienante/executado, oprincípio da sucumbência é inadequado paraestabelecer a responsabilização pela verbahonorária e despesas processuais.
Ora, na hipótese de indicação por parte doexecutado, este sim, agindo de má-fé, deu cau-sa à ação de embargos, razão pela qual deverá
o embargante, a nosso juízo, colocá-lo no pólopassivo da ação, como litisconsorte passivo,para que venha a arcar com o ônus dopagamento dos honorários advocatícios edemais despesas processuais. Entretanto, nãoo fazendo, uma vez que a condenação nasdespesas processuais e honorários deve ser feitanos próprios autos dos embargos, poderá oembargado, por meio de uma das modalidadesde intervenção de terceiros, trazer o alienante/executado para o processo, objetivando, quantomenos, garantir o seu direito de regresso peladenunciação da lide.
Quanto à hipótese de oferecimento dosembargos pelo compromissário comprador deimóvel, com título não registrado, e penhoradona execução contra o alienante/executado, porindicação do credor/exeqüente, aliás, bastantecomum, após Súmula 84 do Colendo STJ – éadmissível a oposição de embargos de terceirosfundados em alegação e posse advinda docompromisso de compra e venda de imóvel,ainda desprovido de registro –, que se contrapõeà Súmula 621 do STF, a aplicação, pura esimples, do princípio da sucumbência é injusta.
Ora, se o credor antes de indicar bem àpenhora, cuidou de juntar aos autos certidãono Registro de Imóveis, objetivando comprovarestar o bem livre de qualquer gravame, e apósindicação, vem a ser surpreendido comembargos de terceiros, fundados em promessade compra e venda não registrada, não temosnenhuma dúvida de que, mesmo procedentesos embargos, a responsabilidade pelo paga-mento de honorários legais e despesas proces-suais há que recair sobre os ombros do próprioembargante, que ao não ser diligente pararegistrar o seu contrato, deu causa, por omissão,ao ajuizamento da ação, aplicando-se-lhe,subsidiariamente, a regra do art. 159 do CódigoCivil, uma vez que, não há dúvida, tanto a açãoquanto a omissão representam exteriorizaçãode conduta.
Nesse sentido, acórdão da 3ª Turma do STJ:“Certamente que o promitente-
comprador tivesse levado ao registropúblico o instrumento de seu negóciojurídico, dada a presunção legal depublicidade e a decorrente eficácia ergaomnes dos atos submetidos ao sistema,não haveria como o credor da execuçãosustentar, convincentemente, que desco-nhecia a quem pertencia a propriedadedo bem penhorado. Em abono da posi-ção doutrinária defendida pelo julgador,cumpre lembrar a lição de Yussef Said

Revista de Informação Legislativa38
Cahali, quando sustenta que, ‘se a pe-nhora somente ocorreu porque o com-promissário-comprador não pro-cedeu ao registro imobiliário, fazendocom que o exeqüente fosse levado aequívoco ao requerê-la com base noregistro imobiliário ainda em nome dodevedor executado, nada justifica seja oembargante beneficiado com honoráriosadvocatícios em razão da lide a que elepróprio deu causa’. (Honorários advoca-tícios. 2. ed. p. 584). Em síntese aper-tada, entende-se que se o autor-terceiro-embargante tivesse providenciado oregistro de seu título no ofício públicocompetente, tal procedimento teriaeficácia até contra a embargada, que nãopoderia alegar desconhecimento doregistro respectivo e, assim, não teriaconcordado com a penhora de um bemque sabia pertencer a terceiro. Em taiscondições, parece de melhor justiça queo princípio da sucumbência ceda passoao caso especial, ao chamado princípioda causalidade, quando se revela hialina,embora paradoxalmente, a culpa dopróprio vencedor, único responsável pelolitígio acerca da constrição judicial dobem que lhe pertence.”
A própria doutrina, a partir do debateprovocado pela Súmula 84 do Colendo STJ, temadotado posicionamento diverso da aplicaçãopura e simples do princípio da sucumbência:
“Em segundo lugar, e aqui há umaspecto crucial quanto aos direitos docredor, como poderia ele saber daexistência do ônus ou da transferênciado bem se nada averbado ou referido noregistro imobiliário?
Por total ausência de menção noúnico meio a tornar pública a ocorrênciade modificações no imóvel, não é justoque o terceiro venha a ser prejudicado,com a imposição de ônus sucumbenciaise outras cominações.(...) não há o credorde suportar conseqüências onerosas, quedevem sem imputadas àquele queimprevidente deu causa à ocorrência doato de constrição”.
Destarte, resta demonstrado que no caso deembargos de terceiros, assume relevância ímpara aplicação do princípio da causalidade, sem oqual, em algumas hipóteses, estar-se-á a legiti-mar flagrante injustiça, decorrente da aplica-ção mecânica e míope do art. 20 do CPC.
5. ConclusãoEste breve trabalho teve o objetivo de
demonstrar que o princípio absoluto de fixaçãoda responsabilidade pelo pagamento doshonorários advocatícios e demais despesasprocessuais, com base no fato objetivo da der-rota, é injusto, não se adequando às complexasrelações sociais e jurídicas do nosso tempo,conquanto seja, inquestionavelmente, o maiscômodo para o julgador.
Há que se entender, portanto, o critério dasucumbência como o mais expressivo erevelador elemento do princípio da causalidade,devendo, portanto, ser aplicável, como regra,no nosso Direito Processual, sem, entretanto,converter-se na categoria de dogma a inadmitirexceções.
Assim, conclui-se o presente, advogandoque o princípio da causalidade é, indubita-velmente, o mais adequado e justo, para fixaçãoda responsabilidade pelo pagamento doshonorários advocatícios e demais despesasprocessuais, porquanto, melhor se presta aosdesígnios de justiça, responsabilizando aquele,que por ação ou omissão, dá causa à relaçãoprocessual.
Bibliografia
AMARAL, Luiz.. Advocacia: história e perspecti-vas. Revista de Doutrina de Jurisprudência.
ARZUA, Guido. Honorários do advogado na siste-mática processual. São Paulo : Revista dos Tri-bunais, 1957.
BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao Código deProcesso Civil. 8. ed. Rio de janeiro : Forense,1993.
BREBBIA, Roberto. La relación de causalidad enDerecho Civil. Rosário : Juris.
BRUERA, Jose Juan. El concepto filosoficojurídi-co de causalidad. Buenos Aires : Depalma,1944.
CAHALI, Yussef Said. Honorários advocatícios. 3.ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1997.
CARNELUTTI, Fracesco. Sistema di Diritto Pro-cessuale Civile. Pádua : CEDAM, 1936. v. 1, p.436.
CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de DireitoProcessual Civil. Tradução de J. GuimarãesMenegale. 2. ed. São Paulo : Saraiva, 1965. v. 3.
GRASSO, Eduardo. Della responsabilità delleparti : comentario del Codice di Procedura Ci-vile, Diretto da Enrico Allorrio. Turim : UTET,v. 1, t. 2. 1973.
GOLDSCHMIDT, James. Derecho Procesal Civil.Traducción de Pietro Castro. Madrid : Labor,1956. p. 470.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 39
MADALENA, Pedro. Embargos de terceiro : sucum-bência : inexistência de culpa do credor. Revis-ta dos Tribunais, n. 517, nov. 1978.
PAULA, Alexandre de. O processo civil à luz dajurisprudência. Rio de Janeiro : Forense, 1988,v. 9.
RIZZARDO, Arnaldo. Embargos de terceiro e cons-trição judicial em imóvel prometido comprarsem registro do contrato. R. AJURIS, n. 53.
SOUZA, Sebastião de. Honorários do advogado.São Paulo : Saraiva, 1952.
TORNAGHI, Hélio. Comentários ao Código deProcesso Civil. São Paulo : Revista dos Tribu-nais, 1974. v. 1.
VECCHIONE, Renato. Nuovissimo digesto italia-no. 3. ed. Turim : UTET, v. 17: Spese Giudizi-ali. 1957-1970.
VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação noDireito. 2. ed. São Paulo : Saraiva, 1989.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 41
1. IntroduçãoO artigo 251 da Lei nº 8.112/90 determi-
nou que enquanto não for editada a lei com-plementar de que alude o art. 192 da Consti-tuição Federal, os servidores do Banco Centraldo Brasil continuarão regidos pela legislaçãoem vigor à data da publicação do respectivoRegime Jurídico Único.
Em outras palavras, os servidores do Ba-cen que eram regidos pela Consolidação dasLeis do Trabalho (CLT) continuariam sob omanto dos seus empregos públicos até que fos-se editada a lei complementar referida no arti-go 251 da Lei nº 8.112/90.
Ocorre que por entender inconstitucionaltal dispositivo legal, o Procurador-Geral daRepública propôs a ADIn nº 449-2-DF, que tevecomo relator o eminente Mininistro CarlosVelloso, que ao acolher o pedido assim emen-tou o aresto1:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.SERVIDOR PÚBLICO. BANCO CENTRAL DOBRASIL: AUTARQUIA: REGIME JURÍDICO DO SEUPESSOAL. LEI 8.112 DE 1990, ART. 251: IN-CONSTITUCIONALIDADE.
Do enquadramento do Banco Central noRegime Jurídico Único
Mauro Roberto Gomes de Mattos é Advogado,ex-Assessor da Presidência da OAB/RJ e Vice-Pre-sidente do Instituto Ibero-Americano de DireitoPúblico (IADP).
SUMÁRIO
1. Introdução. 2. Dos efeitos da ação direta deinconstitucionalidade: consumação do Estado defato. 3. Do ato jurídico perfeito e das vantagenspro labore facto. 4. A estabilidade das relações ju-rídicas convalidam atos constitutivos de direitotransferido aos servidores que são adquirentes deboa-fé. 5. Da Medida Provisória nº 1.535-7, de 11de julho de 1997.
MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS
1 Julgado em 29.8.96.

Revista de Informação Legislativa42
I - O Banco Central do Brasil é umaautarquia de direito público, que exerceserviço público, desempenhando parce-la do poder de polícia da União, no setorfinanceiro. Aplicabilidade, ao seu pes-soal, por força do disposto no art. 39 daConstituição, do Regime Jurídico da Lei8.112, de 1990.
II - As normas da Lei nº 4.595, de1964, que dizem respeito ao pessoal doBanco Central do Brasil, foram recebi-dos pela CF/88, como normas ordinári-as e não como lei complementar. Inteli-gência do disposto no art. 192, IV daConstituição.
III - O artigo 251 da Lei nº 8.112, de1990, é incompatível com o art. 39 daConstituição Federal, pelo que é incons-titucional.
IV - ADIn julgada procedente”.Com este julgamento, na prática, foi criado
verdadeiro caos administrativo, pois a decla-ração de inconstitucionalidade do art. 251 daLei nº 8.112 se deu em agosto de 1996, portan-to há mais de 5 (cinco) anos de vigência doRegime Jurídico Único, estando naquele perí-odo os servidores do Bacen regidos pela CLT.Como os regimes jurídicos eram totalmenteantagônicos, foram criadas situações das maisinusitadas, em face da declaração de inconsti-tucionalidade de uma lei ter o efeito ex-tunc.
O caos foi formado, pois até agosto de 1996o Banco Central aposentava seus empregadospelo Regime Celetista, recebendo os mesmossuplementações pelo seu Fundo de Previdên-cia Complementar (Centrus), depositava nor-malmente a parcela de FGTS nas contas fun-diárias e tomava atos respaldados pela legisla-ção laboral.
Ao serem modificados estes procedimentos,via judicial, várias situações jurídicas foramdistorcidas, pois é inegável que o curso dosanos, entre a edição da Lei nº 8.112/90 (de-zembro de 1990) até a decisão da ADIn 449-2-DF (agosto/96) atos foram tomados e consoli-dados, gerando a perfeição dos mesmos e ga-rantindo direitos adquiridos. Como desfazê-los?A ADIn tem o efeito de subtrair ou apagar asvantagens auferidas pro labore facto?
Tais perguntas são feitas até hoje e paraminimizar, ou agravar ainda mais a situação,o Chefe do Executivo Federal baixou a MedidaProvisória nº 1.535/96, que dispõe sobre o pla-no de carreira dos servidores do Banco Cen-tral, dando outras providências.
Não só a decisão do STF como também amedida provisória em comento merecem vári-os reflexos, que de forma sucinta serão aborda-dos no afã de esclarecer e até mesmo carrilhara atuação estatal, a fim de que não cometa atosdesavisados ou atentadores dos direitos e ga-rantias fundamentais dos servidores do Bacen.
2. Dos efeitos da ação direta de inconstitu-cionalidade: consumação do estado de fato
O objetivo do julgamento da ação indiretada inconstitucionalidade consiste em desfazeros efeitos gerais da lei ou ato, possuindo a de-cisão a eficácia de fazer a coisa julgada materi-al, vinculando as autoridades aplicadoras dalei que não poderão mais utilizar-se ou execu-tar a mesma2.
Dessa forma, uma vez declarada inconsti-tucional a lei, é retirada a aplicabilidade danorma legal.
Serve este instrumento em dar segurança àsociedade, pois é retirado do contexto jurídicopreceito ou norma que agride a lex legum.
Contudo, no campo do Direito Civil as nu-lidades de pleno direito são insanáveis, insus-cetíveis de revalidação, ou, como diz com pre-cisão Pontes de Miranda, nos negócios jurídi-cos nulos “são insanáveis as suas invalidades einatificáveis, tanto que confirmação deles a ri-gor não há, há afirmação nova, ex-nunc, e demodo nenhum confirmação”3.
Todavia, se no campo do Direito Privado, ovisceralmente nulo jamais pode ser sanado deproduzir efeitos válidos, na esfera do DireitoPúblico, a questão segue com menor rigorismoformal, em virtude da proeminência do inte-resse público4.
Essa diferenciação é imperiosa, em face dodesdobramento legal ser diferente nos distin-tos campos do direito, ressaltando as firmesconsiderações de Miguel Reale5, sob o prismada nulidade no Direito Administrativo, quedeverá sempre se distinguir em duas hipóte-ses: a) a de convalidação ou sanativa do ato
2SILVA, José Afonso da. La judrisdición Cons-titucional en Iberoamérica. Madrid : Dyckson, 1997.p. 403-404: O controle de Constitucionalidade dasLeis no Brasil.
3REALE, Miguel. Revogação e anulação do atoadministrativo. Forense, 1968. p. 81.
4Ibidem, p. 82.5Ibidem.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 43
nulo e anulável; b) a de perda pela administra-ção do benefício da declaração unilateral denulidade (le bénefice de préalable).
Como a inserção dos servidores celetistasdo Banco Central no RJU somente veio a dar-se por força da decisão na ADIn nº 449-2-DF,em 29.8.96, situações das mais inusitadas pos-síveis foram criadas para os servidores públi-cos daquele órgão, chegando ao cúmulo de teratualmente dois tipos de aposentados: os quese inativaram antes da Lei nº 8.112/90 e os quese desligaram após o Regime Jurídico.
Tal desdobramento legal será mais à frentedissecado, em face da relevância que o casodesponta.
Voltando ao núcleo central, a grande dúvi-da que paira na hipótese é sobre a eficácia dadecisão da Excelsa Corte, pois este é o pontode partida para o início da delimitação dos di-reitos dos servidores pertencentes aos quadrosdo Banco Central.
A doutrina é dividida sobre a matéria, po-dendo-se relembrar a ótica de Alfredo Buzaid,que considera que a declaração de inconstitu-cionalidade possui o condão de afirmar que écomo se o texto legal hostilizado fosse absolu-tamente nulo, sendo natimorto6. Em outro pas-so diz o ilustre publicista “que a lei inconstitu-cional não tem nenhuma eficácia desde o seuberço e não adquire jamais com o decurso dotempo”7.
Já Pontes de Miranda faz nítida distinçãoentre inexistência e nulidade da lei declaradainconstitucional, afirmando que:
“A lei que tem vício de inconstituci-onalidade existe, posto que nulamente(...) as regras jurídicas que violam aConstituição são regras jurídicas nulas,porém eficazes enquanto não são des-constituídas de acordo com a mesmaConstituição”8.
Em rico e profundo trabalho, Moniz deAragão (Poder de Iniciativa e Inconstitucio-
nalidade da Lei)9, registra a opinião da Profes-sora Rosali de Mendonça Lima: “a norma or-dinária apresenta incompatibilidades frente aopreceito constitucional, se o infringe, se fere assuas determinações, estará ipso facto, eivadopelo vício indelével da inconstitucionalidadee, para a segurança das relações jurídicas e fir-meza da organização estatal, não poderá pre-valecer”. Todavia esse vício não importa emaniquilar a norma, que continua sendo lei comoo era até então. No seu modo de abordar o pro-blema, a ilustre professora aduz que nem mes-mo o fato de o Senado suspender a execuçãoimporta em liquidar os efeitos do texto legal,sendo certo que o afastamento da radiação ime-diata do comando será em definitivo ou tem-porário. Eis o que ensina a citada publicista:“O que se suspende, pura e simplesmente, é aexecução de lei ou decreto declarados incons-titucionais. A norma jurídica em si mesma nãoé invalidada. Se, portanto, posteriormente, oSupremo Tribunal Federal, por uma mudança– não apenas transitória – mas radical, decisi-va, concludente, em sua jurisprudência, voltaratrás, considerando a lei constitucional, a mes-ma poderá vir a ser plenamente aplicada, pois,que dum modo ou doutro, ela se achava incertano conjunto da legislação nacional”.
A decisão judicial emanada pelo SupremoTribunal Federal é tida como desconstitutiva,tendo o efeito ex-tunc, o que significa dizer quetodos os atos praticados sob a égide da normatida como inconstitucional seriam considera-dos nulos.
Em tese, sim, mas a prática demonstra quenão, pois na aplicação do direito, não se podedesconstituir atos jurídicos praticados sob o man-to de uma lei tida como válida, em virtude de terradiado os seus efeitos e gerado obrigações jáesgotadas, que não podem mais ser revogadas10.
A desconstituição dos efeitos dos atos járealizados há mais de 6 (seis) anos iria ferir arazoabilidade que cristalizou a realização dosatos. No seu salutar Direito AdministrativoDidático11, Sérgio D’Andreia já consignava que
6“...Toda lei, adversa à Constituição, é absolu-tamente nula; não simplesmente anulável. A eivade inconstitucionalidade a atinge no berço, fere-aab initio. Ela não chegou a viver. Nasceu morta. Nãoteve pois nenhum único momento de validade.” (DaAção Direta de Declaração de Inconstitucionali-dade. Forense, 1958. p. 48).
7Ibidem, p. 130-3.8Comentários à Constituição de 1946. 3. ed.
Revista dos Tribunais, p. 492. v. 2.
9 RDA, n. 64, p. 360-361.10Sobre o enfoque da realidade, Lúcio Bitten-
court não tem dúvida em ponderar que “os efeitosde fato que a norma produziu não podem ser supri-midos, sumariamente, por simples obra de um de-creto judiciário”. Controle jurisdicional de consti-tucionalidade das leis. Rio de Janeiro : Forense,1949. p. 148.
11Direito administrativo didático. Rio de Janei-ro : Forense, 3. ed. 1985. p. 116-117.

Revista de Informação Legislativa44
no conflito entre o interesse absoluto e a eli-minação do ato jurídico viciado, o interesseconcreto da manutenção da segurança das re-lações jurídicas convalida os atos praticados12.
Não resta dúvida que este entendimentoespelha a razoabilidade que deve imperar notrato com situações como a do Banco Central,onde os anos de aplicação do art. 251 da Lei nº8.112/90 foram suficientes para gerar direitose sepultar determinadas situações.
Figure-se, como exemplo, a situação levan-tada pela ilustre Maria Isabel Gallotti13, ondeuma viúva que tenha recebido, durante anos,uma pensão com base em lei posteriormenteinconstitucional, ou de um funcionário que te-nha sido nomeado para cargo criado por leimuito tempo depois julgada inconstitucional.
Como resolver esses casos em que uma nor-ma jurídica foi pacificamente aplicada por umlongo período e depois declarada inconstituci-onal ?
De acordo com o bom senso e a primaziada realidade, não é salutar que uma viúva de-volva o valor correspondente a todos os anosde pensão recebida. Além de ser totalmente ir-razoável que se anulasse todos os atos pratica-dos por funcionário nomeado para cargo cria-do por lei declarada a posteriori inconstitucio-nal. Para casos como os citados, se invoca omagistério de Willoughby14,
“conquanto a lei inconstitucional deva,sob o ponto de vista estritamente lógico,ser considerada como se jamais tivessetido força para criar direitos ou obriga-ções, considerações de ordem prática têmlevado os tribunais a atribuir certa vali-dade aos atos praticados por pessoas que,em boa-fé, exerçam poderes conferidospelo diploma posteriormente julgado ine-ficaz”.
Essa posição é sustentada pelo próprio Su-premo Tribunal Federal, visando preservar aconsolidação dos atos praticados antes da de-claração de inconstitucionalidade de lei, atri-buindo certos temperamentos quanto ao efeitoex-tunc que se lhe atribuem, consoante susten-tou o Ministro Leitão de Abreu, em magníficovoto condutor proferido no RE nº 79.34315:
“Acertado se me afigura, também, oentendimento de que se não deve tercomo nulo ab initio ato legislativo, queentrou no mundo jurídico munido depresunção de validade, impondo-se, emrazão disso, enquanto não declaradoinconstitucional, à obediência pelos des-tinatários dos seus comandos. Razoávelé a inteligência, a meu ver, de que secuida, em verdade, de ato anulável, pos-suindo caráter constituitivo a decisão quedecreta a nulidade. Como, entretanto, emprincípio, os efeitos dessa decisão ope-ram retroativamente, não se resolve, comisso, de modo pleno, a questão de saberse é mister haver como delitos de ordemjurídica atos ou fatos verificados em con-formidade com a norma que haja sidopronunciada como inconsistente com aordem constitucional. Tenho que proce-de a tese, consagrada pela corrente dis-crepante, a que se refere o Corpus JurisSecundum de que a lei inconstitucionalé um fato eficaz, ao menos antes da de-terminação da inconstitucionalidade,podendo ter conseqüência que não é lí-cito ignorar.
A tutela da boa-fé exige que, em de-terminadas circunstâncias, notadamen-te quando, sob a lei ainda não declaradainconstitucional, se estabeleceram rela-ções entre o particular e o poder públi-co, se apure, prudencialmente, até queponto a retroatividade da decisão, quedecreta a inconstitucionalidade, podeatingir, prejudicando o agente que tevepor legítimo o ato e, fundado nele, ope-rou na presunção de que estava proce-dendo sob o amparo do direito objetivo”.
Tal entendimento afigura-se como o maiscoerente, em virtude de o nosso Direito Admi-nistrativo possuir bases constitucionais de li-berdade e de justiça material, onde são projeta-dos necessariamente sobre todas as relaçõesjurídico-administrativas. É o princípio do “fa-vor libertatis”, que figura firmemente enraiza-
12 Miguel Reale defende o exaurimento do tem-po como o fator determinante para a convalidaçãodo ato nulo no direito administrativo: “No DireitoAdministrativo europeu, a doutrina e a jurisprudên-cia têm-se mostrado sensíveis em relação a ambosos aspectos do problema, admitindo, de um lado, apossibilidade de haver-se como legítimo um ato nuloou anulável, em determinadas e especialíssimas cir-cunstâncias, bem como a constituição, em tais ca-sos, de direitos adquiridos, e, de outro, consideran-do-se exaurido o poder revisional ex officio da Ad-ministração, após um prazo razoável (op. cit., p. 82).
13 RDA, n. 170, p. 29.14 Apud BITTENCOURT, op. cit., p. 148. 15 RTJ, n. 82, p. 791.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 45
do no ordenamento jurídico pátrio embutidodentro do novo marco do Estado social e de-mocrático de direito.
Assim sendo, no Estado de direito a doutri-na constitucional mais moderna enfatiza a ne-cessidade de se manter a concretização dosDireitos Fundamentais, que são aqueles querevelam a segurança jurídica.
No caso concreto a segurança jurídica resi-de na convalidação do ato jurídico praticadosob o manto da boa-fé.
Não é razoável desfazer todas as situaçõesjurídicas consolidadas desde dezembro/90 atéagosto/96, pois a declaração de inconstitucio-nalidade do art. 251 da Lei nº 8.112/90 temcomo finalidade garantir a estabilidade jurídi-ca do Banco Central do Brasil com os seus ser-vidores públicos. Como o efeito desta inconsti-tucionalidade é ex-tunc, pelo princípio da ra-zoabilidade ou proporcionalidade, as vantagensauferidas pro labore facto pelos administradosdeverão ser respeitadas, sob pena de rupturada estabilidade jurídica que é verificada noEstado democrático de direito16.
Gilmar Ferreira Mendes, em rico e argutoprefácio17, com toda a sua notória autoridade,não tem dúvida em discorrer que
“um juízo definitivo sobre a proporcio-nalidade ou razoabilidade da medida háde resultar da rigorosa ponderação entreo significado da intervenção para o atin-gido e os objetivos perseguidos pelo le-gislador”.
Em exame acurado, o Supremo TribunalFederal fez embrionariamente remissão ao prin-cípio da proporcionalidade no RE nº 18.331,que teve a relatoria do Ministro Orozimbo No-nato, onde foi registrado que
“o poder de taxar não pode chegar à des-medida do poder de destruir, uma vez queaquele somente pode ser exercido dentrodos limites que o tornem compatível coma liberdade de trabalho, comércio e da in-dústria e com o direito de propriedade”18.
Vem, esse princípio, cada vez mais toman-do assento na maior Corte Constitucional doPaís, exatamente para adequar medida restriti-va ao fim ditado pela própria lei19.
Assim, não se pode olvidar qual a regra deadequação dos atos práticos com os motivos efins que o justificam, terá o julgador ou aplica-dor da norma que ter por escopo a eleição dofator que menos restringir os princípios pró li-bertate, pró activitate em favor libertatis.
O ato jurídico mesmo viciado (art. 251 daLei nº 8.112/90) gerou efeitos intransponíveis,que foram convalidados pelo transcurso dosanos, não sendo razoável a sua desconstituiçãoapós a fruição dos anos.
Em profunda análise sobre a quaestio, ecom o seu natural e espontâneo brilho, SérgioD’Andreia20 discorre que, no caso do BancoCentral, o julgamento da ADIn 449-2-DF au-toriza o intérprete, em nome do interesse pú-blico, conservar, total ou parcialmente, os efei-tos já produzidos, conferindo a eficácia ex-nunce não ex-tunc, como já defendido no RE 79.343pelo Ministro Leitão de Abreu:
“É, em verdade, aparente o contrasteentre, de um lado, dever o ato jurídicoviciado ser, em princípio, eliminado domundo jurídico, e, de outro, o do apro-veitamento dele ou deles e de seus efei-tos, procedendo-se à respectiva manuten-ção, conservação ou saneamento. É queessas figuras não têm por base o interes-se geral concreto de se manterem situa-ções jurídicas resultantes de atos vicia-dos, ou de se expungirem os vícios queos contaminam, em face de ponderáveiselementos, como o tempo decorrido, aboa-fé das pessoas envolvidas, o núme-ro dessas pessoas. Constatou-se que seatende melhor ao interesse público, con-servando-se, total ou parcialmente, osefeitos produzidos; dando-se eficácia ex-nunc, e não ex-tunc, a um novo posicio-namento, inclusive do Judiciário, queinquina de viciados os atos e seus efei-tos, do que, cegamente, extinguindo-seo ato maculado ou suas conseqüências.
Daí, os mencionados institutos daconservação do ato ou, pelo menos, de
16 Canotilho admite que é possível entender queas situações consolidadas – como as relações jurí-dicas extintas pelo cumprimento da obrigação – es-tejam imunes aos efeitos da declaração de inconsti-tucionalidade. Direito Constitucional. 4. ed. Coim-bra : Almedina, 1986. p. 816.
17BARROS, Suzana de Toledo. O Princípio daProporcionalidade. 1996. Brasília, p. 14.
18 RE n. 18.331. RF 145 (1953), p. 164 e segs.
19 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. DireitoConstitucional. 6. ed. Coimbra : Almedina, p. 617.1983.
20 Parecer do Professor Sergio D’Andreia Fer-reira, datado de 10.4.97, ainda não publicado.

Revista de Informação Legislativa46
seus efeitos, da convalidação, por con-firmação ou ratificação, o aproveitamentopor conversão ou redução; da correção oudesconsideração de irregularidades.
A evolução, dentro da lógica do ra-zoável, consistiu em superar-se, defini-tivamente, a idéia de conflito ou contrastede interesse, de laivas de excepcionali-dade.
Assim, a postura de conservação, deconvalidação ou de aproveitamento doato ou de seus efeitos nada mais é do quea afirmação dos princípios da legalida-de, da moralidade, da legitimidade, en-fim da licitude no exercício das funçõesestatais, sob a inspiração do citado prin-cípio da razoabilidade”.
Após estas sólidas considerações do Profes-sor Sérgio D’Andreia Ferreira, não resta dúvi-da que os atos praticados, mesmo sob o mantode um comando declarado a posteriori incons-titucional, sendo anulado pelo Supremo Tribu-nal Federal, gera efeitos, que, em nome do in-teresse público, devem ser atribuído caráter ex-nunc, mantendo-se a estabilidade jurídica dosatos já praticados de boa-fé, o que a contrariosensu geraria efeitos restritivos contrários aopróprio espírito da Lei nº 8.112/90. O RegimeJurídico Único nasceu no universo jurídico como objetivo de transformar os empregos em car-gos (art. 243), o que significa dizer que a in-tenção do legislador não foi anular os atos pra-ticados pelo comando legal insculpido na CLT.Este não foi a vontade nem mesmo do consti-tuinte que, ao dispor sobre o Regime JurídicoÚnico, facultou ao legislador ordinário a esco-lha do vínculo único.
Ora, ao ser eleito o estatuto como a melhoropção para o Estado, todos os direitos e con-quistas consagrados no regime derrogado nãodesapareceram, pois foram importados para anova situação.
Dessa forma, o tardio enquadramento dosservidores do Bacen também não há de ser di-ferente, por não ser razoável a desconstituiçãode direitos regularmente conquistados, fruto darelação jurídica inerente ao vínculo existenteentre as partes, que é a de trabalho com a res-pectiva contraprestação pecuniária. Apagar,como num feixe de luz, os anos colocados àdisposição do Bacen, com a conseqüente reti-rada de direitos funcionais e pecunários, é omesmo que permitir o enriquecimento sem cau-sa por parte da aludida autarquia federal, quese utilizou do labor diário dos seus emprega-
dos, para após aniquilar suas conquistas sob opálido argumento que o efeito ex-tunc da açãodireta de inconstitucionalidade do SupremoTribunal Federal é o verdugo das conquistas.
3. Do ato jurídico perfeito e dasvantagens pro labore facto
A garantia do ato jurídico perfeito é cons-titucionalmente assegurada pelo inciso XXXVIdo art. 5º da Constituição Federal, constituin-do-se um dos pilares de sustentação do Estadodemocrático de direito.
Este tema é tão importante que a garantiado ato jurídico perfeito impede que haja emen-da constitucional capaz de aboli-la, por ser clá-usula pétrea (art. 60, § 4º, IV, CF)21.
E coube à Lei de Introdução ao Código Ci-vil, promulgada pela Lei nº 3.071, de 1º de ja-neiro de 1916, no seu § 2º do art. 3º estipular oque venha a ser ato jurídico perfeito:
“Reputa-se ato jurídico perfeito o jáconsumado, segundo a lei vigente, aotempo em que se efetuou”.
A atual Lei de Introdução ao Código Ci-vil22, no § 1º do art. 6º, define o ato jurídicoperfeito como sendo:
“Já consumado segundo a lei vigenteao tempo em que se efetuou”.
E para completar, o artigo 81 do CódigoCivil23 arremata:
“todo ato lícito, que tenha por fim ime-diato adquirir, resguardar, transferir,modificar ou extinguir direitos, se deno-mina ato jurídico”.
Portanto, o ato jurídico em comento consu-mou-se pelo transcurso do tempo e pela licitu-de dos elementos e requisitos existenciais.
21 “Os direitos e garantias individuais, mencio-nados e protegidos por vários instrumentos, enume-rados no art. 5º da Constituição, dificilmente seri-am objeto de proposta de emenda constitucional. Porparte de quem? Com que finalidade”. (CRETELLAJUNIOR, J. Comentários à Constituição de 1988.2. ed. Forense Universitária, v. 5, p. 2728.
22 Decreto-Lei nº 4.657, 4.9.42.23 Wolgran Junqueira Ferreira ao citar o artigo
81 do Código Civil, averbou: “temos aqui a defini-ção legal do que seja o ato jurídico. Tem ele váriosobjetivos, ou, mais propriamente, cinco objetivos:a) adquirir, b) resguardar, c) transferir, d) modificare, finalmente, e) extinguir direitos”. (Direito e ga-rantias individuais. São Paulo : Edipro, 1997. p.131).

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 47
E na sua vetusta cátedra, Pontes de Miran-da24 não teve dúvida em registrar que a regraque declare nula ou anule o comando legal in-quinado, não poderá ter efeito retroativo, emface do suporte fático que regia ao tempo emque se deu a incidência da lei velha (tempusregit factum):
“Quanto às nulidades e às anulabili-dades, convém admitir-se que há efeitosde atos anuláveis e enquanto há a decre-tabilidade da anulação, pode ocorrer leinova que a retire e, retirando-a, ficamincólumes os negócios jurídicos anulá-veis que poderiam ter sido anulados, ou,pelo menos, a respeito dos quais poderiater sido pedida a decretação da anula-ção. Mas a lei nova não pode ir ao pas-sado, tornando deficiente o suporte fáti-co que não era ao tempo em que se deu aincidência da lei velha (tempus regit fac-tum)”.
Tem-se, portanto, que a decretação de incons-titucionalidade do art. 251 da Lei nº 8.112/90não possui força motriz de apagar o passado,fazendo desaparecer todos os atos jurídicos pra-ticados antes da transformação dos empregosem cargos públicos. Isto porque o ato jurídicotornou-se perfeito no espaço e no tempo, figu-rando no plano da existência, tendo a sua juri-dicidade25 intacta no sistema jurídico da épo-ca, gerando direitos e obrigações, que até mes-mo a mudança por lex posterior é obrigada arespeitá-las.
Nessa moldura, quando o Supremo Tribu-nal Federal declara determinado preceito da leiinconstitucional, mesmo tendo efeitos ex-tunc,tal decisão não pode apagar as situações já con-sumadas que se tornaram irreversíveis pelodecorrer do tempo.
Gilmar Ferreira Mendes26, em lapidar econclusiva ótica, não teve dúvida em trazer àtona a decisão do Supremo Tribunal Federalno RE nº 79.343, onde foi emprestado “tempe-ramento ao dogma da nulidade ex-tunc, mor-mente no que diz respeito às situações consti-tuídas ao abrigo da lei declarada inconstitucio-nal”. Mais à frente, seguindo o mesmo percur-so o inolvidável mestre, com a sua “pena de
ouro”, afirma efusivamente27:“Vale observar que exigências de or-
dem prática provocam a atenuação dadoutrina da nulidade ex-tunc. Assim, oSupremo Tribunal Federal não infirma,em regra, a validade do ato praticado poragente investido em função pública, comfundamento em lei inconstitucional. É oque de depreende do RE nº 78.594 (Re-lator: Ministro Bilac Pinto), no qual seassentou, invocando a teoria do funcio-nário de fato, que, apesar de proclamadaa ilegalidade da investidura do funcio-nário público na função de Oficial deJustiça, em razão da declaração de in-constitucionalidade da lei estadual queautorizou tal designação, o ato por elepraticado é valido (...) admitindo, entrenós, o processo de inconstitucionaliza-ção da lei, há que se contemplar igual-mente, o estabelecimento de limitesquanto à ineficácia retroativa, não se afi-gurando possível afirmar, nessa hipóte-se, a nulidade ex-tunc”.
Em igual diapasão, Moniz Aragão28, citan-do posicionamento de Castro Nunes, sublinha:
“Mostra Castro Nunes que o tema,no ramo não privado do Direito, há deser examinado com maior ou menor fle-xibilidade conforme o exijam os interes-ses públicos; de um lado, pois, é admis-sível que se porte o intérprete com omáximo rigor em certa hipótese, mas éaconselhável, por outro, que em casosdistintos tenha o maior cuidado, apro-veitando o ato viciado tanto quanto pos-sível. Assim é que nem sempre a nulida-de do Direito Civil pode ter o mesmo efei-to que sua equivalente no Direito Públi-co e às vezes, através das teorias do ex-cesso e do desvio de poder, alarga-se ocampo de invalidação dos atos do ramopúblico, como forma de proteger maiseficazmente os interesses da coletivida-de lesados pelo mau uso da função pú-blica”.
Após estas judiciosas explicações, as quaisconcordamos fielmente, não resta dúvida queos interesses da coletividade no caso sub-ocu-lis é a proteção aos legítimos atos praticadospela lei eficaz no momento do cometimento doato jurídico, sempre em consonância com a
24 Comentários à Constituição de 1967, com aEmenda nº 1, de 1969. Forense, Rio de Janeiro,1987.v. 5, p. 69.
25 Ibidem, p. 67.26 Controle de constitucionalidade: aspectos ju-
rídicos e políticos. São Paulo : Saraiva. p. 278.27 Ibidem, p. 279-280.28 RDA, n. 64, p.361.

Revista de Informação Legislativa48
primazia do interesse público.Em total sintonia com o tema aflorado, o
insigne e culto Sérgio D´Andreia Ferreira citaa brilhante palestra proferida pelo Ministro JoséNéri da Silveira, em 26.11.94, no Seminário“Regime Jurídico da Empresa Estatal”, no Riode Janeiro, onde foi dissecada a hipótese daproteção de efeitos de atos considerados ilegais,dissertando a eminente autoridade:
“Questão melindrosa, sem dúvida, é,entre nós, a que se refere à proteção decertos efeitos decorrentes da aplicação deleis, depois declaradas inconstitucionais.Tive ensejo de aludir a essa matéria, novoto proferido na Representação nº1.418-5/RS, onde se discutia a inconsti-tucionalidade de diversas leis estaduaisde efetivação, sem concurso público.Observei, na oportunidade:
‘Distintas, na ciência do Direito, avalidade e a eficácia da norma jurídica -embora inválida a regra constitucionalpoderá, por sua vez, no plano dos fatos,ser eficaz, consoante sucede, quando alei inconstitucional é cumprida por seusdestinatários ou aplicada pela Adminis-tração. Não sem freqüência, há os queopõem, nesse sentido, diante das circuns-tâncias, restrições ao princípio de que alei inconstitucional é nula ab initio, e nãosó a partir da data em que é assim judi-cialmente declarada, ou como tambémse expressou, entre nós, a fórmula nulland void, irrita e nenhuma. Para quemdessa forma entende, embora infringen-te da Constituição, o ato legislativo as-sim marcado é um fato eficaz (it is anoperative fact) “ao menos antes da de-terminação da constitucionalidade, po-dendo ter conseqüências que não é lícitoignorar’.
Estabeleceu-se, segundo certa corren-te doutrinária, que, ‘assim como, em di-reito privado, se protege o ato jurídico,em cuja engendração se insinuou algumvício, mantendo-se-lhe, em parte, os efei-tos produzidos, malgrado a sua anula-ção pelo órgão judiciário’ – no plano dedireito público, igual providência cabequanto ao ato inconstitucional. Da mes-ma maneira como se há de tutelar, naesfera do direito privado, em determina-dos casos, o ato aparente, entende essadoutrina, ao não qualificar, desde logo,como nula e nenhuma a lei inconstituci-
onal, que importa seja estendida aos atosem desconformidade com a Constituição,praticados com apoio em norma com talmácula, certa proteção. Se, na ordemprivativa, dentre outras razões, argüi-sea necessidade de proteger a boa-fé dosque tiveram como perfeito ou regular oato, que se veio, posteriormente, a de-clarar nulo –, no direito público, racio-cina-se ‘com a presunção de legitimida-de dos atos que, nessa esfera, são ema-nados’.
..........................................................A traduzir, de resto, o estágio atual
de discussão desse tema na doutrina nor-te-americana, acerca do efeito da decla-ração de inconstitucionalidade de lei, estáno corpus juris secundun (v. 16, § 101,verbis), conforme antes visto”.
E finaliza o Ministro Néri da Silveira:“Releva, a todo modo, observar, nes-
se sentido, que, em sucedendo aplicaçãode lei inconstitucional, do fato eficazentão verificado, pode resultar a emana-ção de certos efeitos que, no tempo, porvezes, se tornam irreversíveis, ou difi-cilmente reversíveis, em maior ou me-nor extensão. Em face disso, cumpre nãoserem, assim, por inteiro, ignoradas taisconseqüências, máxime, em razão danecessidade de o Estado garantir climade segurança nas relações sociais, na or-dem jurídica, e, notadamente, se foi opróprio Poder Público, revestido da pre-sunção de legitimidade de seus atos,quem adotou a iniciativa de dar eficáciaà norma, depois, judicialmente, declara-da inválida”.
O efeito ex-tunc não iria trazer nenhumbenefício para os servidores e nem para o Ba-cen, sendo que os primeiros teriam os seus di-reitos auferidos pro labore facto totalmentedanificados. Por esta razão é que só se admitea retroatividade da decisão que julgou incons-titucional o artigo 251 da Lei nº 8.112/90 senão houvesse prejuízo ao ato jurídico perfeitoconsagrado pela fruição do tempo.
É cediço na doutrina29, que a vantagem de-nominada pro labore facto é aquela que cor-responde ao trabalho já realizado.
Assim, as vantagens conquistadas pelo la-29 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Adminis-
trativo brasileiro. 15. ed. Revista dos Tribunais,1989. p. 397.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 49
bor do tempo se cristalizam e entranham norol dos direitos irretiráveis do servidor públi-co, em face da aquisição de direitos estar imu-ne às mudanças pretéritas. Os requisitos exigi-dos para a percepção de vantagens pro laborefacto foram auferidos em determinado períodode prestação de “serviço (ex facto temporis),ou pelo desempenho de funções especiais (exfacto officii), ou em razão das condições anor-mais em que se realiza o serviço (propter labo-rem) ou, finalmente, em razão de condiçõespessoais do servidor (propter personam)30.
Na verdade, no Regime Jurídico de Traba-lho, as vantagens pagas em razão dele perten-cem ao patrimônio jurídico do servidor, crian-do uma remuneração mínima, que a Lei nº8.112/90 não pode desconsiderar, ao ponto deimpor redução de valores ou direitos reconhe-cidos em outrora.
A respeito do tema a doutrina não é dasmais atuantes, faltando monografias ou traba-lhos específicos sobre as vantagens conquista-das pro labore facto. Esta escassez de dadosleva tanto o cultor do direito quanto o admi-nistrado a uma busca incessante de subsídiossobrepostos sobre a matéria, com o objetivo deserem respeitados direitos e condições auferi-dos em decorrência do transcurso dos anos, prolabore facto.
Em decorrência de várias normas jurídicas,proclama-se a posição funcional já galgada peloservidor público, cujo cargo viesse a ser trans-posto de uma situação legal para a outra, pre-servando todas as conquistas e evitando qual-quer decesso, observando-se, destarte, direitoslegitimamente adquiridos durante a atividadelaboral do funcionário e, portanto, como já ditoalhures, pro labore facto31.
Guindados a uma determinada situação fun-cional, ex facto temporis, os servidores adqui-rem direitos a tais situações, que passam a in-tegrar-lhes o patrimônio, como direito subjeti-vo imutável.
É certo que a Lei nº 8.112/90, ao criar asituação nova desde dezembro/90, não radiouseus efeitos imediatos aos servidores do BancoCentral pelo fato de o art. 251 ter brecado atransformação dos empregos em cargos públi-cos, como amplamente narrado anteriormen-te. Nesse rumo, deflui-se que a nova situaçãoposta em prática em 1996, ou seja, após váriosanos de vínculo laboral, ao retroagir, não é su-ficiente para retirar um direito de quem já otinha adquirido por circunstâncias outras quea lei nova haverá , indiscutivelmente, de res-peitar.
Há que se preservar os direitos adquiridospro labore facto, que na definição do art, 6ºda Lei nº de Introdução ao Código Civil, fo-ram exercidos em virtude de terem sido consu-mados segundo a lei vigente ao tempo em seconstituíram.
Após o advento da atual Carta Magna, asvantagens pro labore facto passam a ter valormais elevado, em face da determinação expressado inciso XV do art. 37 da Constituição Fede-ral de preservar a irredutibilidade remunerató-ria do servidor.
Sendo que, nesse contexto, o Superior Tri-bunal de Justiça - (STJ)32 brecou a redução devantagem conquistada pro labore facto, comose constata no presente aresto:
“GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DESERVIÇO – REDUÇÃO – ILEGALIDADE – CONS-TITUIÇÃO FEDERAL (ART. 37, XV) - LEIS ES-TADUAIS nos 10.460/88 e 10.872/89 – 1)Vantagens pecuniárias irredutíveis sãodecorrentes de desempenho de função(pro labore facto) ou de transcurso dotempo de serviço (ex facto temporis) enão aquelas aprisionadas às condições in-dividuais do servidor público (propterpersonam) ou dependendo de trabalho aser feito (pro labore faciendo). 2) A de-dução do percentual de adicionais portempo de serviço, vantagem incorpora-da no patrimônio individual do favore-cido no ato da sua aposentadoria, cons-titui violação ao direito líquido e certodo funcionário, assegurador da continui-dade da percepção de gratificação legal”.
Ainda sobre direitos subjetivados que o ser-vidor público adquire pro labore facto, cabemanotações das magistrais palavras de BarrosJúnior:
30 Ibidem, p. 396.31 Nada mais caracteriza a situação auferida ex
facto temoris ou pro labore facto que a antigüida-de e do merecimento. Referindo-se ao critério daelevação por merecimento, José Cratella Junior en-tende que: “é o melhor vínculo de que pode o Esta-do lançar mão para guindar aos postos mais altos osservidores mais idôneos, os quais colocaram a servi-ço da Administração nas respectivas funções que de-sempenharam a competência, assiduidade, enfim, to-das as qualidades pessoais de que dispõem”( RegimeJurídico do Funcionário Público. p. 360 e segs.).
32 STJ. 1ª Turma. Resp. 24.353-GO. Erl. Minis-tro Milton Luiz Pereira. DJU, 12 set. 1994.

Revista de Informação Legislativa50
“Guardadas das restrições com quedevam as situações subjetivadas ser ga-rantidas no direito público, pela relevân-cia especial que se deve reconhecer aquiao interesse da coletividade, dúvida nãoera que, em princípio, é a irretroativida-de reconhecida, sempre que se tenhamdefinitivamente completado, sob o im-pério da lei anterior, situações que de-vam subsistir, por conveniência da mes-ma lei, o que vale afirmar que possam edevam prolongar-se, nos seus efeitos pró-prios, sob a nova ordem instituída”33.
Por isso é que a retroatividade da Lei nº8.112/90 não poderá gerar rebaixamento ouprejuízos para os servidores do Bacen, em faceda impossibilidade de se desprezar o direitoconsolidado pro labore facto.
À guisa de ilustração, se extrai que em de-terminada época, na vigência do antigo Planode Classificação de Cargos de que trata a Leinº 5.645/70, foram feitos vários equívocos porparte da administração, onde os servidorespúblicos tiveram desprezadas as situações con-solidadas em função de fatos jurídicos (pro la-bore facto), em autêntica mácula à aquisiçãode direitos anteriores. Tais equívocos foramlevados ao crivo do Poder Judiciário, que nãoteve dúvida em corrigir o decesso funcionalimposto aos servidores lesados pela sistemáti-ca alterada, como se observa no seguinte jul-gado do extinto Tribunal Federal de Recursos– (TRF)34:
“Administração. Funcionalismo.Classificação de Cargos.
A inobservância de condições regu-lamentares na formação do quadro fun-cional, além de outros equívocos no to-cante ao critério de distribuição por clas-ses, repercutindo na situação de servi-dores, para cujo enquadramento a quali-ficação era requisito essencial, enseja,pela via ordinária, a reparação do con-junto de equívocos, apurado no proces-samento da classificação específica”.
Assim sendo, o servidor ao passar da situa-ção de emprego público para cargo, mesmo quetal enquadramento seja feito após o transcursode lei declarada inconstitucional, possui a es-tabilidade da situação conquistada pela força
dos anos de trabalho na antiga função, adqui-rindo o direito do respeito às vantagens prolabore facto, que a nova situação jurídica éobrigada em respeitar, em total harmonia como inciso XV do art. 37 da Constituição Federale ao inciso XXXVI do art. 5º do mesmo Orde-namento Maior.
Com a consumação do estado fático pelocurso dos anos, a manutenção da vantagemconquistada pro labore facto nada mais é doque conseqüência lógica da estabilidade jurí-dica que deve pairar na relação da Adminis-tração Pública com os seus administrados. Àguisa de exemplo, cumpre ressaltar o caso deuma pensionista cujo marido faleceu, tendosacado as parcelas inerentes ao seu Fundo deGarantia por Tempo de Serviço relativas aoperíodo entre janeiro/91 a agosto/96, terá quedevolver os valores levantados? Por outro flan-co, também merece reflexão o caso de um ser-vidor que comprou casa própria com recursosdo FGTS, terá ele que reembolsar o Banco Cen-tral pela modificação do Regime Jurídico? Coma mesma dúvida surge a hipótese do aidéticoque sacou o FGTS até 1996. Terá ele que pro-mover a devolução do que foi sacado?
Sem nenhuma ginástica de raciocínio, é dese ressaltar que o efeito das vantagens pro la-bore facto estancam alterações futuras, geran-do estabilidade para todos os servidores doBacen que sacaram as suas contas vinculadas,expressamente autorizadas pelo empregador.Tanto é assim, que os servidores que recebemvantagens indevidas – que não seria o caso –de boa-fé, são isentos de restituição ao erário,como exposto anteriormente no artigo “Des-conto em Folha de Servidor que Recebe Vanta-gem de Boa-Fé”.
Debalde, nessa sistemática é de se concluirque o servidor que não levantou a sua conta deFGTS no período de 1991 até 1996, possuidireito líquido e certo a tal saque, pois o prin-cípio é o mesmo já narrado anteriormente.
Dessa forma, quando a Medida Provisórianº 1.535 acolhe algumas vantagens como irre-tiráveis, por terem sido conquistadas pro labo-re facto, e descarta outras, tais como os depó-sitos do FGTS efetuados em janeiro/91 até agos-to/96, rompe a barreira da legalidade e desá-gua em ato de puro arbítrio e força, ferindo fron-talmente o direito de propriedade contido noinciso XXII, do art. 5º da CF, e os princípiosbasilares da ciência jurídica que modificaçõesposteriores advindas da mudança da lei,
33 Dos direitos adquiridos na relação de empre-go público.
34 TRF. 2ª Turma. Ap. Cível nº 58.583-rj. Jul-gado em 12 de setembro de 1979.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 51
pudessem produzir efeitos maléficos às rela-ções jurídicas pré-constituídas, já integradas aosseus elementos objetivo e subjetivo.
Como muito bem disse J. Cretella Jr35, “pro-priedade é o conjunto de toda a patrimoniali-dade”, o que nos leva a concluir que em senti-do lato, o saldo da conta do FGTS pertence aorol do conjunto da patrimonialidade do titular,ressaltando-se a função social que reveste taldireito. Se o direito de propriedade é, na visãode Pimenta Bueno36, a faculdade ampla e ex-clusiva que cada homem tem que usar, gozar edispor livremente, do que licitamente adqui-riu, sem outros limites, não há como se admi-tir que haja verdadeira expropriação nos sal-dos vinculados do FGTS.
Em total abono a esta corrente doutrinária,de que os vencimentos, saldos vinculados doFGTS e demais vantagens pecuniárias trans-mudam-se em verdadeira propriedade do titu-lar do crédito, o art. 19 da MP nº 1.535 con-templa “os vencimentos pagos pelo Banco Cen-tral do Brasil a seus servidores no período de1º de janeiro de 1991 a 30 de novembro de1996, quando excedam os valores dos venci-mentos devidos aos servidores do Plano de Clas-sificação de Cargos – (PCC), de que trata a Leinº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serãoconsiderados como pro labore facto, sendo asdiferenças computadas apenas para a apuraçãode novos vencimentos nas carreiras do BancoCentral do Brasil estabelecidas nesta MedidaProvisória”.
Como visto, o próprio Chefe do Executivoreconhece que os vencimentos recebidos noperíodo de 1º de janeiro de 1991 a 30 de no-vembro de 1996, quando excedam os valoresdos vencimentos devidos caso os servidores doBacen estivessem já enquadrados na situaçãocontemplada pela Lei nº 8.112/90, são imorta-lizados como pro labore facto. Ora, qual é adiferença destes vencimentos para os depósi-tos do FGTS, que na verdade representam 8%(oito por cento) do que era recebido pelo aludi-do servidor? Nenhuma, pois o fato gerador dodireito é o mesmo, qual seja, a prestação deserviços com a devida contraprestação.
Dessa forma, como desassociar a integrali-dade dos vencimentos recebidos e consumadosem determinado período (janeiro/91 a 30 de
novembro/96) do percentual calculado sobre osmesmos (8%), e depositados na conta de FGTSdo detentor do crédito? Não há como, pois oprincípio é o mesmo, sendo impossível admitirque haja devolução de parcela recebida pro la-bore facto de boa-fé pelo servidor, que teve oprincipal (vencimentos) reconhecido como ina-tingível. Ora, o FGTS é acessório vinculado aoprincipal, que, ao ser reconhecido como parteintegrante do patrimônio do servidor, não podeter tratamento diferenciado, por ser vinculadoa ele. E como tal, terão que sofrer o mesmotratamento, por ser impossível enquadramentodiverso de parcela principal, em face do aces-sório estar atrelado à mesma norma principio-lógica.
Tanto é assim que ao encaminhar o ofícioEMI nº 522/MARE, datado de 11 de setembrode 1997, ao Presidente da República, os Mi-nistros de Estado da Fazenda, Pedro SampaioMalan, e da Administração Federal e Reformado Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira, ao dis-correrem sobre a intenção dos arts. 19 e 20 damedida provisória em comento, deixaram ex-presso:
“Observa-se, portanto, que a inten-ção do legislador foi a de dar quitaçãode toda a remuneração paga pelo BancoCentral do Brasil a seus servidores e di-rigentes desde o alcance retroativo doefeito ex tunc da decisão do SupremoTribunal Federal, ou seja, 1º de janeirode 1991, até o efetivo enquadramento deseus servidores no Regime Jurídico Úni-co estabelecido pela Lei nº 8.112, de1990, a teor dos arts. 19 e 20 da medidaprovisória que se pretende alterar”.
Mais à frente, é sugerido ao Exmo. Presi-dente da República, o acréscimo de um tercei-ro parágrafo ao artigo 19:
“É para dirimir essas dúvidas queapresentamos a proposta de acréscimo deum 3º parágrafo ao artigo 19, deixandoclaro que, além dos vencimentos, toda equalquer verba remuneratória efetiva-mente paga, seja a que título tenha sido,pelo Banco Central do Brasil a seus di-rigentes, ex-dirigentes e servidores noperíodo alcançado pelo efeito retroativoda decisão de nossa Corte Suprema, tam-bém seja considerada como pro laborefacto. Conseqüentemente, afasta-se apossibilidade de se exigir as devoluçõesde tais verbas, que têm caráter eminen-temente alimentar, preservando-se, sem
35 Comentários à Constituição de 1988. 3. ed.Forense Universitária, v. 1, p. 300.
36 Apud Comentários à Constituição de 1988.op. cit., p. 301.

Revista de Informação Legislativa52
dúvida, o equilíbrio das relações jurídi-cas entre a autarquia e seus dirigentes eservidores, escopo maior da edição detodo diploma legal ora em tela” (grifosnossos).
E acolhendo este pronunciamento, foi real-mente acrescido o parágrafo 3º ao art. 19 da nºMP 1.535-9, de 11 de setembro de 1997, assimconfeccionado:
“Art.19. ............................................§ 3º - São também considerados como
pro labore facto, apenas para efeito demútua quitação entre o Banco Centraldo Brasil e seus dirigentes, ex-dirigen-tes e servidores, todas as demais verbasremuneratórias efetivamente pagas, aqualquer título, no período de 1º de ja-neiro de 1991 a 30 de novembro de1996”.
Com a introdução desse preceito legal, fi-cou mais do que evidente que o FGTS (salárioindireto) poderá ficar fora do contexto das van-tagens pro labore facto.
A vantagem consagrada pro labore facto,em face da índole contratual em que se origi-nou e do inter-relacionamento jurídico com aaludida Autarquia federal, ainda que o sistemade atualização ou modificação dos vencimen-tos seja revisto, em função da formação de ou-tro vínculo jurídico, haverá sempre a possibili-dade de melhorias ulteriores, ou seja, a situa-ção jurídica do servidor será passível de altera-ção toda vez que se verificar a mudança na le-gislação regente, de modo a otimizar a respec-tiva situação, desde que essa nova incidênciareflita em princípio da retroatividade benéficaem favor do servidor. Esse princípio decorreda natureza alimentar que reveste os estipên-dios, além do direito adquirido a um patamareconômico, capazes de minimizar os efeitos eimpactos da instabilidade da vida econômicabrasileira, inclusive com seus reflexos na polí-tica salarial, pois emerge a necessidade de in-dentificação de um parâmetro, um piso, abai-xo do qual não se poderá descer.
Se o novo critério estabelecido pelo Execu-tivo propiciar um valor superior, prevalecerá,como é óbvio; caso contrário, já existiria, emfavor dos servidores, um mínimo garantido.
É que a garantia dos direitos adquiridos pelavinculação do servidor a um padrão estipendi-al tem que ser permanentemente atendida, se-não haveria também colisão com a irredutibi-lidade preconizada pelo inciso XV do art. 37da CF.
Destarte, a garantia da manutenção das van-tagens consumadas pro labore facto é a fórmu-la eficaz capaz de garantir que a incidência dasnovas normas não possuem o condão de apa-gar o passado e reduzir um valor mínimo jáconquistado. Como a retroatividade só poderáser benéfica para o servidor, ele carrega para anova situação um padrão remuneratório míni-mo e possui o direito líquido e certo de sacar osaldo total da sua conta do FGTS.
4. A estabilidade das relações jurídicasconvalidam atos constitutivos de direito
transferidos aos servidores que sãoadquirentes de boa-fé
Após a incorporação das vantagens conquis-tadas pro labore facto, salta aos olhos, que taisdireitos deverão ser transferidos para a novasituação legal, pois é vedada a retroatividadedos efeitos da Lei nº 8.112/90 para prejudicaros administrados de boa-fé.
É indubitável que, em um sistema jurídico,a autoridade administrativa é obrigada a res-peitar atos jurídicos já produzidos em prol dacoletividade.
Francisco Campos37, ao analisar a irretra-tabilidade dos atos administrativos que já pro-duziram efeitos, ensina:
“1º - É indubitável que em um siste-ma jurídico que veda a retroatividade dalei, ou a aplicação da lei posterior a umato consumado sob o regime legal ante-rior, será inadmissível o privilégio quese pretende conferir à autoridade admi-nistrativa de poder livremente anular,mediante ato revogatório, os efeitos jáproduzidos por um ato administrativoanterior. Não se compreende que a Ad-ministração não se vincule por aqueleato, da mesma maneira que o legisladoré vinculado, ao editar a nova lei, pelosfatos produzidos sob a exigência da leianterior.
..........................................................3º - A irretratabilidade dos atos ad-
ministrativos, que decidem sobre a situ-ação individual, é, ainda, um imperati-vo de segurança jurídica. O fato de queos tribunais poderão rever os atos da au-toridade administrativa não exclui o in-teresse de que, enquanto não adquirida
37 Direito Administrativo. Forense, v. 2, p. 7.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 53
de modo definitivo a certeza jurídica emrelação ao caso concreto, não seja neces-sária a conservação de um estado de cer-teza que funciona provisoriamente comoelemento de estabilização das relaçõesjurídicas – enquanto, portanto, os tribu-nais não substituem pela certeza judici-al a precária certeza administrativa, estapró veritate habertur”.
Com igual brilho e ótica, Seabra Fagundes38
alerta:“A infringência legal do ato admi-
nistrativo, se considerada abstratamen-te, aparecerá sempre como prejudicial aointeresse público. Mas, por um outrolado, vista em face de algum caso con-creto, pode acontecer que a situação re-sultante do ato, embora nascida irregu-larmente, torne-se útil àquele mesmointeresse”.
Igualmente, Altamiro do Couto e Silva res-salta que o interesse e a segurança pública sesobrepõem até mesmo à legalidade, não sendoadmissível anular atos que já produziram efei-tos pró-comunidade:
“É importante que se deixe bem cla-ro, entretanto, que o dever (e não o po-der) de anular os atos administrativosinválidos, só existe, quando no confron-to entre o princípio da legalidade e o dasegurança jurídica, o interesse públicorecorrente que aquele seja aplicado e estenão. Todavia, se a hipótese inversa veri-ficar-se, isto é, se o interesse públicomaior for que o princípio aplicável é oda segurança jurídica e não o da legali-dade da Administração Pública, então aautoridade competente terá o dever (enão o poder) de não anular, porque sedeu a somatória do inválido, pela con-junção da boa-fé dos interessados coma tolerância da Administração com orazoável lapso de tempo transcorrido.Deixando o ato de ser inválido, e delehavendo resultado benefícios e vanta-gens para os destinatários, não poderáser mais anulado, porque, para isso, fal-ta precisamente o pressuposto da inva-lidade” (grifos nossos)39.
Esses entendimentos doutrinários encon-tram eco em outros notáveis publicistas, como,por exemplo, em Oswaldo Aranha Bandeira deMello40, que anota:
“Embora de efeito retroativo, a de-claração de nulidade ou a decretação deanulabilidade não envolve terceiros, quese vêem partes diretamente atingidaspelo ato nulo ou anulável, indiretamen-te receberam suas conseqüências”.
Ainda que se torne exaustivo, não se devedeixar passar em branco outra brilhante e ar-guta colocação da consagrada doutrina, dessavez do ilustre Antônio Bandeira de Mello41,para quem:
“152. Finalmente, vale considerarque um dos interesses fundamentais doDireito é a estabilidade das relações cons-tituídas. É a pacificação dos vínculosestabelecidos a fim de se preservar a or-dem. Este objetivo importa muito maisno direito administrativo do que no di-reito privado. É que os atos administra-tivos têm repercussão mais ampla, alcan-çando inúmeros sujeitos, uns direta, eoutros indiretamente, como observouSeabra Fagundes. Interferem com a or-dem e estabilidade das relações sociaisem escala muito maior.
Daí que a possibilidade de convali-dação de certas situações – noção anta-gônica à de nulidade em seu sentido cor-rente – tem especial relevo no direitoadministrativo.
Não obrigam com o princípio da le-galidade, antes atendem-lhe o espírito,as soluções que se inspirem na tranqüi-lização
das relações que não comprometeminsuprivelmente o interesse público, con-quanto tenham sido produzidas de ma-neira inválida. É que a convalidação éuma forma de recomposição da legali-dade ferida.
Portanto, não é repugnante ao direi-to administrativo a hipótese de conva-lescimento dos atos inválidos”.
No campo do Direito Público a boa-fé é ofator preponderante para manter a intangibili-dade dos atos administrativos praticados em
38 O Controle dos atos administrativos pelo Po-der Judiciário. 6. ed. Forense, 1984. p. 39-40.
39 Princípios da legalidade da administraçãopública e da segurança jurídica no estado de direi-to contemporâneo. RDP, n. 84, 1987.
40 Princípios gerais do Direto Administrativo.2. ed. Forense, vol. 1, p. 658.
41 Curso de Direito Administrativo. 9 ed. Ma-lheiros, 1997 p. 297-298.

Revista de Informação Legislativa54
prol da coletividade, sendo irrevogável o atoque haja criado direito42, mesmo que no futuroseja alterado ou revogado o comando legal ins-tituidor do aludido direito.
Sobre o desfazimento dos atos administra-tivos que já radiaram seus efeitos, Manoel deOliveira Franco Sobrinho43 observa que a anu-lação não apaga as conseqüências internas jáproduzidas:
“O desfingimento, anulando relações,tornando a ato ineficaz, não apaga con-seqüências, nem anula efeitos produzi-dos, pois os atos em começo de execu-ção ou executados “são consideradoscomo irrevogáveis” tendo em conta con-dições materiais e o tempo de vigência”.
Por já estarem catalogados à parte os atosconsumados em prol dos administrados de boa-fé, Celso Ribeiro Bastos44, citando Seabra Fa-gundes, disseca a teoria das nulidades nos ra-mos privado e público, sob o seguinte enfoque:
“145. Seabra Fagundes, ante a dis-tinta função da teoria das nulidades nosdois ramos do Direito, também rejeita adicotomia encontradiça no Direito Pri-vado. Observa que neste a finalidade ésobretudo ‘restaurar o equilíbrio indivi-dual violado’; daí serem limitados osinteresses atingidos pela fulminação doato. Pelo contrário, no Direito Públicosão afetados múltiplos sujeitos e interes-ses. Então, o interesse público ferido porato ilegítimo às vezes sê-lo-ia mais gra-vemente com a fulminação retroativa doato ou até mesmo com sua supressão”.
No palco do saber, não se pode deixar deregistrar a ótica autorizada de Maria SylviaZanella Di Pietro45, que se perfilha à correntedos ilustres doutrinadores já citados:
“A anulação feita pela própria Ad-ministração independe de provocação dointeressado, uma vez que, estando vin-culada ao princípio da legalidade, ela temo poder-dever de zelar pela sua obser-vância.
O aspecto que se discute é quanto aocaráter vinculado ou discricionário daanulação. Indaga-se: diante de uma ile-
galidade, a Administração está obriga-da a anular o ato ou tem apenas a facul-dade de fazê-lo (...).
Para nós, a Administração tem, emregra, o dever de anular os atos ilegais,sob pena de cair por terra o princípio dalegalidade. No entanto, poderá deixar defazê-lo, em circunstâncias determinadas,quando o prejuízo resultante da anula-ção puder ser maior do que o decorrenteda manutenção do ato ilegal; nesse caso,é o interesse público que norteará a de-cisão”.
Da mesma forma, Lúcia Valle Figueiredoensina:
“Destarte, por força de erro adminis-trativo, podem surgir situações consuma-das, direitos adquiridos de boa-fé. Dian-te das situações fáticas constituídas, re-ver tais promoções (hipótese considera-da) seria atritar com princípios maioresdo ordenamento jurídico, sobretudo coma segurança jurídica, princípio maior detodos, sobre o princípio, como diz Nor-berto Bobbio46.”
E José Frederico Marques47, se filiando àcorrente citada, adverte que “o limite impostoà revogabilidade está no respeito aos direitossubjetivos perfeitos criados pelo ato adminis-trativo”.
No mesmo contexto, a jurisprudência cons-titui elemento sólido que preserva a boa-fé doadministrado e convalida o ato já praticado sobeste manto:
“O Poder Público atentaria contra aboa-fé dos destinatários da administra-ção se, com base em suposta irregulari-dade, por ela tanto tempo toleradas, pre-tendesse a supressão do ato48”.
“Não se compatibiliza com o orde-namento jurídico, notadamente com seuobjetivo de dar segurança e estabilidadeàs relações jurídicas, o ato da Adminis-tração que, fundado unicamente em novavaloração da prova, modificou o resulta-do da decisão anterior(...)49”.
Como se vê, tanto a moderna doutrina,como a jurisprudência dominante, orientam, de
42 Cf. Manoel de Oliveira Franco Sobrinho: “sãoirrevogáveis os atos administrativos legais que ha-jam criado direitos.” (Atos administrativos. Sarai-va, 1980. p. 174)
43 Ibidem, p. 174.44 Op. cit., p. 294.45 Direito Administrativo. 5. ed. Atlas, p. 195.
46 Curso de Direito administrativo, 1994, p. 151.47 RDA, n. 39, p. 18.48 Ap. Em MS nº 90.04.06891-0-RS. RTRF-4,
n. 6, p. 269.49 Remessa ex-ofício nº 89.04.10525-0-RS.
RTRF-4 , n. 9, p. 182.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 55
modo firme e consensual, no sentido de que,em face do caso concreto, pode acontecer quesituações resultantes de ato administrativo,embora nascidas “irregularmente” pela óticada Administração, se tornem úteis ao interessepúblico.
No caso sub examem, todos os direitos au-feridos pelos servidores do Bacen foram conquis-tados por força do vínculo legal existente entreas partes que o tempo não permite apagar.
Destarte, não se admite na doutrina e najurisprudência que na anulação do ato admi-nistrativo, que já tenha gerado direitos aos be-neficiários de boa-fé, acarrete instabilidade ju-rídica aos mesmos50, imperando o princípioclássico de que “a parte útil não deve ser afetadapela inútil” (utile per inutile non vitiatur).
Portanto, a manutenção das vantagens au-feridas no decorrer do tempo não podem sersubtraídas sob o pálido argumento de que adeclaração de inconstitucionalidade do art. 251da Lei nº 8.112/90 possui o condão de refazertodos os atos já sepultados pelo tempo.
Como visto, existe limite para revogaçãodo ato administrativo quando este invade a sub-jetividade dos direitos adquiridos pelo labor dosanos. Até mesmo com a modificação de inter-pretação ou a anulação de um comando legal,não se afigura como lícito desprezar a consu-mação de situações jurídicas que foram estabe-lecidas por força de vínculo trabalhista exis-tente entre os servidores e o Bacen. Todos osdireitos que foram consumados pela fruição dotempo de serviço colocado à disposição do entepúblico não podem ser desconsiderados, comose no intervalo de janeiro/91 até agosto/96 nãoexistisse.
Sobre os limites da faculdade da revisão dosatos administrativos consolidados pelo trans-curso do tempo, a doutrina estrangeira tambémtraça a fronteira de atuação da AdministraçãoPública, que segundo Eduardo García de En-
terría:“Todo el tema de la revocación de
actos administrativos por motivos de le-galidad es en extremo delicado, en cu-anto que atenta contra las situacionesjurídicas establecidas. El enfrentamien-to entre los dos principios jurídicos bá-sicos, de legalidad, y de seguridad jurí-dica, exige una gran ponderación y cau-tela a la hora de fijar el concreto puntode equilíbrio, que evite tanto el riesgode consagrar situaciones ilegítimas deventaja como el peligro opuesto al quealude la vieja máxima summum ius, sum-ma inuria”51.
Exatamente para manter sólido o ato admi-nistrativo, sem que o mesmo sofra alteraçõesem face do processo hermenêutico alterado pelanova interpretação, o imortal Mauro Cappelet-ti averba em laço de extrema felicidade que:
“...e talore anche in materia amminis-trativa, si è preferito rispettare certi“effetti consolidati” (tra i quali emergeparticolarmente l’autorità della cosa giu-dicata) prodotti da atti basati su leggi inseguito dichiarate contrarie alla Consti-tuzione: e cio in considerazione del fat-to che, altrimenti, si avrebbero troppogravi ripercussioni sulla pace sociale,ossia sull’esigenza di un minimo di cer-tezza e di stabilità dei rapporti e situa-zioni giuridiche”52.
A teoria da irrevogabilidade dos atos admi-nistrativos apareceu no direito português porformulação da Resta – La Revoca Degli AttiAmministrativi, nº 44 –, sendo dissertado porJosé Robin de Andrade:
“Efectivamente, se alguma razão hápara recusar a possibilidade de revoga-ção de actos de execução instantânea,cujos efeitos se achem esgotados, essarazão – o esgotamento de efeitos ao tem-po de pretensa revogação – pode apli-car-se inteiramente aos actos de execu-ção duradoura cujos efeitos se tenham játotalmente produzido”53.
Na trilha consagrada, o inolvidável Garcia
50 J. Cretella Jr. cita ponto de vista do juristaitaliano Fragola, no seu consagrado Controle Juris-dicional do Ato Administrativo: “Assim como a te-rapia estuda os meios de cura das doenças dos se-res, ou seja, das curas possíveis para sanar, atenuarou eliminar os males, isto é, com a finalidade dedepurar os organismos doentes e conservá-los ain-da com vida, assim também, a ordem jurídica, pormotivo da economia dos valores jurídicos já produ-zidos, prepara ou possibilita determinados instru-mentos terapêuticos para a cura dos atos jurídicosinválidos.”(op. cit., 1992. Forense, p. 298)
51 Curso de Derecho Administrativo. 7. ed. Ma-drid : Civitas, p. 636.
52 Il controllo giuddiziario di costituzionalitàdelli leggi nel diritto comparato. Milano, 1978. p.113-115.
53 A revogação dos atos administrativos. 2. ed.Coimbra, p. 29.

Revista de Informação Legislativa56
de Oviedo54 arremata:“Normalmente la revocación extin-
gue el acto administrativo ex nunc puesse protege la confianza del destinatarioen la duración del acto. Ahora bien, esaprotección no se otorga al que provocóel acto aplicando medios ilícitos, y entales casos el acto puede ser revocandocon efecto ex tunc”.
A seguir, o citado mestre discorre sobre aconvalidação do ato nulo, com o intuito demanter acesos a credibilidade e o respeito dosatos já consumados:
“En otros casos, sin embargo, la Ad-ministración podrá convalidar los actosanulables, subsanando los vicios de queadolezcan”55.
Para finalizar, não se pode deixar de regis-trar o pensamento de Kelsen, de que no mundojurídico não existem atos nulos pelo fato de todanorma jurídica ser válida, até que seja anula-da, tendo o efeito futuro. Mais uma vez é de seabrir parênteses para se registrar a opiniãoautorizada da ilustre Maria Isabel Gallotti56,que, ao discorrer sobre o posicionamento idea-lizado por Hans Kelsen, averba:
“Uma norma jurídica, em regra, éanulada com efeitos para o futuro, mas oordenamento jurídico pode estabelecerque a anulação opere retroativamente,hipótese em que se costuma caracterizar,de forma incorreta, a norma como nulaab initio ou nula de pleno direito”.
Após os sólidos posicionamentos jurídicosdeclinados, constata-se que a hermenêutica quefoi fator determinante na matéria da aquisiçãode direitos e obrigações não pode ser maculada6 (seis) anos após sua vigência pela declaraçãode inconstitucionalidade do art. 251 da Lei nº8.112/90, que não possui a força retrooperantede invalidar atos já praticados. Há que se tertemperamentos ao efeito ex-tunc da ADIn emcomento, face a mesma não ter como ressusci-tar os anos já exauridos pela radiação de efei-tos no tempo e no espaço.
5. Da Medida Provisória nº 1.535-7, de11 de julho de 1997
O Chefe do Executivo baixou a Medida Pro-visória nº 1.535/96, que vem sendo renovada
mensalmente com intuito de regulamentar aaplicação do Regime Único aos servidores doBacen, em face da declaração de inconstituci-onalidade do art. 251 do aludido estatuto.
Ao regulamentar o imperativo constitu-cional embutido no artigo 39 da Constitui-ção Federal, disciplinando a incidência doRegime Jurídico Único, a Medida Provisó-ria sub-oculis trouxe consigo situações inu-sitadas e ilegais, tendo em vista disciplina-mento contra legem, altamente comprome-tido, por divorciar-se da legalidade capitu-lada no caput do art. 37 da CF, e criandoposicionamentos insubsistentes.
Isto porque a medida provisória em comentodeveria ater-se em adaptar a situação nova (en-quadramento na Lei nº 8.112/90), sem que fos-sem sangrados os direitos adquiridos pelos ser-vidores do Bacen e a consumação das vanta-gens auferidas pro labore facto. Qualquer pontode vista legal que não convalide os atos prati-cados de boa-fé tanto pela Administração comopelos servidores do Bacen, atenta contra a re-gra básica que restrinja os princípios pro liber-tate, pro activitate em favor libertatis.
Assim, para não fugir do thema, mister sefaz que em uma análise suscinta e objetiva seexponha alguns dos dispositivos que atentamcontra os direitos e garantias individuais dosservidores públicos.
De início, constata-se que o art. 14 daMP nº 1.535/96, renovada todo mês, criouum “divisor de águas” nas aposentadorias,ou seja, aqueles que se inativaram até 31 dedezembro de 1990 são considerados comodetentores de aposentadoria previdenciária,ficando o Banco Central do Brasil como res-ponsável em relação a esses ex-empregadosno que concerne à condição de patrocinadorda Fundação Banco Central e PrevidênciaPrivada (Centrus):
“Art. 14 - São mantidas as cotas pa-trimoniais relativas a complementaçõesprevidenciárias devidas aos empregadosdo Banco Central do Brasil que se apo-sentaram sob Regime Geral de Previdên-cia Social até 31 de dezembro de 1990,bem como todas as responsabilidades doBanco Central do Brasil em relação aesses empregados, inerentes à condi-ção de patrocinador da Fundação Ban-co Central de Previdência Privada(Centrus)”.
54 Derecho Administrativo. Madrid : Ed. E.I.S.A.v. 2. 1968. p. 123.
55 Ibidem.56 RDA, n. 170, p. 20.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 57
O direito à aposentadoria, no dizer de Car-los Maximiliano57,
“é um instituto de previdência social cria-do para evitar que a miséria surpreendaos velhos servidores do Estado, quandoimpossibilitados de trabalhar (Comentá-rios à Constituição Brasileira”, Rio,1918, nota ao art. 75)”.
Sob o prisma constitucional, o instituto daaposentadoria não foi contemplado na Consti-tuição Imperial de 1824, vindo após, com ainstituição da República, onde o texto de 1891dispunha em seu art. 75: “A aposentadoria sópoderá ser dada aos funcionários públicos emcaso de invalidez no serviço da Nação”. Nas-ceu, portanto, o instituto, de forma modesta eacanhada, limitando à apenas aos casos de in-validez. Apesar de tudo, foi o início do reco-nhecimento de que a aposentadoria do servi-dor público deveria estar no contexto constitu-cional, por ser uma garantia geral para àqueleque laborou anos de sua vida em prol de umacoletividade.
Nesse rumo, a Constituição de 1934, no seuart. 170, além de criar a aposentadoria com-pulsória para os funcionários que completas-sem 68 (sessenta e oito) anos de idade, disci-plinou a aposentadoria por invalidez, declinan-do quais os casos que seriam contemplados comos vencimentos integrais. A omissão ficou ape-nas para a aposentadoria voluntária, que nãoera prevista.
Contudo, pela Constituição de 1946, o Bra-sil voltou a filiar-se ao Estado de direito, vindoà tona feições contemporâneas para o institutoda aposentadoria. Tanto é assim, que em seuartigo 191 já continha as três espécies de apo-sentadoria que ainda vigoram (compulsória, porinvalidez e voluntária). Por sua vez, o art. 192do aludido Texto Maior mandou computar in-tegralmente o tempo de serviço público fede-ral, estadual ou municipal, para fins de apo-sentadoria e de disponibilidade, sendo certo,que o art. 193 determinava expressamente arevisão dos proventos sempre que, “por moti-vo de alteração do poder aquisitivo da moeda,se modificarem os vencimentos dos funcioná-rios em atividade”.
Entretanto, as Constituições de 1967 e 1969não discrepam das anteriores no que concerne
à regra geral dos três tipos previstos de apo-sentadoria, freando, contudo, os incentivos fi-nanceiros às mesmas, ou como diz Dallari58:
“...um cuidado em evitar o alargamentodos benefícios e a concessão de incenti-vos à aposentação, cuidando, também,de refrear ou conter as revisões ou rea-justes de proventos”.
Como o § 2º do art. 102 da Constituição de1967/1969 ressalvava que nenhum provento deinatividade poderia exceder a remuneraçãopercebida pelo servidor em atividade, o apo-sentado se viu em um verdadeiro caos estipen-dial, onde a aposentação era o verdadeiro cal-vário, pois o descanso forçado ou voluntáriotransmudava-se em verdadeiro sofrimento. Ino-bstante esse fato, com o “divisor de águas” exis-tente, nas aposentadorias (celetistas e estatutá-rias), a disparidade ainda era mais gritante, poiso detentor de emprego público que não tivessea suplementação dos seus proventos pagos pelaprevidência complementar, caso do INSS, Su-nab, IBC etc, estaria no total ostracismo, por-que a aposentadoria previdenciária no curso dosanos se revelou em um sistema altamente insó-lito e insubsistente, onde o assistido, na práti-ca, era totalmente desassistido. Já o aposenta-do estatutário, apesar de não evoluir na apo-sentadoria, recebia seus proventos com base noque percebia quando se aposentou.
A história demonstrou que o sistema exis-tente no cenário constitucional era totalmentepenoso para o servidor inativo, em face do de-créscimo sofrido pelo mesmo.
Assim, coube ao constituinte moderno aca-bar com as discrepâncias, resgatando a digni-dade do servidor aposentado que, de uma horapara outra, teve os seus proventos equiparadosaos seus pares em atividade, independentemen-te da data da concessão do benefício, em facedo determinado expressamente no artigo 20 doADCT, que conferiu efeito retrooperante ao §4º do art. 40 da CF. Explicando melhor: tantofaz o servidor inativo ser detentor da aposenta-doria inerente ao emprego público, que junta-mente com o seu par titular da aposentadoriaestatutária receberão seus proventos com baseno que receberiam se estivessem em atividade,sendo também estendidos aos inativos quais-quer benefícios ou vantagens posteriormenteconcedidos aos servidores em atividade, inclu-
57 MASAGÃO, Mario. Curso de Direito Admi-nistrativo. 6. ed. São Paulo, Revista dos Tribu-nais,1997. p. 212.
58 DALLARI, Adilson Abreu. Regime constitu-cional dos servidores públicos. 2. ed. São Paulo,Revista dos Tribunais, 1990. p. 105.

Revista de Informação Legislativa58
sive se decorrentes da transformação ou reclas-sificação do cargo ou função em que se deu aaposentadoria, em perfeita sintonia com o dis-ciplinamento do Texto Magno.
Feito este registro, não se pode admitir queo art. 14 da Medida Provisória nº 1.535 façadistinção de aposentadorias, determinando queos que se inativaram até 31.12.90 pelo regimeda CLT recebam seus proventos suplementa-dos pela Centrus. Ora, o sistema de aposenta-doria atual não comporta a vinculação a deter-minado plano atuarial, face a equivalência serà remuneração recebida se o servidor estivesseem atividade.
Por outro lado, se na atividade o RegimeJurídico é único (art. 39, da CF), como pode nainatividade ser diverso?
A resposta pode ser observada pelo julga-mento da Apelação Cível nº 24024-AL, em queo Tribunal Regional Federal da 5ª Região59, emlaborioso julgado, deixou bem claro que a Leinº 8.112/90 extinguiu a distinção entre estatu-tário e celetista:
“CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. SER-VIDORA PÚBLICA FEDERAL SOB REGIME CELE-TISTA BENÉFICO DO ART. 40, PARÁGRAFO 4º, DACONSTITUIÇÃO. REGIME JURÍDICO ÚNICO.
A Lei nº 8.112/90, que criou o Regi-me Jurídico Único, extinguiu a distin-ção entre estatutário e celetista.
O § 4º do art. 40, da Constituição,aplica-se aos servidores públicos, mes-mo aposentados, sob o regime da CLT,pouco importando se o ato da aposenta-ção ocorreu antes da sua vigência.
Vantagem prevista no art. 192 da Lei8.112/90, procedência”.
Com o mesmo brilho, o Tribunal RegionalFederal – 2ª Região também teve a oportuni-dade de sedimentar a matéria, como se consta-ta no laborioso voto do ex-Desembargador Sér-gio D’Andréa Ferreira60, na apelação cível nº7831/RJ, que ficou assim ementada:
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCES-SUAL CIVIL. Alçada. Superveniência dasdisposições do art. 40, § 4º, da CF, e doart. 20 do ADCT. Questão que se tornouconstitucional, razão por que se faz irre-levante o valor da causa. Incidência con-
junta dos dois dispositivos, para, comeficácia financeira a partir de 5.10.88,passarem a favorecer os já inativadosàquela época, as decorrências pecuniá-rias das modificações que beneficiaramos seus colegas ativos e que não os atin-giram por força do entendimento cons-titucional anterior”.
Portanto, não poderá haver distinção deaposentadorias, ou seja, tanto os que se apo-sentaram antes de 31.12.90, como os que sedesligaram posteriormente a esta data, fazemjus ao recebimento dos seus proventos pagospelos cofres do Bacen, em conformidade comtodo disciplinamento constitucional da maté-ria, que manda rever as aposentações anterio-res, para que as mesmas, em cento e oitentadias contados a partir da promulgação da Cons-tituição Federal, fossem ajustados ao dispostona Carta Magna.
Dentro deste contexto, o art. 189 da Lei nº8.112/90 se encaixa perfeitamente no estipula-do no art. 40, § 4º da CF, o que significa dizerque a equiparação das aposentadorias é impe-rativo legal, independentemente do regime peloqual embrionariamente se deu a aposentação.
Dito isto, afigura-se como inconstitucionalo procedimento que mantém a aposentadoriaceletista do Bacen disassociada dos padrõesregentes da estatutária. Sendo certo que os de-tentores da aposentadoria celetista possuemdireito garantido pela Constituição Federal dereceberem seus proventos em sintonia com ocargo exercido pelo seu paradigma ativo, de-vendo o Bacen ser o responsável pelo pagamen-to dos seus estipêndios.
Nessa linha de raciocínio, os que se inati-varam antes de 31.12.90 também fazem jus aopagamento referente à devolução patrimoniale às contribuições efetuadas para a Centrus, emigualdade de condição com os seus pares apo-sentados regidos pelo Estatuto do FuncionárioPúblico. Isto porque o Bacen está devolvendo arespectiva parcela financeira para os seus ser-vidores que se aposentaram ou estão no servi-ço ativo, limitando tal vantagem para os con-templados com a aposentadoria estatutária,deixando os servidores que se desligaram doserviço ativo até 30.12.90 fora do alcance darespectiva parcela financeira.
Esta omissão dos inativos celetistas é da-nosa e detrimentosa, abrindo o leque para oquestionamento judicial, pois não se admite,em hipótese alguma, que o ente público distin-ga os iguais perante a lei, em total afronta ao
59 93.05.08441-9. Relator: Juiz Rivaldo da Cos-ta. DJU, p. 38391, 17 set. 1993.
60 TRF. 2ª Região. 2ª Turma Ap. Cível 7831/RJ(90.02.08175-8). DJ, 26 out. 1993. Relator: Desem-bargador Sérgio D’Andréa Ferreira.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 59
caput do art. 5º da CF, que não permite quehaja tratamento antiisonômico no presente caso.
Por outro lado, o art. 18 da Medida Provi-sória nº 1.535/96 concede o enquadramento apartir de 1º de dezembro de 1996 para os ocu-pantes dos cargos de técnicos do Banco Cen-tral e de Auxiliar, que foram transpostos, res-pectivamente, nos cargos de Analista e de Téc-nico de Suporte da Carreira de Especialista doBanco Central do Brasil e os servidores ocu-pantes do cargo de Procurador do Bacen queforam enquadrados no cargo de Procurador dacarreira jurídica da aludida autarquia, obser-vado o posicionamento constante do Anexo VI.
Ora, tal dispositivo legal é de extrema sin-geleza, eis que conferiu “temperamentos” aADIn 449-2/DF, pelo fato de o enquadramentodos respectivos servidores do Bacen ter sidoefetuado a partir de 1º de dezembro de 1996, enão com data retroativa a janeiro/91, o que sig-nifica dizer que o efeito da decisão judicial emdebate foi tido como ex-nunc e não ex-tunc.Tal posicionamento vai de encontro com a con-veniência do estado fático que imperava quan-do da declaração de inconstitucionalidade sub-oculis, sendo temerário não se conferir o alu-dido “temperamento”, em face do transcursodos anos e a cristalização de direitos intrans-poníveis.
Após este importante registro, constata-seque o artigo 19 da citada MP garante que osvencimentos recebidos pelos servidores do Ba-cen, no período de 1.1.91 até 30.11.96, quandoexcedam os valores dos vencimentos devidosaos integrantes do Plano de Classificação deCargos de que trata a Lei nº 5.645, de 10 dedezembro de 1970, são considerados como prolabore facto, como já dito anteriormente. Naprática, é o reconhecimento da convalidaçãodo transcurso dos anos laborados pelos servi-dores do Bacen. Nada mais justo e legal do queo reconhecimento em tela.
Todavia, o § 1º do art. 19 condiciona aoservidor público do Bacen o direito de requeri-mento, até o dia 31 de janeiro de 1997, sobpena de decadência, para que seja feita revisãode valores recebidos conforme previsto no ca-put quando, para efeito de acerto de contas seuspagamentos, direitos e obrigações serão revis-tos segundo a tabela de vencimentos aplicadaaos servidores do Plano de Classificação deCargos de que trata a Lei nº 6.645/70, deven-do, se for o caso, o débito ser quitado de formadefinitiva, tanto pelo servidor quanto pelo Ba-
cen, ficando imunes apenas os casos decorren-tes de revisão judicial, provisória ou definitiva(§ 2º).
Ora, tal dispositivo legal conflita com ocaput do art. 18, eis que enquadra os servido-res do Bacen a partir de 1º de dezembro de1996, deixando de conceder efeito retroativo,que tecnicamente significa dizer que não teriaa retroatividade prevista no caput do art. 19.
Inobstante este fato, nenhuma lei pode res-tringir ou excluir da apreciação do Poder Judi-ciário lesão ou ameaça a direito (inciso XXXVdo art. 5º, da CF), o que significa dizer que oprazo de decadência preconizado pela MP éinconstitucional, pois se trata de direito e ga-rantia fundamental de acessibilidade ao PoderJudiciário, que é inderrogável.
Por outro flanco, o artigo 21 da MP supra-mencionada, ao determinar as contas entre oBacen e seus servidores, incluiu as parcelas nãorecolhidas ao Plano de Seguridade Social. Ora,tal desconto também é inconstitucional, pelofato de ter sido instituído pela Medida Provisó-ria nº 1.415, de 29.4.96, quando a ConstituiçãoFederal impõe que seja por lei complementar.
Colocado este ponto jurídico sob testilhasdo Poder Judiciário, o Sindicato dos Servido-res do Bacen (Sinal) ingressou com a AçãoOrdinária nº 97.0071840-9, distribuída para a17ª Vara Federal, sendo deferida antecipaçãode tutela pelo emérito Juiz Titular Dr. Wan-derley de Andrade Monteiro:
“Após a Carta Magna de 1988, ascontribuições sociais e parafiscais emgeral possuem natureza jurídica tributá-ria, consoante se conclui da interpretaçãodos arts. 146, III, 149, I e III, 195, § 9º.
A medida provisória é inadmissívelcomo processo legislativo para exigirqualquer espécie tributária, porquantoser necessário se aplicar o princípio dalegalidade estrita e porque não se con-forma com os ditames do Sistema Tri-butário que vincula os tributos instituí-dos por lei complementar ao regime daanterioridade por ano ou da anteriori-dade de 90 (noventa) dias, como é o casodas Contribuições Sociais.
A matéria constante de projeto de leirejeitado somente poderá constituir ob-jeto de novo projeto, na mesma sessãolegislativa, mediante proposta da maio-ria absoluta dos membros de qualquerdas Casas do Congresso Nacional (art.67 da Constituição Federal).

Revista de Informação Legislativa60
Nesse sentido é o entendimento doEgrégio Tribunal Regional Federal da 1ªRegião, pelo voto do Exmo Sr. Dr. JuizNelson Gomes da Silva, conforme Emen-ta, verbis:
APOSENTADOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CRI-ADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1415/96.
1. Para que possam servir de instru-mento hábil à criação das contribuiçõessociais previstas no art. 195 e §§, da CF/88, as Medidas Provisórias deverão seconverter em lei no prazo de trinta dias.Sob pena de, perdendo a eficácia e sain-do do mundo jurídico, não viabilizaremo vigor necessário às contribuições soci-ais, pois estas somente o adquirem apóso transcurso do prazo de 90 (noventa)dias contados a partir da publicação dalei (ou medida provisória) que as houverinstituído.
2. A reedição de uma medida provi-sória não tem condão de repristinar aque-la que perdeu a eficácia, pois, somente oCongresso Nacional pode disciplinar asrelações jurídicas decorrentes das medi-das provisórias que não se converteramem lei no prazo de trinta dias.
3. Somente quando a Medida Provi-sória nº 1.415, que vem sendo reeditadamensalmente, se converter em lei é queserão criadas, validamente, as contribui-ções sociais sobre os proventos dos apo-sentados, e, então, poderão ser exigidosapós o decurso do prazo nonagesimalcontado da data da publicação da últimamedida provisória convertida em lei.
4. Agravo provido” (SS nº 6.01.24824[AgRg] - 2 - DF e SS nº 96.01,28717 [Ag.Rg] - 9 - DF. DJ de 7.10.96, Seção 2, p.74.894).
Na trilha da ilegalidade, a MP em questãodefere o levantamento do FGTS dos ex-empre-gados do Bacen de competência até 31.12.90,atualizados até a data do saque, indisponibili-zando, contudo, os depósitos efetuados em ja-neiro/91 até agosto/96, em total desprezo aodireito adquirido e à cristalização das vanta-gens pro labore facto, que inclusive é admiti-da no caput do artigo 9º da respectiva normalegal. Ora, não há como se entender como líci-to e razoável que se estipule a devolução deparcela fundiária quando ela é acessória dosvencimentos recebidos no mesmo período e esteé tido como irretirável por ser pro labore fac-to. É um total contra-senso, que não se revestede contornos jurídicos, por ser totalmente ile-
gal fazer este complicado “divisor de águas”,como exaustivamente exposto anteriormente.
Por igual, o famigerado § 5º do art. 21 daMP nº 1.535 é o verdadeiro “verdugo” da esta-bilização da situação fática consumada, frutoda relação jurídico-funcional existente, pois deforma descompassada com a legalidade impõeaos inativos, como também aos servidores exo-nerados ou demitidos titulares de contas vin-culadas ao FGTS, que realizaram saques desaldos constituídos por depósitos efetuados peloBacen, de competência após 31 de dezembrode 1990, indenização à respectiva Autarquia(???). É o fim do fim. Não é possível que empleno século XX, onde o Estado democráticode direito reina em quase todos os países de-senvolvidos ou em vias de desenvolvimento,constate-se norma de tamanha violência, quesorrateiramente invade o ato jurídico perfeitoe a consumação dos direitos adquiridos. Comojá narrado em tópico próprio, o servidor querecebe vantagem de boa-fé está imune às devo-luções futuras, por não ter contribuído para ocometimento de erros ou de equívocos no atoda concessão da vantagem. Devolver parcelarecebida de boa-fé fere a razoabilidade impe-rativa de determinado momento jurídico, queatraiu os servidores a se engajarem no que lhesfoi oferecido.
A medida provisória sub-oculis alternamomentos que cristaliza as vantagens pro la-bore facto, ao passo que em outras oportunida-des lhes nega o valor jurídico, como nas devo-luções de saldos do FGTS posteriores a31.12.90. Tanto é assim que o art. 23 da normacitada reconhece os anuênios adquiridos pelosservidores do Bacen no regime celetista comotransformados em Adicional por Tempo deServiço, conforme disposto no artigo 67 da Leinº 8.112/90.
Nesse quadro, todas as vantagens recebi-das pro labore facto deverão guardar sintoniacom o tratamento igualitário que o princípioimpõe aos servidores de usufruírem do mesmotratamento legal, otimizado pela nova situaçãojurídico-funcional.
Assim, a transformação do emprego emcargo público não possui o efeito de apagar oque foi adquirido no curso da relação jurídico-funcional passada, em face da nova relação terque ser benéfica para todos os servidores doBacen, sem exceção de tempo ou de regimejurídico, em total e estreita identidade com anorma constitucional.
Se o Chefe do Executivo não alterar os pon-

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 61
tos falhos da MP nº 1.535, certamente estarádeixando arestas a serem aparadas pelo PoderJudiciário que, em nome da legalidade, saberá
ser o “fiel da balança” no resgate do Estado dedireito que deve reinar na relação dos admi-nistrados com a Administração Pública.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 63
O Direito é um fato histórico-cultural,dinâmico e dialético, que se forma e sedesenvolve, estrutura-se e aperfeiçoa-se,multifurca-se, em um esforço permanente, notempo e no espaço, modelando-se numaunidade sistemática, num todo orgânico,refletindo a vida do homem em sociedade, nasua homogeneidade e diversificação.
Configura uma realidade humana e univer-sal, ordenada normativamente, objeto deconhecimento científico, enquanto fato social,bem como filosófico, enquanto idéia, conceito,produto da razão, do sentimento de justiça, daconsciência e experiência jurídica, enfim, oDireito na sua imanência e transcendência, nasua ontologia e nos seus valores. Seus desíg-nos consistem na disciplina da convivênciasocial e da conduta do homem, enquanto mem-bro da sociedade política, a realização dos com-pro-missos com os ideais de justiça e de res-peito à dignidade humana, sendo de acentuar-se que a experiência jurídica desdobra-se, am-plia-se, afirma-se e reafirma-se numa tensãocontínua de valores, que se implicam e se exi-gem, numa íntima correlação, num nexo lógicoentre o Direito e a vida.
No seu processo institucional e sociológicode criação e de evolução, na sua elaboraçãocientífica e construção lógica, na sua fenome-nologia geral, exposto às transformaçõespolíticas, culturais e sócio-econômicas, emdiferentes épocas e lugares, o Direito, alter-nando teses e antíteses, compondo sínteses,estrutura-se em princípios induzidos do seusistema orgânico, formula regras dispositivase coativas, modela, formal e materialmente,seus institutos, normatiza fatos e valores,concebe doutrinas que o informam e editajurisprudência que o fecunda e renova.
Uma visão do Direito: Direito Público eDireito Privado
SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
Sebastião Alves dos Reis é Ministro aposentadodo Superior Tribunal de Justiça, Professor apo-sentado da Faculdade de Direito da UFMG, Membrodo Conselho Superior do Instituto dos Advogados –MG, Membro da Academia Internacional de Direitoe Economia e Presidente do Centro JurídicoBrasileiro (CJB).

Revista de Informação Legislativa64
Nesse quadro, prevendo e provendo, sus-tenta-se na sua validade, vigência e eficácia,na sua efetividade, na certeza e na segurançajurídica que oferece, concretiza-se, em densifi-cação crescente, na lei, na sentença, nos atosde governo e de administração, nos ajustes en-tre as partes, regula as relações hominis adhominem, interesses e negócios, e, em tentati-vas múltiplas, procura adequar-se às novas re-alidades circundantes, para o que suscita refle-xões renovadas que o enriquecem e atualizam.
Ou, em outras palavras, a vivência jurídicaé um momento significativo da experiência dohomem, nos vários estágios da civilização e dacultura, constituindo sempre o Direito umarealidade in fieri, em constante “vir a ser”,espelhando as incertezas e oscilações dohomem, frente aos desafios que se lhe antolham,em demanda da racionalização do poderpolítico, das limitações da potestas estatal, darealização das liberdades públicas e daafirmação da consciência da constitucio-nalidade e da cidadania, da construção de umasociedade livre, solidária e justa, numa visão.
Aliás, Cícero (Da República, livro III) jáadvertira-nos acerca das mutações históricas doDireito, em função das tendências e neces-sidades de cada povo e época, consoante já ofizera Aristóteles, em A Política (IV a IX).
Nessa moldura do cosmos jurídico, insere-se a tradicional divisio do Direito em Público ePrivado, formulada em Roma por Upiano, re-petida nas Institutas, de Justiniano (I, I § 4º),adaptável à sociedade e ao espírito de então,fragilizada na Idade Média, em razão das pe-culiaridades do regime feudal, em que os “di-reitos da realeza” se confundem com o bonumcommune, teorizada no Renascimento, afirma-da e reafirmada, sob vários critérios, a partirdo século XIX, sem embargo das impugnaçõesque se lhe opuseram respeitados juristas.
Detendo-se nessa concepção dual doDireito, inicialmente, é de assentar-se que, àluz do pensamento geral de seus doutrinado-res, a tese não conflita com a visão do Direitocomo um complexo orgânico, inteiro e coeren-te, sendo de anotar-se que sua aceitação nãoimplica em seccionar o estudo do direito emduas disciplinas autônomas, em duas áreasestanques, incomunicáveis. Antes, cuida-se deuma ótica em que, substancialmente, consi-deram-se dois aspectos básicos de uma sóciência jurídica, duas perspectivas de umarealidade una e solidária. São dois domíniosque se compenetram, embora informados por
diretivas gerais próprias, atestando a expe-riência jurídica, no curso do tempo, a interaçãoocorrente nos dois círculos, manifestada na in-terpenetração de princípios, de institutos, demodelos e procedimentos, processando-se umaverdadeira “migração de idéias” entre as duasesferas, para usar a expressão do ProfessorEdgar Godói Mota Machado, bastando paratanto lembrar a influência recíproca que seprocessa entre o Direito Constitucional –Direito Público por excelência – e o DireitoCivil, por excelência Direito Privado.
Prosseguindo, afirmam, ainda que se ad-mita, apenas para argumentar, que a dimensãopertinente aos dois territórios não seja captávela priori, em razão, principalmente, daorganização político-jurídica de cada povo e suaproblemática econômico-social e cultural, nãomenos certo é que, em toda ordem jurídicaampla e complexa, haverá sempre temas que,pela sua própria índole ou por força do direitopositivo, serão qualificáveis num ou noutrosetor.
Correlatamente, embora variável o conteúdoda matéria apropriada a uma ou outra área elevando-se em conta as dificuldades técnicasno estabelecimento de fronteiras entre os doissegmentos, a tese da bifurcação tem sobre-vivido, no curso do tempo, apoiada, em geral,por juspublicistas e jusprivatistas, comoprincípio relevante por seus fundamentos, suautilidade prática, metodológica e didática.
Ocorre, todavia, que os partidários da tesedicotômica, quando procuram construir ocritério técnico distintivo, divergem na suafundamentação, levantando ampla contro-vérsia, sendo ilustrativo, a esse respeito,frisar-se que Hollinger, em 1904, arrolou 114critérios, Roubier refere-se a 17 (MACHADO,Edgard G. Mota, Elementos da Teoria Geraldo Direito, p. 160), Pontes de Miranda alude amais de 20, Mota Machado noticia 9, enquantooutros reduzem a enumeração a itens maissimplificados.
Fixando-se, nesse particular, numa visãogeral de início, como atrás anotado, é deassentar-se que a teoria das duae positiones éatribuída a Ulpiano, em texto acrescido de in-terpolações, segundo o qual o Direito Públicodiz respeito ao Estado Romano (quod ad statumrei romanae spectat) e o Privado, aos interessesdos indivíduos singulares (quod ad singulorumutilitatem). A tese ressurge, mais tarde, nateoria dos “interesses protegidos”, conforme aqual as normas que protegem o interesse

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 65
público pertencem à órbita publicística, cabendoao campo privatístico as que disciplinaminteresses dos indivíduos. Esse pensamento érevigorado na teoria do “interesse predo-minante” orientada no sentido de que a normase insere no Direito Público, quando protegedireta e imediatamente o interesse público e sóindireta e mediatamente o interesse particular,invertendo-se o raciocínio, quando a norma éde Direito Privado, tudo na dependência daintensidade ou densidade do interesse preva-lecente.
Tentativa de inserção no direito positivo donúcleo dessa ótica vamos encontrá-la no Projetodo Código Civil francês (Livre Preliminaire),o qual, após acentuar que as leis, quaisquer quesejam, interessam ao mesmo tempo ao setorpúblico e privado, frisa que as que interessamimediatamente à sociedade (plus immediate-ment à la société) formam o Direito Público,tocando ao Direito Privado as que interessammais imediatamente aos indivíduos (plus im-mediatement aux individus que la socié té).
De outro lado, cabe trazer à colação acorrente teleológica, preocupada com afinalidade da norma: se o destinatário é o Es-tado, a situação é de Direito Público, se é oindivíduo, enquadra-se no terreno privatístico.Avizinha-se dessa perspectiva, a orientaçãovoltada para a mens legis, consoante com a quala nota distintiva coloca-se no escopo direto dalei, se a utilidade pretendida é pública ouprivada.
Cogita-se também a teoria da patrimo-nialidade e, em sua consonância, inclui-se noâmbito privatístico os direitos materialmenteavaliáveis, e, no publicístico, os despidos dessecaráter.
Certos historicistas sustentam a convicçãode que as relações de Direito Público têm emconta a pessoa, enquanto membro da sociedade,e o Direito Privado, o indivíduo, como tal.
Igualmente, há juristas que situam nocírculo do Direito Público as relações desubordinação, em que ocorre a presença dedominantes e dominados, exigência de normasimperativas, cogentes, criadoras de deveres, eas de Direito Privado, em que ocorre a presençade pessoas iguais, regidas por normas dispo-sitivas, estabelecedoras de faculdades. Damesma sorte, para certa doutrina, o relevante éa qualidade dos sujeitos da relação, se um ouambos estão armados de jus imperii, está-se naesfera do Direito Público, se ambos estão des-pidos dessa prerrogativa, delineia-se a área do
Direito Privado.Ainda, cabe referir-se à distinção em razão
da matéria, vale dizer, se a norma é organi-zatória de direito, o campo é de Direito Público,se é atributiva de direito, situa-se na órbita deDireito Privado.
De outro lado, registra-se a posição dejuristas que admitem a divisão somente naesfera do Direito objetivo, afastando-a do campodo direito subjetivo.
Por fim, resta anotar-se o critério formal,orientado no sentido de que são normas de jusprivatem aquelas cuja violação dá origem a umaação privada, de iniciativa do lesado, e de juspublicum, se a iniciativa pertence ao Estadolato sensu, autorizando atuação ex officio.
A bipartição, sob comentário, projeta-se nainterpretação e aplicação do Direito, bem comoem seus princípios gerais ou específicos,prolongando-se no âmbito dos atos jurídicos eda própria técnica legislativa.
Nessa ordem de idéias, a exegese, na áreaprivatística, tende, precipuamente, ao signi-ficado patrimonial da norma, ao seu conteúdode vontade autônoma, em contraste com ospropósitos publicísticos, em que a vontade doindivíduo cede aos imperativos do Estado e dasociedade. Na seqüência desse pensamento,fixando-se no princípio da legalidade, vê-se quesua compreensão no Direito Privado se centrana autonomia da vontade, em ordem a enten-der-se que será permitido o que não forproibido. Já no Direito Público, realça-se avontade heterônoma, a sua unilateralidade, nosentido da tese segundo a qual o que não épermitido é proibido, prevalecendo a submissãoà lei, podendo a interpretação ser rígida ouampla, construtiva, em função dos interessessubjacentes, explícitos ou implícitos.
Por igual, o princípio teleológico dafinalidade das leis e dos atos jurídicos, emtermos gerais, sugere conotações diferentes,numa ou noutra área, pois a ordem privatísticatende a realizar livremente o bem jurídicopessoal, particular, gerando direitos dispo-níveis, ao passo que o Direito Público évocacionado para os valores comunitários, obem comum, o interesse coletivo, criando-seaqui poderes jurídicos indisponíveis, poderes-deveres ou deveres-poderes, como prefere CelsoAntônio Bandeira De Mello, sendo inválido odesvio ou abuso de autoridade.
Outrossim, as concepções do Estado, na suaestrutura, nas suas funções, na sua filosofia

Revista de Informação Legislativa66
política e econômico-social, estão mais expostasàs transformações correlatas, em função demúltiplos fatores, uns conjunturais, outrosinstitucionais, enquanto as instituições deDireito Privado são mais estáveis, por força dedeterminantes culturais, ético-religiosas epsicossociais.
Finalmente, na técnica legislativa, nocenário do Direito Público, emprega-se, depreferência, a dicção científica, consagrada nadoutrina e na jurisprudência, e no DireitoPrivado, sobressai a linguagem comum, de maisfácil acesso a seu destinatário – o povo.
Retornando ao tema dos critérios distin-tivos, observe-se que os modelos diferenciaisali cogitados têm sido objeto de críticasrepetidas, seja porque não oferecem tipicidadesuficiente para servir de suporte a umaconstrução científica, seja porque alguns seconfundem, no seu conteúdo material, outros,são imprecisos nos seus perfis, às vezescontraditórios, ou incidem, apenas, sobreaspectos formais da juridicidade, circunstânciasque levaram Kelsen a falar em “caos” deopiniões contraditórias e ambíguas.
Continuando, as restrições opostas assu-miram maior relevo entre os adeptos da escolamonista do Direito, tendo à frente Leon Duguite Hans Kelsen.
O primeiro – Duguit – levanta objeçõessignificativas, sustentando, em síntese, que nãohá distinções entre o interesse geral e oparticular. As leis, nos dois setores, repousamsobre os mesmos fundamentos, os atos jurídicosrespectivos apresentam os mesmos elementos,devem ser examinados com o mesmo espírito emétodo, concluindo pela aceitação da tesedicotômica, apenas, no campo do direitoobjetivo, fixando a distinção na sanção,específica para uma e outra órbita (Traité deDroit Constitutionel, v. 1, p. 601 e segs.).
O segundo – Kelsen – parte da sua teoriado direito puro, despido de elementos extra-jurídicos, reporta-se ao normativismo jurídicoe à identificação entre o Direito e o Estado, e,mais especificamente, afirma que denominadoDireito Privado se reduz à forma jurídicaespecial de produção econômica e à distribuiçãode produtos, num sistema capitalista, e que,numa economia socialista, o modelo seria outro,de acordo com a ideologia política adotada.
À luz desses pressupostos, aponta a divisãoem dois ramos como “funesta invasão dapolítica nos domínios do Direito”, inserida numcontexto ideológico, inútil à sistematização da
ciência jurídica; sublinhe-se, todavia, que oconsagrado jurista do normativismo lógico,mais tarde, já residente nos Estados Unidos,veio a flexibilizar, sob certos aspectos, o seupensamento básico, a respeito da teoria monistado Direito.
No contexto da tese monista, entre seuspartidários, ressaem duas posições polares, umaque reduz todo o Direito ao Direito Público,aos fundamentos de inexistência de oposiçãoentre interesse público e particular, entre Esta-do e Direito, apresentando os atos jurídicos, emambas as ordens, os mesmos elementos; e outraque transfere tal redução ao Direito Privado aoargumento de que todo o Direito é vocacionadopara o homem, abstrata e concretamenteconsiderado, estando a seu serviço.
As teorizações em torno do tema posto emexame não se exaurem nas cogitações aquilevantadas, projetando-se em outras dimensões,ora propugnando por uma “teoria geral”,construída de conceitos e à atuação em ambosos sistemas, sem prejuízo das diferençasespecíficas respectivas, ora apontando para umtertium genus, além do Direito Público ePrivado, atinente a relações jurídicas locali-zadas em espaço institucional próprio, referidasa um interesse específico – o coletivo –resultante de formações sociais típicas, orga-nizadas em categorias e classes, estruturadasem instituições peculiares, configurando umazona intermediária em que se situariam ramosde Direito, tais como o do Trabalho, oEconômico, o Social, o Corporativo, oAmbiental, entre outros.
Neste momento histórico em que o universodo Direito se desdobra em especializaçõesemergentes, de integração de povos afins (art.4º, parágrafo único da Constituição Federal doBrasil, de 1988), quando se institucionalizamordenamentos jurídicos regionais entre Esta-dos – o direito comunitário – preconizando-se,inclusive, uma jurisdição e uma ordemnormativa dotadas de efetividade supra-nacional; nestes tempos de expansão demercados; nesta hora em que as relaçõesjurídicas se cruzam e entrecruzam, diversi-ficam-se, ampliam-se; nesta etapa da vidajurídica em que as Constituições e as leispassam a regular a ordem econômica e social,e o Direito Privado sofre transformaçõesextensas e intensas; nesta quebra em que osconceitos técnicos de “interesses difusos”,“interesses coletivos”, “interesses individuaishomogêneos” assumem relevo jurídico, quandoo modelo individualista do processo recebe o

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 67
impacto das ações coletivas, das class action,das representative actions das actionesd’intèrêt publique, todo esse complexo de
fatores, vistos sub specie juris, certamente, sus-citará novas reflexões, análises e críticas, acer-ca dos temas aqui focalizados.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 69
1. IntroduçãoA redefinição das relações Brasil–EUA a
partir de 1974 constitui o primeiro e mais de-cisivo passo da política exterior brasileira, ini-ciada com o governo Geisel1.
Essa transformação pode ser expressa nãosomente com os esforços brasileiros, para esta-belecer relações bilaterais em bases mais igua-litárias com a potência hegemônica do hemis-fério, mas principalmente na determinação deprosseguir na defesa intransigente do que seri-am os interesses do país no mundo, em rápidocrescimento, ainda que estivessem em choquecom os interesses norte-americanos. Pode-setambém afirmar que essa redefinição estevediretamente relacionada com um novo perfilde dependência externa do país e foi caracteri-zada por uma tendência declinante da partici-pação dos EUA nas atividades econômicas glo-bais do Brasil2.
A vertente perturbadora da política externadurante o governo Geisel: um estudo dasrelações Brasil-EUA (1974-1979)
ANTÔNIO CARLOS LESSA
Antônio Carlos Lessa é Professor de RelaçõesInternacionais da Universidade de Brasília; Mestre(1994) e doutorando em História das Relações In-ternacionais pela mesma Universidade.
SUMÁRIO
1. Introdução. 2. A natureza conflitiva dasrelações Brasil-EUA. 3. Relações econômicas. 4.Relações políticas. 4.1. A mediação das divergên-cias (1974-1977). 4.2. Os difíceis anos Carter (1977-1979). 4.3. A distensão necessária (1977-1979). 5.Conclusão.
1 Este artigo é extensivamente baseado em umdos capítulos do meu trabalho Brasil, Estados Uni-dos e Europa Ocidental no contexto do nacional-desenvolvimentismo : estratégias de diversificaçãode parcerias. Brasília, 1994. 118 p. Dissertação(Mestrado) – Universidade de Brasília, 1994.
2 HIRST, Mônica (org.). Brasil–Estados Unidosna transição democrática. Rio de Janeiro : Paz eTerra, 1985. p. 15.

Revista de Informação Legislativa70
A crescente diferenciação de interesses epercepções entre Brasil e EUA, a respeito desuas respectivas posições no sistema internaci-onal, produziu políticas divergentes e freqüen-temente conflitivas no plano das relações bila-terais3. Em grande medida esse padrão de di-vergência é decorrente de transformações ocor-ridas no sistema político brasileiro, a partir daascensão de Geisel à Presidência da Repúbli-ca. O que está estabelecido é um padrão de tran-sição do poder, marcado pela idéia da necessi-dade de manutenção do projeto político mili-tar, para assegurar sobrevida à leitura de de-senvolvimento nacional implantada nos mol-des de uma potência emergente. No período emquestão, mas notadamente a partir da admi-nistração Médici, observa-se o reordenamentodas posições relativas ocupadas pelos três ei-xos em torno dos quais se articula o processoprodutivo brasileiro, quais sejam, a grandeempresa internacional, o setor público da eco-nomia e o capital nacional não-associado. Seráa conjugação dessas três forças que permitirá,no momento seguinte, a gradativa diversifica-ção das relações econômicas externas do Bra-sil, constituindo a base material da políticaexterior iniciada com Geisel4.
A ação externa de Geisel passou pela re-composição da correlação de forças na estrutu-ra doméstica de poder. Procuravam-se vias tran-qüilas para o trânsito para a liberalização dasinstituições, num processo conduzido de for-ma centralizada pelo próprio Presidente daRepública, cujas características pessoais lhepermitiam exercer com eficiência o controle doprocesso decisório, inaugurando o chamado“centralismo burocrático”, fórmula que indi-cava uma capacidade de decisão mais concen-trada e com poder de articulação entre as buro-cracias mais consistentes5. Para Geisel, a polí-tica exterior, além de elemento indutor do de-senvolvimento, acabou por se configurar comoelemento legitimador do regime, apoiando-sena proposta de abertura institucional no planodoméstico e sobretudo nas afirmações de inde-pendência com relação aos desígnios da políti-ca externa dos EUA no plano internacional.
O modelo de inserção internacional perse-guido por Médici, configurado pelo paradig-ma de potência emergente, elaborado em con-dições internacionais extremamente favoráveis,e sua retomada por Geisel em uma conjunturaexterna negativa, conferiu às variáveis econô-micas caráter absolutamente prioritário. Comefeito, a partir de 1974, a política externa bra-sileira busca respostas ao brusco encarecimen-to dos preços internacionais do petróleo e à crisefinanceira dos países industrializados, procu-rando fontes alternativas de abastecimentoenergético e de mercados para os produtos bra-sileiros6. As necessidades de mudanças no cam-po econômico criaram as bases materiais paraas principais redefinições da política exteriordo período, centrando-se nas expressões-cha-ve diversificação, tanto dos fluxos de comér-cio, quanto das origens dos investimentos es-trangeiros e da captação de recursos financei-ros no exterior, e redefinição, sobretudo dasrelações com os EUA (com a conseqüente to-mada de consciência dos aspectos negativos dorelacionamento) e das relações com os paísesdo Terceiro Mundo (aí entendidos sobretudo aAmérica Latina e África)7.
O presente artigo tem por objetivo exami-nar a redefinição das relações com os EUA,situando-o como o vértice principal da açãoexterna geiseliana, evidenciando o fato de queprocesso representa o corte da articulação játradicional entre o interno e o externo na his-tória mais recente do país, sendo o ponto altodo processo de gradual distanciamento entreos dois países que se observa em linhas geraisdesde os anos 19508.
2. A natureza conflitiva das relaçõesBrasil–EUA
Fundamental que se diga que a tendênciade “esfriamento” das relações com a potênciahegemônica não se inaugura com a adminis-tração Geisel. Bem ao contrário, encontra raí-zes na administração Jânio Quadros, com ori-gens remotas em Vargas, aprofundadas em JK,
3 Ibidem.4 HIRST. Transição democrática e política ex-
terna : a experiência brasileira. Dados, v. 27, n. 3,p. 378-380, 1984.
5 CAMARGO, Sônia de. Caminhos que se jun-tam e se separam : Brasil e Argentina, uma visãocomparativa. Política e Estratégia, v. 4, n. 2, p. 390,1986.
6 Ibidem, p. 393.7 HIRST (org.), op. cit., p. 381.8 Essa é a idéia básica de boa parte dos traba-
lhos de Moniz Bandeira que tratam das relações comos Estados Unidos. Ver, notadamente, BANDEIRA,L. A. Moniz. Brasil–Estados Unidos : a rivalidadeemergente, 1950-1988. Rio de Janeiro : CivilizaçãoBrasileira, 1989.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 71
amadurecendo nas administrações Costa e Sil-va e Médici, para assumir seu apogeu a partirde 19749.
A Diplomacia da Prosperidade de Costa eSilva retoma timidamente, e certamente emoutros termos e em novas condições históricas,a política externa independente que traduzia,então, profundas divergências com os EUA,cujos interesses econômicos e políticos se con-trapunham aos esforços de desenvolvimento doBrasil, ou tratavam de acoplá-los e dirigi-los,numa redivisão internacional do trabalho. Pau-tava-se, pois, pela reivindicação, à medida queaspirava definir sua própria identidade nacio-nal como “potência emergente” capitalista emexpansão, da revisão das bases do relaciona-mento entre EUA e a América Latina10.
Costa e Silva procede ao afastamento daspautas ideológicas que orientaram a políticaexterna sob Castelo Branco, reassumindo umaatitude de relativa confrontação com os paísesindustrializados e de ativa solidariedade comas reivindicações do Terceiro Mundo. A Di-plomacia da Prosperidade busca a ampliaçãoda área de negócios do setor externo, voltandoa servir como instrumento de expansão econô-mica, com o mínimo de vinculação política eideológica, segundo a perspectiva de que umcontexto multipolar se configurava, com o con-seqüente debilitamento da hegemonia norte-americana no sistema capitalista mundial. Asrelações com os EUA passam a conhecer nu-merosos pontos de tensão, tendência que semantém inalterada e se agrava na administra-ção Médici11.
Os atos do nacional-desenvolvimentismogeiseliano não apresentam o perfil de rupturano relacionamento bilateral. Bem ao contrário,enquadram-se na seqüência de um processohistórico que compelia o Brasil a distanciar-see contrapor-se aos EUA. Enquadram-se numalógica que perpassa todo o período militar pós-Castelo Branco, colocando-se antes como ocoroamento ou o ápice do processo de desloca-
mento de um dos vetores mais importantes dapolítica exterior brasileira, qual seja a depen-dência estrutural relativamente aos centros ca-pitalistas de poder, nesta quadra, representa-dos pelos EUA.
Tendo em vista esses elementos, pode-seafirmar que as relações brasileiro-norte-ame-ricanas, como se apresentam na abertura doqüinqüênio Geisel, formam a vertente funda-mental da estratégia de diversificação de par-cerias. Surgindo no cômputo dos fatores de for-mulação da política exterior como elemento dereação, exerce a função de elemento inicial deuma dialética que se estabelece no contexto daação brasileira, que, ao desdobrar-se, motiva einforma o processo de expansão dos vínculospolíticos e econômicos com novas parcerias aserem buscadas. Configura-se, pois, como a“vertente perturbadora” do nacional-desenvol-vimentismo, forçando, entretanto, reações po-sitivas12.
Fruto do mais claro labor intelectual já de-monstrado pelos formuladores da política ex-terior brasileira, com uma conseqüente “toma-da de consciência”, a redefinição das relaçõescom os EUA e a concomitante definição denovas “vertentes” nas relações internacionaisdo Brasil, são, assim, as respostas para a ques-tão central que norteia a ação externa de Gei-sel, qual seja, como conquistar um nível razo-ável de diversificação das parcerias externas13.
Com efeito, a década de 70 foi um períodode importantes transformações para o Brasil.O País aprofundou sua estratégia de industria-lização, diversificando ao mesmo tempo a es-trutura de suas relações econômicas. O Brasildesenvolveu uma inserção mais sofisticada naeconomia internacional, convertendo-se em umdos países mais ativos na busca de um novoespaço dentro da divisão internacional do tra-balho. O nacional-desenvolvimentismo geise-liano é a operacionalização da busca de res-postas aos problemas financeiros, comerciais,energéticos e tecnológicos que estrangulavam
9 Idem. Continuidade e mudança na política ex-terna brasileira. Revista Brasileira de Política In-ternacional, v. 29, n. 115/116, p. 91-92, 1986.
10 Examinei a evolução da política externa bra-sileira entre 1964 e 1990 no ensaio Apogeu e declí-nio do nacional-desenvolvimentismo na política ex-terior do Brasil. Em Tempo de Histórias, Cadernosda pós-graduação em História da Universidade deBrasília, v. 1, n. 1, 2. sem. de 1995.
11 BANDEIRA. Continuidade..., p. 94.
12 LESSA, Antônio Carlos M. A estratégia dediversificação de parcerias no contexto do nacional-desenvolvimentismo, 1974-1979. Revista Brasilei-ra de Política Internacional, v. 38, n. 1, p. 24-39,1995.
13 Essa tomada de consciência é demonstradapelos inúmeros pronunciamentos de autoridadesgovernamentais, notadamente do chanceler Azere-do da Silveira, mostrando-se uma constante no pe-ríodo em tela. Ver Resenha de política exterior doBrasil, n. 1/20, 1974 a 1979.

Revista de Informação Legislativa72
a economia, inserindo como questões de inte-resse, destacados os objetivos comerciais doBrasil, a garantia de suprimento de matéria-prima e produtos essenciais e o acesso a tecno-logias avançadas e a fontes energéticas.
A redefinição das relações brasileiro-norte-americanas constituem a pedra angular da po-lítica externa no período, tanto no plano eco-nômico quanto no político-militar. A naturezaconflitiva do relacionamento encontra suas ra-ízes na falta de conexão entre o que, a longoprazo, o Brasil pretende demandar e o que osEUA pretendem oferecer, ou seja, tecnologiase capitais desvinculados de uma estratégia quenão encontre ressonância nos interesses nacio-nais. Desde os anos 60, o Brasil cresceu o sufi-ciente, procurando diversificar sua dependên-cia do exterior para aceitar os arranjos simplese lineares que organizaram, no passado, suasrelações com os norte-americanos. Procura-se,então, a diversificação de fontes de aquisiçãode suprimentos sensíveis, como material mili-tar, créditos, matérias primas essenciais, tec-nologias e equipamentos, relativizando a de-pendência de fatores de produção de origemnorte-americana14.
A despeito da dependência relativa que seobserva no início dos anos 70, estão mais di-versificadas as fontes externas desses suprimen-tos, o que permite operacionalizar a estratégiade continuar perseguindo os desígnios do de-senvolvimento nacional. O Brasil busca con-cretizar uma situação de autonomia heterodo-xa em que, mesmo conservando certos traços dedependência (com relação ao sistema financeirointernacional, por exemplo), encontra espaçospara uma atuação própria que lhe permite rede-finir a amplitude de seus laços com os EUA15.
A especificidade das relações brasileiro-norte-americanas reside no fato de que o de-senvolvimento do Brasil o está levando a ocu-par espaços já ocupados pelos EUA, em dife-rentes aspectos, tanto políticos quanto econô-micos, com uma atuação mais destacada emdeterminados cenários regionais, como Amé-rica Latina e África. A diferença de interessesjá aludida circunscreve-se a alguns tópicos daagenda bilateral, justamente aqueles que tem-peram as estruturas do relacionamento, mes-
mo porque o Brasil se encontra irreversivel-mente inscrito na órbita dos valores ocidentais,capitaneados desde o fim da Segunda GuerraMundial pelos EUA.
Para o nacional-desenvolvimentismo deGeisel, a redefinição das relações com os EUAdeve ser identificada com a busca de uma mai-or autonomia no interior do sistema ocidentale não com o seu rompimento. Nos valores fun-damentais há, grosso modo, uma convergên-cia de visão dos dois países, que leva ambos acompartilharem a mesma visão de mundo, oque inscreve os numerosos problemas do rela-cionamento bilateral na esfera operacional, enão-ideológica16.
3. Relações econômicasNo que diz respeito às relações econômicas
entre Brasil e EUA, duas tendências se mani-festaram de forma destacada no período que seestende de 1974 a 1979:
1) Operou-se a conclusão do processo deprogressiva desvinculação do Brasil com rela-ção ao mercado norte-americano, que se haviainiciado ainda nos anos 60. Ainda assim, asimportações originárias dos EUA (basicamen-te produtos agropecuários, sobretudo trigo, pro-dutos de tecnologia avançada e serviços) man-tiveram seu dinamismo relativo no período,fazendo com que a balança comercial bilateralregistrasse contínuos déficits contra o Brasil16.Não que o mercado norte-americano tenha dei-xado de ser importante, bem ao contrário, con-tinua a sê-lo, mas sua importância é relativiza-da pelo crescimento dos fluxos de comércio comoutros parceiros. As participações relativas daEuropa Ocidental, América Latina, Japão, Áfri-ca, Oriente Médio e Europa Oriental modifi-cam-se, as pautas de comércio crescem e ga-nham dinamismo, mas isso não ocorre às cus-tas das relações comerciais com os EUA, sen-do a qualidade das pautas de exportação, numaperspectiva comparada, bem distinta. Para osmercados dos novos parceiros, o Brasil destinaalém dos produtos tradicionais de exportação(como os produtos agropecuários), os frutosrecentes de sua modernização industrial (bensde capital, material bélico e manufaturados)17.
14 GÓES, Walder de. O Brasil do General Gei-sel. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, p. 164. LIMA,Maria Regina Soares de, MOURA, Gerson. A tra-jetória do pragmatismo : uma análise da políticaexterna brasileira. Dados, v. 25, n. 3, p. 350, 1982.
15 CAMARGO, op. cit., p. 394.
16 Seminários do IPRI 1987 a 1989. Cadernosdo IPRI, Brasília, n. 1. p. 13-20, 1989.
17 De fato, os mercados da CEE e da AméricaLatina ganharam maior ponderação relativa na es-trutura de comércio, cada qual equiparando-se em

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 73
2) A decrescente complementaridade exis-tente entre as economias dos dois países, poroutro lado, como resultado do incremento dapresença de manufaturados na pauta brasileirade exportações, somada às pressões internasderivadas do ajuste estrutural em curso na eco-nomia norte-americana, em um contexto delento crescimento, conduziu à incidência cres-cente de conflitos comerciais. Com efeito, pode-se observar a transformação estrutural que seoperou nas pautas de exportações brasileiras,que em 1965 apresentavam 82,1% de partici-pação de produtos primários, 9,7% de semi-manufaturados e apenas 8,2% de manufatura-dos, contra uma participação em 1978 de42,7%, 11,8% e 51,5%, respectivamente18.Neste ano, as pautas brasileiras são compostasbasicamente por produtos tropicais (café, açú-car e cacau), agroindustriais dependentes deinsumos baratos (suco concentrado e congela-do de laranja, por exemplo), industriais de apli-cação intensiva de mão-de-obra (calçados e têx-teis), processados por indústrias que se utili-zam de técnicas já amadurecidas (produtos si-derúrgicos) e alguns bens de tecnologia avan-çada (material de transporte).
O nível decrescente de complementaridadeexistente entre as economias brasileira e nor-te-americana encontra raízes na necessidade doBrasil de intensificar as exportações para co-brir o aumento explosivo das importações, e aosubsidiar seus produtos para torná-los maiscompetitivos, encontra no crescente protecio-nismo do mercado dos EUA uma barreira cadavez mais difícil de transpor. Em decorrência, aexpansão comercial brasileira passou a se ori-entar para outros mercados, buscando, inclusi-ve, outros fornecedores para arrefecer a ten-dência deficitária na balança comercial com osEUA19.
As práticas comerciais norte-americanas,contraditórias com a tradicional fé liberal pro-fessada, dão origem a um regime de comércioadministrado, ainda que não baseado em siste-mas tradicionais de controle do fluxo de bens eserviços. Desde a promulgação da atual Lei deComércio americana em 1974, os problemasno relacionamento comercial Brasil–EUA avo-
lumaram-se rapidamente, chegando a comporuma alentada agenda, envolvendo múltiplosconflitos notadamente nas áreas de produtosprimários e manufaturados. A fim de evitar asimportações, sobretudo de produtos de mão-de-obra intensiva provenientes de países onde osalário era mais baixo, surgiram fortes pres-sões de setores da indústria prejudicados coma relativa perda de competitividade das pautaspara exportação com a valorização do dólar,no sentido da adoção mais vigorosa, das prote-ções previstas na nova lei, notadamente o esta-belecimento de restrições voluntárias e a im-posição de direitos compensatórios e cotas.
As diferentes percepções e reações dos res-pectivos governos ao processo de diversifica-ção de vínculos resultaram em divergências sis-temáticas e no acúmulo de conflitos específi-cos ao longo do período. Há entre Brasil e EUAum número crescente de elementos que encer-ra certas contradições de interesses, o que de-riva essencialmente da ocorrência de dois fato-res básicos:
1) O Brasil surge no período como “novopersonagem” no mercado internacional, apre-sentando um perfil de exportações muito maisdiversificado em termos de pauta e do destinode seus produtos e, por isso, já entra em condi-ções de atrito com certos supridores tradicio-nalmente estabelecidos nos mercados interna-cionais. Ao buscar novos mercados para o es-coamento de sua produção, o Brasil depara-se,por um lado, com a força de setores tão tradicio-nais quanto decadentes da economia norte-americana, o siderúrgico por exemplo, e, poroutro, desenvolve uma estratégia comercialheterodoxa ao oferecer produtos dotados de tec-nologias e preços adaptáveis às necessidadesdos clientes, sem restrições políticas ou ideolo-gias que usualmente acompanhavam as linhasde fornecimento norte-americanas. Aliás, ocontínuo êxito obtido nas exportações brasilei-ras de produtos industrializados pode ser ex-plicado, conjuntamente, por medidas até sin-gelas, mas que constituem a ponta de lança daspolíticas comercial e industrial do governo bra-sileiro:
a) utilização do sistema de assistência cre-ditícia à produção de manufaturados para ex-portação;
b) manutenção da competitividade dos pro-dutos na exportação, mercê do regime de câm-bio flexível;
c) melhoria substantiva da qualidade e apre-
importância ao mercado norte-americano como des-tinatário das exportações brasileiras. Ver HIRST(org.), op. cit., p. 18.
18 Banco do Brasil. CACEX. Comércio exterior,exportação, 1982.
19 HIRST (org.), op. cit., p. 18.

Revista de Informação Legislativa74
sentação dos produtos manufaturados para ex-portação;
d) posição favorável do Brasil como supri-dor de produtos industrializados ao mercadointernacional, em volume que ainda não susci-ta maiores entraves às suas vendas20.
2) Vê-se, portanto, que há um elemento decompetição e de choque entre o Brasil, comonovo personagem no mercado internacional, eos EUA, que, embora tivessem presença pre-dominante nesse cenário, vêem no desempe-nho de seu setor externo um elemento aindamais importante para os destinos de sua pró-pria economia, que tentava se adaptar a umaativa política de reorientação estrutural e deracionalização dos setores produtivos. O pro-blema da simultaneidade da nova presença bra-sileira, de um lado, e dos EUA, do outro, noplano econômico internacional, acontece nomomento em que se verifica um aperto de es-paços21.
As dificuldades no comércio internacionalque afetam as economias do Brasil e dos EUAconstituem a face conjuntural de uma questãomais importante, qual seja, a crise da divisãointernacional do trabalho, com a definição ain-da tímida de um novo paradigma industrial,que, se por um lado lança em crise setores in-teiros das economias dos países centrais, vi-sando abrir espaço para novos setores produti-vos mais dinâmicos e introdutores de novastecnologias, por outro, abre janelas de oportu-nidades para países intermediários como o Bra-sil, de economias razoavelmente infra-estrutu-radas ocuparem os espaços relegados pelo re-arranjo dos setores tradicionais das economiasdo núcleo capitalista22.
Os problemas nas relações econômicas en-tre ambos não se resumiam aos atritos decor-rentes das pautas comerciais. Além das formastradicionais de exportação de bens de capital,as de cooperação e as de investimentos eramlimitadas aos moldes de uma típica relaçãoNorte-Sul e não atendiam às necessidades doprojeto de desenvolvimento brasileiro.
Os financiamentos provenientes dos EUA
para projetos nacionais em geral eram vincu-lados à compra de equipamentos e excluíam atransferência de tecnologias, forçando o desem-penho do papel que o chanceler Azeredo daSilveira definiu como de “comprador passivo”.A restrição à transferência de tecnologias porparte dos EUA e a crescente participação doEstado brasileiro na economia, tanto comoagente regulador quanto como empresário, tra-ziam dificuldades para se estruturar uma agen-da mais geral de cooperação e investimentosentre ambos.
Nesses marcos, a política de diversificaçãodas relações econômicas e dos vínculos políti-cos externos por parte do Brasil se impôs comoalternativa às limitações experimentadas nasrelações com os EUA. Na prática, entre 1974 e1979, embora se tenha mantido os norte-ame-ricanos como parceiros importantes, o Brasilcuidou de diversificar suas fontes externas deimportações e os destinos de suas exportações,conseguiu maior autonomia em relação aos flu-xos de capitais norte-americanos e atraiu in-vestimentos de empresas originárias de outrospaíses, internacionalizando definitivamente suaeconomia.
Exemplificadamente, o êxito da estratégiade diversificação de parceiros comerciais podeser medido pela participação dos EUA na es-trutura de comércio brasileira: entre 1964 e1974, respondiam por 25,2% das exportaçõese 28,8% das importações brasileiras, númerosque caem para 22,7% e 17,9% em 1978, res-pectivamente23.
Na mesma tendência, a participação per-centual dos norte-americanos no conjunto deinvestimentos diretos e reinvestimentos no Bra-sil, que correspondia a 42,2% em 1970 e 33,6%em 1974, cai para 27,8% em 197824.
4. Relações políticasA estratégia de inserção internacional im-
plementada por Geisel construiu-se a partir doduplo movimento de diversificação das rela-ções exteriores do Brasil e de crescente inte-gração à economia mundial. Essa orientaçãobuscava assegurar uma presença internacionalprópria, com vistas a aumentar a capacidadede influência do país em questões globais que
20 Boletim do Banco Central, 1979.21 HIRST (org.), op. cit., p. 28-30.22 CRUZ, Manuel A.C.M.L. A política externa
como instrumento da autonomia e do desenvolvi-mento nacionais : uma análise comparada das ex-periências do Brasil e do Peru, 1974-1980, e de suaexpressão no Tratado de Cooperação Amazônica.Brasília, 1989. Dissertação (Mestrado).
23 Banco do Brasil. CACEX. Comércio exterior,exportação, 1976, 1979.
24 Boletim do Banco Central, 1979.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 75
pudessem afetá-lo e, sobretudo, fazer face à si-tuação de vulnerabilidade gerada pela crescen-te dependência dos insumos externos.
As relações políticas entre Brasil e EUAsofrem no período um processo de desgaste edeterioração. A ação geiseliana tem como basea busca de um sentido mais amplo à inserçãointernacional do Brasil, trocando-se uma rela-ção de caráter exclusivista com os EUA poruma rede diversificada de contatos e entendi-mentos.
As áreas de diferenciação e até mesmo deatrito constituem o elemento mais característi-co das relações políticas bilaterais no período,potencializadas pelas maneiras como Brasíliae Washington definiram e implementaram suaspolíticas. O contencioso incidiu sobre questõesde natureza diversa (notadamente sobre assun-tos militares, de transferência de tecnologiassensíveis e direitos humanos), sendo, por ve-zes, entendido por cada uma das partes comoelementos necessários de um espetáculo de pi-rotecnia política que reverteriam-se em gan-hos inestimáveis nos jogos de forças que sedesenrolavam nos cenários domésticos.
Conforme já lembrado, a legitimidade deGeisel não se apoiava na repressão dos setoresinternos mais radicalizados, que já haviam sidoneutralizados, nem na superada função exter-na de defensor da segurança continental. Ti-rando subsídios de uma rápida e feliz leiturado cenário internacional pós-1973 (primeirochoque do petróleo), encontrou, na evoluçãonatural da política exterior implementada porgovernos anteriores, o elemento constrangedorde um desenvolvimento nacional mais autôno-mo, qual seja, a excessiva vinculação política eeconômica aos centros capitalistas. Sua “legiti-midade” teria que se apoiar em dois movimen-tos de liberalização: no plano interno, na sinali-zação de um processo de distensão, e no planoexterno, na adoção de uma postura pragmática,com uma ação externa mais pluralista, flexível,diversificada e sobretudo independente25.
Do ponto de vista norte-americano, as rela-ções com o Brasil no período são tipificadorasde um padrão a ser desenvolvido com uma nova“categoria” de países, que ainda não plenamen-te desenvolvidos, possuem influência regionalconsiderável e anseiam por uma expansão doslimites políticos e econômicos impostos pelosesquemas rígidos do bipolarismo, surgindocomo potências intermediárias no novo arran-
jo multipolar do poder mundial26. Esse padrãodeve, pois, incorporar-se à estratégia global dosEUA, fornecendo subsídios para a adoção deuma política exterior centrada na revitalizaçãoda posição de porta-voz e guardião dos ideaisdo mundo ocidental, seriamente abalada apósa crise de confiança que se abateu entre os nor-te-americanos depois da humilhação no Viet-nã e do escândalo de Watergate.
Entre 1974 e 1979, processa-se uma tenta-tiva por parte do governo brasileiro de redefi-nir o caráter exclusivista nas relações entre osdois países. Os elementos políticos das rela-ções foram potencializados, com repercussõesnos planos multilateral e bilateral.
No plano multilateral, as principais diver-gências diziam respeito, grosso modo, à orde-nação do poder mundial e às regras do comér-cio internacional. Lutava-se para modificá-las,propondo-se a adoção do princípio da incondi-cionalidade para o tratamento preferencial paraprodutos oriundos de todos os países do Ter-ceiro Mundo, numa reação ao princípio da gra-duação que privilegiava ex-colônias em detri-mento de países com níveis intermediários dedesenvolvimento27.
Surgindo como conseqüências das inflexõesda política exterior no período e das modifica-ções conceituais sobre a África Negra e o Ori-ente Médio, pode-se observar algumas altera-ções de posições tradicionais nos foros multi-laterais, em oposição às orientações adotadaspelos EUA. O Brasil revê posições no que serefere às colônias portuguesas em África, aoOriente Médio, à questão palestina, ao colonia-lismo residual e aos problemas raciais da Áfri-ca do Sul, ingressando, assim, num período demaior colaboração com os países africanos, ára-bes e asiáticos28.
25 CAMARGO, op. cit., p. 396.
26 Nessa categoria estariam incluídos paísescomo Brasil, México, Índia, Indonésia e China.GÓES, op. cit., p. 175.
27 Wayne Selcher considera que os esforços in-ternos e as relações bilaterais compõem a tônicaprincipal da política externa Brasileira, numa aná-lise de longo prazo, relativizando o papel das rela-ções multilaterais. No período em tela (1974-1979)essa tendência manteve-se, servindo a diplomaciamultilateral como elemento de apoio, notadamentenas áreas do comércio e do acesso a mercados, pre-ços de produtos primários, transferência de tecno-logias e finanças. Ver SELCHER, Wayne. Brazil’smultilateral relations. Boulder : Westview, 1978.
28 BUENO, Clodoaldo. A política multilateralbrasileira. In: CERVO, Amado L. (org.). O Desafio

Revista de Informação Legislativa76
As posições brasileiras para o Oriente Mé-dio e para a África Negra estavam em abertaoposição à postura norte-americana. O choquedo petróleo de 1973 força o país a rever urgen-temente suas linhas de conduta para a questãopalestina, objetivando nova acomodação de in-teresses com os países árabes com o abandonodas posições tradicionais para o Oriente Mé-dio e o apoio a Israel.
No que toca às ex-colônias portuguesas emÁfrica, urgia adaptar-se às novas condiçõesregionais, em tempo de lançar as bases de umrelacionamento de longo prazo com os paísesda região. Ainda que em confronto com as ori-entações norte-americanas, era necessário aban-donar as hesitações de períodos anteriores paraganhar mercados e garantir a reserva de umespaço estratégico importante29.
Outras posturas brasileiras tiveram influ-ência para a definição de um caráter conflitivonas relações políticas bilaterais. O estabeleci-mento de relações econômicas e diplomáticascom a República Popular da China e o desen-volvimento de uma ativa diplomacia bilateralna América Latina, apesar de não estarem emconfronto direto com as posições de Washing-ton, seguem a lógica de uma leitura indepen-dente das relações internacionais do período eenquadram-se no conjunto de políticas que sãoadotadas tendo em vista a maximização dasmargens de autonomia externa.
O restabelecimento de relações com a Chi-na segue a própria política de reaproximaçãodos EUA com este país, mas inscreve-se no roldos atos que sinalizavam para a busca de no-vas oportunidades, o que implicaria assumir asopções e os realinhamentos que se fizessemnecessários, pavimentando o caminho abertopor alguns setores empresariais brasileiros al-guns anos antes30. Foi, acima de tudo, umaquebra no ritmo das opiniões no plano domés-tico (notadamente nos meios militares), indi-
cando que o Brasil estava rompendo definiti-vamente com as amarras da Guerra Fria, comoo afastamento da China, entre outros (inclusi-ve de Cuba, cuja posição no quadro das rela-ções internacionais do Brasil não pôde ser re-vista em virtude de um condicionamento ain-da muito estreito de alguns setores de linha durado regime), estava associado e desejava se atre-lar à realidade internacional dos anos de 197031.
O fortalecimento das posições brasileiras naAmérica Latina-América do Sul coincide como que é geralmente entendido como sendo odeclínio político-econômico do poder dos EUAna região, incrementando o distanciamentoentre os dois países, na medida em que expres-sam com exatidão a política de expansão dasfronteiras comerciais e o sepultamento da po-lítica de alinhamento automático, traduzidopela delimitação de um espaço de atuação po-lítica e estratégica próprio32.
No plano estrito das relações bilaterais,Geisel bateu-se com duas estratégias america-nas distintas, produzindo efeitos diversos, li-gadas respectivamente aos governos Ford eCarter. Uma tentativa de periodização dessas re-lações pode agrupar os grandes movimentos dapolítica exterior brasileira em dois períodos:
1) 1974 a 1977 – a fase conflitiva das rela-ções, em que o nacional-desenvolvimentismogeiseliano procura limites, definindo seus es-paços de atuação, testando novas possibilida-des, buscando novos parceiros, perseguindo aadoção de políticas que sinalizassem o rompi-mento de uma longa relação de dependênciapolítica, econômica e tecnológica.
2) 1977 a 1979 – a fase da distensão neces-sária, em que a estratégia adotada encontra seuslimites e esgota-se, com a estabilização das re-lações e a retomada do diálogo, tendo em vistaa magnitude dos interesses e preocupações eco-nômicas de ambos os lados.
4.1. A medição das divergências (1974-1977)
Durante o período da administração Ford(até o final de 1976), alguns atos de rebeldia
internacional : a política exterior do Brasil de 1930a nossos dias. Brasília : Ed. Universidade de Brasí-lia, 1994. p. 59-144.
29 A longo prazo, os prementes interesses brasi-leiros em África se tornaram o principal obstáculopara a definição de uma política de colaboração comos Estados Unidos na área de segurança do Atlânti-co Sul. Em especial, ver SARAIVA, José F. S. Dosilêncio à afirmação: as relações do Brasil com aÁfrica. In: CERVO (org.), op. cit., p. 263-331.
30 BARBOSA, Antônio José. Outros espaços. In:CERVO (org.), op. cit., p. 336-337.
31 Sobre a disposição de se revisar estas posi-ções mais tradicionais, convém lembrar a absten-ção brasileira na OEA quando da votação da sus-pensão das sanções econômicas a Cuba em 1974.
32 Ver COSTA, Gino. The foreign policy of Bra-zil towards her south american neighbours duringthe Geisel and Figueiredo administrations. Cam-bridge : Queen’s College, 1987. Dissertação (Dou-torado) – University of Cambridge, 1987.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 77
por parte do Brasil já se manifestavam, como oreconhecimento dos movimentos de indepen-dência das colônias portuguesas em África(Guiné Bissau em 18/07/1974, Angola em 11/11/1975 e Moçambique em 15/11/1975) e aaproximação com os países árabes, por meiodo voto anti-sionista na ONU em 197533.
Esses atos são exemplificativos de um dosmais importantes vetores da ação externa dogoverno Geisel, a busca de novas fontes supri-doras de energia. Em essência, pode-se afir-mar que o governo Geisel era primariamentemotivado pela busca de supridores diversifica-dos de energia, visando diminuir a dependên-cia de uma única fonte ou fornecedor34. Essabusca se concretizou em numerosos acordos defornecimento e de instalação de joint venturespara exploração conjunta e na intensificaçãoda busca de fontes domésticas de energia35.Neste quadro, intensificam-se o programa doálcool, o fortalecimento da capacidade técnicade pesquisa e lavra da Petrobrás e a aquisiçãoda energia nuclear36.
A tentativa de aquisição da energia nuclearpelo Brasil, ao arrepio das disposições dos EUA,converteu-se cedo no pomo da discórdia do re-lacionamento entre os dois países e passou a seprojetar para o plano interno brasileiro como aponta de lança da política de diversificação deparcerias e de busca de maiores margens deautonomia37. Procurou-se operacionalizá-la
pelo estabelecimento de linha de cooperaçãocom uma potência atômica visando a efetivatransferência do ciclo completo de enriqueci-mento do urânio. A escolha recaiu sobre a Re-pública Federal da Alemanha, o que se justifi-ca por sua disposição de oferecer as etapas dociclo do combustível e da construção de gran-des unidades de potência, dando-se a efetiva-ção do programa com a assinatura do Acordode cooperação para utilização Pacífica de Ener-gia Nuclear, em 27 de junho de 197538.
Para o Brasil, a nuclearização significava apossibilidade de combinadamente desenvolvera capacidade econômica e a capacidade militarde modo autônomo, assumindo nesse contextoo significado de sublevação ao juízo soviético-americano de que os países menos desenvolvi-dos são inidôneos e irresponsáveis39.
A indisposição norte-americana em face doAcordo teuto-brasileiro está diretamente rela-cionada com a defesa da estratégia global dosEUA, envolvendo mutuamente interesses es-tratégicos e econômicos vitais. Os norte-ame-ricanos viram-se surpreendidos ante a possibi-lidade do estabelecimento de uma cooperaçãonuclear alemã que favorecesse o acesso brasi-leiro a tecnologias sensíveis como o enriqueci-mento do urânio e o reprocessamento de com-bustível irradiado, inclusive considerando queo Brasil não era signatário do Tratado de Não-Proliferação Nuclear e resistia abertamente àidéia de sê-lo. Além disso, o surgimento de umnovo país produtor de insumos nucleares nummercado altamente cartelizado, contribuiriapara abalar a hegemonia norte-americana nosetor a longo prazo.
Durante a campanha eleitoral do então can-didato Jimmy Carter, as bandeiras do Congresso
33 O Brasil foi uma das poucas nações latino-americanas a votar a favor da resolução anti-sionis-ta na ONU. Mesmo sendo criticada no plano do-méstico, o voto assinalou a total adesão brasileiraao ponto de vista árabe, marcando o início do afas-tamento de Israel e das orientações norte-america-nas para a região.
34 Essa é a tese que permeia os estudos de COS-TA e NAZÁRIO sobre distintos aspectos da políticaexterna brasileira do período. COSTA, op. cit., eNAZÁRIO, Olga. Pragmatism in Brazilian ForeignPolicy : The Geisel Years. Coral Gables : Press,1983. Dissertação (Doutorado) – University ofMiami, 1983.
35 Fornecimento de carvão pela Colômbia, Po-lônia e China; de gás natural pela Bolívia; de petró-leo pelo Peru, Equador, Venezuela, México, Ango-la, Gabão, Nigéria, China, União Soviética, em adi-ção aos fornecedores tradicionais do Oriente Mé-dio; de energia hidrelétrica pela exploração do com-plexo de Itaipu com o Paraguai.
36 NAZÁRIO, op. cit., p. 28.37 Especialmente sobre a política nuclear brasi-
leira e suas repercussões sobre o relacionamento com
os Estados Unidos, ver os trabalhos de Paulo Wro-bel. WROBEL, Paulo Sérgio. A questão nuclear nasrelações Brasil - Estados Unidos. Rio de Janeiro :IUPERJ, 1986. Dissertação (Mestrado) – InstitutoUniversitário de pesquisas do Rio de Janeiro, 1986;Brazil, the non-proliferation treaty and Latin Ame-rica as a nuclear weapon-free zone. London: King’sCollege University, 1991. Dissertação (Doutorado).
38 Ver BIEBER, León E. Brasil e Europa : umrelacionamento flutuante e sem estratégia. In: CER-VO (org.), op. cit., p. 209-261 e ARCELA, NinaMaria. O acordo nuclear Teuto-Brasileiro : estudode caso em política exterior sob a perspectiva doprocesso decisório. Brasília, 1992. Dissertação(Mestrado) – Universidade de Brasília, 1992.
39 GÓES, op. cit., p. 164.

Revista de Informação Legislativa78
dos EUA de não-proliferação nuclear e de de-fesa dos direitos humanos foram encampadase as críticas contundentes ao Acordo Brasil-Alemanha e à situação política interna do Bra-sil avolumaram-se. As posições dos EUA so-bre o Acordo tornaram-se mais aguerridas, ce-dendo às pressões do Congresso e às reaçõesdesfavoráveis da imprensa, que repercutiam nosentido da liberalidade da administração repu-blicana em face de um governo brasileiro pou-co confiável40.
Com o mesmo objetivo de transferir e dedesenvolver tecnologia que levou o governobrasileiro a firmar as bases da política nucleardo país, Geisel reestruturou, em 1976, a Co-missão de Coordenação das Atividades de Pro-cessamento Eletrônico, que, ao receber pode-res para formular a política nacional de infor-mática, recomendou o estabelecimento da re-serva de mercado para o grupo dos minicom-putadores. Essa linha de conduta provocou areação das grandes empresas do setor, de ori-gem americana, e forneceu o elemento quetransportará o caráter conflitivo das relaçõesbilaterais para a década de 8041.
Frente à diminuição relativa da hegemonianorte-americana, a estratégia do governo Ford,de consolidar as relações com aliados tradicio-nais, levou-o a tentar relevar as áreas conten-ciosas, evitando politizar a questão do AcordoNuclear. Em fevereiro de 1976, em visita aoBrasil, o Secretário de Estado Henry Kissingertentou redefinir as relações – já em franco pro-cesso de deterioração – com a assinatura de umMemorando de Entendimento, que conferisseuma maior maturidade e respeito aos interes-ses próprios das partes, tão reivindicada peloBrasil. Dispondo sobre consultas semestraissobre diversas questões, o Memorando preten-dia constituir-se num instrumento para a solu-ção negociada de divergências tanto políticasquanto econômicas.
O Memorando que, sob o prisma norte-americano, pretende-se tipificador das relaçõesbilaterais, oferecendo um marco de distensãoao fim da administração republicana, assumesob o ponto de vista brasileiro ares inócuos,perdendo-se entre outros instrumentos seme-
lhantes acordados com as novas parcerias eu-ropéias. Fonte de irritação nas relações norte-americanas com os demais países da AméricaLatina e de constrangimento entre estes e oBrasil, ao contrário das pretensões dos EUA, oMemorando não marca o início de uma novafase de diálogo entre parceiros tradicionais,mas, sim, simboliza o fim das “relações espe-ciais” engendradas durante décadas.
4.2. Os difíceis anos Carter (1977-1979)
As relações Brasil-EUA adentram a admi-nistração Carter (1977-1980) tipificadas pelobreve período de distensão proporcionado pelaassinatura do Memorando de 1976.
Em pouco tempo, a nova administraçãodemocrata tratou de retomar as críticas e pres-sões contra o Acordo Nuclear Teuto-Brasilei-ro, respondendo também às necessidades de umrevigoramento das tradições liberais da socie-dade norte-americana, procurando reassumir opapel de guarda dos valores ocidentais, pro-fundamente abalado, depois dos fiascos propor-cionados por duas administrações republicanastidas como desastrosas para os anseios exter-nos da potência e para as crenças democráticasde seu povo.
Quando Carter assumiu a Presidência dosEUA, na passagem para 1977, buscou imple-mentar imediatamente uma nova estratégiapara a América Latina, que traria mais proble-mas para as relações bilaterais. A visão da novaadministração sobre o Brasil de Geisel tinhacomo ponto de partida a perspectiva de que osregimes autoritários da América Latina nãoseriam apropriados para sustentar um desen-volvimento econômico que interessasse aospaíses capitalistas por favorecerem a concen-tração de renda, em detrimento da formaçãode um mercado interno mais amplo, e por ori-entarem o desenvolvimento no sentido das ex-portações de produtos manufaturados e da subs-tituição de importações. Adotava-se, pois, apri-oristicamente, a condenação categórica dos re-gimes militares que proliferavam na AméricaLatina, numa tentativa de inocular algum con-teúdo ético à política externa americana, queperdia o respeito tanto interna quanto externa-mente, à medida que, sob o pretexto de defen-der a democracia, sustentava regimes que asuprimiam e não propiciavam sequer justiçasocial aos seus povos42.
Nesse quadro, as divergências que permea-
40 Sobre as reações ao Acordo Nuclear no Con-gresso e na imprensa norte-americana, bem como oinício das prestes sobre o Brasil e a RFA, ver AR-CELA, op. cit., p. 37-39.
41 BANDEIRA, O Brasil e o Continente. In:CERVO (org.), op. cit., p. 171. 42 Ibidem, p. 172.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 79
vam as relações Brasil-EUA atingiram seu pon-to máximo. O Governo Carter retomou comviolência as pressões sobre o Brasil e tambémsobre a Alemanha Federal contra o AcordoNuclear de 1975, para que fossem retiradas ascláusulas de transferência de tecnologia. Asformas de pressão adotadas agravaram aindamais o contencioso, na medida em que se exe-cutaram sem a consulta prévia ao Brasil, pre-vista no Memorando de Entendimento paraestas situações, e foram secundadas de críticasde Washington à atuação do governo brasilei-ro em relação aos direitos humanos, condicio-nando a renovação de créditos em armas novalor de 50 milhões de dólares à erradicaçãodas práticas de tortura e de outras violações.
Geisel, entretanto, não aceitava o exame dequestões internas por órgãos de governos es-trangeiros e considerou aquelas condições paraa concessão de assistência militar como umainaceitável intromissão nos assuntos internosdo país. Poucos dias depois, denunciou o Acor-do Militar com os EUA, firmado em 1952, ex-tinguindo posteriormente a Comissão MilitarMista, a Missão Naval e o Acordo Cartográfi-co. A áspera atitude do governo brasileiro re-fletiu o recrudescimento do antiamericanismodentro das Forças Armadas, nas quais algunsoficiais teriam chegado a sugerir a ruptura dasrelações com os EUA43.
As relações militares entre o Brasil e osEUA não constituíram, no âmbito do conten-cioso, matéria fundamental. Iniciadas num con-texto de guerra fria, em substituição às rela-ções com a França, eram interessantes para oBrasil enquanto os acordos oferecessem condi-ções para a transferência de tecnologias. A par-tir da década de 60, entretanto, as Forças Ar-madas brasileiras começaram a investir pesa-damente num programa de modernização deseus equipamentos, visando reduzir a dependên-cia dos insumos americanos e a substituição deum número crescente de itens, com o objetivo deestimular a indústria bélica nacional.
Dois fatores contribuíram para tornar inó-cuos os Acordos Militares entre o Brasil e EUA,a saber: a) a auto-suficiência brasileira na pro-dução de armamentos cada vez mais diversifi-cados e sofisticados, dando origem a uma in-dústria bélica moderna e pujante; b) a revitali-zação do pensamento estratégico no seio dasForças Armadas, com a reivindicação de plenaautonomia externa na busca de seus objetivos
nacionais permanentes44.O rápido crescimento da indústria bélica
nacional, aliás, acabou por constituir-se eminteressante ferramenta da política de expan-são comercial brasileira, penetrando com faci-lidade em mercados anteriormente cativos dosEUA e de alguns países europeus. A estratégiacomercial brasileira saiu-se vencedora nestenovo ramo ao oferecer armas e acessórios compreços e serviços de assistência técnica que tor-naram esta linha rapidamente competitiva. Masao lado da adaptabilidade, simplicidade e pre-ços vantajosos, talvez a maior atração destesequipamentos tenha sido a falta de restriçõespolíticas ou conotações ideológicas associadas45.
Embora os acordos já estivessem obsoletose até mesmo obstaculizassem uma moderniza-ção mais efetiva das Forças Armadas, na me-dida em que não proporcionavam transferên-cia de tecnologias modernas para o Brasil, asua denúncia, com o que se chamou na época“a crise de março”, foi um ato simbólico, comcustos insignificantes e dividendos políticosbastante expressivos. No plano doméstico, adecisão arregimentaria apoio interno em facedas pressões dos EUA sobre o Acordo Teuto-Brasileiro e cerraria fileiras quanto ao acertodas orientações gerais da política exterior emimplementação, enquanto no plano externoassegurava aos demais parceiros a posição deindependência do Brasil com relação aos EUA,propiciando, por um lado, uma ampliação docampo para a ação política brasileira particu-larmente na América Latina, onde prevaleciaa visão do Brasil como “aliado preferencial” dosEUA46, e, por outro, o entendimento de que apolítica de segurança do Brasil estava definiti-vamente livre do controle dos norte-americanos.
4.3. A distensão necessária (1977-1979)
Nesta fase o nacional-desenvolvimentismoprocede à consolidação das suas conquistas,tendo em vista a política de confrontação enta-bulada nas relações com os EUA e conhece os
43 Ibidem, p. 172-173.
44 KRAMER, Paulo R. da Costa. As relaçõesmilitares Brasil-Estados Unidos. Política e Estra-tégia, v. 4, n. 1, p. 47, 1986; e BANDEIRA. A riva-lidade emergente. p. 217-248.
45 Especificamente sobre a indústria bélica bra-sileira no período, ver PUNGS, Reiner. A indústriade armamentos e a política externa brasileira. Bra-sília, 1989. Dissertação (Mestrado) – Universidadede Brasília, 1989.
46 LIMA, MOURA, op. cit., p. 353-354.

Revista de Informação Legislativa80
seus limites, representados pelo apogeu e de-cadência da política de dar vazão às vertentesda política externa.
Gradualmente o Acordo Nuclear deixa deconstituir o cerne do conflito com os EUA, pro-vavelmente devido a uma nova avaliação nor-te-americana sobre as possibilidades concretasde um programa de efetiva capacitação tecno-lógica do Brasil na área nuclear. Atento às di-ficuldades de implementação inerentes ao Acor-do, o governo dos EUA chegou à conclusão deque conviria, politicamente, deixar que se di-luísse pela sua própria impraticabilidade téc-nica e comercial47.
Com efeito, a partir de meados de 1977, aspressões diretas dos EUA contra o Acordo Nu-clear, assim como o clima de confronto das re-lações, cederam espaço para uma convivênciamenos conturbada. Tinha-se, de lado a lado,bem clara a magnitude dos interesses econô-micos mútuos, que tornava transcendental oentendimento político. As divergências nasquestões nuclear e de direitos humanos se res-tringiram no nível das relações governamen-tais, sem grandes repercussões nas relaçõeseconômicas. Nesse sentido, e apesar da disten-são política, persistiam e se avolumavam asdivergências relativas ao protecionismo norte-americano às normas de comércio internacio-nal e as limitações impostas pelos EUA à trans-ferência de tecnologias avançadas.
Assim, até o fim da administração Geiselas relações se normalizaram, deixando de ladoo confronto político e passando a orbitar emtorno dos interesses e conflitos das relaçõeseconômicas. A visita do presidente Jimmy Car-ter ao Brasil, em março de 1977, dá o novotom das relações, com temas como direitoshumanos e Acordo Nuclear sendo tratados compouco alarde e centrando-se a agenda da visitanas questões econômicas, tanto bilaterais quan-to multilaterais.
Ao mesmo tempo, procedendo-se a umaanálise dos resultados da nova estratégia co-mercial brasileira, conclui-se que o período debusca de novos espaços comerciais em que oBrasil colocou-se em posições de confronto comalguns setores da economia norte-americana,encerra-se com um balanço positivo para o país.O comércio bilateral apresenta-se mais equili-brado, e, ainda que não se reverta a tendênciadeficitária contra o Brasil, o decréscimo acen-
tuado da participação relativa dos EUA na ba-lança comercial brasileira se faz compensarfavoravelmente com o incremento das relaçõescomerciais com as novas vertentes do nacio-nal-desenvolvimentismo.
Os limites colocados pelo confronto mar-cam ganhos permanentes consideráveis em di-versos cenários regionais, como na África Ne-gra e na América Latina, mas especialmentena América do Sul. Como no Oriente Médio eÁfrica, na América do Sul a ação brasileiraesteve motivada pelo desejo de explorar novasoportunidades econômicas, diversificar seuslaços políticos e expandir sua presença e influ-ência e aumentar sua margem de manobra in-ternacional. Nessa fase de distensão, consoli-dada a presença econômica e diplomática per-seguida no primeiro período, em que procu-rou-se agir para ocupar os espaços políticos eeconômicos deixados vazios pelos EUA, par-te-se de uma base de liderança já consolidadano cenário platino para a criação de novos es-paços diplomáticos de atuação exclusiva, o quevai se tornar possível com a definição de umespaço de cooperação na Bacia Amazônica48.
5. ConclusãoO nacional-desenvolvimentismo geiseliano
procura, com intensidade, abrir novos horizon-tes políticos e econômicos, corroborando ex-ternamente alguns aspectos do projeto de “po-tência emergente” que, em nível doméstico,consubstancia-se no II Plano Nacional de De-senvolvimento (II PND), buscando os insumosnecessários para a sua implementação ondequer que pudessem ser obtidos.
Nesse contexto, a revisão drástica das rela-ções com os EUA deve ser entendida como con-dição primacial de toda a estratégia externaimplementada. Como tentar vôos mais altos setodo o espectro de opções e oportunidades po-líticas e econômicas tivesse que ser corrobora-do pela potência hegemônica do hemisfério?O quinqüênio Geisel é o coroamento de umprocesso de distanciamento político que se inau-gura anos antes, mas é sobretudo o período emque se tornou patente a perda de complemen-taridade econômica entre os dois parceiros. Aleitura do nacional-desenvolvimentismo feitapor Geisel conduz a um processo inevitável, odefinitivo “descolamento” de um dos vetoresprincipais das relações internacionais do Bra-
47 ARCELA, op. cit., p. 41. 48 COSTA, op. cit. p. 224.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 81
sil até então, consubstanciado na dependênciaexcessiva dos desígnios políticos, estratégicose econômicos dos EUA. A partir de então, nadaserá como antes: uma vez explicitada a nature-za conflitiva das relações entre os dois países,ela passa a se manifestar nos mais diversos itens
da agenda bilateral, sendo transferida intoca-da para a década seguinte para acabar por cons-tituir-se num novo vetor: o da negação intran-sigente dos laços de dependência e da afirma-ção categórica da necessidade constante de re-lativizá-los com novas parcerias.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 83
1. IntroduçãoHá muito as práticas comerciais extra-
polaram as fronteiras geográficas nacionais.Afinal, a própria diversidade de fatoresprodutivos, bem como as demandas sociais deconsumo, peculiares a cada país, impul-sionavam os Estados à prática de uma economiaaberta. A interdependência econômica inter-nacional sempre conduziu os Estados a umainexorável prática de comércio exterior.
No atual estágio de desenvolvimento docomércio, além das informações circularem emvelocidade cada vez maior, os produtos têmagora um mercado mundial. Assim, pode-seconcluir que, numa ótica produtiva e comercial,o processo de globalização se traduz numacrescente homogeneização internacional dasestruturas de oferta e demanda1; fenômeno que,a um só tempo, garante e facilita:
a majoração de ganhos de escala, com aampliação da produção e do mercado de con-sumo;
a uniformização de técnicas produtivas,estratégias administrativas e métodos de orga-nização do processo produtivo, comprovadapelas exigências crescentes de certificaçãointernacional2;
Princípios da tributação internacional sobrea renda
MARCÍLIO TOSCANO FRANCA FILHO
Marcílio Toscano Franca Filho é Procurador doMinistério Público junto ao Tribunal de Contas daParaíba, Professor do Departamento de DireitoPúblico da UFPB e Aluno do Mestrado em CiênciasJurídicas da UFPB. Ex-aluno da Universidade Livrede Berlim.
SUMÁRIO
1 BAUMANN, op. cit., p. 34.2 O prestígio da International Organization of
Standartization (ISO), com suas normas sobre
1. Introdução. 2. Universalidade e territo-rialidade na tributação internacional. 2.1. Oprincípio da territorialidade. 2.2. O princípio dauniversalidade. 3. O problema da pluritributação.3.1. A questão da bitributação internacional. 4. Atributação da renda no Brasil. 4.1. O imposto derenda de pessoa jurídica. 5. Conclusão.

Revista de Informação Legislativa84
a mudança do eixo da competitividade,que deixa de ser o produto em si para ser atecnologia de processos (não só de produção,mas de fornecimento, de controle da qualidade,de atendimento e informação ao consumidor,de assistência técnica, entre outros);
o maior investimento na formação demão-de-obra qualificada e aperfeiçoada, napesquisa e no desenvolvimento de produtos,com consultas aos clientes a fim de atender anecessidades mais específicas;
a descentralização geográfica da pro-dução das empresas, o que provoca a sua espe-cialização nas áreas em que são mais eficientese, assim, otimizam as vantagens comparativasde cada lugar e originam a “fábrica-global”;
a formação de vínculos mais rígidos entreempresas, por meio de joint ventures, partici-pações acionárias e franquias, já que a produçãoglobal exige padrões mais rígidos de forneci-mento e qualidade de componentes e matérias-primas e um investimento (leia-se risco)ampliado em tecnologia.
Um outro fator característico da globa-lização, agora sob um ponto de vista insti-tucional, aponta para a convergência daregulação político-econômica dos países3. Parase garantir a maior mobilidade de capitais,fatores produtivos e bens de consumo, promove-se a homogeneização das relações jurídicas eeconômicas entre os sujeitos privados daatividade econômica e os Estados, aproximandoos institutos jurídicos referentes sobretudo asociedades comerciais, consumidor, mercadofinanceiro e tributação.
Um segundo aspecto institucional daeconomia a ser sublinhado é a crescente perdade soberania das autoridades responsáveis pelaspolíticas econômicas nacionais na ordemglobalizada. Tal fato se deve tanto à formaçãodos blocos econômicos, como à necessidade deadaptação das economias nacionais às migra-ções internacionais dos fatores produtivos. Aspolíticas cambial e salarial, por exemplo,passam a depender muito mais das regrasexternas do que da vontade exclusiva dasautoridades monetárias ou fiscais. Se, de umlado, o cenário internacional globalizadomostra inúmeras oportunidades e facilidadespor meio da captação de recursos estrangeiros,de outro, impõe algumas restrições rígidas àspolíticas macroeconômicas nacionais (câmbio
e taxa de juros), evitando-se desequilíbrios quefavoreçam movimentos especulativos, como osque já desestabilizaram algumas economiaslatino-americanas recentemente.
Ao sabor desses novos ventos, a afluênciade determinantes externos na ordenação daseconomias nacionais faz com que, à agendaeconômica dos Estados, fiquem tambémassociados outros temas de relevância supra-nacional, como proteção ambiental, tributação,monitoramento das empresas transnacionaisetc. Será sobre um desses novos temas,especificamente a tributação internacional, quenos deteremos a partir de agora.
As notas que ora iniciamos, aproximandoDireito Tributário, Finanças Internacionais eDireito Internacional, terão como objetivosistematizar a noção de alguns princípiostributários − particularmente aqueles referentesà tributação internacional das rendas dasempresas.
2. Universalidade e territorialidade natributação internacional
Viu-se acima que, com a maior integraçãodos mercados nacionais à economia mundial,valorizou-se a importância das empresasmultinacionais – aquelas cujas unidades(matriz, subsidiárias, coligadas, filiais etc.)situam-se sob diversas jurisdições. Um pontoparticularmente importante no que diz respeitoa essa atividade empresarial multinacional é oque trata da tributação internacional de suasrendas.
O sistema internacional contemporâneo detributação sobre as rendas é orientado por doisprincípios distintos: o da territorialidade e oda universalidade. Ambos constituem elemen-tos de conexão entre Estado e contribuinte,estabelecendo critérios para definir o exercíciodo poder estatal de tributar.
Excludentes entre si, a opção por qualquerum deles nos sistemas tributários dos Estadosé decidida apenas pela conveniência e opor-tunidade de um ou outro princípio em relaçãoàs políticas fiscais planejadas e pretendidaspelos países. Como princípios que são, aterritorialidade e a universalidade orientamtoda a atividade legislativa e hermenêutica quelhes é subseqüente nos Estados que as adotam.
2.1. O princípio da territorialidadeTambém conhecido como source income
taxation ou base territorial, o princípio daterritorialidade significa que todas as situações
qualidade e padronização (ISO 9000 e ISO 14000,por exemplo), dá provas desse fenômeno.
3 BAUMANN, op. cit., p. 35.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 85
jurídicas que dêem origem à produção de renda,por nacionais ou residentes, localizadas dentrodo território de um Estado, geram umaobrigação tributária4.
A territorialidade tributária é, afinal,decorrência lógica do próprio poder soberanode qualquer Estado, já que todos os fatosocorridos dentro do seu território são ordenadose disciplinados pelo seu sistema jurídico. Pode-se concluir que é a base territorial umamanifestação pura da jurisdição, aquele poder-dever de que dispõe o Estado para, nos limitesterritoriais de sua soberania, aplicar o seuDireito.
Acerca da opção entre a territorialidade e auniversalidade, Heleno Torres5 chega a afirmar:
“Em verdade, tal escolha paira, tão-somente, na opção entre adotar oprincípio da universalidade, ou não,porque o princípio da territorialidade éimanente a todo e qualquer ordenamentojurídico. Não há uma terceira opção”.
Segundo o princípio da territorialidade, aimponibilidade dependerá tão-só da localizaçãoterritorial da fonte geradora da renda. Descritaa hipótese de incidência na lei e ocorrendo ofato gerador no território nacional, nasce aobrigação tributária. Pelo princípio da territo-rialidade, importa essencialmente determinara localização da fonte reditual produtora, se emterritório nacional ou estrangeiro. Evidenciadoque essa fonte está localizada em paísestrangeiro, seria inegável que o fato geradorestaria fora do alcance de validade da legislaçãotributária nacional6.
A maior integração das praças comerciaise financeiras mundiais experimentada nasúltimas décadas desvalorizou a adoção da baseterritorial pelas economias nacionais, sobretudoem razão da evasão fiscal internacionaldecorrente de pesados estímulos fiscaisestrangeiros (guerra tributária para atração deinvestimentos) e da formação de paraísosfiscais7. Obviamente que, quando um Estadotributa apenas as fontes redituais localizadas
em seu território, poderá haver uma fuga deinvestimentos para outras praças onde o tributonão seja tão pesado.
2.2. O princípio da universalidadeNo contexto atual de internacionalização da
economia, a evasão fiscal é fenômeno comume constante que precisa ser combatido. Domesmo modo, a maior necessidade de operaçõesinternacionais para um número crescente deoperadores privados requer a flexibilidade eprevisibilidade do regime legal-tributárioaplicável aos investimentos internacionais.
Assim, em oposição à base territorial, osistema de tributação de rendas apresenta oprincípio da universalidade – também deno-minado de base global, princípio da pessoa-lidade, princípio da renda mundial ou aindaworld-wide income taxation – que melhoratende às exigências de isonomia entre oscontribuintes que têm rendas apenas nomercado doméstico e aqueles que atuam empraças financeiras no exterior, favorecendo-sede benefícios fiscais estrangeiros.
Segundo o princípio da base global doimposto sobre a renda, passa a ser tributada auniversalidade dos lucros, rendimentos eganhos de capital auferidos (nos mercadosdoméstico e exterior) por pessoas jurídicasdomiciliadas no país. Todas as rendas obtidaspor pessoas jurídicas sediadas nos Estados queadotam a base global, mesmo aquelas obtidasfora do território nacional, encontram-se dentrodo âmbito da incidência do IR. Em suma, oprincípio da base global do IR obriga a taxaçãoda renda onde quer que ela venha a serproduzida.
A adoção da base global vem se tornandocada vez mais freqüente nas economiascontemporâneas, sobretudo aquelas maisdesenvolvidas, exportadoras de capital einvestimento. Com propriedade, Heleno Torres8
anota como virtudes do princípio da univer-salidade, entre outras, a ampliação do finan-ciamento do Estado, decorrente da maxi-mização da sua base fiscal, a vocação isonômicadaquele princípio (v. supra) e, sobretudo, a suamelhor adaptação aos princípios tributários dacapacidade contributiva e da progressividade.
Revela-nos Antônio Carlos Rodrigues doAmaral9 que, em histórica decisão, a SupremaCorte norte-americana, ainda no início dadécada de 20, já se pronunciara acerca da
4 “Obrigação Tributária é uma relação de DireitoPúblico, prevista na lei descritiva do fato que lhe dáorigem, pela qual o Fisco (sujeito ativo) exige docontribuinte (sujeito passivo) uma prestação(objeto)” (NOGUEIRA, 1990, p. 145).
5 1997, p. 69.6 CASELLA, [s.d.], p. 83.7 TORRES (1997, p. 73) indica como paraísos
fiscais para rendimentos de pessoas jurídicas, entreoutros, Uruguai, Groelândia, Belize, Bahamas, CostaRica, Panamá, Bermudas e Hong Kong.
8 1997, p. 73.9 1997, p. 310.

Revista de Informação Legislativa86
constitucionalidade da adoção da base globalno case Cook v. Tait (1924).
Argüido em 15 de abril de 1924 e decididoem 5 de maio de 1924, o caso cuidava de umarepetição de indébito movida (por Cook) contraum coletor (Tait) da Receita Federal norte-americana (Internal Revenue Service – IRS),objetivando recuperar a soma de US$298,34,referente à primeira parcela do imposto sobreuma renda advinda de uma propriedade situadana cidade do México – fora da jurisdiçãotributária americana, portanto.
Doutrinariamente, aquela decisão da CorteSuprema baseava-se no argumento de que osistema tributário de um país é fundamentadopela presunção de que “o Governo, por suaprópria natureza, beneficia o cidadão e suaspropriedades onde quer que estejam situadas”10.
Finalmente, vale observar que duas são asprincipais conseqüências da adoção da baseglobal no IRPJ: a) a bitributação internacionalda renda, que veremos mais detalhadamente
no capítulo a seguir e b) a substancial perda deimportância dos paraísos fiscais como atrativosaos capitais internacionais.
3. O problema da pluritributação3.1. A questão da bitributação internacional
Não demanda muito esforço se concluir quea adoção da base global no Imposto de Rendapode favorecer o concurso de pretensõestributárias entre dois ou mais Estados sobe-ranos – fenômeno a que se dá o nome de pluri-tributação internacional. Desde logo é precisoressaltar entretanto que, apesar de ser umfenômeno que inibe circulação internacional decapital e, por isso, contrário às atuais tendênciasde abertura da economia11, a pluritributaçãointernacional é um procedimento nacionallegítimo e não pode ser limitada por nenhumalei ou norma constitucional, já que decorrediretamente do poder estatal de tributar.
A fim de evitar os problemas e injustiçasdecorrentes da pluritributação internacional, osEstados passaram a adotar duas ordens demedidas – unilaterais e bilaterais, dependendoda política fiscal desejada.
Entre as medidas internas (unilaterais) paraevitar a bitributação estão a isenção (taxexemption), o crédito de imposto (tax credits)e a dedução de impostos com despesas. Veja-se
Isenção (tax exemption) – é o efeito decertas normas que, ao incidirem sobre deter-minados fatos, previstos nas respectivas hipó-teses de incidência isentiva, eliminam a possi-bilidade de surgimento da obrigação tribu-tária12. Pelo sistema do tax exemption o Estadose nega a impor qualquer exação (ou aplica umaexação progressiva) a certas categorias redituaisde fonte estrangeira.
Crédito de imposto (tax credits) – é umsistema que concede ao contribuinte o direitosubjetivo de abater dos impostos sobre a rendadevidos ao Estado de residência, sob a formade crédito, os valores pagos no estrangeiro sobreas mesmas categorias redituais13.
10 U.S. Supreme Court. COOK v. TAIT, 265 U.S.47 (1924). Mr. Justice McKENNA: “[In UnitedStates v. Bennett] The contention was rejected thata citizen’s property without the limits of the UnitedStates derives no benefit from the United States.The contention, it was said, came from the confusionof thought in ‘mistaking the scope and extent of thesovereign power of the United States as a nationand its relations to its citizens and their relation toit.’ And that power in its scope and extent, it wasdecided, is based on the presumption thatgovernment by its very nature benefits the citizenand his property wherever found, and that oppositionto it holds on to citizenship while it ‘belittles anddestroys its advantages and blessings by denying thepossession by government of an essential powerrequired to make citizenship completely beneficial.’In other words, the principle was declared that thegovernment, by its very nature, benefits the citizenand his property wherever found, and therefore hasthe power to make the benefit complete. Or, toexpress it another way, the basis of the power to taxwas not and cannot be made dependent upon thesitus of the property in all cases, it being in or out ofthe United States, nor was not and cannot be madedependent upon the domicile of the citizen, thatbeing in or out of the United States, but upon hisrelation as citizen to the United States and therelation of the latter to him as citizen. Theconsequence of the relations is that the native citizenwho is taxed may have domicile, and the propertyfrom which his income is derived may have situs, ina foreign country and the tax be legal − thegovernment having power to impose the tax.Judgment affirmed.” (http://www.findlaw.com./cgibin/getcase.pl?court=US&vol=265&invol=47).
11 ROLIM (1996, p. 85) relata que “a duplatributação internacional acarreta, além de ser umobstáculo para o comércio e investimentos, umarepartição injusta dos encargos fiscais entrecontribuintes, conforme tenham interesses noestrangeiro ou se entreguem a atividades limitadasao território nacional”.
12 TORRES, 1997, p. 290.13 Ibidem, p. 298.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 87
Dedução de impostos como despesas –consiste na possibilidade de deduzir da base decálculo do imposto doméstico, sob a forma dedespesa, o valor dos tributos efetivamente pagosno exterior14. Tal método se justifica pelo fatode que os tributos pagos no exterior são despesasinerentes à produção da renda.
Além desses modelos, para se livrar dosefeitos maléficos da pluritributação inter-nacional, os Estados contemporâneos adotamsoluções bilaterais – os acordos e convençõesinternacionais para evitar a bitributação. Tantoa ONU (1980) como a Organização deCooperação e Desenvolvimento Econômico –OCDE – (1992) apresentam modelos deconvenção desse tipo.
4. A tributação da renda no Brasil4.1. O imposto de renda de pessoa jurídica
No Brasil, ao contrário do que ocorria como Imposto de Renda de Pessoa Física, queadotava o princípio da universalidade dosrendimentos, o Imposto de Renda de PessoaJurídica, até recentemente, adotava o princípioda territorialidade15, segundo o qual ficavamsujeitos àquele tributo apenas os rendimentosproduzidos no âmbito do Estado brasileiro.Corroborando esta afirmação, veja-se o queestatuía o art. 337 do Regulamento do Impostode Renda de 1994:
“Art. 337 – O lucro proveniente deatividades exercidas parte no país e parteno exterior somente será tributado naparte produzida no país”.
Vê-se, pois, que as rendas obtidas fora doterritório brasileiro por pessoas jurídicasdomiciliadas no Brasil encontravam-se fora daincidência do IR até recentemente. A esserespeito, o eminente jurista Paulo BorbaCasella16 já lecionou:
“Com efeito, nos seus primórdios, alegislação do imposto de renda brasileirodispunha que o tributo incidia exclusi-vamente sobre os rendimentos produ-zidos no Brasil. Com o passar do tempo,face ao desenvolvimento da atividadeempresarial brasileira, tornou-se neces-sário regular, do ponto de vista fiscal, aapuração dos resultados das pessoasjurídicas cuja operacionalidade não maisse circunscrevia ao território nacional.Coexistindo a intributabilidade dosrendimentos produzidos no exterior coma sujeição ao tributo dos rendimentosaqui produzidos, impunha-se a insti-tuição de normas reguladoras para oscasos em que a mesma pessoa jurídicaexercesse atividades fora e dentro dopaís”.
Com a vigência da Lei nº 9.249, de 26 dedezembro de 1995, entretanto, passou-se atributar, a partir de 1996, a universalidade doslucros, rendimentos e ganhos de capitalauferidos por pessoas jurídicas aqui sediadas –passando-se a adotar a base global no IRPJbrasileiro. Os lucros de filiais, sucursais,controladas e coligadas, auferidos no exteriorpor pessoa jurídica domiciliada no Brasil, domesmo modo, também passaram a ser tribu-tados pelo IRPJ em nosso país.
Para os doutrinadores do Direito Tribu-tário17, a adoção do princípio da universalidadeno IRPJ brasileiro seria um parâmetro maisadequado para se avaliar a capacidadecontributiva dos sujeitos passivos da exação,como previsto no art. 145, §1º, da CF/88(“sempre que possível, os impostos terão caráterpessoal e serão graduados segundo a capacidadeeconômica do contribuinte”). Do mesmo modo,a adoção da base global no IRPJ brasileiroconcretiza a hipótese definida no art. 153, §2º,I da CF/88 (“o imposto de renda será informadopelos critérios da generalidade, da univer-salidade e da progressividade, na forma da lei”).
O tratamento normativo da Lei nº 9.249/95é, basicamente, o seguinte:
“Art. 25 – Os lucros, rendimentos eganhos de capital auferidos no exteriorserão computados na determinação dolucro real das pessoas jurídicas corres-pondente ao balanço levantado em 31 dedezembro de cada ano.
(...)
14 Ibidem, p. 321.15 Relata TORRES (1997, p. 39) que “o Brasil,
por exemplo, com o Dec. Leg. nº 2.397, de 22.12.87,alterou o regime de tributação de pessoas jurídicasque produzem rendas no exterior, passando doprincípio da territorialidade para o princípio da rendamundial. (world-wild income taxation), ou princípioda universalidade. Dois meses após, com do Dec.Leg. nº 2.413, de 10.2.88, determinou a taxaçãoinclusive das rendas produzidas mediante subsi-diárias. Dois meses mais tarde, mediante o Dec. Leg.nº 2.429, de 15.4.88, no seu art. 11, restabeleceu oprincípio da territorialidade, fazendo retornar tudoao status quo ante. Uma verdadeira alquimia fiscalem menos de um ano”.
16 [s.d.], p. 81. 17 AMARAL, 1996, p. 310.

Revista de Informação Legislativa88
§5º – Os prejuízos e perdas decor-rentes das operações referidas nesteartigo não serão compensados com lucrosauferidos no Brasil.
(...)Art. 26 – A pessoa jurídica poderá
compensar o Imposto sobre a Rendaincidente, no exterior, sobre os lucros,rendimentos e ganhos de capital compu-tados no lucro real, até o limite doImposto sobre a Renda incidente, noBrasil, sobre os referidos lucros, rendi-mentos ou ganhos de capital”.
Conforme o esquema geral proposto na Leinº 9.249/95, em seus arts. 25 e 26, a implemen-tação da base global implicará18: 1) rendimentosobtidos no exterior tributados anualmente,independentemente de efetiva distribuição; 2)impossibilidade de compensação dos prejuízosobtidos no exterior; 3) possibilidade decompensação do imposto pago no exterior (taxcredits)19; 4) obrigatória utilização do regimede tributação com base no lucro real.
Conseqüência imediata da adoção da baseglobal para as pessoas jurídicas brasileiras passaa ser a preocupação em se evitar a bitributaçãointernacional sobre as suas rendas. Após asmudanças introduzidas pela Lei nº 9.249, de26 de dezembro de 1995, partiu-se assim paraa busca de soluções que evitassem aquele custoadicional extraordinário. Em um sistemacomercial altamente competitivo, como o atual,a perseguição da maior qualidade e menor custonos produtos e serviços é uma constante. Nessenovo âmbito, mais importante e útil que amanutenção de subsidiárias brasileiras emparaísos fiscais do exterior, passou a ser acriação de sociedades em países com que oBrasil celebrou convenções destinadas aimpedir a bitributação.
Pelo sistema de tax credits não haveriavantagem de se estruturar uma subsidiária nasIlhas Cayman, por exemplo, já que aquele
imposto que não seria pago lá motivaria aintegralidade da cobrança do IRPJ no Brasil.Ao passo que, havendo pagamento de Impostosobre a Renda nas Ilhas Cayman, a pessoajurídica poderá compensá-lo até o limite doImposto sobre a Renda incidente no Brasil.
Por outro lado, veja-se o que ocorre na Ilhada Madeira, território onde é vigente aConvenção para Evitar a Dupla Tributação emMatéria de Imposto sobre o Rendimento ,celebrada entre Brasil e Portugal e aprovadapelo Decreto nº 69.393, de 21.10.71:
“[O art. 7º, §1º, da Convenção Brasil-–Portugal] determina que os lucros deuma empresa de um dos Estados contra-tantes (no caso, Portugal), só podem so-frer tributação nesse mesmo Estado, amenos que essa empresa exerça a suaatividade no outro Estado contratante (nocaso, o Brasil) através de estabelecimentoestável aí situado. A sociedade sediadana Ilha da Madeira somente nesse localpoderia sofrer tributação. No entanto, aIlha da Madeira, sendo considerada umazona franca, há isenção de tributação doimposto de renda, o que significa que osrendimentos estariam isentos de tribu-tação”20.
O Brasil, anota Amaral21, mantém tratadosfirmados para evitar a bitributação, entre outros,com os seguintes países: Argentina, Áustria,Bélgica, Canadá, China, República Checa,República Eslovaca, Dinamarca, França,Alemanha, Equador, Holanda, Hungria, Itália,Japão, Luxemburgo, Noruega, Portugal,Espanha e Suécia. Por meio desses tratados,frustra-se a intenção do legislador brasileiro detributar os lucros, rendimentos e ganhos decapital gerados por subsidiárias brasileiraslocalizadas no exterior.
Por fim, não se pode deixar de lado o papelbrasileiro dentro da organização do Mercosul.A esse respeito, vale destacar inicialmente queo Tratado de Assunção, em seu art. 1º ,estabelece:
“O Mercado Comum implica:a) A livre circulação de bens, serviços
e fatores produtivos entre os países,através, entre outros, da eliminação dedireito aduaneiros e restrições nãotarifárias à circulação de mercadorias equalquer outro meio equivalente.
18 Ibidem.
19 Mais uma vez é AMARAL (1996, p. 309)quem observa que “as repartições diplomáticaslocalizadas no exterior dificilmente estarão aptas averificar da correção, ou não, do documentoarrecadatório que lhe for submetido para auten-ticação. Os Estados Unidos, para essa, entre outrasfinalidades, além de uma ampla rede de acordosinternacionais em matéria tributária e de troca deinformação com os fiscos naionais, possui diversosescritórios do Internal Revenue Service (ReceitaFederal norte-americana) em vários países domundo”.
20 CASELLA, op. cit., p.85.21 1996, p. 309.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 89
b) O estabelecimento de uma TEC(...) em relação a terceiros Estados ougrupos de Estados.
c) A coordenação de políticas fiscal(...), aduaneira (...) e outras que seacordem.
d) O compromisso dos Estados-partesde harmonizar suas legislações em áre-as pertinentes, para lograr o processo deintegração”.
Pode-se concluir daí que é condiçãoindissociável para a constituição de ummercado comum que os Estados-membrosharmonizem os regimes tributários comunitárioe particular. As distorções implicam existênciade discriminações de origem fiscal que alteramas condições de concorrência e as correntesordinárias de tráfego comercial. A harmo-nização há de estender-se a todos os tributos,salientando-se, outrossim, que a harmonizaçãofiscal pressupõe não só harmonização eco-
nômico-fiscal, como também uma políticacomum dos Estados-partes. Dentro dessecomplexo sistema, há dois princípios básicos aserem perseguidos:
A proibição de bitributação: é funda-mental que a tributação da renda ou do patri-mônio de um contribuinte seja efetuada apenasuma vez, sob pena de criar injustiças e impediro desenvolvimento.
A supressão de fronteiras fiscais: aabolição das fronteiras fiscais, que tem porfinalidade nivelar as cargas tributárias, éresultado da exigência de integração em um“mercado comum” real.
A fim de se captar com maior precisão asdistorções entre os diversos sistemas tributáriosdos Estados do Mercosul, veja-se a tabelaabaixo que apresenta, com algum deta-lhamento, os aspectos mais particulares datributação da renda na Argentina, no Brasil,no Paraguai e no Uruguai.
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Quadro Comparativo
Argentina Brasil Paraguai Uruguai
Base de Cálculo Renda Líquida Renda Líquida Renda Líquida Renda Líquida
Alíquota 30% (a) 25% (b) 30% 30%
Critério Territorial Fonte Mundial Fonte Mundial Fonte Paraguaia Fonte Uruguaia
Proporcional ou Proporcional Progressivo Proporcional ProporcionalProgressivo
Ajuste pela Inflação Não Sim Não Sim
Perdas Fiscais 5 Anos 4 Anos 3 Anos 3 Anos
Retenções de Sim Sim Sim NãoRemessas ao Exterior
Dividendos Não há 15% 5% (c)
Juros 12% 25% 17,5% Não há
Royalties 18 e 24% 25% 17,5% 20%
Assistência Técnica 24% 25% 25,5% (d)
Legenda:(a) Sociedades nacionais ou sucursais estrangeiras(b) Mais o adicional de 10% e contribuição social(c) Pagos a residentes: isentos; remetidos ao exterior: sujeitos a retenção de 30%. Se taxados no
país do acionista ou da matriz, haverá um crédito pela taxa paga no Uruguai.(d) Retenção de 30%; isenção se taxado no país beneficiário.
Fonte dos Dados:Mercosul: A Estratégia Legal dos Negócios, p. 90.

Revista de Informação Legislativa90
5. ConclusãoCom o surgimento da nova ordem mundial,
desde o fim da Guerra Fria, estreitaram-se comonunca as relações econômicas entre as diversaspartes do globo, sobretudo em decorrência darevolução tecnológica. Deu-se origem, assim,ao fenômeno da mundialização da economiaque, rompendo com as fronteiras geográficasnacionais do comércio e da produção, limitoua liberdade de execução das políticas tributáriae financeira dos países, já que aumentava ainterdependência entre eles.
Quanto mais integrada a economia interna-cional, maiores as exigências de reformulaçãodas estratégias de atuação do Estado e defortalecimento de seus núcleos coordenadorese reguladores, para que se combatam a espe-culação financeira, o endividamento interno ea evasão fiscal – empecilhos maiores do desen-volvimento econômico e social.
A reforma do Estado, portanto, torna-seimperativa e deve ser dirigida a articular asegura integração dos mercados interno eexterno. Um ponto basilar nesta reengenhariado Estado diz respeito à reformulação do seuaparato legal. Na ordem globalizada, o Direitohá de adaptar-se melhor às idéias de parceriae controle e à criação de instâncias denegociação desestatizadas (nacionais e inter-nacionais), conceitos que precisam ser melhorcompreendidos e utilizados pelo ordenamentopositivo.
No âmbito da nova ordem mundial,constata-se o enfraquecimento dos Estadosnacionais, baseados na soberania absoluta, nointervencionismo e no centralismo, e ofavorecimento do papel das empresas privadas,sujeitos econômicos importantíssimos noprocesso de universalização da história, namedida em que possuem uma mobilidade e umacapacidade adaptativa extraordinárias no meioambiente econômico.
São marcas da contemporaneidade asfacilidades de comunicação, o processamentoveloz de informações, a formação de blocoseconômicos multilaterais, a maior mobilidadeinternacional dos fatores produtivos (capital,trabalho, matérias primas etc.) e a valorizadaimportância de informação e dinheiro enquantoimportantes bens de capital (“economia dainformação”!). Nesse cenário, não somente écontraditório, como o mais das vezes contra-producente, tentar-se impor limites e fronteiras,sejam essas nacionais ou ideológicas, ao capital-informação ou ao capital dinheiro22.
BibliografiaAMARAL, Antônio Carlos Rodrigues do. Tribu-
tação do consumo e da renda no Mercosul. In:Anais... SIMPÓSIO IOB DE DIREITO TRIBU-TÁRIO, 1, [s.d]. p.119-143.
__________. Bases globais do imposto de renda e“Transfer Pricing” no Brasil. Repertório IOB deJurisprudência, n. 13, p. 310-305, 1996.
BAUMANN, Renato (org.). O Brasil e a economiaglobal. São Paulo : Campus, 1996.
CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Cons-titucional Tributário. São Paulo : Malheiros,1997.
CASELLA, Paulo Borba. Circulação de capitais emperspectiva brasileira : entrada e saída dedivisas e moeda nacional. Revista de DireitoMercantil, n. 103, p. 79-86.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso deDireito Administrativo. São Paulo : Malheiros,1997.
NOGUEIRA, Rui Barbosa. Curso de DireitoTributário. São Paulo : Saraiva, 1990.
ROLIM, João Dácio. Da tributação da rendamundial : princípios jurídicos. Repertório IOBde Jurisprudência, n. 4, 96, p. 87-85, 1996.
TORRES, Heleno. Pluritributação internacionalsobre as rendas das empresas. São Paulo :Revista dos Tribunais, 1997.
UCKMAR, Victor. La evasión fiscal internacional.Revista de Direito Tributário, v 4, n. 13-14, p.09-35, jul/dez. de 1980.
22 CASELLA, op. cit., passim.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 91
1. Tipologia dos sistemas de proteçãodos direitos do homem. Delimitação da
proteção da humanidade no DireitoInternacional. O direito de ação e os
dispositivos da Convenção Européia deDireitos do Homem
A doutrina dos direitos humanos, e a suaprópria conscientização, tomou grande relevo,desde o final da Segunda Guerra Mundial,como um verdadeiro fenômeno cultural denossos dias. É a primeira vez, na experiênciada humanidade, que ocorre aceitação universal,da necessidade de um mínimo de normas, noque se refere aos direitos individuais, como umaDeclaração Universal, para a comunidadeglobal.
Os direitos humanos não podem ser apenasretóricos, nem, muito menos, monopólio dosadvogados. Suas explicações são multidiscipli-
A prática jurídica no domínio da proteçãointernacional dos direitos do homem
JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO
José Alfredo de Oliveira Baracho é Doutor emDireito.
SUMÁRIO
1. Tipologia dos sistemas de proteção dosdireitos do homem. Delimitação da proteção dahumanidade no Direito Internacional. O direito deação e os dispositivos da Convenção Européia dosDireitos do Homem. 2. Os princípios e os meca-nismos da Convenção. Regras, métodos e princípiosde interpretação na jurisprudência da Corte Euro-péia de Direitos do Homem. 3. O princípio daproporcionalidade na jurisprudência da CorteEuropéia de Direitos do Homem. 4. Bioética e aConvenção Européia dos Direitos do Homem.Experimentação médica e científica. 5. A Convençãode Salvaguarda dos Direitos do Homem e as Liber-dades Fundamentais. 6. O conteúdo dos artigos daConvenção. 7. Os Protocolos Adicionais. 8. Aresponsabilidade do Estado por violação dosdireitos do homem.
(A Convenção Européia dos Direitos do Homem)

Revista de Informação Legislativa92
nares, pelo que podem ser examinadas, seguin-do diversas perspectivas: a) históricas; b) filo-sóficas; c) religiosas; d) legais; e) sociais; f)culturais; g) política e h) econômicas.
Em cada uma dessas áreas devemos realizaras necessárias combinações, entre os aspectosconceituais e práticos. É preciso realizar asaproximações entre os direitos humanos e cadauma dessas disciplinas. Os direitos humanossão “multidisciplinares”, por essência. Opensamento histórico, as modificações consti-tucionais, as diversas correntes filosóficas, osensinamentos religiosos, os princípios legais,bem como a vida social, cultural, política e eco-nômica mantêm interligações entre os diversossistemas de direitos humanos. Os direitoshumanos não podem ser compreendidos demaneira isolada.
C. G. Weeramantry, em artigo apresentadono Internacional Seminar of Teaching ofHuman Rights (United Nations, Geneva, 5-7December, 1988), dedicado aos estudos dosdireitos humanos, apresenta critérios sob osquais podem ser estudados os direitos humanos.Não devemos, no seu entendimento, ensinar oatual conteúdo dos direitos do homem, masentendê-los. É preciso apreciá-los, de maneiraprofunda. Os cidadãos devem encorajar osestudos e a prática dos direitos humanos.Indagar a razão da existência deles, suas justi-ficações e a utilidade dos mesmos.
Não se deve apenas discutir os direitoshumanos e suas violações, em termos apenasde suas origens, mas torna-se necessárioconsagrar medidas para sua efetivação. Osdiscursos sobre os direitos humanos têm sidoefetivados, em grande parte, em alguns sistemaslegais. Nem todas as comunidades têm dadorelevância à teoria dos direitos humanos, nemdedicado suficiente apreço no ensino desseassunto. É importante, no ensino dos direitoshumanos, que se reconheçam as instituições quedenegam os direitos do homem. Existemlugares, em que o desrespeito aos direitoshumanos, constitui fonte para denegrir opróprio sistema legal, nos seus aspectos estru-turais e conceituais, com repercussões nosistema administrativo, no religioso, no edu-cacional, no de comunicações e no industrial1.
A Academia de Direito Internacional, pormeio de seu Centre de droit international,dedicou-se ao tema geral da proteção interna-cional dos direitos do homem. Entendeu-se quenão havia apenas um sistema de proteção dosdireitos humanos, mas diversos sistemas con-cretos, variados, criados e aceitos pelos Estados.
Diversos sistemas internacionais de proteçãosão consagrados no direito internacionalconvencional ou costumeiro. Os mais impor-tantes foram instaurados por algumas Conven-ções internacionais, como: a Convenção Euro-péia dos Direitos do Homem, de 4 de novembrode 1950; a Convenção concernente à luta contraa discriminação no domínio do ensino, de 14de dezembro de 1960; a Convenção sobre aeliminação de todas as formas de discriminaçãoracial, de 21 de dezembro de 1965; os pactosrelativos aos direitos do homem, de 16 dedezembro de 1966; a Convenção Americana,relativa aos direitos do homem, de São José,de 22 de novembro de 19692.
Muitos documentos compõem outrossistemas, como os concernentes aos estran-geiros, às vítimas de guerra (Convenção deGenebra), aos trabalhadores (Convenções daOIT) e muitas outras manifestações que foramampliando e aplicando as diversas maneiras deresguardo e proteção dos direitos humanos.
Os trabalhos que surgiram procuram esta-belecer as diversas variáveis que caracterizamcada sistema de proteção, bem como seuconteúdo específico. São apontadas quatrovariáveis, indispensáveis para definir ossistemas de aplicação:
1 – quem protege, isto é, a determinação doórgão protetor;
2 – quem é protegido, corresponde à deter-minação das pessoas protegidas;
3 – em que consiste a definição dos direitosprotegidos;
4 – como é o problema dos meios e dosmétodos de proteção3.
A determinação do órgão protetor encon-tra-se, primeiramente, nos termos da soberanianacional, efetivada no Estado no qual a pessoa
1 WEERAMANTY, C. G. The Teaching ofHuman Rights. Sri Lanka Journal of InternationalLaw. v. 1, junho, 1989. p. 79 e segs. Hayden StarkeProfessor of Law, Faculty of Law, Monash Univer-sity, Austrália. This article was first presented at theInternational Seminar of the Teaching of HumanRights, United Nations, Geneva, 5-7, December, 1988.
2 TRAVIESO, Juan Antonio. La Corte Intera-mericana de Derechos Humano ; Opinionesconsultivas y fallos ; La jurisprudencia de la CorteInteramericana de Derechos Humanos. BuenosAires : Abeledo-Perrot, 1996.
3 SALMON, Jean. J. A. Essai de typologie dessystemes de protection des droits de l’homme. In:LA PROTECTION internationale des droits del’homme. Bruxelas : Université de Bruxelles, 1977.p. 174.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 93
protegida é domiciliada. Pode ocorrer, também,por intermédio de um terceiro Estado determi-nado ou não, bem como por meio de uma orga-nização internacional governamental ou não-governamental.
O protetor inicial dos direitos do homemdeve ou deveria ser, pelo menos, o Estado sobreo território no qual o cidadão se encontra,debaixo da submissão à ordem jurídica consa-grada. Henri Rolin, em 1950, em La Haya,disse:
“o primeiro modo de proteção dosdireitos individuais, contra os atos ilícitosde órgãos ou agentes estatais, é o recursoaos órgãos de controle interno”.
É uma prerrogativa da soberania territorialassegurar uma ordem jurídica que confere aosparticulares, nacionais ou estrangeiros, osdireitos e as liberdades fundamentais. Os váriostextos relativos aos direitos do homem estabe-lecem para os Estados que os subscrevem aobrigação de outorgar aos particulares recursosefetivos na ordem interna, em caso de violaçãodos direitos protegidos (Declaração Universal,art. 8º; Convenção Européia, art. 13; PactoInternacional dos Direitos Civis e Políticos,art. 2, § 3º; Convenção sobre a DiscriminaçãoRacial, art. 6; Convenção sobre a DiscriminaçãoReligiosa, art. X; Convenção de San José, art.27, § 1º.
Em certos momentos, o objetivo da regra éresolver um conflito de jurisdição, entre aordem interna e a ordem internacional. Podeocorrer a dupla proteção, por meio do direitointerno e do direito internacional, em decor-rência de simultânea violação, em ambas asordens jurídicas.
A proteção da humanidade é uma instituiçãojurídica que, na comunidade internacional dosEstados, visa proteger todos os indivíduos,qualquer que seja sua nacionalidade, principal-mente os direitos fundamentais, que decorremda própria natureza do ser humano, antesmesmo de que ele faça parte de uma sociedadepolítica. A proteção da humanidade é indepen-dente de todo reconhecimento escrito, emdecorrência de seu caráter fundamental e ina-lienável, proveniente de certas prerrogativasinerentes à natureza humana. Ela não seconfunde com o que normalmente se entendecomo proteção internacional dos direitos dohomem, que corresponde apenas aos direitosexpressamente reconhecidos pelos textos inter-nacionais.
O conteúdo da noção ou a determinação dosdireitos protegidos parte, em princípio, do
reconhecimento de dois pressupostos essenciais:a vida e a liberdade. No momento em que olegislador interno objetiva garanti-los, eledeverá considerar como uma espécie de umterceiro direito humano, o princípio da legali-dade.
O direito de ação, em virtude dos disposi-tivos da Convenção Européia dos Direitos doHomem4, constitui um aspecto fundamental doDireito Processual Internacional.
A Convenção de Salvaguarda dos Direitosdo Homem e das Liberdades Fundamentais,assinada em Roma, em 4 de novembro de 1950,para entrar em vigor no dia 3 de setembro de1953, é caracterizada pelo mecanismo judi-ciário, que ela instituiu, no plano europeu, como objetivo de assegurar a garantia coletiva decertos direitos, considerados como funda-mentais a toda sociedade democrática. Consagraa todas as pessoas a jurisdição das “garantiasdemocráticas”, independentemente da nacio-nalidade e de sua residência.
O preâmbulo da Convenção ressalta o papeldos meios para atender à salvaguarda e aodesenvolvimento dos direitos do homem e dasliberdades fundamentais.
O direito a um recurso individual é a pedraangular do sistema previsto pela Convenção,como a inovação mais importante, consagradano domínio do direito das gentes. O direito deação dos particulares (artigos 25 e 48 da Con-venção) assenta-se na insuficiência de umaação, exclusivamente reservada aos Estados,fosse eficaz apenas na proteção diplomática.Ela não é suficiente para assegurar a proteçãoeficaz dos direitos do homem, muitas vezes,vítima desconhecida de seus próprios governos.
Quanto à sua natureza, o direito de açãodos particulares, nos termos do artigo 25,caracteriza-se como uma demanda, que não seconfigura apenas como direito de petição. Orequerente individual deve ser vítima de umaviolação de direitos, garantidos pela Conven-ção. O exercício do direito configura-se em umrecurso individual, de um titular desse direito.Toda pessoa física, toda organização não-gover-namental ou grupos de particulares, que são
4 MÜLLER-RAPPARD, Ekkehart. Le droitd’action en vertu des dispositions de la ConventionEuropéenne des Droits de l’Homme. In LA PRO-TECTION internationale des droits de l’homme, p.31 e segs; GOMIEN, Donna. Vade-mecum de laConvention Européene des Droits de l’Homme.Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1996. (CollectionDocuments européens).

Revista de Informação Legislativa94
vítimas de violação, por uma das Altas PartesContratantes dos direitos reconhecidos pelaConvenção, têm direito de agir. Essa fórmulafaz abstração das noções de nacionalidade,residência e capacidade de estar em juízo, porque esses direitos tutelam, também, o menor, oapátrida, o alienado e o detento.
O direito de ação, no sistema europeu, con-siderado como “direito de recurso individual”é da maior importância, para o sistema criadopela Convenção. Mas o recurso individual, emvirtude da Convenção, está submetido a condi-ções muito estritas.
O direito a um recurso efetivo, perante aautoridade nacional competente, nas Conven-ções Internacionais, relativas à proteção dosdireitos do homem, tem suas origens e funda-mentos no artigo 8, da Declaração Universaldos Direitos do Homem:
“toda pessoa tem o direito a um recursoefetivo, perante as jurisdições nacionaiscompetentes, contra os atos que violamos direitos fundamentais que são reco-nhecidos pela Constituição ou pela lei”.
A Convenção Européia dos Direitos doHomem, consagrando a proteção dos direitosdo homem na ordem jurídica internacional,aboliu a distinção radical entre ordem internae ordem internacional, sobre a qual estavafundado o Direito internacional clássico. Odireito europeu, no que toca aos direitos dohomem, visa assegurar em nome dos valorescomuns e superiores do Estado a proteção dosinteresses dos indivíduos. Essa idéia, de umaordem comum, passou a dar plenos efeitos aosdireitos e liberdades da pessoa.
Os direitos do homem identificam a pessoahumana em seu caráter objetivo, não são atri-buídos aos indivíduos, com base em um estatutojurídico particular revogável, mas na própriaqualidade de pessoa humana. O CEDH apre-senta o caráter que a Comissão reconheceu,expressamente, na decisão Áustria/Itália, de 11de janeiro de 1961: as obrigações subscritaspelos Estados contratantes, na Convenção, têmessencialmente caráter objetivo, pois eles visamproteger os direitos fundamentais dos particu-lares contra as manifestações dos Estadoscontratantes, atentatórios a estes direitos. Ocaráter objetivo do sistema convencionaltranscende os interesses estatais e cria a soli-dariedade comum.
Conforme a Convenção de Viena, de 23 demaio de 1969, sobre o direito dos tratados, aviolação, mesmo substancial, por um Estado-
parte, de uma convenção dos direitos dohomem, de disposições relativas à proteção dapessoa humana, não autoriza às outras partescontratantes, a pôr fim ao tratado ou suspendersua aplicação. A inexecução das disposiçõesprotetoras, pode prejudicar os indivíduos.
A aplicabilidade direta da Convençãoeuropéia tem sua especificidade, decorrente deseu caráter objetivo de convenção protetora dosdireitos individuais. O caráter diretamente apli-cável (self-executing) da norma convencionaldeve ser preciso. A aplicabilidade direta enviaao direito público interno dos Estados e supõeque a regra internacional não necessita, paraser seguida, de ser introduzida na ordem internapor uma disposição especial. A ConvençãoEuropéia não impõe a integração da mesma nodireito interno.
Quanto ao exercício dos direitos, o caráterobjetivo das normas subscritas pelos Estados-partes da Convenção. Surge, igualmente, nomecanismo erigido pela Convenção, paragarantir o exercício efetivo desses direitos e seurespeito. O mecanismo de controle repousasobre a noção de garantia coletiva. Nos termosdo Preâmbulo do Estatuto do Conselho daEuropa, bem como o da Convenção, o respeitoaos direitos dos homens e das liberdadesfundamentais, fazem parte do “patrimôniocomum ideal e das tradições políticas” dosEstados-membros do Conselho da Europa.Tratando-se de um patrimônio comum, aConvenção encarrega os Estados contratantesde assegurar, coletiva e solidariamente, asalvaguarda dos direitos enunciados. Essagarantia coletiva e solidária é confiada aosEstados e aos indivíduos. O direito de açãoestatal é consagrado pelo artigo 24 da CEDH,que autoriza todo Estado contratante a permitirque a comissão possa atuar em todos os casosem que haja ofensa à Convenção, por um outroEstado-parte. A convenção européia derrogouos princípios fundamentais do direito interna-cional clássico.
O princípio da competência nacional eexclusiva, representado pela proteção diplomá-tica, segundo o qual a vinculação nacional efe-tiva do indivíduo a um Estado determinadoautoriza uma eventual proteção (CPJI, arrestoMavrommatis, 30 de agosto de 1924). A CEDHdá origem a obrigação de os Estados contra-tantes a compromissos, nos quais a execuçãonão está submetida ao princípio da reciproci-dade. O Estado-parte não é obrigado apenas agarantir os direitos protegidos para seus

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 95
próprios nacionais, mas, também, a todos osindivíduos que estão sob sua jurisdição,qualquer que seja sua nacionalidade. Esseprocesso é uma ruptura, no plano teórico, coma proteção diplomática tradicional.
A Convenção Européia consagra, comdestaque, o princípio da não-ingerência nosnegócios interiores (Declaração da AssembléiaGeral das Nações Unidas, de 24 de outubro de1970, sobre os princípios que devem reger asrelações de amizade entre os Estados).
O direito de ação individual consagra atitularidade de direitos e obrigações, conferidospela Convenção internacional protetora dosdireitos do homem, pelo que o indivíduo podeagir diretamente, por meio de procedimentosadaptados, para fazer prevalecer os direitos aosbeneficiários e de fazer respeitar o exercícioefetivo. A Convenção Européia, em seu artigo25, confere ao indivíduo um direito de açãodireta. Os recursos contenciosos, mencionadosnas duas convenções regionais, distinguem assimples previsões, consagradas por outrosinstrumentos protetores dos direitos do homem.No plano universal a Convenção de 21 dedezembro de 1965, sobre a eliminação de todasas formas de discriminação racial e o Protocolofacultativo, referem-se ao Pacto Internacionaldos Direitos Civis e Políticos, de 16 de dezembrode 1966. O direito ao recurso individual tor-nou-se a pedra angular do mecanismo de salva-guarda instaurado pelo CEDH. A multiplici-dade de recursos individuais, facilitados pelagratuidade do processo perante os órgãos deStrasburg e a instauração do sistema de assis-tência judiciária, deu origem a uma multiplici-dade de processos.
A soberania passou por profundas transfor-mações, tendo em vista ser a Convenção Euro-péia um instrumento convencional de caráterobrigatório. Ele reflete a vontade dos Estadosa se engajar, de maneira explícita, no domíniodos direitos humanos e repousa sobre o consen-timento definitivo do Estado, expresso pelaratificação (art. 66). A necessidade de uminstrumento convencional multilateral, emobter a aceitação dos Estados, levou a novasreflexões sobre as soberanias estatais.
A modulação das participações estatais ope-ra-se por reservas e disposições facultativas, queconferem a um instrumento convencional (Con-venção ou Protocolo). As disposições faculta-tivas compreendem, primeiramente, a aceitaçãode cláusulas facultativas de aceitação da compe-tência das Comissões (art. 25) e da Corte (art.
46), inspirados na cláusula facultativa de juris-dição obrigatória do Estatuto da CIJ (Art. 36,§ 2º). Estas disposições sobre o respeito dassoberanias nacionais justificam o controle dorespeito da Convenção ao consentimento dosEstados.
A Convenção Européia dos Direitos doHomem, como a Convenção Americana sobreDireitos Humanos, criam um instrumento inter-nacional de proteção aos direitos do homem. Oprocesso de controle compreende três fases: orecebimento da reclamação, a conciliação e adecisão de fundo. O processo perante a Corte,a decisão de fundo e a execução das decisõeslevam as questões sobre: a formação do julga-mento, o caráter contraditório e a decisão (aconstatação da violação, a obrigatoriedade dadecisão, sua definitividade e a reparação, comtemas sobre o caráter subsidiário da reparaçãoe as modalidades de reparação). A execuçãoda decisão leva aos estudos sobre a soluçãopolítica, o procedimento, a decisão e a suaexecução.
Os direitos garantidos ou protegidos sãoenunciados pela Convenção, no Título I e nosProtocolos 1, 4, 6 e 7. Eles tratam dos direitosindividuais, dos quais o indivíduo é titular.Vinham, esses direitos, assegurar a integridadeda pessoa, no que se refere ao aspecto físico emoral, considerados como direitos intangíveis:direito à vida; direito de não ser submetido àtortura ou tratamentos desumanos ou degradan-tes; direito de não ser colocado em estado deescravidão ou servidão. O Pacto Internacionalsobre Direitos Civis e Políticos, a ConvençãoEuropéia e a Convenção Americana sobreDireitos do Homem acordaram-se em estipularque estes direitos não podem ser jamais supri-midos ou limitados. Convém ressaltar, ainda,a não retroatividade da lei penal, que, comooutros princípios, constitue atributos inaliená-veis da pessoa humana. A CEDH é uma cartaviva de direitos e liberdades, que veio acompa-nhada de ações intergovernamentais, protoco-los adicionais, convenção contra a tortura, quese destaca pelo seu aspecto pretoriano5.
As reflexões sobre a Comunidade Européiae a Convenção Européia dos Direitos doHomem, como organizações de integração,revelam que elas foram beneficiadas pela trans-ferência de competências de seus Estados-
5 SUDRE, Frédéric. La Convention Européennedes Droits de L’Homme. 2. ed. (Coleção “Quesais-je?”, nº 2513), Paris : Presses Universitairesde France, 1992.

Revista de Informação Legislativa96
membros. À proporção que certos Estadospassaram a aceitar a Convenção Européia dosDireitos do Homem, com a utilização de suascompetências, submetiam-se às obrigaçõesdecorrentes da mesma.
As relações entre a Convenção e o Direitocomunitário têm levantado questões sobre oconfronto das compatibilidades entre os atoscomunitários, com os direitos do homem, parti-cularmente com os direitos garantidos pelaConvenção. Ressalte-se a posição da Corte deStrasbourg no que toca às relações entre os atoscomunitários e os atos nacionais, apreciadospelo Direito comunitário.
A Convenção Européia dos Direitos doHomem não dispõe de um estatuto particularem matéria de Direito comunitário. Na decla-ração comunitária, de 5 de abril de 1977, oParlamento europeu, o Conselho e a Comissãoreconheceram a importância primordial, no quetoca ao respeito dos direitos fundamentais,como resultantes das constituições dos Estados-membros, como da Convenção Européia deSalvaguarda dos Direitos do Homem e dasLiberdades Fundamentais. Essa declaração nãovisou incorporar a Convenção na ordem comu-nitária. Também o preâmbulo do Ato Únicoeuropeu ressaltava que os signatários decidirampromover a democracia, sobre as bases dosdireitos fundamentais, reconhecidos nasconstituições e leis dos Estados-membros, naConvenção da salvaguarda dos direitos funda-mentais e na Carta Social Européia, especial-mente a liberdade, a igualdade e a justiça social.
A adesão da Comunidade à Convenção foimuito discutida, principalmente no memorandumda Comissão, de 4 de abril de 1979. O Tratadode Maastricht estipulou que a União respeitariaos direitos fundamentais, à medida que fossemgarantidos pela Convenção Européia de salva-guarda dos direitos do homem e das liberdadesfundamentais. Esses direitos estão baseados,também, nas tradições constitucionais comunsdos Estados-membros e nos princípios geraisdo Direito comunitário.
2. Os Princípios e os mecanismos daConvenção. Regras, métodos e princípios
de interpretação na jurisprudência daCorte Européia de direitos do homemA Convenção Européia de Salvaguarda dos
Direitos do Homem tem propiciado diversosestudos, decisões e comentários sobre seu sig-nificado e aplicação. As decisões da Comissão
e da Corte européia, as manifestações dasjurisprudências nacionais dos Estados-membrosreferentes à Convenção Européia têm acarre-tado a necessidade de estudos científicos porseus membros, pelos universitários e os prati-cantes, sobre o desenvolvimento dos trabalhosda Convenção, no interior de cada disposiçãodo tratado, devido à jurisprudência evolutiva edinâmica dos órgãos de Strasburg. A adesãoao Conselho da Europa, por parte de novosEstados-membros da Europa Central e Oriental,demonstra que os juristas dessas partes e deoutras devem apreender, cada vez mais, osmecanismos de proteção dos direitos fundamen-tais, para consolidar, nesses países, o processodemocrático. Existem contradições entre esco-las de Direito e os sistemas, mas a tendênciapara certa harmonização está presente. Avocação da Convenção é criar uma filosofiahumanista, a serviço da justiça e da dignidadeda pessoa, que se efetivará, progressivamente,com a compreensão da extensão dos direitosprotegidos, inclusive pelos protocolos adicio-nais, que respondem às aspirações dos povoseuropeus6.
O sistema de controle de Strasboug propi-ciou rica jurisprudência, transformando a Con-venção Européia em documento fundamental,para a salvaguarda e o desenvolvimento dosdireitos do homem e das liberdades fundamen-tais, circunstância que gerou critérios interpre-tativos complexos.
O colóquio do Centro de Direito Interna-cional (Cedin), de Nanterre, consagrado à prá-tica jurídica francesa, no domínio da proteçãointernacional dos direitos do homem, propicioucontribuições dos autores de várias procedên-cias, como de juízes da Corte Européia dedireitos do homem e membros da ComissãoEuropéia de Direitos do Homem, magistradose funcionários europeus, experts, diplomatas euniversitários, com destaque para a doutrinafrancesa da Convenção Européia dos Direitosdo Homem, que ultrapassou as fronteiras nacio-nais, com numerosas contribuições francófonas,bem como das de língua inglesa e alemã.
A Convenção Européia de Direitos doHomem, que passou a vigorar em 1953, é consi-derada como “patrimônio comum” das liber-dades democráticas da grande Europa, reunindotrinta Estados-partes, que vão desde a Islândia
6 PETTITI, Louis-Edmond (cood.). La ConventionEuropéenne des Droits de L’Homme. Préface dePierre-Henri Teitgen. Paris : Economica, 1995.Commentaire article par article.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 97
à Bulgária e de Portugal à Finlândia. A juris-prudência da Corte e da Comissão européiasdos direitos do homem é permanente instru-mento de enriquecimento da concepção dasliberdades fundamentais. Em cada ordeminterna, criando uma verdadeira “ordempública européia”, consolida-se, por meio dajurisprudência estrasburguesa, um sistema decontrole, que se verifica em seus aspectos polí-ticos, jurídicos e técnicos. O Protocolo nº 11,da Convenção, assinado pelos Estados mem-bros do Conselho da Europa, em maio de 1994,tornou possível a reforma radical do sistema, oque se denomina “Europa do direito”.
Os Estados-membros do Conselho daEuropa ou os Estados partes aceitaram asdisposições da Convenção Européia dos Direi-tos do Homem, como indissociáveis à plenaparticipação da “família européia”, que cons-titui a organização de Strasburg, com a partici-pação dos novos componentes vindos da Euro-pa Central, como a Hungria, 6 de novembro de1990; Checoslováquia, 21 de fevereiro de 1991;a Polônia, 6 de novembro de 1991; a Bulgária,em 7 de maio de 1992; a Estônia, a Lituânia eEslovênia, em 14 de maio de 1993; a Rumânia,em 7 de outubro de 1993. Assinaram a Con-venção, no momento de sua adesão ao Estatutodo Conselho, para ratificar, após um breveperíodo de adaptação, a Checoslováquia (18 demarço de 1992); a Bulgária (7 de setembro de1992); a Hungria (5 de novembro de 1992); aPolônia (9 de janeiro de 1993); a Rumânia (20de junho de 1994) e a Eslovênia (24 de junhode 1994). Esses marcos constituem a histórialegislativa da Convenção, quarenta anos depoisde entrar em vigor a Convenção, de 3 desetembro de 1953.
A história legislativa da Convenção vemacompanhada de substanciais mudanças con-ceituais, após longos períodos de maturação.Essas transformações construíram um sistemainédito, colocando em discussão o primado dasoberania nacional, em confronto com a opi-nião européia.
As origens da Convenção estão vinculadasà escolha de princípio que gerou uma série decompromissos. A idéia da proteção regional dosdireitos do homem assenta-se sobre dois gran-des movimentos de opinião, que ocorreram apósa Segunda Guerra Mundial: o militantismo emtorno dos direitos humanos e a idéia européia.
A luta pelos direitos do homem tem grandesignificado a partir de 1945, quando as NaçõesUnidas procuram realizar a cooperação inter-
nacional, com o encorajamento pelo respeitoaos direitos dos homens e às liberdades funda-mentais para todos (artigo 1º). A preocupaçãocom o princípio do “respeito universal e efetivodos direitos do homem e das liberdades funda-mentais” é repetida no artigo 55, com intençãoprogramatória. Após 1947, quando foi colocadaem vigor, em virtude do artigo 68 da Carta, aComissão de direitos do homem deveria elabo-rar a “Declaração Universal dos Direitos doHomem”, adotada por uma Resolução daAssembléia Geral e votada em Paris, em 10 dedezembro de 1948. A necessidade de instru-mentos jurídicos e de mecanismos de controleeficazes levou a dois “Pactos das NaçõesUnidas”, para completar a “Carta de Direitosdo Homem”7.
A existência da autoridade política européia,já realçada pelo Preâmbulo da Convenção,surge como instrumento que traduziria a von-tade dos Estados europeus, por meio de medi-das, para assegurar a garantia coletiva de certosdireitos enunciados na Declaração Universal,sublinhando-se a existência de um patrimôniocomum ideal e de tradições políticas, concer-nentes ao respeito da liberdade e a preeminênciado direito.
A construção européia foi marcada por umdinamismo excepcional, com iniciativas polí-ticas, fundadas no patrimônio comum das idéiasque foram sendo lançados. Essa criação provémde várias iniciativas e momentos, como osdiscursos de Winston Churchill (19 de setem-bro de 1946, em Zurich e 14 de maio de 1947),no “Congresso da Europa”, em La Haya, de 7a 10 de maio de 1948. Essas reuniões contêmos germens da futura organização pluralista docontinente, por meio do Conselho da Europa eda Comunidade Européia, quando foram orga-nizadas três Comissões (política, econômica ecultural). Naquela ocasião surgem as tesesfederalistas e a Comissão política, presidida por
7 MARIE, J. B., QUESTIAN N. In: La Chartedes Nations Unies. 2. ed. COT, J.P. A. PELLET,Economica, 1991; PHILIP, O. Le problème de UnionEuropéenne. La Baconnière, 1950; DECAUX,Emmanuel. Conférence sur la sécurité et la coo-pération en Europe. PUF, 1992 (Coleção “Quesais-je?”, 2.661). Idem. La genèse de la DéclarationUniverselle des Droits de l’Homme. Bulletin deAssociation René Cassin , n. 10, maio, 1989;BOSSUYT, M. Guide to the travaux préparatoiresof the International Covenant on Civil and PoliticalRights. Nijhoff, 1987; DECAUX, La mise en vigneurdu Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques. RGDIP, 1980, n. 2.

Revista de Informação Legislativa98
Paul Ramadier, que provocaria a reunião da“Constituinte européia”. De conformidade como artigo 5º da Resolução política, a futuraAssembléia européia previa a criação de umaCorte de Justiça, dedicada a aplicar as sançõesnecessárias, para ser respeitada. Cada cidadãoeuropeu poderia fazer respeitar pela Corte dejustiça européia, seus direitos fundamentais,eventualmente violados por uma justiça nacio-nal. Ao mesmo tempo, propunha-se a criaçãode uma Corte suprema, para fazer acatar pelosEstados, a Declaração de Direitos do Homem.A Resolução determinava que os Estados-mem-bros da União Européia dariam um caráterjuridicamente obrigatório às decisões de umaCorte suprema, órgão de controle judiciário,acerca do respeito pelos governantes dos direi-tos individuais fundamentais.
O Congresso de Bruxelas, em fevereiro de1949, com a elaboração de um projeto de “CorteEuropéia de Direitos do Homem”, é um passoimportante.
A ação diplomática, ao lado de outras ini-ciativas, completa os esforços dos governoseuropeus, em torno da cooperação em todos osdomínios. Os Estados passaram a negociar ocrescimento do “Pacto de Bruxelas”, firmado,em 17 de março de 1948, que associava os doisaliados do tratado de Dunquerque de 1947(França e Reino Unido), com os três membrosdo Benelux (Bélgica, Países-Baixos e Luxem-burgo). Pelo Preâmbulo do Pacto, os cincoEstados afirmaram a fé nos direitos fundamen-tais do homem, na dignidade e no valor dapessoa humana, bem como outros princípiosproclamados pela Carta das Nações Unidas,confirmando a defesa dos princípios democrá-ticos, as liberdades cívicas e individuais, astradições constitucionais e o respeito à lei, queconfigurariam o patrimônio comum.
No Comitê consultivo, reunindo os minis-tros dos negócios estrangeiros dos cincomembros do Pacto de Bruxelas, devido uma ini-ciativa franco-belga, apesar da oposição britâ-nica, sobre a criação do Conselho da Europa.Posteriormente em conferência ocorrida emLondres, foram convocadas a Irlanda, Itália,Dinamarca, Noruega e Suécia, ocasião em quea Suíça declinou do convite, em nome daneutralidade. A conferência diplomática con-cluiu-se pela assinatura do Estatuto do Conse-lho da Europa, em 5 de maio de 1949. Namesma ocasião, houve a admissão da Islândia,da Grécia e da Turquia.
O Preâmbulo do Estatuto, baseado nosvalores espirituais e morais, considerados como
patrimônio comum de seus povos, é a origemdos princípios da liberdade individual, daliberdade política e da preeminência do direito,sobre os quais está assentada toda verdadeirademocracia. Os Estados-membros consagram,em seu artigo primeiro, que têm como finali-dade, a salvaguarda e o desenvolvimento dosdireitos do homem e das liberdades funda-mentais.
A estrutura do Conselho da Europa passoua ser assentada em dois órgãos: o Conselho deMinistros (reunindo os Ministros dos Negóciosestrangeiros ou seus representantes), caracte-rizado pela tradição de conferência intergover-namental e uma Assembléia Consultiva, repre-sentada pelos Parlamentos nacionais. O Comitêde Ministros fixou a ordem do dia para a pri-meira sessão da Assembléia, prevista para 10de agosto ou 8 de setembro de 1949, em Stras-burg. A Irlanda apresentou proposta que obje-tivava consagrar a defesa dos direitos funda-mentais, civis e religiosos do homem à“comissão preparatória do Conselho daEuropa”.
A primeira sessão do Comitê de Ministros,de 9 de agosto de 1949, em Strasburg, sob apresidência de Paul-Henri Spaak, apreciou aemenda britânica de “Definição, salvaguarda edesenvolvimento dos direitos do homem e dasliberdades fundamentais”. Robert Schumanentendeu que seria prematuro destacar a ques-tão da salvaguarda e do desenvolvimento dosdireitos do homem, pois as Nações Unidas jáhaviam se ocupado do problema. Entendeu-seque não era necessário fazer nova declaração,mas criar uma Corte de Justiça, pelo fato de asdeclarações, puramente verbais, estarem desa-creditadas. O importante seria estabelecermeios rápidos e eficazes de cumprir a Decla-ração de Direitos do Homem, com previsão desanções jurídicas definidas.
A Convenção Européia resultou de váriostrabalhos preparatórios, com reuniões entre aAssembléia consultiva e o Comitê de Ministros,com exames dos pontos técnicos das Comis-sões de especialistas. O projeto deu início aomovimento europeu, com os primeiros traba-lhos da Assembléia Consultiva. A Comissãojurídica da Assembléia estabeleceu uma listade direitos, com referência aos artigos perti-nentes da Declaração Universal, expressamentecitados no projeto. Precisava, igualmente, osmecanismos de “garantia coletiva” dessesdireitos e a possibilidade de pleitos individuais,sendo necessária a criação da Corte Européia.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 99
A Comissão de justiça propunha a criaçãodo “controle jurisdicional em duas etapas”, comuma primeira fase de investigação e concilia-ção, seguida de recurso a uma verdadeirajurisdição, com a criação da Corte de JustiçaEuropéia. Além de responder os pressupostosda justiça internacional, entendia-se que a CorteEuropéia aplicaria as convenções aceitas pelosmembros do Conselho da Europa, para garantir,reciprocamente, as liberdades e direitos funda-mentais, que fariam parte do patrimônio comum.Debateu-se os litígios entre os Estados-mem-bros do Conselho da Europa, que seriam exa-minados perante a Corte Permanente de Justiçainternacional. Ao mesmo tempo evocava-se anoção de “soberania”, em que não se daria com-petência a uma jurisdição européia para con-trolar as legislações internas, os atos executivosou judiciários dos governantes da Europa.
Após longos e minuciosos debates naAssembléia, em 8 de setembro de 1949, osprojetos elaborados pela Comissão foram ado-tados por 64 votos, um contra e vinte e umaabstenções.
Os trabalhos dos Comitês de Ministros, em5 de novembro de 1949, realizaram, uma vezmais, a discussão sobre a oportunidade de con-vocar uma reunião de especialistas dos Esta-dos-membros. Invocando-se os trabalhos dasNações Unidas, a Comissão de Direitos doHomem deveria elaborar um texto definitivoem 1950.
Diversas propostas e reuniões dedicam-seàs formas de elaboração de mecanismo práticoe eficiente de proteção jurisdicional. As noçõesde soberania, reforçadas pelas diferenças decivilização e de ideologia, sob o plano euro-peu, seriam superadas. No direito interno, asalvaguarda do direito era condicionada pelaexistência de tribunais nacionais. Deveria serdado ao indivíduo o livre acesso à Corte.
A adoção definitiva do Projeto da Conven-ção, no seio desses trabalhos, em diversasetapas, constava de reunião da Comissão dasquestões jurídicas da Assembléia parlamentar,que se reuniu em 23 e 24 de junho de 1950,para breve debate. Opôs-se à inserção na Con-venção, de um artigo assegurando a proteçãodessas instituições, pois tal determinação fugi-ria ao quadro da mesma. Dever-se-ia apoiar noartigo 21 da Declaração Universal, que tratava,de maneira específica, sobre os direitos e liber-dades políticas do indivíduo.
Concluiu-se que os direitos do homem nãose esgotariam, em vagas, em generalidades, mas
que poderiam ser sancionados perante umaCorte de Justiça.
As etapas da Convenção consolidaram-sena decisão de assiná-la em Roma, sendo que aassinatura solene ocorreu em 4 de novembrode 1950, no Palácio Barberini, sob a presidên-cia do Conde Sforza. O pleno desenvolvimentodo sistema não apenas entrou em vigor com aaprovação da Convenção, mas, também, pormeio da aceitação progressiva de mecanismosfacultativos. As ratificações da Convenção porparte do Reino Unido (1951), da Noruega,Suécia e Alemanha (1952), Irlanda, Grécia,Dinamarca, Islândia e Luxemburgo (1953),Turquia e Países Baixos (1954), Bélgica e Itá-lia (1955), Áustria (1958), Chipre (1962),Malta (1967), consolidam o processo. A ratifi-cação francesa ocorreu em 3 de maio de 1974,a da Suíça e o retorno da Grécia em 28 de no-vembro de 1974. Novas ratificações vêm nosanos seguintes como a de Portugal em 1978, ada Espanha em 1979 e a da Filândia em 1990.
A Convenção inovou quando ocorreu a acei-tação específica, por parte dos Estados, docompromisso elaborado no seio do Comitê deMinistros, inclusive no que se refere às decla-rações facultativas. Os protocoles d’amende-ment, modificando as disposições da Conven-ção, utilizam, também, os “Protocolos adicio-nais”, acrescentando disposições facultativas,consubstanciados nos Protocolos números 2, 4,5, 6, 7, 8 e 9.
Ao lado do desenvolvimento do conten-cioso, ocorreu a adaptação dos mecanismos degarantia dos direitos, desde suas origens, comemendas pontuais e Protocolos. As transfor-mações jurídicas consolidam-se, também, peloProtocolo nº 11, de 11 de maio de 1994.
Os princípios e os mecanismos da Conven-ção têm sido objeto de reflexões por parte,também, de juízes da Corte Européia de Direitosdo Homem8,que realçam as lições de quarentaanos de aplicação da Convenção. Identificamos valores que inspiraram a Convenção Euro-péia, inclusive com aqueles que emergem notempo, os princípios cujas origens são substi-tuídas e os que aparecem a partir de 1960. Nesseperíodo surge a oposição entre a teoria marxis-ta-leninista dos direitos do homem e a doutrinahumanista européia, até 1989. A desagregação
8 PETTITI, Juge à la cour européenne des droitsde l’homme : réflexions sur les principes et lesmécanisme de la Convention de l’ideal de 1950 àl’humble réalité d’aujoud’hui. In: LA CONVENTIONEuropéenne des Droits de L’Homme. p. 27 e segs.

Revista de Informação Legislativa100
do império soviético e o abandono da doutrinamarxista dos direitos do homem reforçam osistema da Convenção européia, que atrai osnovos Estados da Europa Central e Oriental.
As idéias que orientaram o Conselho daEuropa, condenação do totalitarismo e salva-guarda das democracias, permaneceram pre-sentes. A Europa da Convenção passou, após aguerra, por vários perigos, ao lado de crescentetendência à prosperidade econômica, aparen-temente, sem maiores perigos para os direitosdo homem, em 1990.
Os autores da Convenção e os governantes,pouco confiantes nas virtudes da democracia,entendiam que os recursos individuais seriamraros, chegando-se, mesmo, a pensar que acriação de uma Corte seria inútil. O recursoindividual tornou-se o único mecanismo decontrole.
Os grandes fenômenos sociais agravaram-secom a droga, o proxenetismo, a máfia do crime,as experimentações sobre as pessoas, as polí-ticas de saúde pública, a situação das minoriasou dos refugiados, que não eram objeto deexame exaustivo. Nova categoria de pessoas aproteger surge na Europa, fugindo às defini-ções clássicas do direito internacional.
A situação real dos direitos do homemdeveria passar por corretivos, por meio derecursos interestatais, para combater as viola-ções massivas e sistemáticas dos mesmos.
Os princípios diretores da Convençãopodem ser percebidos pelos trabalhos prepara-tórios. O Preâmbulo da Convenção, em 1950,mostrava que os Estados deveriam ser maispragmáticos e menos idealistas. Inscreveramna Convenção Européia os princípios, situan-do-os nas perspectivas de futuras realizações,em decorrência de suas possibilidades. Osgovernantes dos Estados europeus, animadospelo mesmo espírito e em decorrência de patri-mônio comum ideal e de tradições políticas,acerca da liberdade e da preeminência dodireito, tomaram as primeiras medidas paraassegurar a garantia de certos direitos enun-ciados na Declaração Universal. Quanto aosdireitos sociais, em 1961, adotou-se CartaSocial Européia, sem que sua justiciabilidadeseja plenamente, ainda hoje, reconhecida.
Nos primeiros anos de aplicação, os órgãosde controle examinaram aspectos de seu lugarno Direito internacional público. Elaborou-seuma jurisprudência, dando à Convenção umcaráter declaratório. Não se apresentou comoum direito sui generis, no sentido de ser reco-
nhecido pelo tratado de Roma-CEE, mas de umdireito comunitário, dotado de aplicação diretae comum aos Estados-membros da Comunidade.A Convenção, por seu Preâmbulo e Artigo 1,salienta a primasia que ele deve ter sobre osacordos bilaterais ou multilaterais, quando setrata do respeito aos direitos fundamentais. Oartigo 1, diz que as Altas Partes Contratantesreconhecem a toda pessoa, como relevante, umajurisdição dos direitos e liberdades definidosno Título I da Convenção.
No caso Áustria v. Itália, a Comissão teve aocasião de se pronunciar sobre os princípiosdiretores da Convenção. Acrescentou que asobrigações subscritas pelos Estados contratantesda Convenção têm caráter objetivo, visandoproteger os direitos fundamentais dos particu-lares contra as investidas dos Estados contra-tantes. A noção de garantia coletiva está nocoração da Convenção. O engajamento coleti-vo e solidário dos Estados propiciou que a Con-venção inscrevesse como obrigação positiva, acargo dos Estados, assegurar a salvaguarda dosdireitos fundamentais. A regra clássica dareciprocidade das negociações internacionaisbilaterais não foi incorporada ou aplicada, noque toca ao respeito dos direitos do homem. AConvenção colocou os direitos do homem comonormas de referência ou normas superiores àsleis nacionais, na medida em que estas sãoincompatíveis com os direitos garantidos.
A legitimação do sistema receberia garan-tia, por parte de interpretação autônoma, deórgão jurisdicional europeu. Tem a Convençãocaráter declaratório, esclarecido por parte doprocesso interpretativo. As preocupações emtorno da segurança jurídica surgem, inclusive,quando se examina o direito interno, frente àConvenção, em decisões da Corte, frente àlegislação nacional e sua compatibilidade frenteà Convenção.
O caráter objetivo e declaratório do meca-nismo da Convenção implica igualmente seucaráter subsidiário, que corresponde a uma obri-gação de seguridade jurídica, inclusive para osEstados signatários. A Corte adotou certoclassicismo em suas análises, situando-se noseio dos princípios gerais de direito interna-cional. Dessa objetividade interna, no seio doexame da Convenção, no plano jurídico, nãose pode desprezar o exame de outros instru-mentos internacionais.
A Corte não tentou definir, expressamente,os princípios gerais do direito europeu, mascontribuiu para elaborar certas normas neces-sárias ao reconhecimento de uma ordem pública

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 101
européia, paralelamente àquela definida pelaCorte de Justiça das Comunidades, no campodo Direito Comunitário. A noção de ordempública internacional tinha sua expressão noseio das Nações Unidas, mas essa noção seimpõe, paulatinamente, no Direito interna-cional público, depois que os sistemas da CEEe da CEDH levam ao reconhecimento de umaordem pública européia.
A jurisprudência da Corte fornece elementospara a determinação objetiva e constante, defi-nindo normas de segurança jurídica na aplica-ção da Convenção. A Corte observa a regra daobjetividade, situando-a sob a ótica da inter-pretação autônoma dos direitos reconhecidosàs vítimas de sua violação, que não podem serprivadas de recursos, em vista da ambigüidadedo direito interno. A coesão e coerência dasdecisões da Corte, particularmente no domí-nio penal, assegura uma interpretação objetivada Convenção, distanciando-se das escolas dedireitos nacionais ou de controvérsias doutri-nárias. A Corte, paulatinamente, afasta-se dosprincípios das legislações e das jurisprudênciasdos Estados-membros, que inspiram a escolapositivista ou a escola de defesa social.
A Convenção é um instrumento de prote-ção generalizada, destacando-se o papel dasinterferências intra-estatais da jurisprudência.É um instrumento especificamente europeu,funcionando para os Estados-partes e de suaspessoas judiciais, independentemente da nacio-nalidade.
Os Estados-membros do Conselho daEuropa pretenderam a universalização dosdireitos do homem. Surgiram problemas no queconcerne aos terceiros Estados, em torno doDireito internacional, quando não eram mem-bros do Conselho da Europa. As interferênciasentre os organismos internacionais apresenta,também, problemas, como os das relações entreos “Trinta e Dois” do Conselho da Europa e osDoze da Comunidade, mas são membros daConvenção européia. O corpus de diretivas eos regulamentos comunitários impõem-se aodireito interno dos Doze. Os Doze no meio dos“Trinta e Dois” não têm o mesmo estatutointernacional dos outros membros. A fórmulade adesão da Comunidade à Convenção Euro-péia deve impor-se apenas as discussõesdoutrinárias e parlamentares. A influênciacomunitária é exercida pela jurisprudênciaentre as duas Cortes. A Corte de Luxemburgotem como fonte prioritária do direito aConvenção Européia dos Direitos do Homem.
Merecem destaque as regras, os métodos eos princípios de interpretação, na jurispru-dência da Corte Européia dos direitos dohomem, no que toca à ação9 intergovernamentaldo Conselho da Europa, no domínio dos direitosdo homem, no que se refere à gestão e à visão,entre a salvaguarda e o desenvolvimento.Também a jurisprudência da Corte Européiados direitos do homem, relativa à Convenção,oscila entre a prudência e a criatividade, entrea compreensão formalista dos textos e as con-siderações sobre seu espírito. Vista no contextosocial, político e cultural, as decisões procuramas razões de ser entre salvaguardas dos direi-tos garantidos pela Convenção e seu desenvol-vimento. É uma salvaguarda necessária, no quetoca aos direitos do homem, mas ainda nãoadquiriu definitividade, por se situar na com-preensão de seu desenvolvimento indispen-sável, na lógica da proteção dos direitosfundamentais, partindo da primeira regranacional e internacional, européia ou universal,no que toca à ótima proteção dos direitos doindivíduo.
Nas funções próprias à interpretação judi-ciária, a Corte européia de direitos do homemtem um objetivo essencial, decorrente do artigo45 da Convenção, isto é, uma competênciacontenciosa que se estende a todas as questõesconcernentes à interpretação e à aplicação dessedocumento. A Corte de Strasburg não se esgotaapenas nesse esforço interpretativo10, utiliza-seda Comissão, sua auxiliar natural e inspiradora.No mesmo sentido, assenta-se nas CortesSupremas dos Estados partes da Convenção enos observadores, legitimamente exigentes ecríticos. Outras jurisdições européias regionaise internacionais são apreciadas. Nessa meto-dologia interpretativa, destacam-se, sucessiva-mente:
- as regras de interpretação (regra geral doartigo 31 da Convenção de Viena, com assentono texto, no contexto, objeto e finalidade doTratado, em relação com os artigos 32 e 33 domencionado instrumento;
9 JACOT-GUILLARMOND, Olivier. Règles,méthodes et principes d’interprétation dans lajurisprudence dela cour européenne des droits del’homme, In: LA CONVENTION Européenne desDroits De L’Homme, p. 41 e segs.
10 IMBERT, P. H. L’action intergouvernementaledu Conseil de l’Europe en matière de droits del’homme: sauvegarde ou développement?, In:MÉLANGES Wiarda. Cologne : Carl Heymanns,1988; GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Valeur de lajurisprudence de la court européenne des droits del’homme en droit espagnol. In: MÉLANGES Wiarda.

Revista de Informação Legislativa102
- os métodos de interpretação que, a partirdesse quadro jurídico, caracterizam a produ-ção jurisprudencial da Corte de Strasbourg,notadamente autônoma de certas noçõesconvencionais, à margem de apreciação reser-vada aos Estados e a existência simultânea deum “controle europeu”;
- os princípios de interpretação, que nãoaparecem, claramente na jurisprudência, massão talvez os mais ilustrativos da originalidadeda interpretação material da Convenção, porparte da Corte.
As regras de interpretação têm diversasfontes, como a regra geral do artigo 31 da Con-venção de Viena. A Corte insiste em repetirque a Convenção e seus Protocolos formam umtodo, pelo que devem ser interpretados demaneira geral. Outra regra de interpretaçãogeral é a decorrente do arresto Golder de 1975de grande importância.
No que se refere ao texto, a jurisprudênciada Corte reporta-se ao sentido ordinário daspalavras, nos termos utilizados pela Conven-ção. No l’affaire linguistique belge, a Corterecusou considerar que o artigo 14 da Conven-ção, interdição de discriminação, combinado como artigo 2, do Protocolo 1, direito à instrução,que tem como efeito a garantia às crianças ouaos seus pais do direito a uma instrução feitana língua de sua escolha.
Quanto ao contexto, a interpretação siste-mática tem papel fundamental na jurisprudên-cia da Corte, sendo praticada em larga escala.O referencial normativo, em certas ocasiões,assenta-se em outro instrumento do Conselhoda Europa, ou mesmo em diferenciados instru-mentos internacionais. Como ilustração dessassituações, convém mencionar a Convençãoamericana relativa aos direitos do homem.Como outros exemplos de utilização de normasinternacionais, pode-se mencionar o Estatutodo Conselho da Europa, de 1949, o PactoInternacional de 1966, relativo aos direitos civise políticos.
Examinando-se o objeto e a finalidade, adoutrina ocupa um lugar primordial no sistemajurisprudencial de Strasbourg. É por isso que aComissão chegou a dizer que a Convenção, porvia da interpretação, tem como objeto tornareficaz a proteção do indivíduo.
Existem meios complementares para apli-cação dos temas examinados, pelo que convémmencionar os artigos 32 e 33 da Convenção deViena. Os intérpretes têm levado em conta que,além do contexto, é necessário examinar o pre-âmbulo os anexos de toda regra pertinente de
direito internacional aplicável nas relaçõesentre as partes. O Estatuto do Conselho, de 25de maio de 1949, estabelece a importância detemas como: o pluralismo político, a preemi-nência do direito e o respeito dos direitos dohomem.
Os métodos de interpretação são exami-nados à luz do direito comparado, tomando-seinicialmente a temática do seu relacionamentoou outros atos jurídicos internacionais, no quetoca ao seu emprego, por parte da Corte euro-péia dos direitos do homem. A Corte de Stras-bourg, em diversas decisões, selecionou dispo-sições materiais que convêm à Convenção e aseus Protocolos. Tomando como base osmétodos de interpretação, podemos ressaltar ainterpretação ampla e o efeito útil, que objetivaassegurar, de maneira efetiva, os direitosgarantidos pela Convenção. A jurisprudênciarelativa ao artigo 6 da Convenção é ilustrativa,quando conclui: em uma sociedade democrá-tica, no sentido da Convenção, ressalta-se odireito a uma boa administração da justiça.
Outra forma da consagração de uma inter-pretação ampla dos direitos garantidos surgiuno arresto Klass. A autonomia de certas noçõesconvencionais, surge nos métodos de interpre-tação da Corte. As noções de direito comum,apreciadas na Convenção, devem ser interpre-tadas, de conformidade com os conceitos corres-pondentes do direito interno. A Corte pode darum conteúdo normativo próprio ou “autôno-mo” a uma série de conceitos convencionais,tais como os do artigo 5 da Convenção: deten-ção, privação da liberdade, tribunal, conde-nação, alienado e vagabundo. Ao mesmo tempoo artigo 6 da Convenção trata de conceitos sobretribunal, contestação, direitos e obrigações decaráter civil e acusação em matéria penal. Oartigo 7 da Convenção trata dos conceitos decondenação; os artigos 8, § 2, 9, § 2, 10, § 2 e11, § 2 da Convenção trata do conceito de lei;o artigo 25 da Convenção menciona vítima e oartigo 50 da Convenção trata de parte lesada.
A convenção não visa consagrar um direitouniforme e equalizador, mas pretende chegar astandart mínimo de proteção, em uma socie-dade democrática e pluralista.
A necessária submissão dessas apreciaçõesao “controle europeu” aparece na jurispru-dência, quando se entende que os Estadoscontratantes conservam uma certa margem deapreciação, para julgar a existência de certostipos de ingerência, mas deve partir do controleeuropeu sobre as leis e as decisões. A referência

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 103
pontual e ocasional do direito nacional convémser examinada. As origens nacionais decor-rentes de certos conceitos convencionais levama Corte, pontualmente, a se apoiar no Direitonacional ou nas práticas nacionais, mencionan-do-se a expressão “denominador comum dosdireitos nacionais”. A Corte tem levado emconta, em suas decisões, a existência ou não deum denominador comum, dos sistemas jurídi-cos dos estados contratantes, destacando-se oarresto Marckx. A Corte considerou os efeitosjurídicos da assimilação da filiação natural àfiliação legítima, como conseqüência de umatendência de um direito interno, da maioria dosEstados-membros do Conselho da Europa.
O precedente jurisprudencial é mencionadoentre os métodos de interpretação da Corte, noque se refere às ligações a decisões anteriores.Convém mencionar a questão da compatibili-dade da transexualidade com o artigo 8 da Con-venção. Entretanto, a ausência de força obri-gatória do precedente jurisprudencial encon-tra-se na afirmativa de que a Corte não estáligada às decisões anteriores.
Os princípios de interpretação têm signifi-cativa importância em sua qualificação mate-rial ou processual, com referência ao caráterde ordem pública européia da Convenção. Estacaracterística é essencial à proteção dos direi-tos do homem, instituída pela Convenção, masque aparece em diferentes contextos. A subsi-diariedade dos mecanismos de controle daCorte de Strasbourg é de grande importância.Na questão linguistique belge, destaca-se ocaráter subsidiário do mecanismo internacio-nal da garantia coletiva, instaurada pela Con-venção.
O princípio da não-aplicação, por parte daCorte, do direito interno é matéria tambémexaminada quando se afirma que incumbe, emprimeiro lugar, as decisões das autoridadesnacionais, bem como às cortes e tribunais,interpretar e aplicar o direito interno.
Diversos órgãos estatais são depositários daresponsabilidade internacional em caso deviolação da Convenção. No mesmo sentido, res-salte-se o papel das obrigações de resultado oude meios, no que se refere aos Estados contra-tantes. Estes devem agenciar seus sistemasjurídicos, de maneira que lhes permita respon-der as exigências do artigo 6. A obrigação deresultado é um tema clássico na jurisprudênciada Corte. No artigo 11 da Convenção – liber-dade de reunião pacífica e liberdade de associ-ação –, entende-se que os Estados assumem
uma verdadeira obrigação de meios e não deresultado. Pelo que incumbe aos Estados con-tratantes adotar medidas racionais e apropria-das, para assegurar o desenvolvimento pacíficodas manifestações lícitas.
As obrigações “positivas” pesam sobre osEstados, desde que em complemento à teoriaclássica das liberdades individuais, construiu-se uma obrigação de abstenção de Estado. ACorte examinou diversas questões sobre obri-gações positivas: execução, em virtude da Con-venção, de medidas positivas do Estado, nãose dando importância a distinção entre “atos”e omissões.
Entre as medidas positivas do Estado,podemos anotar:
1 - garantia aos jurisdicionados de umdireito efetivo de acesso à justiça;
2 - assegurar o respeito efetivo à vida fami-liar, nos termos do artigo 8 da Convenção;
3 - no quadro da obrigação do Estado, veri-ficar se o “advogado de ofício” cumpriu corre-tamente suas tarefas;
4 - organização das eleições democráticas,de conformidade com o artigo 3 do Protocolo 1;
5 - obrigação dos Estados assegurarem umaproteção às doenças mentais, por disposições,não apenas civis, mas penais;
6 - obrigação de informar a Corte a situa-ção do acusado, de conformidade com o artigo6, § 5 e 6, sobre a natureza e a causa da acusa-ção que lhe é feita;
7 - a obrigação de respeitar a vida privadados transexuais, em virtude do artigo 8, da Con-venção, entretanto a Corte admitiu as dificul-dades da definição das obrigações positivascorrespondentes.
A preeminência do direito está ligada à idéiade sociedade democrática, parte essencial daConvenção. Este conceito figura no preâmbuloda Convenção e faz parte do “contexto”, perti-nente a interpretação do artigo 31, § 2 da Con-venção de Viena.
Várias são as exigências ligadas à idéia deuma sociedade democrática, princípio que do-mina toda a Convenção. Nesse sentido convémressaltar diversas decisões da Corte.
1 - pluralismo, tolerância e espírito de aber-tura, que devem caracterizar a sociedadedemocrática;
2 - liberdade de expressão, que constitui umdos fundamentos essenciais de uma sociedadedemocrática;
3 - em uma sociedade democrática, o direitoa uma boa Administração da Justiça ocupalugar de relevo;

Revista de Informação Legislativa104
4 - a exigência com um processo eqüitativoe público, nos termos do artigo 6, § 1º, consti-tui um dos princípios fundamentais da socie-dade democrática;
5 - a preeminência do direito constitui umdos princípios fundamentais de uma sociedadedemocrática.
Outras garantias implícitas, surgem nosistema da Convenção:
1 - o direito ao acesso a um Tribunal,elemento inerente aos direitos enunciados noartigo 6, 1, com destaque para a eqüidade, apublicidade e a celeridade do processo;
2 - as garantias de um processo judiciário éuma exigência que decorre, implicitamente, dapalavra Tribunal;
3 - a faculdade do acusado de tomar partena audiência, é um desdobramento do objeto eda finalidade do artigo 6, 1 da Convenção.
A aplicação direta do Direito comunitáriotem grande importância, no que se refere a suaaplicação, desde que prevalece como regracomum, de direito primário ou derivado,perante as jurisdições nacionais dos Estados-membros da Comunidade.
Os princípios gerais do direito, no que serefere à interpretação da Corte, merecemmelhor elaboração no trabalho de interpretação.À procura dos princípios gerais do direito,comuns aos Estados-membros do Conselho daEuropa, são examinados frente aos princípiosgerais, aos quais a Corte se refere expressa-mente:
- o princípio retirado da economia geral daConvenção;
- o princípio da boa-fé;- o princípio da proteção da confiança, ine-
rente a sociedade democrática;- o princípio da segurança jurídica;- o princípio da economia processual;- o princípio do respeito ao formalismo no
processo que exige que as partes o invoquem atempo e com clareza;
- o princípio do desenvolvimento coerenteda jurisprudência da Corte.
Os efeitos horizontais de certos direitos(Drittwirkung) têm sido matéria de constanteinterpretação da Convenção, desde 1985, quan-do a Corte tratou das obrigações positivas,a respeito da vida privada ou familiar, nosentido dado pelo artigo 8 da Convenção oqual configurou obrigações positivas, quepodem implicar a adoção de medidas quevisam o respeito à vida privada, nas rela-ções dos indivíduos entre eles.
Nas regras de interpretação, a jurispru-dência da Corte, vem apreciando aspectos con-cretos ou abstratos, com importantes questio-namentos acerca de temas como:
- apreciação do direito à instrução naBélgica, Estado plurilingüístico, composto devárias regiões linguísticas; apreciação sobre aliberdade de expressão, em decorrência de umacontrovérsia política pós-eleitoral na Áustria;
- apreciação de aspectos do artigo 3 da Con-venção, quanto à situação de vida da Irlandado Norte;
- exigências da proteção da moral, emdecorrência do artigo 8 da Convenção, naIrlanda, substituindo as infrações dos atosprovenientes de homossexuais, entre homensadultos, no contexto da sociedade naquelaregião, tendo em vista que em um Estado emque as comunidades culturais são diversas,compete às autoridades a solução dos impera-tivos de ordem moral e social.
Outro tema que tem sido objeto dessa juris-prudência é o referente às “aparências”, quan-do a Corte é solicitada a pronunciar sobre aexistência de um atentado aos direitos prote-gidos pela Convenção, quando depara com estefenômeno que está desvinculado, muitas vezes,do vocabulário empregado.
A Convenção é interpretada à luz das con-dições atuais, da própria vida, tendo em vista adinâmica política, social, jurídica e cultural, nasquais a Convenção está inserida.
3. O princípio da proporcionalidade najurisprudência da Corte Européia dos
Direitos do HomemO princípio da proporcionalidade leva a
diversos estudos, que têm procurado dar seuconceito e formular suas origens. As fontes doprincípio da proporcionalidade são examinadasna sua origem corrente, sendo que surgemlevantamentos sobre as fontes doutrinárias enormativas do princípio e o seu controle. Anoção da proporcionalidade evoca a idéia deequilíbrio ou harmonia. Ela tem grande poten-cialidade de aplicação em várias ciências. Nãoé um conceito próprio ao direito, mas trata-sede uma noção genérica, empregada em váriasciências. Originariamente, a proporcionalidadeé um princípio matemático, adotado pela filo-sofia, tomando formas e acepções variáveis. Osconceitos de razoabilidade, equilíbrio e racio-nalidade constituem aspectos particulares dessanoção. A proporcionalidade transporta-se para

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 105
o quadro da democracia liberal, inserindo-sena filosofia política do sistema. A vida socialimpõe tomadas de decisões, que necessitam deum certo equilíbrio. Vários países institucio-nalizaram o princípio da proporcionalidade,como o lugar que passou a ocupar na Repúbli-ca Federal da Alemanha. É um princípio quetem valor constitucional, sendo que seu con-teúdo é examinado em três elementos que lhecompõem: o princípio da pertinência, o princí-pio da necessidade e o princípio da proporcio-nalidade estrita. O princípio tem, também, apli-cação na Suíça, na Itália, na Espanha e emoutros países.
O Tribunal Administrativo da OrganizaçãoInternacional do Trabalho tem várias formula-ções sobre o princípio. Também a Corte Euro-péia dos Direitos do Homem aplica-o, de ma-neira ampla, visando assegurar o respeito àsdisposições da Convenção internacional. Asdecisões da Convenção são ricas em disposiçõesque tratam do conceito de proporcionalidade.Ele transparece, indiretamente, nas noções deprocesso eqüitativo, na decisão razoável e noprincípio da igualdade. A Corte Européia dosDireitos do Homem, em sua jurisprudência,precisa o campo de aplicação do conteúdo doprincípio da proporcionalidade. São impor-tantes as repercussões da aplicação na Conven-ção, na ordem jurídica interna, pelo que asjurisprudências nacionais devem integrar oprincípio da proporcionalidade, nos controlesque exercem. Convém ressaltar a importânciae a riqueza do princípio da proporcionalidadeno Direito comunitário. Este reconhece o con-ceito de proporcionalidade, como princípiogeral do direito. Ele ocupa, na hierarquia dasnormas comunitárias, o mesmo papel das dispo-sições de um Tratado. Vários doutrinadores têmtratado do assunto, com diversos concep-ções: Latournerie, Braibant, M. Costa, Kahn,Eisenmann, Dubouis, Bockel, Guibal, Bien-venu, Lamasurier, Laubadere, Vedel, Delvolve,Chapus e outros11.
O princípio da proporcionalidade deve servisto com mais intensidade na jurisprudênciada Corte Européia de Direitos do Homem.Entretanto, na Convenção Européia de Salva-guarda dos Direitos do Homem e das Liber-dades Fundamentais, como nos diversos Pro-tocolos adicionais, o termo proporcionalidadenão aparece. A idéia que ele exprime transpa-rece, de maneira sutil, nos diversos arrestos daCorte de Strasburg. A proporcionalidade apa-rece na jurisprudência, relativa aos artigos 8 a11 da Convenção, que garantem o direito aorespeito à vida privada e familiar, ao domicí-lio, à correspondência, à liberdade de pensa-mento, à liberdade de consciência e de religião,de associação, compreendida a liberdadesindical. Várias decisões da Corte constatamos casos de violações, resultantes do desconhe-cimento do princípio de proporcionalidade.Existem várias limitações autorizadas, no quese refere ao direito da liberdade física da pes-soa, que permite a detenção regular de umalienado ou a detenção provisória, permitidapelo artigo 5, 1. Assuntos referentes ao casa-mento (artigo 12 da Convenção) e ao direitode propriedade ocupam espaço nos estudosdesses temas. As limitações implícitas, no quese refere a outros direitos garantidos, tratamdo direito à um processo eqüitativo, direito àinstrução, direitos ao voto e à elegibilidade.
A proporcionalidade é considerada comoum elemento de um direito garantido ou de umaobrigação positiva dos Estados contratantes, noque toca à proibição de penas e tratamentosdesumanos ou degradantes (art. 3 da Conven-ção), como o recurso à tortura. Tendo em vistaa sua redação concisa, categórica e aparente-mente absoluta, indaga-se se é possível aplicaro princípio da proporcionalidade. Já em 1978,a Corte julgou que para compreensão do texto,deve-se configurar como mal tratamento, a exis-tência de um mínimo de gravidade, cuja apre-ciação, relativa em sua essência, depende deum conjunto de circunstâncias, notadamente aduração do tratamento e seus efeitos físicos oumentais, como, também, por vezes, referentesao sexo, idade, estado de saúde da vítima. Oarresto Soering contra o Reino Unido, de julhode 1989, introduziu certa dose de proporcio-nalidade.
A proibição aos trabalhos forçados ou obri-gatórios (art. 4 da Convenção) surge no casoVan der Mussele contra a Bélgica, em que con-figurou-se certa forma de trabalho forçado ouobrigatório, e a Corte partiu da definição ado-tada pelo artigo 2, 1 da Convenção nº 29, daOrganização Internacional do Trabalho.
11 PHILIPPE, Xavier. Le contrôle de propor-tionnalité dans les jurisprudences constitutionnelleet administrative français : collection science et droitadministratifs. Préface de Charles Debbasch. Paris :Economica, 1990; STUMM, Raquel Denize. Prin-cípio da proporcionalidade no Direito Constitucio-nal brasileiro. Porto Alegre : Livraria do Advogado1995; BARROS, Suzana de Toledo. O Princípio daproporcionalidade e o controle de constitucionali-dade das leis restritivas de direitos fundamentais.Brasília : Brasília Jurídica, 1996.

Revista de Informação Legislativa106
As obrigações positivas, decorrentes doartigo 8 da Convenção, nos termos jurispru-denciais, decorrem da compreensão de que eletem, essencialmente, por objeto prevenir oindivíduo contra a ingerência arbitrária dospoderes públicos. Para se configurar uma obri-gação positiva, é preciso levar em conta o justoequilíbrio entre interesse geral e os interessesdo indivíduo.
Quanto à relação entre proporcionalidadee não-discriminação, nos termos do artigo 14da Convenção, destaca-se que é aí que a Corteutiliza pela primeira vez a palavra proporcio-nalidade, sendo que em várias decisões conclui-se pelo respeito ao princípio de proporcionali-dade. Com o tempo, a proporcionalidade passoua ter destaque na jurisprudência da CorteEuropéia dos Direitos do Homem, de maneirasólida e durável.
4. Bioética e a Convenção Européia dosDireitos do Homem. Experimentação
médica e científicaO progresso das ciências da vida é um ele-
mento dos mais significativos, para a revolu-ção científica do século XX. Os textos interna-cionais, relativos aos direitos do homem, sãosingularmente discretos, sobre os aspectospróprios ao direito do homem, colocados pelasciências da vida. A Declaração Universal dosDireitos do Homem, como a Convenção Euro-péia de Direitos do Homem não contêm qual-quer disposição específica sobre o assunto. OPacto Internacional dos Direitos Civis ePolíticos, adotados pelas Nações Unidas, em1966, contém no artigo 7, uma referência àexperimentação médica12.
Os órgãos da Convenção não tomaram, ini-cialmente, posição sobre a aplicação dos prin-cípios da Convenção a certas situações decor-rentes do desenvolvimento das ciências biomé-dicas, com o objetivo de determinar a proteçãoda integridade psíquica ou a da vida privada eda família.
A proteção da integridade psíquica dapessoa não pode ser considerada, aprioristica-mente, como uma decorrência da condenaçãodos crimes cometidos pelo regime nazista,tendo em vista que as pesquisas científicassuscitam riscos para a vida humana.
As difíceis questões sobre as pesquisas emtorno do embrião e do foetus mostram que não
é possível, em tal debate, esgotar as realidadesde outras experiências sobre o corpo humano,por meio de disciplinas e práticas científicas emédicas, também significativas e bem com-plexas.
As preocupações com a vida e as questõesdas pesquisas sobre o embrião e os foetusocupam lugar de relevo, também, nos estudosjurídicos. Sendo o “direito à vida” o primeirodireito que a Convenção garante ao indivíduo,nem sempre é ele considerado como absoluto.Podem ocorrer excepções legais, às quais a Con-venção situou em um campo definido, possibi-litando certa flexibilização (artigo 2, 2, letrasa e c).
Os Estados que ratificaram o Protocolo nº6, que entrou em vigor, suprimiram, pelo menosem tempo de paz, a pena de morte, pelo queeste direito adquiriu caráter quase absoluto. OProtocolo deixou intactas as exceções, quandoa morte não é infringida intencionalmente. Aproteção devida ao embrião e ao foetus, é exa-minada não apenas no que se refere aos benefi-ciários do direito à vida, mas também àquelesque são relativos às obrigações do Estado.
O embrião e o foetus são considerados comobeneficiários do direito à vida. A ConvençãoAmericana sobre Direitos Humanos, de 1969,protege como direito de toda pessoa o respeitoà vida, a partir da concepção (art. 4, 1). Mas aConvenção européia é mais explícita, quandono artigo 2, § 1, fala em “direito de toda pessoaà vida”.
Os trabalhos preparatórios de elaboração deum documento destinado ao Comitê de especia-listas, sobre a Convenção realizada pelo Secre-tário-Geral, fazem, pela primeira vez, mençãoao direito à vida, em comparação com o artigo2, § 1 da Resolução da Assembléia parlamentarao artigo 5, § 1, do projeto da Declaração Uni-versal dos Direitos do Homem.
A proteção do direito à vida inscreve-se nocontexto largamente tributário, que visa ofere-cer ao indivíduo proteção contra o risco de verrepetir os abusos cometidos durante a guerra.Essa proposição foi adotada, em 7 de agosto de1950, pelo Comitê de Ministros, sem muitosdebates. No affaire Brüggemann et Scheutencontre la République fédérale d’Allemagne, aComissão recorda que quando a Convençãoentrou em vigor, a legislação sobre o abortoera em todos os Estados mais restritiva do queaquela que predominava anteriormente. Não sepode comprovar qual o motivo que teriam aspartes da Convenção entendido por uma ou
12 CORNAVIN, T. Théorie des droits de l’hommeet progrès de la biologie. Paris : Droits, 1985. nº 2.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 107
outra solução debatida, que não foram nemobjeto de debates públicos, à época em que aConvenção foi elaborada e adotada.
A jurisprudência dos órgãos da Comissãoiria consolidar-se, mas somente ocorreram pro-nunciamentos quando a Comissão e o Comitêde Ministros tiveram a ocasião de se pronunciaracerca dos diversos casos referentes ao aborto.A Corte que tinha receio em torno da liberdadede comunicação das informações (art. 10),acerca de um caso de aborto, releva, de repente,a situação, em “Open Door et Dublin WellWoman C. Irlande, em arresto de 29 de outu-bro de 1992, A nº 246, § 66, no que toca àdeterminação se a Convenção, garantindo odireito ao aborto ou se o direito à vida, reco-nhecido pelo artigo 2, valeria igualmente parao foetus.
Nos termos do artigo 2, dois requerimentosforam declarados inadmitidos pela Comissão,com o argumento de que os requerentes nãopoderiam tornar-se “vítimas” de leis incrimi-nadoras do aborto. Mas no caso Brüggemannet Scheuten c. Republique fédéral d’Allemagne,a Comissão declarou que o requerimento seriaatendido à medida, que fosse encaminhado.
De conformidade com o artigo 8 da Con-venção, para se saber se a proibição de inter-rupção da gravidez, após duodécima semana,poderia constituir um “atentado à vida priva-da”, a Comissão e posteriormente o Comitê deMinistros decidiram, neste caso, que não ocor-reu violação da Convenção.
A Comissão entendeu que não se pode dizerque a gravidez tem importância apenas nodomínio da vida privada. Nessas circunstâncias,a vida privada deve ser associada à do foetusque se desenvolve. No que toca ao direito à vida,a Comissão entendeu que não seria necessárioexaminar, se a criança a nascer deve ser consi-derada como portadora de uma “vida”, nostermos do artigo 2 da Convenção. A Comissãofaz referência à palavra vida, mais do que aexpressão toda pessoa.
Na decisão de 13 de maio de 1980, no“affaire” X. contre Royaume-Uni, a Comissãoexplicitou sua posição sobre o direito do foetusà vida. Nesse caso, a esposa do requerente pediua interrupção de gravidez, para proteger suasaúde, no curso da décima semana de gravidez,de conformidade com a lei britânica, segundoa qual o juiz nacional não reconhecia no foetusuma existência distinta da mãe.
A Comissão entendeu que o termo todapessoa é utilizado pela Convenção (artigos 4,
6, 8 a 11 e 13), de tal modo que não se podeaplicar após o nascimento. Não se estabeleceu,claramente, se o termo poderia ter aplicaçãoantes do nascimento, mas não se poderia excluirtal aplicação, em casos raros, como o artigo 6,1. Quanto ao artigo 2, a Comissão ressalta,igualmente, que as limitações do direito à vidamencionadas, contêm, todas elas, por suanatureza, referências às pessoas já nascidas, nãosendo aplicáveis aos foetus. Para a Comissão otermo vida, contido no artigo 2, 1, não é defi-nido na Convenção. Para interpretar o menci-onado termo, necessita-se saber se ele compre-ende, igualmente, a “vida a nascer”, pelo que énecessário dar atenção particular ao contextodo artigo, tomado em seu conjunto.
Na ausência de limitação expressa, concer-nente ao foetus, artigo 2, a Comissão propôsexaminar qual interpretação deveria ser dedu-zida desse artigo. Não teria validade para todosos foetus ou daria ao mesmo um “direito àvida”, com certas limitações implícitas. Seriareconhecido ao foetus um direito de caráterabsoluto? O problema não se resume na com-preensão de que a “fase inicial” da gravidez,desde que o aborto é praticado antes da décimasemana. Quanto à limitação implícita do direitoà vida, durante a fase inicial, só a limitaçãodestinada a proteger a vida ou a saúde damulher está em jogo.
Supõe-se que existe o “direito à vida” dofoetus, sendo que uma tal restrição aplicada nafase inicial da gravidez seria incompatível como artigo 2, § 1 da Convenção, porque o abortoencontra sua limitação implícita no direito àvida do foetus, neste estágio, para proteger avida e a saúde da mãe.
No que se refere à natureza das obrigaçõesdo Estado, a Comissão reconheceu, por diver-sas vezes, a questão de saber se o artigo 2 daConvenção não é uma posição negativa ou seela obriga os poderes públicos a uma açãopositiva, quando a vida de uma pessoa está emperigo. Num requerimento (X. c. Irlande, n.6839/74), com decisão em 4 de outubro de 1976,a Comissão colocou o problema da obrigaçãopara os poderes públicos, de intervir positiva-mente, fornecendo recursos médicos. Compre-endeu-se que a primeira frase do artigo 2 impõeao Estado uma obrigação maior do que aquelaconstante da segunda parte: a idéia que o direitode toda pessoa à vida é protegido pela lei. Nessahipótese, o Estado não somente deveria abster-se de realizar a morte intencionalmente, mastambém tomar as medidas necessárias para aproteção da vida.

Revista de Informação Legislativa108
A Associação que reagrupava parentes decrianças que tinham passado por experiênciasgraves e duradouras, decididos a vacinar, ale-garam que as autoridades britânicas, organi-zando campanhas regulares de vacinação, seminformar os parentes dos perigos potenciais,tinha-lhes imposto risco injustificável. AComissão, por compreender manifestamentemal fundada a situação grave, constatou que oEstado tinha adotado um sistema de controleapropriado (Assoc. X. c. Royaume-Uni), pormeio do Requerimento nº 7.154/75, decisão de12 de julho de 1978, consagrando-se uma obri-gação ativa. Tratava-se de uma obrigação decomportamento, não se reduzindo a uma obri-gação de resultado. A Comissão julgou, no quese refere ao risco de violência, que visava pes-soas determinadas, que o artigo 2 da Conven-ção não seria interpretado como imposição aoEstado, que estaria obrigado a estabelecer umaproteção de natureza especial, no que se refereà guarda do corpo por um período ilimitado(Requerimento nº 6.040/73, de 20 de julho de1973). Se o requerente não tivesse direito a umaobrigação de resultado, por parte dos poderespúblicos, haveria a impossibilidade radical deum resultado, mesmo no caso de ausência demedidas positivas, que não constituiriam vio-lação da Convenção. No caso A. Hughes c.Royaume-Uni (Requerimento nº 1.1590/85,decisão de 18 de julho de 1986) a requerenteexplicou que seu esposo não havia sido benefi-ciado por assistência médica rápida, que levariaàs chances de uma reanimação. A Comissão,entendendo o requerimento mal fundado, que,na espécie, a informação médica entendeu quea morte seria inevitável.
A análise dessas questões, acerca da inte-gridade do corpo humano, suscitadas pelodesenvolvimento das ciências biomédicas, levaao aprofundamento destas questões.
Diversos outros atentados à integridadefísica da pessoa, em decorrência da práticacientífica e médica, colocam em relevo novasformas de solidariedade social, no que tocacertos doentes que se beneficiam do sangue oude órgãos de terceiros doadores, em proveitoda sociedade em seu conjunto, que tem,também, a vantagem de levar ao surgimentode novos medicamentos. Essas medidasdemonstram a necessidade de ressaltar o papeldos direitos do homem, em que a tradição pelaproteção da pessoa é elemento essencial contracertos atentados à integridade física, sucetíveisde afetar a descendência do homem.
As práticas sobre os direitos do homemlevantam problemas sobre sua legitimidade esobre a questão do consentimento. Quanto àlegitimidade, o Pacto Internacional sobreDireitos Civis e Políticos, em seu artigo 7,proíbe submeter uma pessoa, sem seu consen-timento, a uma experiência médica ou científica.Entretanto, a Convenção Européia não men-ciona explicitamente a questão de experimen-tação humana, nem a de transplante de órgãos.O artigo 2, 1 da Convenção reconhece o direitode toda pessoa à vida, proibindo implicitamenteos ensaios ou experimentações que têm conse-qüências mortais sobre o ser humano. O artigo3 da Convenção proíbe a submissão do serhumano às formas de tortura e às penas outratamentos desumanos ou degradantes.
O tratamento médico, de caráter experimen-tal, sem o consentimento da pessoa, em certascondições, é proibido pelo artigo 3 da Conven-ção. A natureza experimental do ato médico éa condição primeira para que tal ação possaser considerada como tratamento desumano.Ainda, no domínio médico, no que se refere aoartigo 8 da Convenção, a Comissão julgou ocaso X contra a Áustria.
O consentimento foi debatido e tratado noCódigo de Nuremberg , que enunciava a neces-sidade de se obter o consentimento do doente,sendo que o artigo 7 do Pacto Internacionalsobre Direitos Civis e Políticos faz do consen-timento condição essencial à experimentaçãomédica. A Comissão entendeu que o tratamentomédico, de caráter experimental, sem o consen-timento do interessado, pode, em certas cir-cunstâncias, ser considerado como ofensivo aoartigo 3.
Tratando dos detidos, o princípio 7 daRecomendação nº R (90), do Comitê deMinistros do Conselho da Europa, acerca dapesquisa médica sobre o ser humano, determi-na que as pessoas privadas da liberdade nãopodem ser objeto dessas experiências, se estesnão prestam significativo benefício à saúde dosmesmos.
As pessoas incapazes, no que toca aosórgãos, nos termos da Resolução nº (78) 29, doComitê de Ministros do Conselho da Europa,sobre a harmonização jurídica, em matéria detransplante de substâncias de origem humana,distinguiu as situações em que prevalecem ounão as substâncias sucetíveis ou não de rege-neração.
As experiências biomédicas, nos menores,nos termos da Recomendação nº R (90) do

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 109
Comitê de Ministros do Conselho da Europacolocam como princípio o entendimento de quese as experimentações beneficiam terapeutica-mente, são possíveis, a título excepcional. Osincapazes maiores são objeto da Recomendaçãonº R (83) 2, concernente à proteção jurídicadas pessoas dotadas de perturbações mentaisou pacientes involuntários. Intercepta-se osensaios clínicos com produtos ou técnicas quenão têm base terapêutica psiquiátrica, sobrepessoas dotadas de perturbações mentais.
Os atentados à integridade do corpo, queafetam a descendência do homem, fazem surgirquestionamentos sobre:
– a esterilização não voluntária;– técnicas sobre o genoma genético.O direito à procriação ou de criar uma
família é reconhecido pelo artigo 12 da Con-venção. A experimentação não consentida,como a esterilização não-voluntária, constituiatentado à integridade física do indivíduo.
O gênio genético está ligado à transferênciade gens de célula germinal, que levaria à possi-bilidade de modificação do fundo genético daespécie humana. A Assembléia parlamentar doConselho da Europa tratou do assunto, em1982, na Resolução 934, relativa à engenhariagenética . Os direitos à vida e à dignidadehumana são garantidos pelos artigos 2 e 3 daConvenção Européia dos Direitos do Homem,no que toca a impedir que as característicasgenéticas não sejam objeto de qualquermutação.
Temas como a proteção da liberdade de pen-samento e da vida privada e familiar são exa-minados nestes estudos, inclusive no que serefere às repercussões sociais sobre o reconhe-cimento do gênio genético.
Os perigos da utilização de informaçõescientíficas e médicas, sobre os indivíduos,foram objeto de duas Recomendações do Con-selho da Europa, no que toca à regulamentaçãoaplicável aos bancos de dados médicos auto-matizados. O artigo 54 estabelece que sem oconsentimento expresso e consciente da pessoaenvolvida na existência e conteúdo de um dossiêmédico não podem estes dados ser comunicadosa pessoas ou a organizações médicas. A Reco-mendação R (83), 10, de 23 de setembro de1983, sobre a proteção de dados de caráter pes-soal, utilizados para fins de pesquisas cientí-ficas e estatísticas, determina que se deve res-peitar a vida privada.
Entre os anos de 1987 a 1992, o Comitê deespecialistas sobre Bioética, do ConselhoEuropeu, denominado CAHBI, a partir de 1992,
denominado Comitê Diretor sobre Bioética(CDBI), incluiu em suas preocupações um con-junto de questões sobre:
– rastreamento genético pré-natal, diagnós-tico pré-natal e conselho genético relativo (Re-comendação R (90), de 21 de junho de 1990);
– dois textos relativos à utilização de análi-ses de “ácido déoxyribonucléique” (ADN), noquadro de justiça penal (Recomendação R 5 (92)1, de 10 de fevereiro de 1992) e sobre rastrea-mento genético, com finalidades médicas (Re-comendação R (92) 3, de 10 de fevereiro de 1992).
Várias são as categorias de textos sobrecomo a Convenção Européia dos Direitos doHomem vem protegendo o indivíduo, fonte àdivulgação de informações, referentes à saúdee ao patrimônio genético.
5. A Convenção de Salvaguarda dosDireitos do Homem e as Liberdades
FundamentaisO preâmbulo da Convenção Européia de
Direitos do Homem é integrante da mesma,sendo que este estatuto não difere dos preâm-bulos de outros tratados internacionais. O artigo31 da Convenção de Viena sobre o direito dostratados, destaca certas regras gerais de inter-pretação dos mesmos, reconhecendo a indivi-sibilidade que existe entre esta parte e o corpode um tratado. Ele dispõe que o tratado deveser interpretado de acordo com a regra da boa-fé, de conformidade com o sentido ordinárioatribuído aos termos do tratado em seu contexto,à luz de seu objeto e de sua finalidade. Em seuparágrafo 2º, estabelece-se que os fins dainterpretação de um tratado, em seu contexto,compreende o seu texto, o preâmbulo e os ane-xos incluídos. Jean-Pierre Cot e Alain Pellet,em comentário sobre o preâmbulo da Carta dasNações Unidas, acentuam que a peça inaugurale o texto devem ser analisados com igualdade13.
Os preâmbulos, como instrumentos inter-nacionais, são portadores de significado espe-cial, pois que refletem as motivações que con-duzem a elaboração dos mencionados instru-mentos. A Corte Européia dos Direitos Huma-nos, no caso Golder, entendeu que o artigo 31,§ 2º da Convenção de Viena, faz parte do seucontexto, apresentando grande utilidade paradeterminação do objeto e dos fins do instru-mento de interpretação. A elaboração dosinstrumentos internacionais, sob a forma de
13 COT, J. P., PELLET, A. La Charte des NationsUnies. Paris : Economica, 1985.

Revista de Informação Legislativa110
preâmbulo, não tem uma prática uniforme. Noque se refere à Convenção Européia dos Direi-tos do Homem, a questão do preâmbulo só secolocou numa fase avançada dos trabalhos, istoé, durante a segunda sessão da Assembléia con-sultiva do Conselho da Europa, reunido do dia7 a 28 de agosto de 1980. A comissão de ques-tões jurídicas e administrativas da Assembléia,de maneira unânime, reconhece que era precisoiniciar a Convenção por um preâmbulo. Osestudos consagrados ao preâmbulo têm exami-nado sucessivamente: a Declaração Universaldos Direitos do Homem como fonte e quadrode referência, a segunda e a terceira alíneas dopreâmbulo; a relação com o Conselho daEuropa, à luz de sua finalidade, nos termos da4ª alínea do preâmbulo; os direitos do homemno contexto de um regime político verdadeira-mente democrático, alínea 5ª do Preâmbulo; opatrimônio comum de valores e mecanismosde garantia coletiva, 6ª alínea do Preâmbulo.
Os primeiros projetos continham, na ses-são dedicada aos direitos garantidos, uma listade direitos não precisamente definidos, mencio-nando, por referência explícita,os artigos cor-respondentes da Declaração Universal. Reafir-mavam uma cláusula geral, prevendo umagarantia coletiva dos direitos e liberdades exis-tentes na Declaração. A enumeração de umcerto número de direitos relacionava-se com aprevisão que estabelecia a vinculação com certoartigo da Declaração das Nações Unidas. Nomomento da redação da Convenção Européia,a Declaração Universal dos Direitos do Homemera sempre a primeira, como o único elementoadotado pela série de instrumentos interna-cionais que finalmente formaria a Carta Inter-nacional dos Direitos do Homem. A CartaInternacional dos Direitos do Homem compre-ende, em seu conjunto, de quatro textos: aDeclaração Universal dos Direitos do Homem(1948); o Pacto Internacional relativo aosdireitos econômicos, sociais e culturais (1966);o Pacto Internacional sobre Direitos Civis ePolíticos (1966) e o Protocolo facultativo quese reportava ao último pacto (1966). A refe-rência à Declaração Universal, ao lado da Con-venção Européia, estabelece uma relaçãoestreita entre este instrumento regional emmatéria de direitos do homem e as normas dasNações Unidas.
A relação com o Conselho da Europa e aConvenção Européia dos Direitos do Homem ébem significativa. O objetivo do Conselho daEuropa é realizar a união, mais estreita, entreos Membros, com o fim de salvaguardar e pro-mover os ideais e os princípios que formam o
patrimônio comum e favorecem o progressoeconômico e social. O Preâmbulo do Estatutodiz, claramente, que os valores e princípiossubjacentes à noção e ao reconhecimento dosdireitos do homem e liberdades fundamentaissão a base da cooperação internacional, comoassim o entende o Conselho da Europa. Refe-re-se aos princípios da liberdade individual, daliberdade política e da preeminência do direito,sobre os quais se funda toda verdadeira demo-cracia. O Preâmbulo da Convenção, bem comoo Estatuto do Conselho, ressalta a consolidaçãoda paz fundada na justiça e na cooperação inter-nacional e dos interesses vitais, para preservara sociedade humana e a civilização. Acentu-am-se as noções de democracia política e soci-edade democrática, como elementos indispen-sáveis à proteção e ao respeito dos direitos dohomem, reafirmados, com força, nos textosadotados pela Conferência sobre a Seguridadee a Cooperação da Europa (CSCE), que serefere, particularmente, ao conceito de demo-cracia pluralista. Os Estados participantesreconheceram, em documento adotado na reu-nião de Copenhaguem, na Conferência sobre aDimensão Humana (CSCE - 5 - 29 junho 1990)que a democracia pluralista e o Estado sãoessenciais para garantir o respeito a todos osdireitos do homem e todas as liberdades fun-damentais. A Carta de Paris, para uma novaEuropa, assinada em 21 de setembro de 1990pelos Chefes de Estado ou de governantes deEstados participantes da CSCE, contém pontosimportantes sobre a democracia, os direitos dohomem e o Estado de direito. Entendeu-se queo governo democrático repousa sobre a vontadedo povo, expressa em intervalos regulares, poreleições livres e leais. A democracia repousano respeito da pessoa humana e no Estado dedireito.
A Convenção Européia é considerada comoum instrumento que reflete a vocação dosEstados signatários, para tomar as primeirasprovidências para assegurar a garantia coletivade certos direitos enunciados na DeclaraçãoUniversal.
O Preâmbulo fornece inspiração e funda-mento para uma interpretação evolutiva.
6. O Conteúdodos artigos da Convenção
O artigo 1 estabelece que as Altas PartesContratantes reconhecem a todas as pessoasdependentes de sua jurisdição os direitos eliberdades definidos no título 1 da Convenção.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 111
Pela jurisprudência da Comissão e da CorteEuropéia dos Direitos do Homem, no caso deviolação desses direitos e liberdades definidosnos documentos da Convenção, configura-se aresponsabilidade do Estado. Pelo artigo 1 daConvenção Européia e Direitos do Homem, ostitulares desses direitos e liberdades reconhe-cidos, estão vinculados às pessoas que neces-sitam da jurisdição dos Estados contratantes.Trata-se de um princípio dos direitos e liber-dades reconhecidos pelo 1º, 4º, 6º e 7º Proto-colos. Os Estados-partes da Convenção devemreconhecer esses direitos e liberdades não so-mente para os seus nacionais, mas também paraos outros Estados contratantes. A expressãotoda pessoa é análoga à que aparece em outrosinstrumentos jurídicos internacionais perti-nentes à natureza universal dos direitos eliberdades reconhecidos pelo sistema da Con-venção.
O artigo 2 reconhece o direito de toda pes-soa à vida, estando o mesmo protegido pela lei.A morte não pode ser infringida intencional-mente, salvo no caso de execução de uma sen-tença capital, decorrente de um tribunal, nocaso de um delito ser punido com pena estabe-lecida em lei. Assegura-se a defesa de todapessoa contra a violência ilegal. As disposiçõesdo artigo 2 foram completadas em 28 de abrilde 1983, pelo Protocolo nº 6, aditado à Con-venção, no que se refere à abolição da pena demorte. Este protocolo, que não foi assinado portodos os Estados-Partes da Convenção, é apre-ciado de maneira diferente. O direito à vida,proclamado pela Convenção, apresenta cará-ter fundamental. Esse direito estabelecido noartigo 2 garante os benefícios do direito à vida,com implicações sobre a morte infringidaintencionalmente, as medidas de proteção àvida e as limitações do direito à vida.
O artigo 3 estabelece que ninguém pode sersubmetido a tortura nem a penas ou tratamen-tos inumanos ou degradantes. A interdição àtortura, às penas ou a tratamentos inumanosou degradantes, consagra, como tem decididoa Corte Européia dos Direitos do Homem (So-ering du 7 juillet 1989 - A nº 161, § 88), umdos valores fundamentais da sociedade demo-crática que formam o Conselho da Europa. Comesse artigo, ressalta-se a importância da digni-dade, inerente a pessoa humana, que passa aser considerado como um direito intangível.Outros instrumentos convencionais têm ressal-tado essa forma de proteção, alguns de naturezauniversal como o Pacto dos Direitos Civis e
Políticos 16 de dezembro de 1966, artigo 7, oumecanismo regional como a Convenção Ame-ricana sobre Direitos Humanos de 22 denovembro de 1969, artigo 5, 1 e 2. A CartaAfricana dos direitos do homem e dos povos,de 28 de junho de 1981, não distingue os direi-tos intangíveis entre aqueles que ela enuncia.O direito à preservação da dignidade humanaé considerado como um atributo inalienável aoser humano, fundado sob os valores comuns,bem como aos patrimônios culturais e os siste-mas sociais. A proibição à tortura figura entreas normas imperativas do direito internacionaldos homens, enunciados como absolutos.
Na interpretação dos princípios inerentesaos direitos tratados no artigo 3, surgem os cri-térios específicos, tendo em vista a gravidadedo sofrimento infringido às vítimas. Os juízeseuropeus reconhecem que essas normas sãoaplicáveis aos detidos e aos estrangeiros. Anoção de tratamento degradante aparece comovalor social, estabelecendo critérios sobre adiscriminação racial, o descrédito social, os cas-tigos corporais, os tratamentos médico-experi-mentais e as brutalidades infringidas às pes-soas. O uso organizado da violência, os inter-rogatórios excessivos, a duração da detenção,o regime de detenção, o tratamento médico, ascondições materiais do detento, o isolamentocelular total vêm sendo objeto das decisõessobre a matéria.
O artigo 4 trata da escravidão, da servidão,do trabalho forçado ou obrigatório, dando des-taque para o tema da escravidão e da servidão(Convenção da OIT, concernente ao trabalhoforçado ou obrigatório, nº 29, de 28 de junhode 1930; Convenção sobre a Escravatura assi-nado em Genebra em 25 de setembro de 1926,emendada pelo Protocolo de New York de 7 dedezembro de 1953; a Convenção Suplementarsobre a Abolição da Escravatura, do Tráfico deEscravos e das Instituições e Práticas Análo-gas à Escravatura de 7 de setembro de 1956; aConvenção de New York para supressão dotratamento dos seres humanos e a exploraçãoda prostituição, de 21 de março de 1950; a Con-venção da OIT, nº 50, relativa à regulação decertos sistemas particulares de recrutamento detrabalhadores indígenas, de 21 de junho de1936).
Várias convenções internacionais têm sededicado a aspectos do tratamento dado aosseres humanos.
O artigo 5, § 1º, estabelece que toda pessoatem o direito à liberdade e à segurança, pelo

Revista de Informação Legislativa112
que não pode ser privada de sua liberdade, salvonos casos mencionados e conforme as viaslegais. Esse artigo da Convenção garante a todapessoa o direito à liberdade e à segurança,estabelecendo os casos em que as pessoaspodem ser privadas de sua liberdade. O artigo5, § 2º, estabelece que toda pessoa tem o direitode ser informada, perante a Corte, na línguaque ele compreende, com explicações sobre asua prisão e acusação.
O artigo 5, nº 3, estabelece que as pessoasdetidas nas condições previstas no parágrafo1, c, têm direito à assistência perante o juiz ouum outro magistrado habilitado pela lei a exer-cer as funções judiciárias e o direito de serjulgado de maneira razoável, com a liberdadeprocessual.
O artigo 5, 4, estabelece que toda pessoaprivada de sua liberdade, por meio de deten-ção, tem direito a um recurso perante umtribunal, onde se discute a legalidade de suadetenção, com a ordem de libertação no casode detenção ilegal. O artigo 5, nº 5, estabeleceque todas as pessoas vítimas de uma detenção,em condições contrárias as disposições do men-cionado artigo, têm direito a uma reparação.
O artigo 6 estabelece que toda pessoa tem odireito que a sua causa seja julgada de umamaneira eqüitativa, pública e razoável, por umtribunal independente e imparcial, estabelecidopor lei, que decidirá sobre os direitos e obriga-ções de caráter civil. Esse artigo tem comofinalidade a proteção dos direitos humanos edas liberdades fundamentais.
Na análise do artigo 6, convém destacar aimportância crescente da arbitragem, na regu-lamentação dos litígios do comércio interna-cional, com indagações sobre as garantias pro-cessuais contidas no artigo 6, nº 1, da Conven-ção, válido, inclusive, em matéria de arbi-tragem.
A Convenção de arbitragem, o processo dearbitragem têm levantado várias questões, noque se refere ao reconhecimento de que a arbi-tragem não representa uma renúncia absolutaà proteção judiciária estatal.
O artigo 7 determina que ninguém pode sercondenado por uma ação ou uma omissão,quando não constitui infração perante o direitonacional e o direito internacional.
O princípio da legalidade dos detidos e daspenas, na fórmula do artigo 7, exige que a açãoou a omissão constituam infração do direitonacional ou internacional, ao mesmo temporeconhece-se o princípio da não-retroatividadedas leis penais.
O artigo 8, nº 1 determina que toda pessoatem o direito ao respeito de sua vida privada efamiliar, bem como de seu domicílio e de suacorrespondência. Não é permitida a ingerên-cia de uma autoridade pública no exercício destedireito. O nº 2, estabelece que não é possível aingerência da autoridade pública no exercíciodeste direito.
O artigo 9, nº 1 reconhece a toda pessoa odireito à liberdade de pensamento, de consci-ência e religião. Já o artigo 9, nº 2, ressalta quea liberdade de manifestação da religião ou deconvicções não pode ser objeto de outras res-trições, senão aquelas previstas por lei, em casosde utilização de medidas necessárias para umasociedade democrática, promover a segurançapública, a proteção da ordem, da saúde e damoral pública ou a proteção de direitos deoutrem.
Os artigos 10, nº 2, 11, nº 2, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28 nº 1, a, b, 2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66 tratam de variada temá-tica que proclama direitos como a liberdade deexpressão; o exercício das liberdades, os deve-res e as responsabilidades; liberdade de reu-nião pacífica e de associação; exercício dessesdireitos, com apenas as restrições previstas emlei; o homem e a mulher têm direito a se casare a constituir família; os direitos e liberdadesreconhecidos pela Convenção, quando viola-dos, podem ser demandados, por recurso a umainstância nacional; os direitos e liberdades,reconhecidos na Convenção, devem ser asse-gurados, sem qualquer distinção fundada nosexo, na raça, na cor, na religião, nas opiniõespúblicas, qualquer que seja a origem nacionalou social; em caso de guerra ou de perigopúblico que ameaçe a vida da nação, as AltasPartes Contratantes podem tomar medidas quederroguem as obrigações previstas na Conven-ção; qualquer das disposições dos artigos 10,11 e 14 não podem ser considerados impedi-tivas das Altas Partes Contratantes, de imporrestrições à atividade política dos estrangeiros;as disposições da Convenção não podem serinterpretadas com restrições de um Estado,agrupamento ou indivíduo, de se livrar de ati-vidades que visam a destruição dos direitos eliberdades; as restrições da presente Conven-ção só poderão ser aplicadas nos casos previstos;
Afim de assegurar o respeito aos preceitos,por parte das Altas Partes Contratantes, a Con-venção instituiu uma Comissão Européia dos

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 113
Direitos do Homem ou uma Corte Européia dosDireitos do Homem no elenco dos artigosmencionados. Estabelece-se que a Comissãocompõe-se de um número de membros igualao das Altas Partes Contratantes, que se reúneem sessão plenária, com a criação de Câma-ras; os membros da Comissão são eleitos peloComitê de Ministros, por maioria absoluta paraum mandato de seis anos; e têm título indivi-dual; durante todo o exercício de seu mandato,não podem assumir funções incompatíveis comas exigências de independência, imparcialidadee disponibilidade inerentes a seu mandato; aParte contratante pode pertencer à Comissão,por intermédio da Secretaria Geral do Conse-lho da Europa. A Comissão pode decidir sobrerequerimentos encaminhados à SecretariaGeral do Conselho da Europa por toda pessoafísica, organização não-governamental ougrupo de particulares, que se sintam vítimasde violação por uma das Altas Partes Contra-tantes; a Comissão não pode pronunciar-sesobre recursos internos, desde que eles tenhamdecidido de acordo com os princípios interna-cionais; a Comissão não aplicará o artigo 25,quando é usado o anonimato ou tenha-se sub-metido à instância internacional.
Nos casos de recurso, a Comissão apreciaos fatos, procedendo o exame contraditório dorequerimento das partes; na aplicação do artigo25, a Comissão pode decidir, com a maioria dedois terços de seus membros; em todo momentodo processo, a Comissão pode decidir sobre umrequerimento, estabelecendo se o litígio estáresolvido; o exame do recurso não tem comofim a aplicação dos artigos 28, nº 2, 29 e 30,em que a Comissão pronuncia-se sobre umarelação de ordem estatal ou individual, em queocorre a violação de obrigações que lhe são tra-çadas em nome da Convenção; o Comitê deMinistros do Conselho da Europa, no exercí-cio de atribuição de natureza jurídica, decidesobre a questão de saber se houve ou não viola-ção da Convenção; a Comissão, nos termos daConvenção, resolve, de acordo com disposiçõesdo Regimento Interior, sobre suas audiências edeliberações; as decisões da Comissão sãotomadas pela maioria de seus membros,presentes e votantes; a Comissão reúne-sequando as circunstâncias exigerem, convocadapela Secretaria Geral do Conselho da Europa;a Comissão estabeleceu seu regulamento inter-no; o secretariado da Comissão é assessoradopela Secretaria Geral do Conselho da Europa;os membros da Corte são eleitos pela Assem-
bléia Consultiva, pela maioria das vozes queexpressam, de conformidade com as pessoasapresentadas pelos Membros do Conselho daEuropa, em que cada um pode apontar três can-didatos; os membros da Corte são eleitos paraum mandato de nove anos, sendo reeleitos; aCorte elege seu Presidente e Vice-Presidentepara um mandato de três anos, sendo reelegí-veis; os membros da Corte recebem pelo exer-cício de suas funções, fixada pelo Comitê deMinistros; para exame de cada caso, a Corte éconstituída por Câmara composta de novejuízes; somente as Altas Partes contratantes ea Comissão têm a qualificação para se apre-sentar perante a Corte; a competência da Corteestende-se a todos os assuntos concernentes àinterpretação e à aplicação da Convenção, queas Altas Partes Contratantes ou a Comissão sesubmetem, nos termos das condições previstasno artigo 48; cada uma das Altas Partes Con-tratantes pode, não importando em qualmomento, declarar reconhecido como obriga-tório, de pleno direito e sem convenção especial,a jurisdição da Corte, sobre todos os negóciosconcernentes à interpretação e à aplicação daConvenção; a Corte não pode pronunciar-sesobre assunto, após a constatação pela Comis-são de condições processuais, sobre a regulari-dade sobre certos assuntos, no prazo de trêsmeses, previstos no artigo 32; a condição que aAlta Parte Contratante assume, nos termos doartigo 48, foi modificada pelo Protocolo nº 9,artigo 5.
Em caso de contestação, em que se discutese a Corte é competente, ela própria decide; adecisão da Corte pode declarar se uma provi-dência tomada por autoridade judiciária contrauma Parte contratante, situa-se como parcial,em oposição com as obrigações decorrentes daConvenção; a decisão da Corte deve sermotivada; sendo que se o arresto não obtém aopinião unânime dos juízes, pode ocorrer a opi-nião individual; a decisão da Corte é definitiva;as Altas Partes Contratantes, como partes nolitígio, podem conformar-se às decisões daCorte, nos litígios nos quais são partes; adecisão da Corte é transmitida ao Comitê deMinistros, em grau de execução; a Corte esta-belece seu regulamento e fixa seu procedi-mento; a primeira eleição dos membros daCorte teve lugar, após as declarações das AltasPartes Contratantes, nos termos do artigo 46;toda Alta Parte contratante apresentará suademanda perante o Secretariado Geral do Con-selho da Europa; as despesas da Comissão e da

Revista de Informação Legislativa114
Corte estão a cargo do Conselho da Europa; osmembros da Comissão e da Corte, no exercíciode suas funções, gozam de imunidades previs-tas no artigo 40 do Estatuto do Conselho daEuropa; nenhuma das disposições da Conven-ção será interpretada como limitação ou aten-tado aos direitos do homem e às liberdadesfundamentais; as disposições da Convenção nãopodem atentar contra os poderes conferidos aosComitês de Ministros e ao Estatuto do Conse-lho da Europa; as Altas Partes Contratantesreconhecem, reciprocamente, salvo compro-misso especial, a prevalência dos Tratados eConvenções, existentes entre elas; todo Estado,no momento da ratificação ou em outra opor-tunidade, deve declarar, por notificação ende-reçada ao Secretariado Geral do Conselho daEuropa, que a Convenção será aplicada em seusterritórios; todo Estado, no momento da assi-natura da Convenção, na oportunidade dodepósito do instrumento de ratificação, podeformular reserva sobre certa disposição parti-cular da Convenção; a Alta Parte Contratantesó poderá denunciar a Convenção após cincoanos de entrada em vigor da mesma; a Con-venção foi aberta à assinatura dos Membros doConselho da Europa, sendo que as ratificaçõesserão depositadas na Secretaria Geral do Con-selho da Europa.
7. Os Protocolos AdicionaisO Primeiro Protocolo Adicional, com seis
artigos, estabelece que toda pessoa física oumoral tem o direito de ver respeitados seus bens,não podendo ser privado de sua propriedade,senão em caso de utilidade pública, de con-formidade com as condições previstas em lei enos princípios gerais do direito internacional.A disposição visa proteger um direto do ho-mem, de natureza econômica.
O artigo 2 protege o direito à instrução, peloque o Estado, no exercício de suas funções,deverá assumir as obrigações no domínio daeducação e do ensino, com respeito às convic-ções religiosas e filosóficas. As Altas PartesContratantes (artigo 3) devem organizar, emintervalos razoáveis, as eleições livres, comescrutínio secreto, em condições que assegu-rem a livre expressão do povo, na escolha docorpo legislativo.
Toda Alta Parte Contratante (artigo 4) pode,no momento da assinatura, ou da ratificaçãodo Protocolo Primeiro, em qualquer momento,comunicar à Secretaria Geral do Conselho da
Europa uma declaração indicando em quemedida aceita as suas disposições. As AltasPartes Contratantes, de conformidade com osartigos 1, 2, 3 e 4 do Protocolo, como dos artigosadicionais à Convenção, podem usar o processoda denunciação.
O artigo 6 do Protocolo foi aberto à assina-tura dos membros do Conselho da Europa, sig-natários da Convenção.
O Protocolo nº 2, artigos 1 a 4, estabelececritérios sobre interpretação da Convenção ede seus Protocolos. Já no artigo 5, estabeleceregras inerentes à assinatura, no que se refereà ratificação e aceitação.
O Protocolo nº 4, artigos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7,estabelece regras sobre a privação da liberda-de, em razão de execução de uma obrigaçãocontratual. No mesmo sentido estabelecenormas do direito de livre circulação e de livreescolha de residência. A não-expulsão, pormedidas individuais e coletivas, de certo terri-tório do Estado é consagrada. São proibidas asexpulsões coletivas de estrangeiros. A AltaParte Contratante pode, no momento de suaassinatura ou ratificação do Protocolo acimamencionado, comunicar ao Secretário-Geral doConselho da Europa, declaração indicando, emque medida aceita as disposições do Protocolo.Ao mesmo tempo considerar os artigos 1 a 5do Protocolo, como adicionais à Convenção.
O Protocolo nº 6, com quatro artigos, esta-belece a abolição da pena de morte; ninguémpode ser condenado a tal punição. O Protoco-lo, no artigo 5, estabelece que todo Estado, nomomento de sua assinatura ou do depósito, doinstrumento de ratificação, aceitação ou apro-vação, deve designar os territórios nos quais seaplica o Protocolo. Pelo artigo 6, os Estados-partes consideram que os artigos 1 a 5 do Pro-tocolo como adicionais à Convenção. O Proto-colo foi aberto à assinatura dos Estados-mem-bros do Conselho da Europa, signatários daConvenção, passando a entrar em vigor noprimeiro dia do mês, em que cinco Estados-membros do Conselho da Europa exprimiramseu consentimento. A Secretaria Geral do Con-selho da Europa notificaria os Estados-mem-bros do Conselho às respectivas assinaturas.
O Protocolo nº 7, nos artigos 1 a 10, tratado estrangeiro residente regularmente em umterritório do Estado e sua não-expulsão, a nãoser na execução de decisão tomada de acordocom a lei e o direito. Ao mesmo tempo, estabe-lece que toda pessoa declarada culpada, porinfração penal, por um Tribunal, terá direito

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 115
de fazer examinar a questão por uma jurisdi-ção superior, no que se refere à declaração deculpabilidade e à condenação respectiva. Sendoa condenação penal definitiva e ulteriormenteanulada, em vista de erro judiciário, a pessoasubmetida à condenação, será indenizada. Peloartigo 4, ninguém pode ser condenado oupunido penalmente, por jurisdição do mesmoEstado, em razão de infração pela qual já foiapenado, por julgamento definitivo, conformea lei e o processo penal deste Estado.
Os esposos devem obedecer a igualdade dedireitos e as responsabilidades de caráter civilentre eles e nas relações com os filhos, duranteo casamento e sua dissolução. O artigo 6 doProtocolo em questão trata dos critérios deassinatura, depósito e ratificação. Os artigos 1a 6 do Protocolo são considerados como adicio-nais à Convenção, sendo que outros Estadospodem apor suas assinaturas. O artigo 9 tratada entrada em vigor do Protocolo; ao passo queo de número 10 refere-se à assinatura, ratifica-ção e aprovação14.
8. A responsabilidade do Estado porviolação dos Direitos do Homem
O ensino do Direito Europeu parte dos pri-meiros projetos de organização européia, como estudo de diversas teorias, doutrinas e práti-cas da integração européia, com controvérsiassobre o federalismo, teorias funcionalistas, con-trovérsias sobre supranacionalidade, tratadoscomunitários e o Tratado de Maastricht sobrea União Européia, com destaque para a insti-tucionalização jurídica das ComunidadesEuropéias. Esses levantamentos, ultimamente,
têm destacado a revisão do Tratado sobre aUnião Européia, suas perspectivas e realidades,com dados sobre a Conferência intergoverna-mental de revisão do Tratado sobre a UniãoEuropéia, com questões referentes à hierarquiadas normas15.
Os novos paradigmas em Direito Interna-cional Público, o Direito Internacional daIntegração e a autonomia do Direito Interna-cional dos Direitos Humanos levam-nos àsreflexões transformadoras da sociedade con-temporânea16. As novas perspectivas do direitodas Organizações internacionais, com os deta-lhados exames dos grandes textos do DireitoComunitário e da União Européia, conduzem-nos às mais amplas reflexões sobre as trans-
14 Texto da Convenção e Protocolos: Convençãoeuropéia dos direitos do homem. Roma, 1950, emvigor depois, isto é, 1953; Texto revisado daConvenção (emendado em 1970, pelo Protocolo nº3, de 1971, pelo Protocolo nº 5, de 1990 e peloProtocolo nº 8, Protocolo nº 2, de Strasbourg, 1963(o texto do Protocolo nº 2, passou a fazer parte inte-grante da Convenção, após sua entrada ; Protocoloem vigor, em 1970; Protocolos em vigor (Protocoloadicional, Paris, 1952, em vigor, depois de 1954;Protocolo nº 4, Strasbourg, 1963, entrou em vigorem 1968; Protocolo nº 6, Strasbourg, 1983, em vigordepois de 1985; Protocolo nº 7, Strasbourg, 1984,em vigor depois de 1988; Protocolo nº 9, Strasbourg,1990, em vigor depois de 1994; Protocolos em fasede ratificação (Protocolo nº 10, Strasbourg, 1992;Protocolo nº 11, Strasbourg, 1994); Collection.Documentos européens. Droits de l’homme en droitinternacional. Les éditions du Conseil de l’Europe,textes de base, 1992.
15 GANTRON, Jean-Claude. Droit européen :Mémentos. Droit Public. Science Politique. 7. ed.Paris : Dalloz, 1995, LOUIS, Jean-Victor. L’ordrejuridique communautaire : comission das commu-nautés européennes. Perspectives Européennes. 6.ed. Bruxelas, 1993, BOULOUIS, Jean. Droit Insti-tutionnel de l’Union Européenne, 5. ed. Paris :Montchrestien, 1995, CARREAU, Dominique. DroitInternational, Etudes Internationales, Pedone, Paris,1994, DINH, Nguyen Quoc. Droit InternationalPublic. Atualização Patrick Daillier e Alain Pellet.5. ed. Paris : L. G. D. J., 1994, LÓPEZ GARRIDO,Diego. Libertades Económicas y Derechos Funda-mentales en el Sistema Comunitario Europeo .Madrid : Tecnos, 1986; GATHOT, Pierre Holleaux.La Convención de Bruxeles de 27 de septiembre1968 : competência judicial y efectos de las deci-siones en el marco de la CEE. Prólogo de BernardoM. Cremades, La Ley; CASSESE, Antônio. Losderechos humanos en el mundo contemporáneo.Barcelona : Ariel, 1993; ACKERMAN, Bruce,GALOVE, David. Is Nafta constitutional? CambridgeMassachusetts : Harvard University Press, 1995;PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o DireitoConstitucional Internacional. Prefácio de HenrySteiner. Apresentação de Antônio Augusto CançadoTrindade. São Paulo : Max Limonad, 1996.
16 DINIZ, Arthur J. Novos paradigmas emDireito Internacional Público. Porto Alegre : S. A.Fabris, 1995; MELLO, Celso D. de Albuquerque.Direito Internacional da integração. Rio de Janeiro :Renovar 1996; TRINDADE, Antônio AugustoCançado. Tratado de Direito Internacional dosdireitos humanos. Porto Alegre : S. A. Fabris 1997v. 1, ROCHA, José de Moura. Dissabores do Saber ;Comunidade Européia, Mercosul, jurisdição. Ed.Universitária, Recife : 1997. Separata do Anuáriodo Mestrado em Direito, n. 7, 1995. ANDOLINA,Italo. Ricerche sul processo. Cooperazione interna-zionale in materia giudiziaria. Dirette e Coordinateda Italo Andolina. Ordinaria di Diritto ProcessualeCivil dell’ Universitá di Catania. Catania : LibreriaEditrice Torre, 1996.

Revista de Informação Legislativa116
formações da sociedade internacional contem-porânea17, com reflexões sobre a Comissão deDireitos Humanos das Nações Unidas e a vio-lação dos direitos humanos e liberdadesfundamentais, ao lado de estudos sobre osprocedimentos públicos especiais18.
As preocupações com a redefinição dosparadigmas do Estado Constitucional Contem-porâneo, em especial o brasileiro, vêm acom-panhados das motivações em torno da reorga-nização mundial e da própria restauração doEstado e o desenvolvimento social interna-cional, com análises sobre o relacionamento dasConstituições européias com o Tratado deMaastricht, com indicativos para a integraçãoregional, na América Latina19, com diversas
perspectivas para o futuro das modernas formasintegrativas20.
As decisões das Cortes Constitucionais, emtorno do Direito Interno e do Direito Comuni-tário, têm demonstrado o crescimento e o enri-quecimento da temática dos Direitos Humanos,que são da maior importância para a renova-ção da sociedade internacional contempo-rânea21.
Essas indagações levam aos questiona-mentos acerca da responsabilidade do Estado,por violação dos direitos do homem. Vários tra-balhos dedicam-se à análise da ConvençãoEuropéia de Direitos do Homem, com objetivode análise do texto, do mecanismo estabelecidoe da jurisprudência de seus órgãos. Algunsdesses trabalhos têm promovido comparaçõesdos princípios que inspiraram a Comissão e aCorte Européia dos Direitos do Homem, com aCorte Interamericana, no que se refere à impu-tação das violações atribuídas ao Estado, tendoem vista as regras estabelecidas em matéria deresponsabilidade pela Comissão de DireitoInternacional das Nações Unidas. O tema daresponsabilidade dos Estados por violação dasobrigações internacionais é de grande impor-tância. A Comissão já produziu a primeira
17 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado.Direito das organizações internacionais. Brasília :Escopo, 1990; SEITENFUS, Ricardo. Manual dasorganizações internacionais. Porto Alegre : Livrariado Advogado, 1997; DUBOUIS, Louis, GUEYDAN,Claude. Grandes textes de droit communautaire etde l’Union Européenne. 4. ed. Paris : Dalloz, 1996.
18 ESCOBAR HERNÁNDEZ, Concepción. LaComision de Derechos Humanos de NacionesUnidas y la Violacion de Derechos Humanos yLibertades Fundamentales : estudio de los procedi-mentos públicos especiales. Madrid, 1988, 3. v.BUERGENTHAL, Thomas. SHELTON, Dinah.Protecting Human Rights in the Americas. cases andmaterials. 4. ed. Strasbourg : International Instituteof Human Rights, 1995, HABA, Enrique P. TratadoBasico de Derechos Humanos. I. Conceptos funda-mentales, con especial referencia al Derecho Consti-tucional latinoamericano y al Derecho Internacional.San José, Costa Rica : Editorial Juriscentro, 1986.
19 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Podermunicipal : paradigmas para o estado constitucionalbrasileiro. Belo Horizonte : Del Rey 1997; LARÉORGANISATION mondiale des échangesproblèmes juridiques: Société Française pour leDroit Internacional : Coloque de Nice. Paris : A.Pedone 1996; LES NATIONS Unies et la restau-ration de l’Etat : Rencontres internationales del’Institut d’E’tudes Politiques d’Aix En Provence :Coloque des 16 et 17 décembre, 1994. Sob a Direçãode Yves Daudet. Paris : Editions Padone 1995; LESNATIONS Unies et le développement social inter-national : Coloque des 16 e 17 de fevereiro de 1996.Sob a direção de Yves Daudet. Paris : A. Pedone1996; MIRANDA, Jorge. O Tratado de Maastrichte a Constituição portuguesa. Revista do TribunalRegional Federal, 1ª Região, Brasília, v. 8, n. 3, p.17, jun./set. 1996; Tribunal Regional Federal, 1ªRegião, MELLO. Soberania estatal e organizaçãojudiciária em zonas de integração econômica :cursos de pós-graduação em Direito. UniversidadeGama Filho, 1994.
20 ALBUQUERQUE MELLO. Direito Interna-cional americano : estudo sobre a contribuição deum direito regional para a integração econômica.Rio de Janeiro : Renovar 1995; Idem. Direito Cons-titucional Internacional : uma introdução : Consti-tuição de 1988 revista em 1994. Rio de Janeiro :Renovar 1994; VENTURA, Deisy de Freitas Lima.A ordem jurídica do Mercosul. Porto Alegre :Livraria do Advogado 1996; ANDRADE, Maria InêsChaves. A plataforma constitucional brasileira.Belo Horizonte : Del Rey 1995; CLERGERIE, Jean-Louis. Le principe de subsidiarité. Paris : Ellipses1997: Le Droit en questions; DIREITO & Mercosul :cursos de pós-graduação em Direito - UFPR. RevistaDireito e Mercosul, Curitiba, v. 1, n. 1, 1.996;QUADROS, Fausto. O princípio da subsidiariedadeno Direito Comunitário após o Tratado da UniãoEuropéia . Coimbra : Almedina 1955; SILVA,Roberto Luiz. O Direito Econômico Internacionale o Direito Comunitário. Belo Horizonte : Del Rey1995; UNA CARTA Social del Mercosul? Trabajosde la Jornada Técnica sobre la Carta de DerechosFundamentales en Materia Laboral del Mercosur,Relasur, 1994.
21 CORTE Costituzionale. La Corte Costituzio-nale Tra Diritto Interno e Diritto Comunitario.Seminário ocorrido em Roma, 15 e 16 de outubrode 1990. Milão : Dott. A. Giuffrè 1991; Direção dePhilippe Manin. La Révision du Traité sur l’UnionEuropéenne Perspectives et Réalités. Paris : A.Pedone 1996.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 117
orientação a partir de 1980, com o Projeto sobrea origem da responsabilidade, tendo em vistaos trabalhos do Professor Roberto Ago. Nessasdiscussões surgiram vários impasses sobre aconfusão entre regras de responsabilidade, acondição dos estrangeiros, em decorrência dasviolações e da responsabilidade. A responsabi-lidade internacional responde de maneirasatisfatória aos aspectos de um sistema jurídicovinculado ao direito internacional, no qual éindispensável que o Estado responda por todosos seus atos, decorrentes das atividades de seusórgãos, configurando-se atos que violam umaobrigação internacional. O artigo 5 do Projetoda Comissão de Direito Internacional sobre aresponsabilidade dos Estados, dedicou-se àmatéria, sendo que a Corte Interamericana dosDireitos do Homem reconheceu esse princípiona questão Velásquez Rodríguez.
Certas considerações gerais, que examinamas ordens jurídicas internas dos Estados euro-peus, no que concerne à teoria da separaçãodos poderes, têm apreciado as atribuições do
22 DIPLA, Haritini. La responsabilité de l’étatpour violation des droits de l’homme : problémesd’imputation. Com avant-propos de Nicolas Valticose Préface de Luigi Condorelli. Paris : A. Pedone1994.
Estado, por intermédio dos órgãos que reali-zam atos do Poder Legislativo, atos do PoderExecutivo e atos do órgãos judiciários, relacio-nando-os com a teoria da responsabilidade.Nesses estudos têm ocorrido a distinção entreatos de jure gestionis e jure imperii, para a con-figuração da responsabilidade do Estado.
Os atos dos particulares são tratados noartigo 11 do Projeto da Comissão de DireitoInternacional, no que se refere aos atentadosdos direitos do homem. Também os órgãos defato são examinados perante os direitos dohomem.
A imputação do Estado por atos de outrossujeitos do direito internacional leva a diver-sas indagações sobre os atos de um Estadoestrangeiro, as imputações e atividades dasorganizações internacionais, bem como sobreas atividades ilícitas dos organismos interna-cionais clássicos. É nesse sentido que a Comis-são de Direito Internacional formulou regrassobre a imputação dos estados em matéria dedireitos do homem22.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 119
1. IntroduçãoEste artigo é a base de um trabalho apre-
sentado em seminário promovido pelo Tribu-nal de Contas do Estado do Paraná sobre audi-torias ambientais. As auditorias ambientais sãoum instrumento jurídico gerencial que, indis-cutivelmente, está vocacionado para dominartodo o cenário jurídico ambiental na próximadécada. O motivo para que assim seja é muitosimples: em meio ambiente, também, preveniré melhor do que remediar.
O desenvolvimento das práticas de audito-ria, efetivamente, tem ocorrido em função daredescoberta desse velho ditado popular. Atu-almente, aqueles que militam na área da prote-ção ambiental sabem, por experiências doloro-sas, que a grande limitação apresentada peloDireito Ambiental deriva do fato de que ele age,fundamentalmente, como instrumento de repa-ração de danos; isto é, a sua atuação básica estávoltada para o momento após o dano. É lógico,no entanto, que existe todo um conjunto denormas e princípios voltados para a prevenção1
de danos. Tal fato, entretanto, não é suficientepara descaracterizar o aspecto de sanção a pos-teriori que está amplamente presente no Direi-to Ambiental. O Presidente do importante En-vioronmental Law Institute – ELI, J. William
Auditorias ambientais: competênciaslegislativas
PAULO DE BESSA ANTUNES
Paulo de Bessa Antunes é chefe da assessoriajurídica da Secretaria de Estado de Meio Ambientedo Estado do Rio de Janeiro, Procurador Regionalda República, Mestre em Direito (PUC/RJ) e Dou-torando em Direito (UERJ).
SUMÁRIO
1. Introdução. 2. Auditoria ambiental: defini-ção. 3. A auditoria ambiental é norma de DireitoAmbiental? 4. Auditoria ambiental: competência le-gislativa. 5. O papel dos tribunais de contas.
1 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambien-tal. Rio de Janeiro : Lumem Juris, 1996. p. 21 esegs.

Revista de Informação Legislativa120
Futrell2, afirmou que:“Já alcançamos nos Estados Unidos
tudo o que era possível no âmbito de umdireito que trata dos impactos depois dofato ocorrido. Do começo do século atéhoje o Direito Ambiental tem sido umdireito de reação (...)”.
A mudança de perspectiva, isto é, a trans-formação do Direito Ambiental de um direitode reação para um direito de promoção, emgrande medida, será definida pelo desenvolvi-mento que o Instituto das auditorias ambien-tais tiver. Felizmente, no caso particular, nósainda temos a possibilidade de moldá-lo de for-ma que ele seja capaz de corresponder às imen-sas esperanças que nele são depositadas. Nãopodemos transformar as auditorias ambientaisem mais um instrumento burocrático e ambi-entalmente irrelevante.
2. Auditoria ambiental: definiçãoO primeiro e mais importante passo para
que possamos definir as competências legisla-tivas em matéria de auditoria ambiental é o es-tabelecimento de sua definição. Em seguida,faz-se necessário que saibamos claramente qualé o objetivo que esperamos alcançar com as au-ditorias ambientais. Sem uma correta compre-ensão desses dois aspectos, lamento dizer, asauditorias ambientais limitar-se-ão a reprodu-zir mais uma rotina administrativa e cartorial.
As auditorias ambientais são uma seqüên-cia de auditorias de qualidade utilizadas pelaindústria e outros setores empresariais que bus-cam uma certificação da gestão de qualidadeda empresa. Conforme a correta afirmação deJones3:
“Não existe definição universalmen-te aceita de auditoria ambiental. A ativi-dade, portanto, significa coisas diferen-tes para pessoas diferentes, existindoconsiderável confusão acerca do seu re-lacionamento com tópicos como avalia-ção ambiental, avaliação de impacto am-biental, análise ambiental, análise do ci-clo de vida e rotulagem ambiental. Todaessa confusão é desnecessária, no entan-to, se nos lembrarmos que auditoria am-biental é simplesmente outro processo de
verificação concebido para confirmar seas diretrizes de uma empresa em relaçãoao meio ambiente, e todos os procedi-mentos e regulamentos aplicáveis sãocumpridos (...)”.
Dada a existência da dificuldade conceptu-al acima apontada, necessária se faz uma bre-víssima incursão no Direito Comparado paraque o assunto possa ser tratado de forma ade-quada.
Nos Estados Unidos, em 1986, foi publica-do o Environmental Auditing Police Statementque tem por objetivo incentivar indústrias eórgãos públicos a realizar processos de audito-ria ambiental. Em 1990, o Congresso norte-americano rejeitou proposta de emenda ao Cle-an Air Act, que determinava a realização obri-gatória de auditorias ambientais. As auditori-as, portanto, são voluntárias. Heliana Vilela deOliveira e Silva4 afirma que:
“Em abril de 1995, procurando in-centivar as empresas a apresentar aosórgãos ambientais as não-conformidadesdetectadas no processo de AA5 e a saná-las, a EPA publicou o Voluntary Envi-ronmental Self-Policing and Self Disclo-sure Interim Policy Statement, cujo teorespecifica: ‘toda empresa que, volunta-riamente, identificar, apresentar e cor-rigir violações ambientais encontradasdurante o processo de AA, será comple-tamente eliminada de penalidades ba-seadas em escalas de gravidade, desdeque estejam em consonância com as con-dições indicadas no relatório’”.
Igualmente, no Canadá, a auditoria ambi-ental é um processo voluntário. Segundo a au-tora recém-citada,
“(...) a AA se baseia, principalmen-te, na política interna, no sistema de ges-tão da empresa e na avaliação do poten-cial de riscos. Compete ao governo, comoestimulador da AA, o papel de dar su-porte às empresas através de conferênci-as, workshops, apoio àqueles que quei-ram implantá-la e endosso público paraas que já adotam”.
Trata-se, portanto, de um instrumento volun-tário, incentivado e apoiado pelo governo ca-nadense. Vale notar que, em 1992, a Canadian
2 FUTRELL, J. William. Direito Ambiental :novos caminhos nos Estados Unidos. Revista deDireito Ambiental, n. 1, p. 10, jan./mar. 1996.
3 JONES, David G. Auditoria ambiental. Rio deJaneiro : UERJ : PROENCO, 1997. p. 1-3
4 SILVA, Heliana Vilela de Oliveira. Auditoriade estudo de impacto ambiental. Rio de Janeiro :COPPE, UFRJ, 1996. p. 120. Dissertação (Mestra-do) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1996.
5 AA – Auditoria Ambiental.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 121
Standards Association deu início à elaboraçãode um plano federal de auxílio às empresas quedesejem promover auditorias ambientais.
No Reino Unido, está em vigor a norma BS7750 que, igualmente, é de aplicação voluntá-ria para as empresas. Na França, existe a nor-ma NF X30-200 que, assim como as demais,estabelece um sistema voluntário de auditoriasambientais. A Comunidade Européia estabele-ceu o Environmental Management and AuditScheme – EMAS que, como os demais, estabe-lece o critério de voluntariedade para as audi-torias ambientais. É desnecessário falar da sé-rie ISO 14000, pois tais normas, ainda que ex-tremamente importantes, não integram o uni-verso jurídico estatal que, no momento, é oobjeto de nosso interesse.
Podemos dizer, diante da experiência inter-nacional, que as auditorias ambientais são ins-trumentos voluntários de gestão ambiental quepermitem verificar a compatibilidade da ativi-dade empresarial com a melhoria constante dospadrões ambientais e com o atendimento dasnormas aplicáveis.
3. A auditoria ambiental é norma deDireito Ambiental?
Uma questão que não pode passar em bran-co neste trabalho é aquela que diz respeito àlocalização das auditorias ambientais no pró-prio Direito Ambiental. Com efeito, a audito-ria ambiental, como foi visto acima, é um ins-trumento de gestão ambiental e não pode serconsiderada como um instrumento de controleambiental. A diferença entre um e outro estáno fato de que, na auditoria, não é estabelecidaqualquer norma a ser seguida. O que se buscaé o conhecimento de se as normas existentesestão sendo observadas pelo empreendedor6, emais: se a empresa possui uma política ambi-ental, se a empresa é capaz de melhorar o seudesempenho ambiental constantemente. Esseselementos, em minha opinião, fazem com quea auditoria ambiental não seja vista, apenas,como uma análise momentânea da vida de umaempresa, mas, ao contrário, seja o coroamentode um processo de aperfeiçoamento de méto-dos de gestão ambiental.
Foi na linha da definição acima que a Co-missão Européia estabeleceu o seu conceito deauditoria ambiental. Em assim sendo, a defini-ção dada pela Comissão Européia ao tema foi
a seguinte:“(...) uma ferramenta gerencial com-
preendendo avaliação sistemática, docu-mentada, periódica e objetiva do desem-penho de organizações, gerências e equi-pamentos com o objetivo de contribuirpara salvaguardar o meio ambiente, fa-cilitando o controle gerencial de práti-cas ambientais, e avaliando o cumpri-mento de diretrizes da empresa, o que in-cluiria o atendimento das exigências deórgãos reguladores e normas aplicáveis”.
4. Auditoria ambiental: competência legislativaApós esta longa introdução, necessário se
faz que seja abordado o cerne desta nossa in-tervenção que é a competência legislativa paraestabelecer normas de auditoria ambiental. Aquestão é árdua e tem sido pouco abordada pe-los juristas brasileiros. Como se sabe, a com-petência para legislar sobre meio ambiente estáestabelecida pelo artigo 24 da ConstituiçãoFederal. Essa competência é concorrente entrea União, os Estados e o Distrito Federal7. Nocaso a competência concorrente é não-cumu-lativa, pois a própria Carta Magna estabeleceulimites precisos para a intervenção dos Esta-dos na matéria, como se verá. De fato, a hipó-tese em tela é exatamente aquela mencionadapor Cretella Jr8, que a define
“quando o poder legislativo central podeeditar normas até determinado nível, fa-cultando-se ao Estado-membro a com-plementação da norma já editada”.
Efetivamente, na hipótese, a Lei Federal sobrenormas gerais já existe e foi recepcionada pelaConstituição de 88. Tal lei é a Lei nº 6.938/819.Segundo a lição de Pinto Ferreira10: “É a regrado Direito Alemão. (...) O direito federal que-bra ou prima sobre o direito estadual”.
Deve ser observado que a Lei nº 6.938/81,que estabeleceu a Política Nacional do MeioAmbiente, em seu artigo 9º, não tratou das au-ditorias ambientais. Como é do conhecimentode todos, é naquele artigo que estão definidos
6 Auditoria de conformidade legal.
7 CF art. 24, VI, VII e VIII.8 CRETELLA JR, José. Comentários à Consti-
tuição de 1988 : artigos 23 a 37. Rio de Janeiro :Forense Universitária, 1991. v. 4. p. 1777.
9 A propósito veja: SILVA, José Afonso da. Di-reito Ambiental Constitucional. São Paulo : Malhei-ros, 1994. p. 143 e segs.
10 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constitui-ção brasileira : artigos 22 a 53. São Paulo : Sarai-va. 1990. v. 2, p. 115.

Revista de Informação Legislativa122
os instrumentos da Política Nacional do MeioAmbiente. Dessa forma, para o Direito brasi-leiro, a auditoria ambiental não é um instru-mento da Política Nacional do Meio Ambiente(PNMA). Penso que a lista estabelecida no ar-tigo 9º é taxativa e não meramente exemplifi-cativa. Existe ali uma relação que se constituiem numerus clausus. Somente uma norma dehierarquia igual ou superior àquela da Lei nº6.938/81 pode estabelecer uma alteração nosinstrumentos da PNMA.
Penso que a Lei nº 6.938/81 preenche per-feitamente os requisitos estabelecidos pelo ar-tigo 24 e seus parágrafos da Constituição Fe-deral. Não há dúvida de que a Lei nº 6.938/81é uma lei que estabelece normas gerais de pro-teção ao meio ambiente e, no particular, defineos instrumentos legais e administrativos capa-zes de tornar efetiva a proteção ambiental emnosso País. A Lei nº 6.938/81 é norma geralporque não se confunde com uma simples leifederal aplicável apenas pela União. Ela, defato, é uma lei nacional, pois estabelece um sis-tema nacional do meio ambiente. Esse siste-ma, composto por órgãos federais, estaduais emunicipais, tem por objetivo ações integradasde proteção ao meio ambiente em todo o País.Dentro do mesmo sistema, cada um dos inte-grantes tem a possibilidade de aplicar as nor-mas gerais, válidas para todos, de forma a aten-der às suas peculiaridades locais. Entretanto,não é facultado aos integrantes do sistema, emrazão do regime constitucional, a criação deinstrumentos diferentes daqueles previstos paraa totalidade da nação.
A autonomia estadual e municipal se mate-rializa na livre aplicação dos instrumentos na-cionalmente reconhecidos. Aliás, o teor do §3º do artigo 24 da Constituição é bastante cla-ro: mesmo na inexistência de lei federal sobrenormas gerais, os Estados-membros somentepoderão exercer as suas competências legisla-tivas plenas para “atender a suas peculiarida-des”. Com o devido respeito que os legislado-res estaduais merecem, não consigo perceberque o estabelecimento de leis estaduais sobreauditorias ambientais, na inexistência do ins-trumento em nível federal, tenha a função deatender a peculiaridades regionais. Admite-se,perfeitamente, que uma legislação especial so-bre o pantanal, sobre a caatinga, para a prote-ção dos pinheirais etc., possa prever mecanis-mos especiais de auditoria, com vistas a ummaior conhecimento técnico-científico e, por-tanto, para a maior proteção de ecossistemas
frágeis ou ameaçados. Positivamente, não édisso que se trata.
Ora, parece-me, portanto, que a auditoriaambiental é um instrumento de gestão que so-mente poderá ser introduzido em nosso Orde-namento Jurídico pelo caminho da legislaçãofederal. Entretanto, a realidade é que váriosEstados têm legislado sobre a matéria. No casodo Estado do Rio de Janeiro existe, inclusive,previsão constitucional11 sobre a matéria. Pen-so, entretanto, que dificilmente se possa afir-mar, com tranqüilidade, a constitucionalidadedo dispositivo, vez que no nível da legislaçãogeral (federal) o instrumento é inexistente. Issonão impede, contudo, que as empresas reali-zem auditorias ambientais. Impede, parece-me,que a auditoria ambiental seja exigida peloEstado.
A matéria, entretanto, tem sido pouco tra-tada pelos doutrinadores. O próprio ProfessorPaulo Affonso Leme Machado12 não enfrentouas questões referentes à constitucionalidade dasleis estaduais sobre o tema, limitando-se a afir-mar que a lei municipal de Vitória sobre audi-toria ambiental “está plenamente dentro daautonomia constitucional do município”.
A Lei estadual (Rio de Janeiro) nº 1.898,de 26 de novembro de 1991, possui um errofundamental de concepção, que é o de se colo-car como um instrumento de fiscalização am-biental e não como um instrumento de gestão.O melhor exemplo da concepção punitiva podeser encontrado no artigo 6º da mencionada lei,que determina:
“Sempre que constatadas quaisquerinfrações, deverão ser realizadas audito-rias trimestrais até a correção das irre-gularidades, independentemente da apli-cação de penalidades administrativas”.
Na prática, o artigo tende a criar uma re-sistência nas empresas que somente com mui-ta dificuldade pode ser superada. Se a lei, aocontrário, tivesse estabelecido estímulos paraa realização das auditorias ambientais, a suaimplementação seria muito mais fácil e a leiseria, evidentemente, eficiente. Tal não é o casodo Estado do Rio de Janeiro.
Existe em tramitação no Congresso Nacio-nal o Projeto de Lei nº 3.160/92, que visa esta-belecer o instituto da auditoria ambiental emnosso sistema jurídico normativo. A aprova-
11 Art. 258, § 1º, XI.12 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito
Ambiental brasileiro. 5. ed. São Paulo : Malheiros,p. 197-211.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 123
ção do projeto de lei, em minha opinião, terá omérito de reconduzir a legislação estadual oraexistente aos trilhos da constitucionalidade,desde que a mesma não seja revogada.
5. Papel dos Tribunais de ContasA Constituição Federal, em seu artigo 70,
determina que é da competência do CongressoNacional a “fiscalização contábil, financeira,orçamentária, operacional e patrimonial daUnião e das entidades da administração diretae indireta, quanto à legalidade, legitimidade,economicidade, aplicação das subvenções e re-núncia de receitas”, mediante o controle exter-no. Tal controle externo, nos termos do artigo71 da CF, é realizado pelo Tribunal de Contasda União. O princípio estabelecido na Lei Fun-damental tem aplicação para todos os integran-tes de nossa federação.
O sentido que, até aqui, foi conferido aoconjunto de competências e atribuições dos Tri-bunais de Contas tem sido restrito aos aspectospuramente contábeis e financeiros.
Há que se considerar, contudo, que a Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, que
“regulamenta o artigo 37, inciso XXI daConstituição Federal, institui normaspara licitações e contratos da adminis-tração pública e dá outras providências”.
Em seu artigo 12, VIII determina que:“nos projetos básicos e projetos executi-vos de obras e serviços serão considera-dos principalmente os seguintes requisi-tos: (...) VIII – impacto ambiental”.
O dispositivo legal recém-mencionado de-monstra que os Tribunais de Contas, sempreque examinem aspectos de processos licitató-rios concernentes a obras públicas e interven-ções físicas no meio ambiente, não devem dei-xar passar despercebidos os impactos ambien-tais deles resultantes. O Tribunal, evidentemen-te, não tem competência para examinar a ma-téria ambiental em si mesma. Todavia possuicompetência para examinar o contrato entre aAdministração e o contratado e para verificarse o mesmo está de acordo com a legislaçãoambiental, naquilo que diz respeito à adequa-da avaliação do impacto ambiental. Ainda den-tro do campo das atribuições específicas dosTribunais de Contas, especialmente daquelastipificadas no artigo 41, IV da Lei nº 8.443, de16 de julho de 1992, há que se verificar a con-formidade da concessão de empréstimos e fi-nanciamentos com o disposto no Decreto nº
99.274, de 6 de junho de 1990, que determina:“as entidades governamentais de finan-ciamento ou gestoras de incentivos con-dicionarão a sua concessão à comprova-ção do licenciamento previsto neste De-creto”.
Veja-se que, no caso, a Corte de Contas podeefetivamente participar dos mecanismos decontrole ambiental de forma bastante eficien-te. Há que se considerar, contudo, que os Tri-bunais de Contas, para o bom desempenho des-se aspecto peculiar de suas competências, devepromover um novo tipo de capacitação profis-sional de seus quadros, do qual resultará umamaior familiaridade com as normas ambien-tais, sua compreensão e aplicação.
Naquilo que diz respeito à competência es-pecífica à realização, pelos Tribunais de Con-tas, das auditorias de procedimento13, não é lí-cito que se afaste, liminarmente, a análise deconformidade com a legislação ambiental. Esseprovavelmente é o aspecto no qual a atuaçãodas Cortes de Contas, em matéria ambiental,pode se desenvolver mais. Com efeito, não ra-ras vezes, os órgãos ambientais têm lutado comenormes dificuldades para fazer com que osdemais órgãos administrativos cumpram assuas obrigações para com a legislação ambien-tal. Com freqüência, as exigências ambientais,impostas aos particulares, não são cumpridaspela própria Administração. Ora, tal fato im-plica, ipso iure, em uma desconformidade ope-racional com as normas legais de proteção aomeio ambiente.
O Tribunal, devido à sua própria natureza,tem instrumentos muito mais eficientes do queaqueles que estão à disposição dos órgãos am-bientais para impor à própria Administração ocumprimento de normas de proteção ao meioambiente.
Outro aspecto que, em meu ponto de vista,pode ser melhor desenvolvido é aquele em queos Tribunais de Contas ajam como controlado-res dos próprios órgãos ambientais. De fato, ébastante comum que distorções orçamentáriase/ou operacionais impliquem na paralisação oudiminuição de qualidade da atuação das agên-cias de controle ambiental. Orçamentos maldimensionados ou mal executados, orçamen-tos voltados para as atividades meio e não paraas atividades-fim, são fatores altamente noci-vos para a sadia qualidade do meio ambiente.Enfim, as medidas que vêm a ser menciona-das, em meu entendimento, são auditorias que
13 Lei nº 8.443/92, artigo 38, I.

Revista de Informação Legislativa124
BibliografiaANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio
de Janeiro : Lumem juris, 1996.CRETELLA JR., José. Comentários à Constituição
de 1988 : artigos 23 a 37. Rio de Janeiro : Fo-rense Universitária, 1991. v. 4.
FUTRELL, J. William. Direito Ambiental : novos
estão, perfeitamente, enquadradas nas atribui-ções constitucionais e legais dos Tribunais deContas e que, se bem implementadas, podemredundar em um expressivo aprimoramento daqualidade ambiental em nosso País.
caminhos nos Estados Unidos. Revista de Di-reito Ambiental, n. 1, jan./mar. 1996.
JONES, David G. Auditoria Ambiental. Rio de Ja-neiro : UERJ, PROENCO, 1997.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambi-ental brasileiro. 5. ed. São Paulo : Malheiros.
FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituiçãobrasileira : artigos 22 a 53. São Paulo: Saraiva,1990. v. 2.
SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Consti-tucional. São Paulo : Malheiros, 1994.
SILVA, Heliana Vilela de Oliveira. Auditoria deestudo de impacto ambiental. Rio de Janeiro :COPPE, UFRJ, 1996. Dissertação (Mestrado)— Universidade Federal do Rio de Janeiro,1996.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 125
1. O influxo pombalinoNo que pese Sebastião José de Carvalho e
Melo (1799-1846), Conde de Oeiras, títulorecebido em 1759, após o famoso Processo dosTávoras, e mais tarde Marquês de Pombal, tersido acusado por Dona Maria I (1734-1777)como vendetta, sendo-lhe imputada toda aresponsabilidade coletiva por causa doestribilho “foi o Rei quem mandou”, quandoMinistro de Dom José I (1714-1777), numasoberania conhecida como “Tábua Rasa”,segundo a classificação de João Ameal, em suaHistória de Portugal : das origens até 16401,sem nenhuma dúvida ou má interpretação, aoMarquês já era reservado, pelo registro dosfatos, um lugar de grande estadista, por ter,como é do conhecimento histórico, sabiamentereerguido Lisboa, parcialmente soterrada peloterremoto de 1755, com o ouro das nossasMinas Gerais e com o lucro da CompanhiaGeral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão,idealizada por ele próprio sob a orientação docapitalista José Francisco da Cruz, com umcapital de cem milhões e duzentos mil cruzados.
“Pombal, que em tudo se revelou um políticode pulso e grande protetor do Maranhão”, fezferrenha oposição aos discípulos de Loyola.
“Os religiosos apelaram para o Rei,mas a verdade é que Pombal venceu, e aProvíncia, antes abandonada, começou
Pombal e o Positivismo comoindicadores de influência
FERNANDO BRAGA
Fernando Braga é Advogado e Professoruniversitário.
SUMÁRIO
1. O influxo pombalino. 2. O apostoladopositivista. 2.1. Histórico. 2.2. Doutrina. 2.3. Aindução no Brasil. 2.4. Conseqüências teóricas. 2.5.Os precursores. 3. Conclusão.
1 Op. cit., p. 473.

Revista de Informação Legislativa126
a prosperar (...), pois de logo se verificou,com as medidas adotadas, o crescenteimpulso da exportação maranhense (...).Com tais medidas e o braço escravo, maiseficiente que o indígena, e a fase darevolução industrial na Europa, a vastaProvíncia nortista (o Maranhão) cresceuem franca prosperidade”.
Quem assim nos conta em belíssima narrativaé o escritor maranhense Astolfo Serra2.
Sobre as reformas pombalinas, Antônio JoséSaraiva, em História da Literatura Portuguesa,assim comenta3:
“Dom José, um déspota esclarecido,inspirou as reformas do Marquês dePombal. É sob esse Ministro que cessa aperseguição dos cristãos-novos e termi-nam os autos-de-fé e que são expulsosde Portugal os jesuítas em 1759, que tãoabsorventemente tinham dominado oEstado, e sobretudo a educação. A grandeburguesia mercantil e colonialistainspira esta política, que após doisséculos de segregação coloca de novoPortugal no nível dos povos da EuropaOcidental”.
Se por um lado Pombal se valia de arbitra-riedades, como escrevem alguns historia-dores – perpetradas na própria Casa RealPortuguesa –, por outro, usava a eqüidade e ajustiça, como neste excerto de uma carta doMarquês endereçada ao seu sobrinho, Joaquimde Melo e Póvoas (1761-1779), quando esteassumiu o Governo do Maranhão, a qual foitranscrita na íntegra por Augusto CésarMarques4.
“(...) A justiça e a paz, com que V.Exa. o governa, o farão igualmentebenquisto e respeitado, porque, com umae outra coisa, se sustenta a saúde pública.Engana-se quem entende que o temorcom que faz obedecer é mais convenientedo que a benignidade com que se fazamar; pois a razão natural ensina que aobediência forçada é violenta e avoluntária, segura (...)”.
Sendo “o homem o principal objeto dopensamento filosófico numa operação viva, cujoprogresso é real sem ser, entretanto, linear e,sobretudo, sem nunca estar acabado”, segundo
Lucien Goldmann5, levou-nos à meditação deque o atavismo que Carvalho e Melo legou àformação política do Brasil, prendeu-se,frontalmente, ao autoritarismo, como se podeobservar em estudos mais densos de algunsprecursores do Positivismo entre nós que,ilustrados pela doutrina de Comte6, chegarame se manifestaram no poder com o mesmo rançoque o Marquês exalava, ficando, portanto, àanálise do tempo, se déspotas ou liberais, semártires ou santos, mas aureolados peloiluminismo superior.
A obra de Auguste Comte apresenta trêscaracterísticas: uma filosofia da história dopensamento humano; uma fundamentação eclassificação das ciências e, por fim, umasociologia ou simplesmente uma doutrina dasociedade.
2. O apostolado positivista
2.1. Histórico
O Positivismo é uma escola filosófica,chamada tempos depois de Filosofia Científica,fundada por Isidore Auguste Marie FrançoisXavier Comte (1798-1857), caracterizada pelarevolta antimetafísica. As idéias do filósofofrancês surgiram de reflexões tendo por panode fundo a ciência e a filosofia do século XIX,convicto de que “só a ciência pode ir penetrandoos aspectos do mundo acessíveis à experiência”.
A ação do Positivismo lançava-se contra aposição filosófica de base espiritualista. Nessafase, no Brasil, as representações principaiseram frei Francisco de Mont’Alverne,Domingos Gonçalves de Magalhães, EduardoFerreira França, Padre Patrício Muniz, Sorianode Sousa e Pedro Américo de Melo.
Outros apóstolos do Positivismo foramMiguel Lemos, que era líder do culto a Comte,e Clotilde des Vaux (com quem Comte dividiaa sua filosofia, e, dizem, o seu amor). MiguelLemos desenvolvia sua devoção sempre ao ladode Raimundo Teixeira Mendes, maranhense dacidade de Caxias, cuja fidelidade às idéiascomtianas são profundas e comovedoras. Forameles os idealizadores da Bandeira da República,a qual tem o dístico positivista “Ordem eProgresso”.
2 A Balaiada. Rio de Janeiro : Biblioteca Militar,1946.
3 Op. cit., p.137-8.4 Dicionário histórico e geográfico da província
do Maranhão. Rio de Janeiro : Fon-Fon, 1972.
5 Dialética e cultura. Rio de Janeiro : Paz eTerra, 1967.
6 Autor de Cours de philosophie positive, 1830-1842. 6 v.; Sistème de politique positive, 1851-1854.4 v.; Discours sur l’esprit positif, 1844; Cathécismepositiviste, 1852 e Appel aux conservateurs, 1855.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 127
Como ilustres seguidores, destacam-seainda Lauro Sodré, no Pará; Barbosa Lima, emPernambuco, e João Pinheiro, em Minas Gerais.
2.2. DoutrinaOs estudiosos dizem que
“a filosofia política positivista baseia-seno pressuposto de que a sociedadehumana caminha inexoravelmente rumoà estruturação racional. Esta convicçãoe os meios necessários para a suarealização são alcançados mediante ocultivo da Ciência Social. Ante talformulação, são possíveis duas alter-nativas: ou empenhar-se na educação dosespíritos, para que o regime positivo seinstaure como fruto de um esclareci-mento, ou simplesmente impor a organi-zação positiva da sociedade por parte daminoria esclarecida. Sustentou a pri-meira atitude, principalmente, PereiraBarreto, o que corresponde ao chamadopositivismo ilustrado; a segunda foi aalternativa de Júlio de Castilhos e foi aversão de inspiração que prevaleceu,cujas repercussões se fazem sentir aindahoje”.
Dizia a Filosofia Positivista que“o espírito humano atravessa três estadosteóricos e distintos – o teológico, ometafísico e o positivo, que, de resto, sãotrês métodos diferentes da busca doconhecimento –, o positivismo interpretao primeiro deles como a infância dahumanidade; o segundo, de transição, écaracterizado pelo espírito de crítica; e oterceiro, finalmente, utilizando processospróprios e científicos, representa a idademadura da humanidade e inaugura umperíodo fixo e definitivo”.
2.3. A indução no BrasilNo final do século XIX e início do século
XX a admiração pela doutrina comtiana e pelopróprio filósofo no Brasil, tinha, de certo modo,o mesmo fascínio que Aristóteles despertavana culta Grécia.
O ambiente universitário em São Paulo eraagitadíssimo, apesar dos ditames conservadoresvindos da Universidade Imperial. Os estudantessuperiores paulistanos e de Recife jogavam-seàs novas correntes de pensamento; encontravamrespaldo entre eles as idéias do materialismo edo positivismo. “No Brasil, a questão religiosaabriu uma brecha entre os bispos e o poder civil,
assim como entre a Maçonaria e a Igreja,estimulando, dessa forma, a difusão doagnosticismo e do ateísmo”. A correnteabolicionista fortificava-se e punha em perigoa estrutura semifeudal da economia agrária,segundo alguns autores, e a propagandarepublicana mais crescia.
As discussões entre católicos e livrespensadores eram constantes, e os poetas, quasetodos acadêmicos, rompiam com as doutrinasromânticas, dando passagem ao realismo naprosa e ao parnasianismo no verso, e maisferrenhamente ao sentido crítico “que atacouespecialmente o ecletismo espiritualista entãovigente como filosofia oficial e falta de unidadedoutrinária”, segundo comentário do ProfessorAntônio Paim.
2.4. Conseqüências teóricas“O propósito de garantir ao homem
a totalidade dos seus direitos implicouhistoricamente a declaração de um estadode guerra e um esforço por reeducar asmassas, até que houvesse homenscapazes de querer livremente e com plenavontade o seu verdadeiro querer. Essesfatos justificam a compulsão de uma eliteque suspenderia a liberdade e manteriao estado de guerra, enquanto houvessealguma oposição e a sociedade não fosseplenamente unificada”.
Resultou desse efeito o totalitarismo cujaúnica meta consiste “na total dominação dohomem”, como entende Hannah Arendt7.
2.5. Os precursoresAugusto Comte ensinou “que o poder vem
do saber.” O saber não é outro senão o estadopositivo, último estágio a ser atingido pelahumanidade. Aceitando, na íntegra, esteconceito e considerando-se não só competente,mas possuído de intenções absolutamentepuras, Júlio de Castilhos (1860-1903), que foisucedido por outro, de igual brilhantismo comopensador, Antônio Borges de Medeiros,imaginou que o governo estava a serviço doaprimoramento moral da sociedade, deixandotranscrever em sua obra estas três tesespositivistas: a afirmação da grandeza moral docatolicismo, por ter sido “a mais nobre e elevadatentativa de uma Religião Universal até a
7 Cientista Político norte-americano. Autora deOn Revolution. Nova Iorque : Vichking Press, 1963,tido pelos especialistas como um clássico político.

Revista de Informação Legislativa128
grande crise do século XVIII”; a completaseparação do poder temporal com relação aoespiritual, a eliminação da ciência oficial e anecessidade de moralizar a política. Emseguida, Benjamin Constant (1836-1891), o“cérebro da República”, sustentava os enten-dimentos doutrinários entre o Positivismo e oExército, cabendo a Silva Jardim (1860-1891)ser o expoente das idéias novas.
Finalmente, o cientificismo ocupa três ciclosde grande influência no Brasil, na assertiva doProfessor Antônio Paim8, assim dispostos:
1º) O carisma pombalino exaura-se na lutapolítica sem conseguir chegar ao poder,marcando, no entanto, sua fase de ouro entrenós, com a criação da Real Academia Militarque depois passaria a chamar-se EscolaPolitécnica; a implantação da Escola de Minase a organização dos anais da Biblioteca e doMuseu, ambos do Rio de Janeiro;
2º) Caracteriza-se por explicar a possibi-lidade da moral científica, apenas pressupostano ideário pombalino compreendendo a épocada Proclamação da República à década de 30deste século (este ciclo corresponde aoPositivismo);
3º ) Nesta fase, a mentalidade adota omarxismo e inicia-se
“com os concursos de Hermes Lima(1902-1978) e Leônidas de Resende(1889-1950), nos começos da década de30, na Faculdade Nacional de Direito,da extinta Universidade do Brasil, até osnossos dias”.
3. ConclusãoO Professor e historiador Mário Martins
Meireles9, decano da Academia Maranhense deLetras, assim comenta sobre a derrocada polí-tica de Pombal:
“Acusado de aproveitar-se de posi-ções oficiais em proveito próprio, sua
administração no Brasil aboliu ascapitanias hereditárias, criou numerosascomarcas e vilas, estabeleceu leis deinegável alcance social, incrementou ocomércio, as exportações, a lavouracafeeira e a construção naval. Aoproclamar a liberdade dos indígenasbrasileiros, polemizou com os jesuítas, oque lhe valeu o fim político”.
Por fim, o mestre Hermes Lima nos deixouuma máxima de grande alcance: “Afinal a raizdo homem é o próprio homem, e não há comopensar sobre o homem senão partindo delemesmo”.
Bibliografia
BARRETO, Vicente, PAIM, Antônio. Primórdios doliberalismo; Disenção do Poder Moderador ;Liberalismo e representação política. Gazeta,sup. do Jbr, 12 mar. 1983.
BARRETO, Vicente, PAIM, Antônio, VELEZRODRIGUES, Ricardo. A propaganda republi-cana ; A ditadura republicana e o Positivismo ;Autoritarismo. Gazeta, sup. do Jbr, 19 mar.1983.
PAIM, Antônio, SOUZA, Francisco Martins de,BARROS, Reynaldo. O Socialismo ; O integra-lismo ; A opção totalitária. Gazeta, Jbr. , 9 abr.1983.
SALDANHA, Nélson. O pensamento político noBrasil. Rio de Janeiro : Forense, 1979.
___________ . O pensamento constitucionalistabrasileiro.
VELEZ RODRIGUES, Ricardo. O Castilhismo ; Otrabalhismo após 30. Gazeta, sup. Jbr., 26 mar.1983.
CICLO de Conferências realizado pela universidadede Brasília (UnB), no período de 24 a 26 deoutubro de 1977. Brasília : Centro Gráfico doSenado Federal, 1978.
ENCICLOPÉDIA BARSA. São Paulo : EnciclopédiaBarsa do Brasil, 1994. v. l, 5 e 12.
8 Pombal e a cultura brasileira. Rio de Janeiro :Fundação Cultural Brasil-Portugal, TempoBrasileiro, 1982.
9 Melo e Póvoas. São Luís : SIOGE, 1974.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 129
1. IntroduçãoEstamos numa sociedade globalizada e des-
portivizada onde o “desporto é um idioma uni-versal, apesar de não ser nenhuma língua”.
A elaboração de uma lei de normas geraissobre desporto, como é o “Projeto Pelé” (PL nº3.633/97), não pode se afastar dos aspectos fun-damentais, não pode descer a pormenores, mi-núcias e detalhes, nem pode invadir a autono-mia legislativa dos Estados, Distrito Federal eMunicípios (art. 24, IX e § 1º da CF), exigin-do, ainda, obediência a alguns parâmetros ina-fastáveis que foram deixados a latere:
I) Parâmetros fáticosa) é uma lei destinada a um país de dimen-
sões continentais onde se pratica 96 modalida-des desportivas;
b) há de se corrigir a visão míope, estreita ereducionista de que o desporto é sinônimo defutebol, e futebol profissional, restrito a Rio deJaneiro e São Paulo, ou, às participações deseleções brasileiras nas copas do mundo;
c) estamos sujeitos, além da lei brasileira,ao ordenamento internacional – desportivoemanado das Federações Internacionais e doCOI, pois o Brasil ao filiar-se, espontaneamen-te, a esses entes, aderiu a seus estatutos, nãopodendo ignorá-los para não sofrer punições e
“Projeto Pelé”: inconstitucionalidades eirrealidades
Texto do depoimento prestado à Comissão Es-pecial de Desporto da Câmara Federal, na audiên-cia pública de 28.10.97.
ÁLVARO MELO FILHO
Álvaro Melo Filho é Advogado, Professor e Di-retor da Faculdade de Direito da UFC, Livre-Do-cente em Direito Desportivo, ex-Vice-Presidente doCND e Vice-Presidente Jurídico da ConfederaçãoBrasileira de Futsal.
SUMÁRIO
1. Introdução. 2. Justiça desportiva. 3. Extin-ção do passe. 4. Fiscalização do Ministério Públi-co. 5. Ligas nacionais desvinculadas. 6. Autoriza-ção estatal para representar o Brasil em competi-ções internacionais. 7. Colégio eleitoral das confe-derações e delimitação dos mandatos. 8. Obrigato-riedade do clube/empresa para competições profis-sionais.

Revista de Informação Legislativa130
ficar excluído ou suspenso do contexto despor-tivo internacional.
II) Parâmetros jurídicosa) Liberdade de associação (art. 5º, inc.
XVII e XVIII da Constituição Federal)“XVII – é plena a liberdade de asso-
ciação;XVIII – é vedada a interferência es-
tatal no funcionamento das associações;”b) Autonomia desportiva (art. 217, I da
Constituição Federal)“Art. 217- (...)I – autonomia das entidades despor-
tivas dirigentes e associações, quanto asua organização e funcionamento;”
É a carta de alforria desportiva concedidapelos constituintes de 1988, que teve no Depu-tado Aécio de Borba o expoente maior em ma-téria desportiva.
Não se pode dar uma interpretação defor-mante a este princípio que é inibidor do diri-gismo estatal e por força do qual se afasta qual-quer atuação cartorial e policialesca que sejaobstáculo à autonomia dos entes e segmentosdesportivos.
Exatamente para compatibilizar as delibe-rações e resoluções do CND com esses princí-pios constitucionais foi que, em 1990, elabora-mos a Resolução nº 3, denominada de Resolu-inte, pois de uma só vez revogou 400 dos 431normativos do Conselho Nacional de Despor-tos, preservando apenas 31 deles. Foi uma “re-volução sem armas” na legislação do CND, paraamoldá-la aos princípios da liberdade de asso-ciação e autonomia desportiva, desestatizan-do e desregulamentando o desporto nacional.
Convém assinalar que o limite da autono-mia desportiva é estabelecido pela própriaConstituição, pois, se é a Constituição que con-fere autonomia, só ela pode definir o seu al-cance. O que não pode ocorrer é a lei ordináriaimpor limites à autonomia desportiva outorga-da pela Constituição, circunstância que impor-taria em total subversão da hierarquia das nor-mas jurídicas.
Cabe trazer à colação, nesse passo, a clás-sica lição de Celso Antonio Bandeira de Mello:
“Violar um princípio é muito maisgrave que transgredir uma norma. A de-satenção ao princípio implica ofensa nãoapenas a um específico mandamentoobrigatório, mas a todo o sistema de co-mandos. É a mais grave forma de ilega-lidade ou inconstitucionalidade, confor-me o escalão do princípio atingido, por-
que representa a insurgência contra todoo sistema, subversão de seus valores fun-damentais...”
Por isso mesmo, é vital que esses parâme-tros ou princípios jurídicos sejam respeitadospara não “abarrotar” o STF de ações de incons-titucionalidade, pois fariam do “Projeto Pelé”um autêntico “Plano Collor do desporto nacio-nal”.
Concordamos e avalizamos 82% do “Pro-jeto Pelé” especificamente naquilo que faz aclonagem jurídica da Lei Zico, seja na sua for-ma, seja no seu conteúdo.
Quanto aos 18% restantes, cumpre refazeralguns itens em que o PL nº 3.633/97 restaura,por via oblíqua, a intervenção estatal no des-porto banido desde a aprovação do art. 217,inciso I da Lei Magna (autonomia desportiva),assim como tolhe a plena liberdade de associa-ção garantida no art. 5º, XVII e XVIII da LeiMaior.
2. Justiça desportivaNa essência, não há diferença entre a Lei
Zico e o Projeto Pelé quanto à Justiça desporti-va, pois até a expressão “tecnicamente inde-pendente” inserida no art. 43 do Projeto foiretirada do art. 17, VI da vigente Lei Zico.
A única mutação efetiva foi substituir aComissão Disciplinar pela Câmara Disciplinar.Pode parecer uma alteração nominal, mas cau-sa problemas práticos. Pelo Projeto, o TJD, ór-gão de 2ª instância, compõe-se de 7 membros,dos quais 3 (três) integrarão a Câmara Disci-plinar para os julgamentos como 1ª instância.Contudo, como os integrantes da Câmara Dis-ciplinar estarão impedidos de julgar seus pró-prios julgamentos, em 2ª instância, o TJD re-duz-se a 4 membros em matéria recursal.
Por outro lado, como a Câmara é, por natu-reza e na praxe judiciária, órgão de 2ª instân-cia, e não de 1ª instância, sugerimos que o art.44 do Projeto adote a mesma redação do art.36 da Lei Zico.
3. Extinção do passeO modelo para a alteração é a Lei Bosman,
que todos citam e poucos conhecem. Na verda-de, não é uma lei, mas uma decisão do Tribu-nal de Justiça Europeu que liberou de qualquerindenização ou passe as transferências de jo-gadores profissionais, desde que preenchidas,cumulativamente, 3 (três) condições:

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 131
a) o contrato de trabalho do jogador estáterminado;
b) o jogador possui a nacionalidade de umdos 16 países membros da União Européia oupaíses chamados comunitários;
c) o jogador comunitário é transferido deum Estado-membro da UE para outro Estado-membro da UE.
O sistema de passe, com suas variaçõesnominais, existe no mundo quase todo, pois68% dos 51 filiados da UEFA (Europa) e 92 %dos 199 filiados da FIFA continuam a exigir o“passe”, ou a cognominada “indenização deformação ou promoção “nas transferências,sendo esta a única forma de evitar o aliciamen-to de atletas e a concorrência desleal instru-mentadas pela ação corrosiva dos empresáriosoportunistas e especuladores, daí assistir intei-ra razão ao grande goleiro Gilmar ao ressaltarque ‘o passe é um mal necessário’”.
De qualquer sorte, quando se constata oanimus de alterar-se a chamada “Lei do pas-se”, adotando-se o modelo dos 16 países inte-grantes da União Européia, é preciso fazê-locom as salvaguardas e garantias necessáriasajustando-a ao ordenamento jurídico brasileiro.
Por exemplo, o atleta profissional Denilson,do São Paulo, transferido para o Betis da Es-panha, firmou contrato com duração de 11(onze) anos e cláusula penal de U$ 425 mi-lhões. Este contrato, se formalizado com clubebrasileiro, afrontaria a CLT e ao Código CivilBrasileiro. Na lei trabalhista, em face do art.445, o contrato de trabalho por prazo determi-nado não poderá ser estipulado por mais de dois(2) anos, permitida apenas uma (1) só prorro-gação (art. 451), o que resulta no limite tem-poral máximo de 4 (quatro) anos, pois com umasegunda prorrogação o contrato passará a vi-gorar sem determinação de prazo. Por outrolado, a cláusula penal ou multa rescisória, porforça do Código Civil “não pode exceder aovalor da obrigação principal”(art. 920), e, emocorrendo, “poderá o juiz reduzir proporcio-nalmente a pena estipulada” (art. 924), em faceda onerosidade excessiva da qual se reveste.
Por tais razões, é essencial que o caput doart. 30 delimite os prazos mínimo e máximodo contrato, e, fundado na especialidade docontrato de trabalho desportivo, em se tratan-do de uma categoria profissional diferenciada,que fique explícito que as restrições e limita-ções da ordem jurídica brasileira sobre o prazodo contrato e cláusula penal não são, in casu,aplicáveis.
Dentro desta realidade sugerimos:a) terminado o contrato de trabalho, o atle-
ta profissional estará livre para outro clube bra-sileiro (isto reduz significamente o custo dascontratações entre clubes brasileiros);
b) Exceção 1 – o clube com o atleta temdireito de fazer o primeiro contrato de profissi-onal. Mas, se não acertar pode cobrar o passepara ressarcimento de despesas pelo clube for-mador/cedente para que não se concretize umenriquecimento sem causa ou enriquecimentoilícito do clube cessionário;
c) Exceção 2 – nas transferências para oexterior há de se cobrar sempre o passe. Nãotem sentido exportar de graça e importar pa-gando caro , pois não há aqui a lei da recipro-cidade, e nenhum atleta italiano, alemão ouargentino virá sem ônus para o Brasil, tenhaou não terminado seu contrato de atleta profis-sional. Até mesmo os brasileiros transferidospara o exterior só retornam a peso de ouro,embora tenham concluído seus contratos comos clubes estrangeiros.
É imperioso, igualmente, proteger e esti-mular os clubes formadores, assegurando-lhesuma participação de trinta por cento (30%)quando da venda para o exterior pelo clube bra-sileiro cedente, afastando a possibilidade desteservir de “ponte” para o êxodo de nossos atle-tas profissionais.
Registre-se que os valores cobrados dos clu-bes estrangeiros, pelas transferências de atle-tas brasileiros, são receitas que vão ajudar aequilibrar o próprio balanço de pagamentos dopaís, e o atleta deve ficar com 20% desse valor,tornando-se autêntico sócio da operação e ten-do “participação nos lucros ou resultados” (art.7º, inc. XI da Constituição Federal).
Adotadas essas sugestões evitar-se-á o “con-fisco dos passes” e garantir-se-á a humaniza-ção dos processos de transferência de atletasprofissionais.
4. Fiscalização do Ministério PúblicoAs entidades desportivas são privadas, não
foram constituídas com dinheiro público, nãorecebem dos cofres públicos subvenções, sub-sídios, repasses ou ajuda governamental nemtêm sequer incentivos fiscais, por que seriamfiscalizadas pelo Ministério Público?
A OAB é serviço público, recebe contribui-ções que têm natureza tributária, e não tem fis-calização do Ministério Público.
Recente decisão do Supremo Tribunal Fe-deral deixou evidenciado que os bancos (entes

Revista de Informação Legislativa132
privados) que recebem recursos públicos e re-cursos do público só podem ser fiscalizadospelo Ministério Público quanto aos recursospúblicos.
A fiscalização do MP ( § 2º do art. 4º e § 5ºdo art. 22) fere o princípio constitucional daautonomia desportiva (art. 217, I) e configura“interferência estatal no funcionamento dasassociações” vedada pelo art. 5º, inc. XVIII daConstituição Federal.
A atuação fiscalizadora do Ministério Pú-blico só teria razão jurídica se visasse proteger“interesses difusos e coletivos”, que não devemser confundidos com os que, tipicamente, pos-suem abrangência restrita e características in-dividuais de um grupo de determinado setorsocial, como são as entidades nacionais de ad-ministração do desporto.
Outrossim, o “interesse social” embutido nodesporto igualmente não justifica a interven-ção fiscalizadora do Ministério Público, atéporque, nos programas de TV e desfiles carna-valescos, inexiste a fiscalização do MinistérioPúblico em que há um “interesse social” bemmais dilargado, intenso e permanente.
Recentemente o Governo Federal, por meioda Medida Provisória nº 1.591 (DOU de10.10.97), criou a figura das organizações so-ciais – pessoas jurídicas de direito privado, semfins lucrativos – que por contratos de gestão,receberão recursos e bens provenientes do Po-der Público e cessão especial de servidores pú-blicos com ônus para a origem. Apesar de terrecursos, bens e servidores públicos, tais orga-nizações sociais não serão fiscalizadas peloMinistério Público, evidenciando incoerênciado “Projeto Pelé” quando prevê tal fiscaliza-ção do Ministério Público para entidades des-portivas, até porque estas não são beneficiáriasde contratos de gestão, não auferem recursospúblicos nem têm servidores públicos postos àsua disposição. Com efeito, o art. 10 da Medi-da Provisória nº 1.591 dispõe que
“havendo indícios fundados de malver-sação de bens e recursos de origem pú-blica, os responsáveis pela fiscalizaçãorepresentarão ao Ministério Público, àAdvocacia Geral da União ou à Procu-radoria da entidade para que requeira nojuízo competente a decretação da indis-ponibilidade dos bens da entidade e oseqüestro dos bens dos seus dirigentes,bem como de agente público ou terceiro,que possam ter enriquecido ilicitamenteou causado dano ao patrimônio público”.
Indaga-se: não é estranho e inexplicável queo Ministério Público não fiscalize tais organi-zações sociais detentoras de bens e recursos deorigem pública e tenha de fazê-lo nas entida-des desportivas que têm somente bens e recur-sos privados?
Cumpre lembrar, ainda, que, no Brasil, asentidades de administração do desporto não sãodeclaradas de utilidade pública, e, por issomesmo, não têm as regalias e benefícios atri-buídos às entidades reconhecidas como tal, sen-do, nessa perspectiva, desarrazoada a fiscali-zação do Ministério Público. Fosse adotado omodelo de Portugal, onde as federações des-portivas são qualificadas como de “utilidadepública desportiva” (DL nº 144/93), ou, daEspanha, onde o reconhecimento de utilidadepública das federações é automático (art. 45 daLei nº 10, de 1990), gerando direito a subven-ções públicas, isenções fiscais e tarifas reduzi-das de luz e água etc., a fiscalização do Minis-tério Público deveria ser cogente.
É arbitrária e caprichosa a previsão de queo Ministério Público vai também fiscalizar aseleições apenas das confederações (por que nãode todos entes desportivos?). Caracteriza-se,aqui, infringência ao princípio constitucionalda isonomia, pois “entidades desportivas diri-gentes e associações”, pelo art. 217, I da Cons-tituição Federal, estão niveladas no mesmopatamar constitucional, exigindo tratamentoigual e não discriminatório. Por todos os as-pectos repontados, não se vislumbra mais omínimo interesse público nas atividades e elei-ções das confederações que possam motivar afiscalização do Ministério Público em derre-dor de típicas matérias interna corporis.
Agora, nada há a opor ao § 2º do art. 23 doProjeto quando prevê que o Ministério Públicovai responsabilizar civil e criminalmente osdirigentes desportivos afastados por má ges-tão, pois essa é função típica e própria do Mi-nistério Público.
5. Ligas nacionais desvinculadasAo proibir a “filiação ou vinculação de li-
gas” às confederações, o art. 18, § 1º incorreem dupla inconstitucionalidade, atropelando osprincípios da liberdade de associação e auto-nomia desportiva.
Já o art. 20, ao motivar a organização deligas independentes e desvinculadas das con-federações, induz ao “apartheid desportivo”.Com certeza, essas ligas não terão o reconhe-cimento das federações internacionais e seus

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 133
atletas, clubes e dirigentes ficarão prejudica-dos e proibidos de participar de competiçõesoficiais, inclusive seleções nacionais, com efei-tos nefastos para o desporto nacional.
O Estatuto da FIFA, por exemplo, no art.7º, inciso 4, é enfático e cristalino quando as-sinala que liga é subordinada à Confederaçãoe depende do consentimento desta. Vale dizer,na dicção estatutária da FIFA, a liga significauma organização interior, subordinada a umaassociação nacional (confederação).
Para harmonizar-se com o Estatuto da FIFAdestaca-se que:
a) o Regulamento da Liga Italiana de Fute-bol Profissional, art. 1º , coloca-a como filiadaà Federação Italiana de Futebol;
b) o art. 2º do Estatuto da Federação Fran-cesa de Futebol é claro quando expressa que aLiga Francesa age “en conformité avec les sta-tuts et règlement de la Fédération”;
c) na Espanha, o art. 41 da Lei nº 10/90acentua que as Ligas Profissionais se constitu-em no âmbito das Federações Desportivas (Con-federações), atuando em coordenação com estas;
d) em Portugal, pelo art. 34, 1, do DL nº144/93, a Liga Profissional integra “o seio daFederação”.
Por tudo isso, achamos salutar a organiza-ção de ligas para competições de natureza pro-fissional, podendo tais ligas ser dotadas de per-sonalidade jurídica e autonomia administrati-va, técnica e financeira, desde que observemas disposições estatutárias das Confederaçõesa quem devem vincular-se.
6. Autorização estatal para representar oBrasil em competições internacionaisO art. 16, §§ 1º e 2º do PL nº 3.633/97 cor-
porifica a necessidade de um passaporte des-portivo ou “autorização estatal” que infirma econtraria a filosofia da desestatização e des-centralização postas em prática pelo atual go-verno, ou seja, “mais sociedade, menos Estado”.
Por outro lado, esta intromissão estatal,além de flagrante inconstitucionalidade pormalferir os arts. 5º, inc. XVIII e 217, inc. I,desrespeita os Estatutos de Federações Inter-nacionais e do COI, que não admitem e abomi-nam esse tipo de interferência nos seus respec-tivos filiados nacionais.
Além disso, o art. 16, §§ 1º e 2º do PL nº3.633/97 é violador dos princípios constitucio-nais da proporcionalidade e da razoabilidade,reconhecidos pela doutrina jurídica e acolhi-
dos pela jurisprudência do STF com lastro no§ 2º do art. 5º da Lei das Leis – “os direitos egarantias expressos nesta Constituição não ex-cluem outros decorrentes do regime e dos prin-cípios por ela adotados...”
Com efeito, a “autorização estatal” exigidapelo art. 16 é arbitrária e inadequada, mormentequando o Governo federal, diferentemente dotratamento privilegiado dado à cultura, nãopropicia qualquer suporte financeiro ou incen-tivo fiscal aos entes desportivos que represen-tam o País nos eventos internacionais. Por issomesmo, tal ditame é afrontoso ao princípio daproporcionalidade, também conhecido como“princípio da menor ingerência possível”, queexige do legislador e do administrador públicoa menor intervenção possível na esfera privadados direitos constitucionalmente assegurados.
De outra parte, o princípio da razoabilida-de é também transgredido pelos §§ 1º e 2º doart. 16, quando outorga ao Ministro de EstadoExtraordinário de Esportes o poder de agir aosabor exclusivo de seu líbito, de seus humores,paixões pessoais, excentricidades ou critériospersonalíssimos. Trata-se, pois, de dispositivoque padece do vício da arbitrariedade, consis-tente na falta de razoabilidade e de congruên-cia entre meios e fins que devem fundamentara intromissão estatal na esfera da autonomiaprivada.
Sugerimos, então, aproveitar o art. 16 paradisciplinar a eventual concessão de recursospúblicos a participantes de competições inter-nacionais, cujas atuações repercutem na ima-gem do País no exterior. Contudo, tais recur-sos públicos devem se destinar ao custeio, tãoapenas, de passagens e hospedagens de atletase do corpo técnico-diretivo.
Há de exigir-se também, em cada caso, ascontrapartidas financeiras dos entes desporti-vos beneficiários.
Tudo isso deve ser objeto de contrato ouconvênio, publicizado, de modo transparente,no Diário Oficial da União.
7. Colégio eleitoral das confederações edelimitação dos mandatos
O art. 22 do Projeto ofende a ConstituiçãoFederal, restringindo a autonomia desportiva(art. 217, I) e atentando contra a liberdade deassociação (art. 5º, XVIII) tanto no que con-cerne ao colégio eleitoral, quanto aos manda-tos, típicas matérias interna corporis.
Trata-se de um desvio autoritário do § 1º

Revista de Informação Legislativa134
do art. 22 do Projeto, ao compelir que nas con-federações votem os filiados (Federações) e osnão-filiados (clubes) quando o direito de votoé privativo e exclusivo das filiadas, na formade seus estatutos. Outrossim, adquirem a con-dição de votantes nas confederações tanto asfederações, como os clubes, estes passam a teruma bi-representação ilegítima e obtêm umaprivilegiada condição eleitoral em relação àsfederações, pois participarão com dois (2) vo-tos: 1 (um) por via direta e 1 (um) por via indi-reta, por meio das respectivas Federações, der-ruindo, de modo velado, a retórica normativado voto unitário.
A Lei Zico, harmônica com os princípiosconstitucionais, não rasga os estatutos das con-federações nem esvazia os poderes das assem-bléias gerais. Mesmo sem cogência da Lei Zico,e, no uso de sua autonomia desportiva, assimcomo no exercício da liberdade de associação,a CBF, por decisão de sua Assembléia Geral,outorgou direito de voto aos 24 clubes da 1ªdecisão, nas eleições para os seus poderes dire-tivos. Ou seja, os clubes votam para Presidenteda CBF, não por imposição da Lei, mas pordecisão de seus estatutos, sem macular a LexMagna.
Por outro lado, o Projeto afronta o princí-pio da isonomia, ao fazer restrições e limita-ções eleitorais tão-somente para as confedera-ções, deixando livres os processos eleitorais dasfederações e clubes, olvidando que são entesconstitucionalmente equiparados pelo art. 217,I, insusceptíveis, portanto, de receber tratamen-to desigual e diferenciado.
Destaque-se, por oportuno, que na legisla-ção estrangeira desportiva (Itália, França, Por-tugal, Espanha etc.) não se impõe direito devoto a não-filiados, nem se delimita os manda-tos de dirigentes desportivos.
Sugerimos, nessa diretriz, que processo elei-toral e limitação de mandatos sejam clara eminudentemente fixados nos estatutos das con-federações, e, somente na falta de ditames es-tatutários aplicar-se-á norma supletiva cons-tante da lei.
8. Obrigatoriedade do clube/empresa paracompetições profissionais
O art. 27 do Projeto ofende a autonomiadesportiva (art. 217, I) e tolhe a liberdade deassociação (art. 5º, inc. XVII e XVIII), que sãopostulados constitucionais. E o que é pior, aose transformar em sociedade comercial o clu-
be deixará de ser associação na dicção do art.217, I, da Carta Magna, não mais fazendo jusà autonomia constitucional.
Esqueceram os artífices do art. 27 que oclube é a célula mater do desporto brasileiro,diferentemente dos EUA, onde as universida-des desempenham essa tarefa, da Europa, ondeas empresas têm essa função e dos antigos pa-íses comunistas, onde o Estado é o fomentadordos desportos.
Há de se repelir, porque infundado e irraci-onal, o argumento de que o art. 27 do Projeto éjurídico e constitucional, conquanto não obri-ga os clubes a se transformarem em sociedadecomercial, podendo, pelo parágrafo único, sim-plesmente constituir sociedade comercial paragerir suas atividades profissionais. A rigor, oart. 27, por via transversa e sub-reptícia, proí-be e veda os clubes que não aderirem ao mode-lo legal projetado de disputar competições pro-fissionais. Na prática, a título de exemplo, seapenas Sport, Náutico e Santa Cruz cumpri-rem tal ditame, o Campeonato Pernambucanode Futebol Profissional restringir-se-á a um tri-angular, com exclusão legal de todos os outrosclubes, atestando que o art. 27 é elitista, alémde arranhar postulados constitucionais.
Coagir o clube a se transformar em empre-sa é estimular a desregrada mercantilização desuas paixões e tradições, além de levar a quasetotalidade dos clubes a se afastar dos campeo-natos profissionais por não atraírem investi-mentos. Ao revés do que se propaga, o modeloproposto pelo art. 27, ao invés de salvar os clu-bes, vai levá-los ao fechamento.
Não se deve utilizar a retórica da moraliza-ção para justificar o clube/empresa, pois o selode seriedade ou a garantia de honestidade nãodecorrem do fato de ser empresa, como ates-tam os bancos com suas contas fantasmas e aEncol. Ressalte-se, ainda, que o clube/empresaInternacionale de Milão fechou seu último ba-lanço com um prejuízo de U$ 24 milhões, evi-denciando que a transformação em empresanada garante nem afasta o perigo da falênciados clubes.
Cabe lembrar que, na Espanha, o modelode transformação dos clubes em sociedade co-mercial só ocorreu com aqueles que tinham“déficit” ou saldo negativo. O governo espa-nhol “zerou” as dívidas desses clubes para, aseguir, convertê-los em sociedades anônimasdesportivas. Por isso é que Barcelona, RealMadri e Atlético de Bilbao, porque superavitá-rios, não se transformaram em sociedade anôni-

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 135
ma desportiva (SAD) e continuam a disputar ocampeonato espanhol de futebol profissionalcomo associação civil, sem fins lucrativos. Valedizer que a transformação de clubes em em-presa, na Espanha, foi uma compensação ou con-trapartida ao aporte de recursos públicos do Es-tado, o que não se cogita neste PL nº 3.633/97.
Outro argumento falacioso para justificar atransformação é o fato de que, por não ser em-presa, o clube está livre e isento de tributos.Não é verdade:
a) os clubes de futebol são obrigados a re-colher Imposto de Renda de seus jogadores efuncionários, a pagar FGTS, COFINS e PIS/PASEP, além de outros tributos estaduais e mu-nicipais;
b) a Medida Provisória nº 1.523-13 exigedos clubes de futebol, para o INSS, 5% sobrerenda de seus jogos, contratos de televisiona-mento, publicidade, patrocínios e licenciamentode marcas e símbolos.
A prova maior de que os clubes de futebolprofissional sujeitam-se a tributos e contribui-ções previdenciárias é dada pela dívida acu-mulada de mais de U$ 100 milhões, só dos clu-bes da 1ª Divisão do Campeonato Nacional,quase todas em processo de parcelamento.
Argüi-se, com freqüência, que os clubesprofissionais, por terem a veste jurídica de as-sociações sem fins lucrativos, não poderiampraticar atos de comércio. Ledo engano, pois oato de comércio não é privativo de sociedadescomerciais, tanto que, pelo art. 191 do CódigoComercial, cada um de nós, como pessoa físi-ca, ao emitir um cheque ou firmar uma notapromissória, está praticando atos de comércio.
Induvidosamente, as associações desporti-vas (clubes) praticam atos mercantis e já sesujeitam, neste tocante, à legislação comerci-al, embora não tipificadas ou enquadradas comosociedades comerciais. Isso igualmente ocorrecom os sindicatos, igrejas, instituições de ensi-no, entidades beneficentes e filantrópicas, aca-demias de Letras, Santas Casas de Misericór-dia e sociedades culturais, científicas ou artís-ticas. Todas essas associações praticam atos decomércio como atividade acessória e não habi-tual, enquanto que nas sociedades comerciaisas atividades mercantis são as principais, comcaráter de profissionalidade e habitualidade,acrescidas do animus lucrandi como finalida-de social. Além disso, diversamente das socie-dades comerciais, as associações desportivas(clubes) não têm finalidade lucrativa, apesarde obter lucro em alguns atos que praticam,
por exemplo, venda de jogadores de futebol,receitas de jogos, venda de camisas e produtoscom o símbolo do clube etc., pois a lei não vedao lucro. O que se proíbe é a distribuição desseslucros entre os associados, é a remuneração dosdirigentes, além de exigir que os recursos au-feridos sejam aplicados integralmente na ma-nutenção e desenvolvimento de seus objetivossociais. Exatamente por atenderem a essas con-dições as associações eram contempladas coma isenção do Imposto de Renda (art. 30 da Leinº 4.506/64 e art. 159 do Regulamento do Im-posto de Renda). Aliás, como recente medidaprovisória suprimiu e extinguiu esta isençãoconcedida aos clubes, estes passaram a ter omesmo tratamento tributário das empresas.
De outra parte, não se pode alegar que oparágrafo único do art. 27 elide qualquer obri-gatoriedade ao prever que apenas o departa-mento vinculado às atividades profissionais sejatransformado em empresa. Pouco importa quea obrigatoriedade seja de uma parte (departa-mento profissional) ou do todo (clube), pois,de qualquer modo, os postulados constitucio-nais da liberdade de associação e da autono-mia desportiva restariam mutilados. Ademais,a sociedade comercial, constituída para adminis-trar a prática profissional, não vai existir desli-gada do clube, até porque usará, necessariamen-te, o nome, as instalações e o pessoal do clube.
No plano prático, o art. 27 conduz a situa-ções bizarras e absurdas, pois Guga (tênis) eMaguila (boxe) como atletas profissionais, te-rão de constituir sociedade comercial para dis-putar competições e levar avante suas práticasdesportivas profissionais.
Por tudo isso, sugerimos que se permita oufaculte ao clube manter-se como associação semfins econômicos ou adotar forma de sociedadede fins econômicos, ambas tipificadas no Có-digo Civil, ou ainda optar por uma das formasde sociedade comercial nos moldes e garantiasprevistos no art. 11 da Lei Zico. E para induziruma maior adesão ao modelo, a lei deve deter-minar que os clubes profissionais que persisti-rem como associações civis sem fins lucrativosperderão direito a isenções fiscais e a recursospúblicos porventura concedidos.
É importante ressaltar que de nada adiantadar uma nova roupagem jurídico-empresarialaos clubes, se não houver uma mutação na for-ma de gestão, com profissionalização de diri-gentes, o que é possível, seja como associaçãocivil, seja como sociedade comercial.
Registre-se, aqui, uma incoerência ou con-

Revista de Informação Legislativa136
tradição manifesta do Projeto que, ao mesmotempo que obriga os clubes a se transformaremem empresa, retira-lhes seu principal e maissignificativo “ativo”, ou seja, os “passes” dosseus atletas profissionais.
Finalmente, se o objetivo é, por igual, atransparência, que se obrigue aos clubes dis-putantes de competições profissionais – sejaassociação civil, seja sociedade comercial – apublicar seu balanço e demonstrativos contá-
beis com o parecer de auditoria independente,escoimando qualquer manipulação financeirae contábil.
São essas as sugestões que fazemos nestaanálise técnico-jurídica do PL nº 3.633/97, sejapara compatibilizá-lo com os princípios cons-titucionais da Carta Magna, seja para ajustá-lo àrealidade desportiva do país, realçando que nãose faz revolução no desporto por lei, mas commudança de mentalidade de atletas e dirigentes.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 137
1. O Judiciário nos tempos atuaisLenta, e com retrocessos, tem sido a evolu-
ção do Judiciário. E a história da humanidadenão lhe tem dedicado significativo destaque.
Se as Sagradas Escrituras, e outros textosdo passado, assinalam a atuação de juízes nasolução de conflitos, é de notar-se que não sevinha registrando uma participação decisivadesse segmento na condução dos povos e noaperfeiçoamento do processo civilizatório. Dis-so é eloqüente o exemplo dos continentes maisantigos, onde, apesar do desenvolvimento cul-tural, social e político, nunca se deu relevomaior à atuação jurisdicional, a ponto de qua-lificar-se a atividade do Judiciário ainda hoje,em diversos países, como de mera “autoridadejudicial”.
Uma extraordinária mudança nesse pano-rama, no entanto, tem-se presenciado nos últi-mos tempos. Por múltiplas razões, a começarpelas transformações que ocorrem na socieda-de dos nossos dias, impulsionada por uma re-volução tecnológica no vértice da qual se colo-cam os meios de comunicação, a estreitar dis-tâncias, mitigar fronteiras, intercambiar idéiase costumes, globalizar a economia, facilitar oacesso à cultura e aos bens de consumo, a
Sálvio de Figueiredo Teixeira é Ministro doSuperior Tribunal de Justiça, Professor universitá-rio e Diretor da Escola Nacional da Magistratura.
SUMÁRIO
A formação do juiz contemporâneo
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA
Exposição apresentada, em 30.8.1997, no XIVSeminário Roma-Brasília.
1. O Judiciário nos tempos atuais. 2. O Judici-ário na Constituição de 1988. 3. A insatisfação dasociedade com o modelo atual de justiça. 4. A sele-ção, a formação e o aperfeiçoamento dos juízescomo ponto fundamental na transformação do Ju-diciário. 5. O sistema brasileiro na formação dejuízes. 6. O juiz e o processo atual de integraçãoeconômica, social e cultural. 7. Conclusão.

Revista de Informação Legislativa138
aproximar os povos e a realizar alguns dos seussonhos mais acalentados.
Com as conquistas espaciais, não só o ho-mem chegou à Lua e desvenda os mistérios douniverso, como também por satélites artifici-ais, que hoje povoam a atmosfera, podemos,além de muitas outras opções, acompanhar comabsoluta nitidez, no mesmo instante, as ima-gens de acontecimentos que se verificam emdiversos pontos do planeta, comunicando-nossem intermediários com países os mais distan-tes, tendo em nossos lares e escritórios, em fra-ção de segundos, pelo avanço da informática,pesquisas e informações que a cultura levouséculos para armazenar. Aviões, automóveis,trens, e outros veículos, cada vez mais sofisti-cados e rápidos, transportam-nos com seguran-ça e impressionante precisão. É um fascinantemundo em evolução, jamais imaginado porJúlio Verne, Marco Polo, Huxley ou pelos bra-vos navegadores da Idade Média.
Nessa moldura, muda o próprio perfil dasociedade e seu comportamento.
A exemplo das mudanças impostas pelasgrandes descobertas do final do século XV, doadvento do constitucionalismo resultante dastransformações políticas do século XVIII e daRevolução Industrial do século XIX, a revolu-ção tecnológica deste século convive com umasociedade marcadamente de massa, na qual, aolado da explosão demográfica, do acesso damulher aos postos de comando e do apelo aoconsumo, ascendem, cada vez mais, os inte-resses coletivos e difusos no confronto com osinteresses meramente individuais.
Reflexo desse quadro, os conflitos sociaisganham nova dimensão, reclamando novosequacionamentos, soluções mais efetivas, umprocesso mais ágil e eficaz e um Judiciário maiseficiente, dinâmico e participativo na preser-vação dos valores culturais, na defesa de umpatrimônio que é de todos e que transcende ospróprios interesses individuais e de grupos parasituar-se no plano dos direitos fundamentaisdo homem.
Como assinalou com a sua reconhecida sen-sibilidade jurídica o Professor Carlos Fernan-do Mathias1,
“a humanidade está em plena fase dachamada terceira geração dos direitos dohomem, vale dizer, dos assim designa-
dos direitos de solidariedade, como odireito ao desenvolvimento, o direito aopatrimônio comum da humanidade e odireito ao meio ambiente”.
Outra, aliás, não é a lição de Antônio Au-gusto Cançado Trindade2, com efeito, ao ladodos direitos civis e políticos (primeira geração),dos direitos sociais, econômicos e culturais (se-gunda geração), emergem os direitos que, alémde ter por valor supremo o homem, o focali-zam sob o ângulo da fraternidade.
Por outro lado, os direitos fundamentaisclássicos cedem lugar, cada vez mais, a essesnovos direitos fundamentais, que repudiam ainatividade do Estado e sua omissão, reclaman-do atuação positiva. São direitos à prestaçãoou à participação (Leistungsrechte oder Teilha-berechte).
Daí a ilação de que o Judiciário, como Po-der ou atividade estatal, não pode mais man-ter-se eqüidistante dos debates sociais, deven-do assumir seu papel de participante do pro-cesso evolutivo das nações, também responsá-vel pelo bem comum, notadamente em temascomo dignidade humana, redução das desigual-dades sociais, erradicação da miséria e da mar-ginalização, defesa do meio ambiente e valori-zação do trabalho e da livre iniciativa. Co-par-tícipe, em suma, da construção de uma socie-dade mais livre, justa, solidária e fraterna.
2. O Judiciário na Constituição de 1988A vigente Constituição brasileira, promul-
gada em 5.10.1988 e rotulada pelo próprioCongresso Nacional de “Constituição-cidadã”,exatamente pela incisiva preocupação com osdireitos sociais e com a cidadania, sem embar-go dos seus eventuais e reconhecidos excessos,dedicou especial atenção ao Judiciário comoPoder político, erigindo-o como participanteativo do processo democrático, especialmenteao reivindicar a sua presença mais efetiva nasolução dos conflitos e ao ampliar a sua atua-ção com novas vias processuais de controle so-cial (mandado de segurança coletivo, manda-do de injunção, habeas data, ações coletivas,ação civil pública, ação popular, ações de con-trole da constitucionalidade etc.).
A propósito desses instrumentos, ao tratar
1 Correio Braziliense, Brasília, jun. 1997. Ca-derno Direito & Justiça.
2 Titular da Corte Interamericana de DireitosHumanos e ex-presidente do Instituto Interamerica-no de Direitos Humanos.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 139
do tema logo após a promulgação da Consti-tuição de 1988, tive ensejo de assinalar3:
“É cediço que o Estado atual é gera-dor de conflitos, com destaque no cam-po dos direitos sociais, particularmentenas áreas de habitação, assentamentorural, previdência, instrução e saúde,pela desarmonia entre o modelo políti-co, fomentador de ansiedades e expecta-tivas sempre frustradas e não concreti-zadas, estimulando ainda a perpetuaçãodos litígios, a exemplo do que se dá comas desapropriações e sua indenização,não instrumentalizando adequadamenteo Judiciário com recursos humanos, tec-nológicos e materiais, mantendo umaconcepção individualista do processo emdetrimento das soluções coletivas, emuma sociedade marcadamente de massa.
A nova Constituição busca, não sepode negar, a modificação desse quadro,ampliando o acesso à tutela jurisdicio-nal para adaptar essa garantia aos novostempos e às novas aspirações sociais.
Dentre as mais expressivas conquis-tas na nova Carta, sob o ângulo do aces-so ao Judiciário, poderíamos destacar:
1. a obrigatoriedade da instalação dejuizados especiais para o julgamento eexecução de causas cíveis de menor com-plexidade e infrações penais de menorpotencial ofensivo, mediante procedi-mento oral e sumaríssimo, permitindo ojulgamento de recursos por turmas dejuízes de primeiro grau;
2. a legitimação de entidades associ-ativas para atuarem em juízo represen-tando seus filiados, mitigando a rigidezdo art. 6º do Código de Processo Civil,não obstante ainda muito longe de avan-ços hoje existentes, a exemplo do que sedá com a class action do direito norte-americano;
3. a ampliação das funções institucio-nais do Ministério Público;
4. a adoção da Defensoria Pública emnível constitucional, como órgão incum-bido da orientação jurídica e da defesa,em todos os graus, dos necessitados;
5. a diversificada legitimação ativapara a propositura da ação de inconsti-
tucionalidade em nível federal, ensejan-do também o controle pela via direta emnível estadual, vedada a atribuição dalegitimação para agir a um único órgão;
6. o tratamento constitucional à açãopopular também para a proteção de di-reitos coletivos vinculados ao meio am-biente, ao consumidor e ao patrimôniohistórico e cultural;
7. o alcance dado ao mandado de se-gurança para também proteger direitocoletivo quando demonstradas de planoa liquidez e certeza;
8. o habeas data, para acesso do ci-dadão a registros de bancos de dados,assim como para a retificação de dados,ressalvada ao interessado a preferênciapor processo sigiloso, judicial ou admi-nistrativo, sendo de aduzir-se que, parao simples conhecimento de registrosconstantes de bancos de dados, de enti-dades públicas, mostra-se hábil a via domandado de segurança, quando demons-trada a ilegalidade do ato denegatório dofornecimento da certidão;
9. a previsão do mandado de injun-ção quando a falta de norma regulamen-tadora tornar inviável o exercício das li-berdades constitucionais e das prerroga-tivas inerentes à nacionalidade, à sobe-rania do povo e à cidadania, sendo denotar-se que o instituto, sem paralelo nodireito internacional, enquanto não viera ser regulamentado procedimentalmen-te, poderá socorrer-se do procedimentodo mandado de segurança, quando ocor-rentes os pressupostos deste, ou do pro-cedimento ordinário, se ausentes”.
O que é importante aqui registrar, no en-tanto, é que a Constituição de 1988, com a suapreocupação voltada prioritariamente para acidadania, contemplou o nosso ordenamento,como nenhuma outra fizera até então, com umextraordinário arsenal de instrumentos jurídi-cos e com normas, preceitos e princípios quesinalizam a vontade popular de ter uma novaJustiça no País.
3. A insatisfação da sociedade com omodelo atual de justiça
Dissertando sobre a atuação dos juízes noregime democrático, o Ministro Celso de Mello43 Mandados de segurança e de injunção. Sarai-
va, 1990. p. 36-37: O processo civil na nova Consti-tuição. 4 Atual Presidente do Supremo Tribunal Federal.

Revista de Informação Legislativa140
teve ensejo de afirmar que“...o papel desenvolvido pelos magis-
trados, que se qualificam como atoresessenciais do processo político de desen-volvimento, expansão e reafirmação dosdireitos humanos, reveste-se de impor-tância decisiva, pois, no contexto dessapermanente situação conflitiva que seorigina das relações estruturalmentesempre tão desiguais entre as pessoas eo Poder, compete aos juízes, enquantoguardiães de uma ordem jurídica justa elegítima, fazer prevalecer o compromis-so de respeito e de incondicional submis-são do Estado ao regime das liberdadespúblicas, assinalando, a cada momento,no desempenho de sua atividade jurisdi-cional, que as prerrogativas constitucio-nais reconhecidas à pessoa traduzemvalores fundamentais indisponíveis, ca-racterizados pela nota de uma irrecusá-vel inexauribilidade”.
Sem embargo da verdade dessa proclama-ção, lembrou5 também o professor e juiz JoséRenato Nalini, hoje quem melhor está a escre-ver sobre o Judiciário brasileiro, que
“a Constituição de 1988 foi a quemais acreditou na solução judicial dosconflitos. Enfatizou a missão da justiçahumana, confiou-lhe a tutela dos direi-tos fundamentais, destacados por longaenunciação e singular alteração topográ-fica. Criou direitos, cuja fruição ficouvinculada à assunção, pelo juiz, de pa-pel político ampliado e, até certo ponto,desafiador da tradicional inércia. Previuinstrumentos de conversão da justiçanaquele serviço eficiente, célere, descom-plicado e acessível, sonhado pelo povo.Seduzida por essa justiça diferente comque o constituinte acenou, a comunida-de acorreu aos juízes e multiplicaram-seainda mais os processos. Uma sociedadedesperta pela cidadania, que é o direitoa ter direitos, exercitou-a, esperançosa.E encontrou a mesma justiça atormenta-da com suas carências e perplexa dianteda profusão das demandas”.
Daí o seu libelo, segundo o qual“...falhou o Judiciário em quase to-
das as novas perspectivas constitucio-nais. Não soube preencher o espaço des-tinado à moderna concepção de justiça.
Deixou de estabelecer as reformas essen-ciais à sua adequação diante das neces-sidades emergentes. Continuou com aestrutura arcaica, emperrada, incapaz deacompanhar a modernização da empre-sa privada e até mesmo de ajustar-se àconformação do Estado contemporâneo.Estado que se pretende ágil, enxuto e fle-xível, para ser eficaz. Os direitos novosforam esvaziados por uma interpretaçãoexcessivamente conservadora. Os instru-mentos postos à sua disposição pelo le-gislador para simplificar e intensificar aoutorga da prestação jurisdicional nãoforam instituídos. É muito lenta a insta-lação dos Juizados Especiais, indicadoscomo alternativa à solução tradicionaldas controvérsias. Incipiente a profissi-onalização das Escolas da Magistraturae da carreira de juiz, sem o que não seinstaurará a mentalidade atualizada eapta a enfrentar as turbulências do novomilênio. O Judiciário, como instituição,não tem sido capaz de se fazer ouvir pe-los demais Poderes, nem de ser compre-endido pela comunidade”.
Não obstante o esforço sobre-humano dagrande maioria dos seus juízes, em um quadroesdrúxulo e até mesmo ridículo, com a médiade 1 (um) juiz para 29 (vinte e nove) mil habi-tantes, que faz do País certamente o campeãomundial em número de processos judiciais, deque é exemplo o número caótico de feitos dis-tribuídos em suas duas Cortes maiores – o Su-premo Tribunal Federal e o Superior Tribunalde Justiça –, com 11 e 33 Ministros, que só noano de 1996 receberam, respectivamente,23.668 (vinte e três mil seiscentos e sessenta eoito) e 77.032 (setenta e sete mil e trinta e dois)processos, o certo é que a sociedade brasileiraestá a merecer um Judiciário bem melhor doque o que possui: moroso, pesado, complexo,sem transparência, sem criatividade, com séri-os vícios de estrutura, sem controle e sem dire-triz, com número insuficiente de julgadores,sem dados concretos e sem contar com órgãospermanentes de planejamento e reflexão. E, oque é mais desalentador, sem perspectivas sé-rias, razoáveis e efetivamente objetivas de mu-dança na reforma constitucional há tanto tem-po anunciada e frágil em seu “curso trôpego”.
Parodiando Vieira, no seu Sermão de San-to Antônio, no ano de 1654, já que os homensnão se sensibilizam, seria o caso de falar aospeixes?5 O Estado de São Paulo, 26 fev. 1997.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 141
As causas desse quadro não são de difícilpercepção. Algumas mais profundas, com raí-zes políticas, históricas e culturais; outras, maisà superfície, de mais fácil correção. Sobretudose houvesse, a detectá-las e dar-lhes adequadaterapia, um órgão judiciário, permanente, dereflexão e planejamento.
4. A seleção, a formação e o aperfeiçoa-mento dos juízes como ponto fundamental
na transformação do JudiciárioAs novas técnicas de administração públi-
ca, aliadas às diretrizes das grandes empresasprivadas, estão a evidenciar a necessidade deum planejamento no qual, a par de meticulosaformulação de linhas diretivas, dê-se especialrelevo ao elemento humano que as opera e di-rige.
Se isso ocorre no plano das administraçõespública e privada, com maior razão é de serobservada em relação ao juiz, para cuja mis-são, delicada, difícil e complexa, exige-se umasérie de atributos especiais, não se podendoadmitir a sujeição dos interesses individuais,coletivos e sociais, cada vez mais sofisticadose exigentes, a profissionais não raras vezes sema qualificação vocacional que o cargo exige,recrutados empiricamente por meio de concur-sos banalizados pelo método da múltipla esco-lha e pelo simples critério do conhecimentocientífico.
Carreira de especificidade singular, a Ma-gistratura não pode ter seus quadros preenchi-dos por profissionais que receberam apenas umaformação genérica para o desempenho de qual-quer profissão jurídica. É imprescindível umaformação específica.
Os concursos públicos produziram entre nósum Judiciário digno e têm prestado serviço ines-timável à causa da Justiça. Continuam a repre-sentar a alternativa mais adequada de recruta-mento, a conciliar vertentes democrática e aris-tocrática. Mas é o momento de se substituir suametodologia para a inserção de critérios maisconsistentes de seleção, priorizando-se os as-pectos éticos e vocacionais, até mesmo em detri-mento do apuro técnico, sabido que uma pessoadestinada a julgar seu semelhante se automoti-vará ao estudo permanente, enquanto o intelec-tual aético nunca será um verdadeiro juiz.
O texto constitucional vigente já se mostrahábil a propiciar a reforma de critérios no
concurso de ingresso na magistratura. O inci-so IV do artigo 93 da Carta prevê cursos ofi-ciais de preparação – sempre prévia – comorequisito para ingresso na carreira. Assim comoprestigia a idéia de formação contínua, ao con-templar o aperfeiçoamento como requisito parapromoção. A freqüência e o aproveitamento emcursos reconhecidos de aperfeiçoamento repre-sentam critérios objetivos de aferição do mere-cimento – alínea b do inciso II do mesmo arti-go 93 da Constituição da República.
Daí a imprescindibilidade de uma novapostura nesse campo, com a adoção de novoscaminhos, métodos e critérios, a exemplo doque vem ocorrendo, há algum tempo, em paí-ses como Portugal, França, Espanha, EstadosUnidos, Alemanha e Japão.
Enquanto este último, seguido pela Coréia,premido por necessidades peculiares, adota ri-gorosa seleção para o exercício da magistratu-ra, do ministério público e da advocacia, emum concurso anual que seleciona o percentualaproximado de 3% (700 aprovados em um uni-verso de 26.000 concorrentes) para o ingressoem instituição pública que irá prepará-los du-rante dois anos, a Alemanha, mais ou menosna mesma linha dos Estados Unidos, após rí-gido curso universitário, investe mais na reci-clagem contínua, com cursos de curta duraçãoque observam eficiente planejamento.
Mais adequados à nossa realidade, França,Portugal e Espanha dividem o seu sistema emdois segmentos, a saber: um que seleciona eforma; outro que aprimora e recicla, sendo denotar que a Espanha, em novembro de 1996,reconhecendo as vantagens do sistema francês(Paris/Marselha), veio a desdobrar a sua tradi-cional “Escuela Judicial”, ficando a funcionarem Madri o centro de formação continuada eem Barcelona o de formação inicial.
A Itália, por sua vez, após sediar em Roma,em 1958, o “Primeiro Congresso Internacio-nal de Magistrados”, no qual, sob o tema “Apreparação do juiz para o exercício da funçãojurisdicional”, entre outras risoluzioni aprovou“a necessidade da criação de centros de prepa-ração, pesquisas e estudos6, quase 40 anos de-pois, segundo informe do Professor GiuseppeTarzia7, vem a ocupar-se mais atentamente da
6 Congresso Internazionale dei magistrati, 1,1959. Giuffrè, 1959. t. 1, p. 591 e segs.
7 Jornadas Brasileiras de Direito Processual, 2,1997. Brasília, 11/15.8.1997.

Revista de Informação Legislativa142
preparação dos seus magistrati (judiciais e doMinistério Público), o que bem demonstra aforça da idéia geratriz e a indispensabilidadedessa instituição no mundo atual.
5. O sistema brasileiro deformação de juízes
Multifário tem sido o sistema brasileiro nabusca do seu melhor modelo, multiplicando-seas suas escolas estaduais, federais e especiali-zadas, a maioria subordinada aos respectivostribunais a que vinculados os seus juízes, ou-tras dirigidas pelas associações de magistrados.
A realidade, porém, é que, até aqui, à exce-ção do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, asdemais escolas judiciais brasileiras têm se li-mitado ao campo do aperfeiçoamento, até por-que, a rigor, não podem ser consideradas comode seleção e formação inicial as que se desti-nam à preparação dos candidatos ao concursode ingresso nos quadros da magistratura8. Ade-mais, como anotou a Desembargadora FátimaNancy Andrighi9,
“os cursos de seleção de magistradosnão podem assumir as características deestudos com natureza de pós-graduação,apenas destinados ao desenvolvimentotécnico de anterior aprendizagem naFaculdade de Direito. Hão de preparar ocandidato para as múltiplas dimensõesque envolvem o desempenho da funçãojurisdicional, principalmente a formaçãohumanística, salientando aqui a bem su-cedida experiência das Escolas de Ma-gistratura do Rio Grande do Sul e deMinas Gerais que adotaram método mo-derno e, seguramente, mais eficiente naseleção dos vocacionados”.
Duas escolas, por outro lado, merecem es-pecial atenção.
Uma delas é o “Centro de Estudos” do Con-selho da Justiça Federal, vinculado este, porforça de norma constitucional (art. 105, pará-grafo único), ao Superior Tribunal de Justiça.Trata-se de órgão ainda em gestação como es-cola judicial, mas de grande potencial, especi-
almente como órgão de planejamento e pesqui-sa, uma das vertentes de uma autêntica escolajudicial: pela estrutura de que dispõe e pelaespecial situação do Superior Tribunal de Jus-tiça no vértice das Justiças Federal e Estadual.
A segunda dessas escolas, é a “Escola Na-cional da Magistratura”, vinculada estatutari-amente à Associação dos Magistrados Brasi-leiros, mas que tem tido a desejável autonomiaem sua atuação.
Sem recursos e sem suporte administrati-vo, e contando com dez (10) dirigentes, todossem remuneração e sem afastamento de suasfunções judicantes, vem promovendo importan-tes eventos culturais no País e no exterior, emparceria com Universidades, Faculdades, asso-ciações de classe, Ordem dos Advogados, Ins-titutos de Advogados e outras entidades cultu-rais, inclusive fazendo editar obras resultantesdesses eventos, como também celebrando con-vênios nacionais e internacionais, elaborandoanteprojetos de reforma legislativa, e aprego-ando a sua institucionalização para transfor-mar-se em um verdadeiro fórum de debates dosgrandes temas vinculados ao Judiciário, bancode idéias e centro de convergência e difusão deexperiências bem-sucedidas.
Já desenvolvendo intensa atuação, nos pla-nos nacional e internacional, prepara-se agorapara uma nova etapa, na qual, entre outras ino-vações, investe no ensino à distância, inclusi-ve pela televisão, e na pós-graduação virtual, oque permitirá aos juízes, sem deslocamentos edespesas, aprofundar-se nos estudos, por meioda informática.
6. O juiz e o processo atual de integraçãoeconômica, social e cultural
Vê-se agora o Judiciário em face de um novodesafio, lembrada a lição de Carnellutti de quena raiz do fenômeno jurídico está o litígio.
Com a globalização da economia e o surgi-mento dos blocos regionais, que não se esgo-tam na esfera econômica mas compõem inte-gração também social e cultural, com proble-mas comuns concernentes à proteção dos di-reitos humanos, às desigualdades sociais, aocombate ao tráfico e à degradação do meioambiente, surgiu, como imperativo de seguran-ça jurídica, um novo ramo do Direito, denomi-nado “comunitário” ou “supranacional”, situa-do entre os contrafortes do Direito Interno e doDireito Internacional e com foros de autono-
8 Sobre o tema, A escola judicial, em O Judici-ário e a Constituição. Saraiva, 1994. p. 169.
9 No I Fórum Nacional de Debates sobre o Po-der Judiciário, promovido pelo Superior Tribunalde Justiça e pelo Conselho de Justiça Federal, de 11a 13 de junho de 1997.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 143
mia, por apresentar, no dizer de E. RicardoLewandowski10, objeto (normas supranacio-nais), institutos (de que é exemplo o “reenvio”),métodos (hermenêutica teleológica ou finalís-tica) e princípios específicos (de que são exem-plos o da aplicabilidade direta e o da suprema-cia das suas regras em relação às normas inter-nas de cada Estado, a flexibilizar o conceitotradicional de soberania quanto à idéia de su-premacia absoluta da ordem jurídica interna).
O juiz, nesse contexto, deixa de ser apenasjuiz da ordem interna do seu respectivo paíspara integrar-se também na ordem comunitá-ria, interpretando e aplicando as normas da-quela e dessa. Cumpre-se destacar a singular eexpressiva observação dos especialistas euro-peus no sentido de que a União Européia so-mente conseguiu implantar-se – e aí está umadas marcas do seu sucesso – no momento emque os países nela envolvidos compreenderama indispensabilidade de um sistema jurídicobem corporificado a sustentá-la, com normas eJudiciário atuante.
O mesmo quadro desenha-se em um Mer-cosul que evolui rapidamente nos campos po-lítico e econômico, a mostrar a necessidade,mais que conveniência, não só da adoção de
10 Correio Braziliense, Brasília, 18 ago. 1997.Caderno Direito & Justiça.
uma estrutura judiciária supranacional, mas dapreparação dos juízes dos países desse bloco paraa realidade que se avizinha e que deles exigiráuma formação ainda mais especializada11.
7. ConclusãoComo se vê, o Judiciário, que neste País
felizmente é qualificado como Poder nas Cons-tituições, não obstante tantas restrições e difi-culdades de ordem prática e política, e quemuito aquém está das expectativas da socieda-de mundial contemporânea, como, aliás, sem-pre esteve, deve impor-se como verdadeiro Po-der, não por mera retórica, mas por um proces-so revolucionário do seu modelo histórico tra-dicional, hermético e arcaico, a realizar umaprofunda mudança em sua estrutura e em suadinâmica, com planejamento científico e von-tade política. Essa transformação deverá ter,como um dos seus pontos fundamentais, a ade-quada seleção, formação e aperfeiçoamentodaquele a quem a lei entrega a bela e árduamissão de julgar. Só assim teremos o Judiciá-rio que a sociedade está a reivindicar e que to-dos desejamos: eficiente, ágil, confiável, afir-mativo, sensível às transformações sociais e aossonhos de felicidade da alma humana.
11 A arbitragem como meio de solução de confli-tos no âmbito do Mercosul e a imprescindibilidadeda Corte Comunitária. Revista de Direito Processu-al Civil, v. 4, 1997.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 145
Os princípios que se relacionam com a pres-tação alimentícia (Código Civil, artigos 396,399, 400, e Lei nº 5.478, de 25 de julho de1968) são princípios rígidos, que não compor-tam qualquer construção jurisprudencial ten-dente a desviá-los de seu traçado legal, procu-rando suavizar o hermetismo do sistema. Emdireito de família, principalmente em direitode família, não há campo para os avanços pre-torianos, e a evolução não pode se afastar docomando da lei. A família é um valor que nãopode ficar sujeito às afoitezas judiciais nem àousadia das teses criadas à margem da lei, ain-da que bem arquitetadas.
Conquanto esteja reservada ao juiz de fa-mília uma área expressiva de discricionarieda-de, há princípios que não podem ser subverti-dos, ignorados ou contornados à força de umainterpretação complacente e elástica. Há equí-vocos, na jurisprudência e na doutrina, quepoderiam ser evitados se se procurasse resguar-dar o inteiro conteúdo das regras que se embu-tem na questão dos alimentos. E entre essasregras está a que governa a aplicação do artigo400 do Código Civil, e que se situa no topo detoda mecânica da prestação alimentícia.
O princípio concernente à prestação alimen-tícia é o que faz da relação de parentesco (Có-digo Civil, artigos 396 e 399) a raiz de que seirradia toda a eficácia do instituto. É, por as-sim dizer, o princípio causal, que sofreu, aindarecentemente, uma atenuação bastante consi-derável com o reconhecimento do concubinatocomo unidade familiar (Constituição Federal,artigo 226, parágrafo 3º, e Leis nº 8.971, de 29de dezembro de 1994, e nº 9.278, de 10 demaio de 1996). Em conseqüência dessa novaconcepção da unidade familiar, o concubinato,agora juridicizado por força de lei, passou a
A mecânica da prestação alimentícia
OTTO EDUARDO VIZEU GIL
Otto Eduardo Vizeu Gil é Advogado.

Revista de Informação Legislativa146
absorver todo o complexo eficacial relaciona-do com e decorrente da relação de parentesco,seja no que tange às regras que devem orientara fixação dos alimentos (Código Civil, artigo400), seja no que concerne à possibilidade demodificação da decisão judicial sobre alimen-tos (Código Civil, artigo 401), seja, enfim, noque se relaciona com a irrenunciabilidade dosalimentos (Código Civil, artigo 404).
Mas para que o concubinato possa gerar osmesmos direitos e as mesmas obrigações de-correntes do parentesco, é essencial que essafigura assuma a grandeza de um casamento,denunciando uma comunhão de afetos e de in-teresses e a integração completa entre dois se-res que procuram conduzir uma existência uni-ficada, sólida, estável, reforçando, a cada pas-so da vida, os laços de uma amizade que vai,seguramente, poder alcançá-los nas incertezasda velhice. Esse é o concubinato a que podemser aplicadas as regras do parentesco.
O princípio que orienta toda a mecânica daprestação alimentícia é o que congrega os ele-mentos que devem ser atendidos, e prevalecer,no momento da fixação da verba alimentícia.Esse é o princípio modal. A sentença sobre ali-mentos, seja ela homologatória de acordo en-tre os cônjuges, ou não, terá de se ater, obriga-toriamente, à proporção entre as necessidadesdo alimentário e os recursos do alimentante(Código Civil, artigo 400). E o juiz que vier aser chamado para decidir do acordo que os côn-juges houverem formulado ao propósito dosalimentos, ou vier a construir, ele próprio, emcaso de separação litigiosa, a obrigação alimen-tar, esse juiz não poderá extrapassar os limitesque a lei lhe oferece – de fixar os alimentoscom observância da proporcionalidade entre asnecessidades do credor e os recursos do deve-dor, ressalvada, é óbvio, uma parcela razoávelde discricionariedade, segundo as circunstân-cias. Repita-se que a pensão será estabelecidalevando-se em conta tanto as necessidades docredor quanto os recursos do devedor. E tantoé assim que, se forem diversos os devedores ouos credores, e diversa a situação de suas res-pectivas fortunas, o juiz terá de repartir o sa-crifício segundo as disponibilidades de cada um(cf., ao propósito, AUBRY, RAU, Cours deDroit Civil Français. 4. ed. Paris, 1873. v. 6,p. 110).
É óbvio que a lei não poderia exigir umaproporcionalidade matemática entre os recur-sos de um e as carências do outro partícipe dessarelação obrigacional. Comentando o artigo 208
do Código Civil francês, Théophile Huc (Com.théorique et pratique du Code Civil. Paris,1892. v. 2, p. 226) ressalvou
“qu’il s’ agit, bien entendu, d’apprecierles besoins du créancier d’aliments etl’aisance du débiteur à un point de vuepurement relatif, en tenant compte deshabitudes et de la condition des parties”.
A lei brasileira também se satisfaz com aproporcionalidade razoável. E na busca dessarazoabilidade o juiz pode atuar com alguma dis-cricionariedade.
Mas do momento em que a sentença vier afixar os alimentos, pressupõe-se (pressupostolegal) que terá obedecido à proporcionalidadeentre as disponibilidades e as carências de umae de outra parte. Essa proporcionalidade – nãoo conteúdo financeiro que dela se reflete – fazcousa julgada e não poderá ser modificada en-quanto viger a relação obrigacional.
O conhecimento da relevância dessa noçãode proporcionalidade é fundamental para a ope-racionalidade da mecânica da prestação alimen-tícia. Não há como comprazer-se com a idéiade que a lei (Código Civil, artigo 401), ao per-mitir a modificação do quantitativo da pensãoalimentícia, teria consentido com a revisão da-quela proporcionalidade. É um erro. Essa pro-porcionalidade, uma vez estabelecida, não maispode ser alcançada, pois é uma regra de con-duta, dirigida ao juiz de família e por ele re-cebida com os atributos da imutabilidade. É aruptura dessa proporcionalidade que vai preci-pitar a incidência do artigo 401 do Código Civil.
Figure-se essa proporcionalidade como re-presentada por uma linha imaginária traçadaexatamente no patamar em que a sentença hou-ver situado, de um lado, as disponibilidades dodevedor (A) e, do outro lado, as carências docredor (B). Essa linha AB expressa a equaçãofinanceira dos alimentos, ou seja, a base da re-lação obrigacional fixada na sentença. No ter-reno das obrigações nascidas do contrato, po-der-se-ia dizer que essa equação exprimiria abase do negócio.
A mentalização dessa linha é essencial paraa percepção correta do problema. Essa linhareflete a equivalência dos sacrifícios e terá dese manter inflexível enquanto perdurar a rela-ção alimentícia, conservando a mesma horizon-talidade com que foi originalmente concebida.Se essa linha vier a oscilar em decorrência decircunstâncias supervenientes e imprevisíveis,de que resultem (1) ou o abaixamento (A-1) oua elevação (A+1) dos recursos do alimentante

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 147
(A), ou, contrariamente, (2) a redução (B-1)ou o agravamento (B+1) das carências do ali-mentário, a inflexão da linha AB, (que perde-ria a sua horizontalidade original e passaria arefletir quatro inclinações diferentes, a saber :A B-1, A-1 B, A B+1, ou A+1 B) – a inflexão,qual seja, terá de ser necessariamente corrigi-da para que se restabeleça a proporcionalidadedeterminada no artigo 400 do Código Civil. Épara esse fim – para que se recomponha a ho-rizontalidade da linha das proporções, que aparte injustamente sacrificada, a em cujo des-favor inflectir a desproporcionalidade superve-niente, tem legitimidade para a ação previstano artigo 401 do Código Civil.
É erro acreditar-se que essa ação revisionalsó tem cabido quando o aumento das disponi-bilidades do devedor corresponder ao agrava-mento das necessidades do credor, ou seja,quando A+1 = B-1. Há quem defenda a idéiade que a permissibilidade da ação revisionalestá condicionada à correlação entre o aumen-to da fortuna do alimentante e o aumento dascarências do pensionista. Jacques Maury, queescreveu uma excelente monografia sobre anoção de equivalência nas obrigações nascidasde contratos, sustentou esse ponto de vista :
“Nous disons d’abord qu’il est injus-te de permettre quelqu’un de réclamerun enrichissement qu’il a procuré, quandà cet enrichissement ne correponde deson côté aucun appauvrissement”
(...)“Ou peut dire qu’un fait est cause
d’un autre quand il en est la conditionnecessaire et suffisante : c’est la notionscientifique, en l’étendant un peu, qu’ ila rapport direct de causalité quandl’appauvrissement sera, en ce sens, lacause de l’ enrichissement et de l’appau-vrissement tout la fois”.
(Essai sur le rôle de la notion de l’équivalence en Droit Civil Français.Paris, 1920. v. 2, p. 254 e 279).
Quando a elevação dos recursos do pensio-nista (B+1) for concomitante com a elevaçãodos recursos do alimentante (A+1), pode nãoocorrer distorção acentuada entre a fortuna dodevedor e as necessidades do credor : nessa hi-pótese, a linha AB tenderia para a linha A+1B+1, guardando, pois, a sua horizontalidadeoriginal. Ao contrário, se a fortuna do devedorsofrer aumento e aumentarem as carências docredor, então, nessa hipótese, pode vir a ocor-rer distorção bastante acentuada, e a linha AB,
horizontal, apresentaria a obliqüidade da linhaA+1 B-1, muito mais acentuada do que se aalteração houvesse incidido apenas sobre umdos extremos da relação, alcançando isolada-mente as disponibilidades de um ou as neces-sidades do outro interessado.
O erro, que se percebe em algumas deci-sões, decorre da pouca atenção que se dá aoprincípio da equivalência dos sacrifícios. Esseprincípio, ressalte-se, rege toda a mecânica daprestação alimentícia. Se se entender que o en-riquecimento do devedor apenas pode ser re-clamado quando se demonstrar a concomitân-cia do empobrecimento do credor, ter-se-á deadmitir, absurdamente, que o devedor que hou-ver empobrecido só poderá postular a reduçãoou o cancelamento da pensão a que está obri-gado quando puder demonstrar que o seu em-pobrecimento correspondeu ao enriquecimentodo credor.
Nas relações obrigacionais e, mais especi-ficamente, nas que dizem respeito à prestaçãoalimentícia, que comporta, por força de expres-sa determinação da lei, o procedimento revisi-onal, a ruptura da linha que expressa a equiva-lência de sacrifícios, e que é traçada, na sen-tença, em obediência à proporção entre os re-cursos e as necessidades dos interessados, vaiacarretar, para a parte em cujo desfavor pendera linha dessa equivalência, uma onerosidadeque terá de ser corrigida. Essa correção nãoresulta de uma construção doutrinária. Ou pre-toriana. Ela está expressa na letra do artigo 400do Código Civil, e não sofreu qualquer altera-ção na chamada Lei de Alimentos (Lei nº 5.478de 1968) : “os alimentos devem ser fixados naproporção das necessidades do reclamante e dosrecursos da pessoa obrigada”.
Esse preceito reproduz, quase literalmente,o artigo 208 do Código Civil francês, de que seoriginou : “Les aliments ne sont accordés quedans la proportion du besoin de celui qui lesréclame, et de la fortune de celui qui les doit”.A diferença está em que a lei brasileira foi maisprecisa ao determinar, como condição da açãorevisional ao artigo 401, a inflexão da linhadas proporcionalidades, onde quer que tenhaocorrido, ainda que apenas no extremo quedenuncia a elevação da fortuna do devedor. Oartigo 209 do Código Civil francês, ao disporque
“Lorsque celui que fournit ou celuiqui reçoit des aliments est replacé dansun état tel, que l’un ne puissse plus endonner, ou que l’autre n’en ait plus be-

Revista de Informação Legislativa148
soin, en tout ou en partie, la décharge oureduction peut en être demandée”,
pode induzir a impressão, que não é correta,de que o credor não tem ação para reclamaraumento de pensão em decorrência da eleva-ção da fortuna do devedor.
O artigo 401 do nosso Código Civil não sus-cita dúvidas quanto à obrigatoriedade de se res-peitar o princípio que consagra a intangibili-dade da linha de equivalência de sacrifícios,tal como houver sido estabelecida na sentença:
“La verité est que l’obligation ali-mentaire a une mesure invariablementfixée par l’ art. 208 : c’est le rapport quiexiste entre le besoin de celui qui récla-me et la fortune de l’autre. C’ est le chi-ffre exprimant ce rapport qui est varia-ble”. ( HUC, op. cit., p. 229).
O rompimento dessa relação pode vir agerar, tanto em favor do credor quanto em fa-vor do devedor, um enriquecimento injustifi-cado. E, tanto para um quanto para outro, umaonerosidade insuportável.
Graficamente, a inflexão da linha que ex-prime aquela relação de equivalência refleti-ria, dependendo do extremo em que ocorressea ruptura, as seguintes figuras:
As FIGs. 1 e 2 legitimam o devedor (A)para a ação do artigo 401 do Código Civil, ouporque diminuíram as necessidades do credor(B), ou porque decresceram os recursos do de-vedor (A); as FIGs. 3 e 4, ao contrário, refle-tem a inversão (dos triângulos) decorrentes daruptura da equação financeira dos alimentosem virtude ou do agravamento das carênciasdo credor, ou por força do aumento das dispo-nibilidades do devedor, e, nessas duas hipóte-ses, é o credor a parte legítima para o ajuiza-mento da ação revisional do artigo 401 doCódigo Civil.
Reitere-se que essa ação revisional pode serintentada sempre que a linha da equivalência,tal como traçada na sentença, sofrer algumaperturbação expressiva. Essa noção preenchetodo o conteúdo dos artigos 400 e 401 do Códi-go Civil. E serve para evitar as interpretaçõesaligeiradas, como, por exemplo, a que se sub-sume no entendimento de que o devedor daobrigação alimentar se desonera desde que oseu pensionado atinja a maioridade. É um erro.A prestação alimentícia não está sujeita a ter-mo, mas subordinada ao implemento de umacondição resolutiva (Código Civil, artigo 119),que se configura com a mudança na fortuna dequem supre os alimentos ou na de quem os re-cebe (Código Civil, artigo 401). Em outras pa-lavras, enquanto não ficar demonstrada a rup-tura da linha da proporcionalidade por forçada redução das necessidades do alimentando –a obrigação alimentar persiste irradiando todaa sua eficácia.
A questão da maioridade, em relação à obri-gação alimentícia, não é uma construção legale, por isso mesmo, não há como intrometê-lanas entrelinhas do artigo 401 do Código Civil,que não lhe faz a menor alusão. Nesse terreno,a presunção de suficiência, decorrente do fatoda maioridade, nem sequer pode ser aceita comoficção legal. É uma fantasia jurídica, uma fi-gura meramente imaginosa, que pode muitobem ombrear, por sua absurdez, com o chama-do “flagrante das vinte quatro horas”, outrafantasia tão ridicularizada pelos criminalistas.
É irrelevante, para os fins da prestação ali-mentícia, que o alimentando seja maior oumenor de idade. A maioridade não é fator de-terminante do cancelamento da pensão alimen-tícia, mas um evento que, para esse fim, nãotem qualquer relevância jurídica. Salvo, é ób-vio, se ficar demonstrado que o pensionado,com a maioridade, passou a ter condições pró-prias de subsistência, podendo dispensar, sem
FIG. 1A B
B-1FIG. 2A B
A-1B+1
FIG. 3A B
A+1FIG. 4
A B

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 149
sacrifícios exagerados, a pensão que até entãolhe vinha sendo paga. É uma questão de fato, ecabe ao devedor o ônus de prová-lo. Reafirme-se, portanto, que a maioridade, de si só, não éfato que baste à legitimação da ação revisionaldo artigo 401 do Código Civil: o implementoda condição resolutiva inserta nesse preceito éque vai poder precipitar o cancelamento ou aredução dos alimentos:
“obligation alimentaire n’a pas de limi-te certaine, elle naït avec les besoins”.(LAURENT, F. Principes de Droit CivilFrançais. 1893.v. 2, p. 70).
O rompimento da linha das equivalênciaspoderá provocar tanto o enriquecimento quan-to o empobrecimento de qualquer dos dois in-tegrantes da relação obrigacional, tudo depen-dendo do extremo em que se verificar a ruptu-ra. Nas figuras 2 e 3 (cf. item 17), devedor ecredor empobrecem, o primeiro, porque lhe di-minuíram os recursos, o segundo porque lheaumentaram as necessidades. Nas figuras 1 e4, inversamente, enriquecem credor e devedor,o primeiro porque lhe abrandam as carências,o segundo porque lhe aumentam os recursos.A legitimação para a ação do artigo 401 do Có-digo Civil prescinde da indagação acerca dasorigens do enriquecimento ou empobrecimen-to dos partícipes da relação obrigacional.
A lei não indaga as razões do enriqueci-mento ou do empobrecimento nem do devedornem do credor. Importa, para os fins do artigo401 do Código Civil, que a situação financeiradas partes já não seja a mesma que vigia aotempo da sentença. Se o devedor, por exemplo,já não dispõe de recursos para arcar com osencargos da obrigação, a lei lhe confere o di-reito de postular ou a redução ou cancelamen-to da prestação alimentícia ainda que a dificul-dade, ou impossibilidade, de adimplemento,sejam devidas a desvios de sua própria condu-ta, como o jogo e a dissipação irrefreável. Deoutro lado, se o ingurgitamento da fortuna dodevedor resulta de legado ou de herança im-prevista, o credor, que não contribuiu para oresultado, ainda assim dele não se distancia,podendo reclamar do desequilíbrio superveni-ente da base financeira da obrigação alimentí-cia, tal como estipulada na sentença.
Mas quais são as dimensões desse empo-brecimento, ou desse enriquecimento, que po-dem justificar a modificação da cláusulaalimentícia? Acreditamos que a oscilação, tantonum quanto noutro sentido, terá de ser signifi-cativa, evidenciando um locupletamento que,
seguramente, não teria composto a base finan-ceira da sentença. No trato da questão da revi-são das obrigações nascidas do contrato, poraplicação da chamada teoria da imprevisão,todos os países que a receberam ressaltam agravidade e a exorbitância do desequilíbriocomo indispensáveis à reformulação da basefinanceira do contrato. No Brasil, já FranciscoCampos (Código Civil. Rio de Janeiro, 1956.p. 11), ao sugerir o acolhimento no nosso di-reito positivo, da teoria da revisibilidade doscontratos, condicionava a aceitação do princí-pio a que uma das partes houvesse sofrido “pre-juízo considerável”, e a outra auferido um “pro-veito injusto”. No mesmo sentido o anteproje-to do novo Código Civil, elaborado pelos ilus-tres juristas Miguel Reale, Moreira Alves, Tor-quato Castro, Arruda Alvim, Ebert Chamoune Clóvis do Couto e Silva.
Mas como mensurar a onerosidade exces-siva? Ou enriquecimento injustificado e colos-sal? No terreno das obrigações nascidas do con-trato – e não há porque as distinguir, no caso,das obrigações nascidas da lei – há um fatorque não pode ser desconsiderado, pois repre-senta papel decisivo para a aferição do alcanceda revisão. É o que se relaciona com a álea,elemento ínsito em qualquer obrigação, mas deintensidade variável de caso para caso:
“Tout contract emporte un peu de ris-ques, de spéculation, puisque c’est pours’assurer contre les fluctuations possiblesdes valeurs et des choses qu’on contrac-te. Chacun des contractants achète àl’autre la sécurité. Il est donc qu’il y aittoujours un gagnant et un pérdant, et queles risques normaux des événements,inhérents à une situation économique ouà une entreprise déterminée, demeurentsans influence sur la validité du contract,puisque c’ est précisement contre euxqu’on entend se prémunir en contrac-tant” (PAGE, Henri de. Traité élémen-taire de Droit Civil Belge. 1934, v. 2, p.493).
Nos contratos bilaterias, a revisão se impõequando ocorre a quebra da relação de equiva-lência depois da constituição do negócio jurí-dico (cf. MIRANDA, Pontes de. Tratado deDireito Privado. v. 25, p. 237). Em se tratandode prestação alimentícia, o juiz, ao fixá-la, emsentença, terá obrigatoriamente levado em li-nha de conta o patamar financeiro em que sesituam os recursos e as necessidades dos inte-ressados. Mas como não há como aferir-se

Revista de Informação Legislativa150
matematicamente a proporcionalidade determi-nada no artigo 400 do Código Civil, entre asdisponibilidades e carências do devedor e cre-dor, respectivamente, é de se pressupor (e ad-mitir) com o juiz uma certa parcela de discrici-onariedade que vai caber dentro da faixa deque se reflete a sua atuação jurisdicional. Asoscilações circunstanciais que se contiveremdentro dessa faixa constituem a álea norma dasentença, e desautorizam a ação do artigo 401do Código Civil.
A percepção correta da faixa em que se aco-moda a relação de equivalência vai seguramenteprevenir o equívoco de supor-se que a revisãodos alimentos apenas tem lugar (a) quando di-minuem os recursos do devedor, ou (b) quandoaumentam ou decrescem as necessidades dodevedor, excluindo-se do permissivo legal ahipótese de comprovada elevação da fortuna dodevedor, como no caso de herança, por exem-plo, ou em qualquer outra hipótese de riquezasuperveniente e excepcional. Comentando osreflexos da obrigação alimentar derivados doartigo 209 do Código Civil francês, HUC (op.cit., p. 230), considerando o direito do deve-dor, em certos casos, de procurar cancelar oureduzir o encargo, reconheceu ao credor, reci-procamente, le droit de demander une augmen-tation de sa pension. Nesse mesmo sentido,AUBRI, RAU, op. cit., p. 111.
Há casos, os mais comuns, que a proporci-onalidade referida no artigo 400 do CódigoCivil aparece refletida numa linha singela, oque ocorre sempre que as disponibilidades dodevedor podem ser traduzidas em salário fixo,sobre o qual a sentença estabelece um percen-tual que reflita a proporcionalidade entre as
disponibilidades de um e as necessidades dooutro interessado. Nessa hipótese, qualqueroscilação ocorrida nessa relação de equivalên-cia terá de ser prontamente corrigida. Mas podesuceder que os recursos do devedor estejamcompreendidos numa faixa imprecisa e difusa.De qualquer forma, a oscilação dessa faixa,mais dificilmente perceptível, não obsta a açãorevisional sempre que ficar provado que a pres-tação alimentícia já não expressa a relação deequivalência reconhecida na sentença. Essarelação de equivalência tem os atributos da coisajulgada. (cf. HUC, op. cit., p. 229).
A causa de uma obrigação legal, como aque deriva da prestação alimentícia, é a lei. E alei determina que a prestação alimentícia teráde ser obrigatoriamente fixada “na proporçãodas necessidades do reclamante e dos recursosda pessoa obrigada” (Código Civil, artigo 400).Ocorrendo mudança na fortuna de quem supreou na de quem recebe os alimentos (CódigoCivil, artigo 401), em outras palavras, se ficarcomprovada modificação da situação financei-ra dos interessados, a decisão judicial sobrealimentos pode ser revista (Lei nº 5.478, de 25/07/68, artigo 15). A parte que vier a ser onera-da pela modificação da fortuna, sua ou do ou-tro interessado, tem legitimidade para postu-lar, em ação revisional, o enriquecimento semcausa de seu co-partícipe :
“Caracteriza-se a ausência de causaquando o enriquecimento não encontrajustificação na lei ou na vontade do em-pobrecido” (FERREIRA, José G. doValle. Enriquecimento sem causa. BeloHorizonte, 1949. p. 159).

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 151
1. Pena. Natureza. Regime prisionalA natureza da pena, hodiernamente1, é
retributiva, preventiva e de ressocialização.Com isso tem-se o conceito do instituto
“pena” como sendo aquele que atua como
Prisão-albergue domiciliar. Discrepânciada realidade social com a positivaçãopenal. Dissonância jurisprudencial
FERNANDO CUNHA JÚNIOR
Fernando Cunha Júnior é Procurador do DistritoFederal.
SUMÁRIO
1. Pena. Natureza. Regime prisional. 2. Prisãodomiciliar. 3. Prisão-albergue domiciliar. 4.Divergência jurisprudencial. 5. Conclusão.
1 Segundo MIRABETE, Julio Fabbrini. Exe-cução penal. 5. ed. Atlas, a pena foi concebidainicialmente apenas como resposta ou retribuiçãoao delinqüente pelo mal praticado. Posteriormente,contudo, evoluiu para o sentido de ressocializaçãodo condenado ou adaptação ao meio social:
“Para as teorias chamadas absolutas (retri-bucionistas ou de retribuição), o fim da pena é ocastigo, ou seja, o pagamento pelo mal praticado. Ocastigo compensa o mal e dá reparação à moral,sendo a pena imposta por uma exigência ética emque não se vislumbra qualquer conotação ideológica.Para a Escola Clássica, que considerava o crime umente jurídico, a pena era nitidamente retributiva, nãohavendo qualquer preocupação com a pessoa dodelinqüente, já que a sanção se destinava arestabelecer a ordem pública alterada pelo delito.
Para as teorias relativas dava-se à pena um fimexclusivamente prático, em especial o de prevençãogeral (com relação a todos) ou especial (com relaçãoao condenado).
Para as teorias mistas (ecléticas ou inter-mediárias), a pena, por sua natureza, é retributiva,tem seu aspecto moral, mas sua finalidade não ésimplesmente prevenção, mas um misto de educaçãoe correção.
(...) Assim, tem-se entendido que à idéia centralde ressocialização há de unir-se, necessariamente,o postulado da progressiva humanização e liberação

Revista de Informação Legislativa152
“resposta”2 ao ato do delinqüente, retira omesmo do meio social3, impedindo-o dedelinqüir, e ainda tenciona recuperá-lo eretorná-lo à sociedade4. Tem como caractereso fato de ter sua aplicação disciplinada pelalei, ser personalíssima e proporcional ao crime.
Para cumprimento da pena, o EstatutoRepressivo, o Código Penal, alista três espéciesde regime penitenciário (art. 33 do CP), quesão o fechado, semi-aberto e o aberto.
Esta divisão em regime de cumprimento dapena é conseqüência dos modernos postuladospenitenciários em que se requer “diversidadede estabelecimentos” conforme a classificaçãodos presos. Assim, consoante pontifica omagistério doutrinário, o que classifica osestabelecimentos penais são as condições ge-rais dos diversos regimes de execução5 comopossibilidades de contato com o exterior,disciplina interna, estilo arquitetônico etc.
O regime fechado é dispensado para oscondenados de alta periculosidade e com altaapenação de pena privativa de liberdade. Apena é cumprida em prisão fechada comaparatos de segurança máxima e contra fugas.
O regime semi-aberto é um “meio-termo”entre o regime fechado e o aberto, já quecientificamente tem-se a intenção de reduzir oencarceramento em presídio de segurançamáxima. Daí a respectiva origem desse regimequanto a receber o preso na sua transição deregime fechado para o semi-aberto6.
Já o regime aberto é para aqueles que nãoapresentam periculosidade e que são respon-sáveis pelo cumprimento da pena. Funda-se naautodisciplina, já que o preso pode exercerqualquer atividade durante o dia, sendorecolhido à noite e nos dias de folga. Pode serde duas espécies: “prisão-albergue” e “prisãodomiciliar”.
2. Prisão domiciliarO regime aberto pode ser cumprido em duas
modalidades: em Casa de albergado ou emresidência particular.
Diz a Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210,de 11.7.84, art. 93, que a “Casa de Albergado”destina-se ao cumprimento da pena privativade liberdade em regime aberto. Já o art. 117 domesmo repositório de normas assenta as quatrohipóteses nas quais o condenado em regimeaberto pode cumprir a pena em “residênciaparticular”.
Vejamos a hipótese do cumprimento da penaem regime aberto “domiciliar”, na linha do art.117 retrocitado:
“Art. 117. Somente se admitirá orecolhimento do beneficiário de regimeaberto em residência particular quandose tratar de :
I – condenado maior de setenta anos;II – condenado acometido de doença
grave;III – condenada com filho menor ou
deficiente físico ou mental;IV – condenada gestante”.
Essas são as hipóteses, portanto, nas quaiso condenado beneficiário de regime abertopoderá cumprir a reprimenda em casa.
3. Prisão-albergue domiciliarO regime aberto pode ser cumprido, ainda,
em “Casa de Albergado”.A razão desse regime pressupõe o baixo
quantitativo de pena, a não reincidência e,ainda, indicação de que o condenado podecumprir a sanção neste regime (art. 33, § 3ºdo CP). Ou seja, além de não ser reincidente, apena aplicada deve ser igual ou inferior a 4(quatro) anos e, também, as circunstânciascomo personalidade, antecedentes, condutasocial – delineados no comando do art. 59, doCódigo Penal – devem ser favoráveis. Este é oescólio doutrinário de Júlio Fabbrini Mirabete7:
da execução penitenciária, de tal maneira que,asseguradas medidas como as permissões de saída,o trabalho externo e os regimes abertos, tenha maioreficácia (...) A tendência moderna é a de que aexecução da pena deve estar programada de moldea corresponder à idéia de humanizar, além de punir”.
2 Retribuição do Estado ao ato infringente da leicometido pelo agente.
3 Prevenção.4 Ressocialização.5 MIRABETE, op. cit.“Segundo o entendimento moderno, o que
caracteriza os estabelecimentos penais e os tipificanão é a natureza do trabalho que, neles, oscondenados têm oportunidade de exercer (agrícola,industrial, agroindustrial etc.), mas suas condiçõesgerais, que configuram e consubstanciam os diversosregimes de execução das sanções. O trabalho, o estiloarquitetônico do estabelecimento, a disciplinainterna e a possibilidade de contato com o exteriorsão as condições que conduzem à classificação dosregimes penitenciários. Firmou-se assim umatrilogia, obtida com a evolução do Direito Peni-tenciário: estabelecimento fechado, estabelecimentosemi-aberto e estabelecimento aberto.
6 Cumprir um sexto da pena e o mérito indicar aprogressão (art. 112 da Lei de Execução Penal).
7 “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimentodo beneficiário de regime aberto em residênciaparticular quando se tratar de:

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 153
“(...) há condenados cujo tipo depersonalidade e cuja atitude conscientede aceitação da sentença condenatória eda pena aplicada fazem com que sesubmetam à disciplina do estabe-lecimento penal sem conflitos e semintentar fuga.(...)
Determina o art. 93 que a Casa deAlbergado se destina ao cumprimento dapena privativa de liberdade, em regimeaberto, e da pena de limitação de fim desemana. A denominação Casa de Alber-gado (ou seja, prisão-albergue), para de-signar o estabelecimento destinado aocondenado em regime aberto, é umaexpressão feliz porque se refere a umasimples prisão noturna, sem obstáculosmateriais ou físicos contra a fuga. Asegurança, em tal estabelecimento,resume-se ao senso de responsabilidadedo condenado. A prisão-albergue consti-tui-se uma modalidade ou espécie dogênero prisão aberta, experiência que emoutros países é conhecida com deno-minações que equivalem, em português,a ‘prisão noturna’ ou ‘semiliberdade’.Outra espécie de prisão aberta é adenominada prisão domiciliar, previstana nova lei ao mencionar ‘regime abertoem residência particular’”.
Destinam-se ao regime aberto oscondenados aptos para viver em semi-liberdade, ou seja, aqueles que, por nãoapresentarem periculosidade, não dese-jarem fugir, possuírem autodisciplina esenso de responsabilidade, estão emcondições de dele desfrutarem semporem em risco a ordem pública porestarem ajustados ao processo de reinte-gração social. (....)”
Contudo, diz ainda a Lei de Execução Penalque o prédio da Casa de Albergado será situadoem centro urbano (art. 94) e, ainda, peremp-toriamente, que cada região deverá ter umaCasa de Albergado (art. 95):
“Art. 95. Em cada região haverá, pelomenos, uma Casa de Albergado, a qualdeverá conter, além dos aposentos paraacomodar os presos, local adequado paracursos e palestras.
Parágrafo único. O estabelecimentoterá instalações para os serviços defiscalização e orientação dos conde-nados”.
Diz ainda no art. 203, § 2º, que:“Art. 203. No prazo de seis meses, a
contar da publicação desta lei, serãoeditadas as normas complementares eregulamentares, necessárias à eficáciados dispositivos não auto-aplicáveis.
(...)§ 2º. Também, no mesmo prazo ,
deverá ser providenciada a aquisição oudesapropriação de prédios para instala-ção de casas de albergados” (grifos nos-sos).
Apesar da determinação legal de cumpri-mento da pena no regime aberto em Casa deAlbergado e, ainda, apesar da assinalação deprazo para instalação dos prédios respectivos,alguns Estados não atenderam a tais pres-crições. Assim , muitos não dispõem de “Casasde Albergado”.
Com isto exsurgiu a seguinte questão: oagente condenado a cumprir pena em regimeaberto, Casa de Albergado, pode cumpri-la emregime domiciliar, mesmo fora das hipótesespermitidas para este regime, quando não exis-tir a referida “Casa de Albergado”?
Entenda-se: o regime aberto pode sercumprido em “Casa de Albergado” e “emregime domiciliar”.
Contudo as hipóteses para o regimedomiciliar são as descritas, taxativamente, noverbete do art. 117 da Lei de Execução Penal8.Se o agente foi condenado a cumprir pena noregime aberto “albergue” – porque não abrigadopor uma das hipóteses do regime domiciliar doart. 117 – mas não existe “Casa de Albergado”,teria direito, portanto, a cumprir a pena no“regime domiciliar”. A justificativa para tantoé a de que o condenado nada tem a ver com aomissão do Estado – Poder Público – quanto anão ter cumprido a lei relativamente àinstalação da “Casa de Albergado”.
4. Divergência jurisprudencialA propósito do tema, tem havido acirrado
debate e verdadeira controvérsia, quer em sedede doutrina, quer no tocante à manifestação dosPretórios, principalmente dos Superiores.
Note-se o que diz o magistério de Mirabete:“A prisão domiciliar foi introduzida
no Brasil pela Lei nº 5.256, de 6.4.1967,para recolher o preso provisório à própria
I - condenado maior de setenta anos;II - condenado acometido de doença grave;III- condenada com filho menor ou deficiente
físico ou mental;IV- condenada gestante”.

Revista de Informação Legislativa154
residência nas localidades onde nãohouver estabelecimento adequado aorecolhimento dos que têm direito à prisãoespecial. Com a introdução do regimeaberto na legislação penal, efetuada pelaLei nº 6.416, de 24.5.1977 (art. 29, §§5º e 6º do CP), e diante da inexistênciade locais adequados para o cumprimentoda prisão-albergue, os aplicadores daLei penal se depararam com penosasalternativas: admitir o alojamentonoturno em celas superlotadas dascadeias públicas; não conceder o regime,embora o sentenciado estivesse emcondições de se adequar a ele; ouconceder a prisão domiciliar, com orecolhimento em sua própria residência.Não havendo o Poder Público diligen-ciado para construção de estabeleci-mentos destinados ao regime aberto emtodas as comarcas, juízos e tribunaispassaram a conceder a chamada “prisão-albergue domiciliar”, transformada emverdadeiro simulacro da execução dapena pela inexistência de qualquercontrole ou fiscalização na obediênciadas condições impostas. A prisão-albergue domiciliar passou assim a serforma velada de impunidade, de que osjuízes lançavam mão em último recurso,na impossibilidade de o benefício serdesfrutado em local adequado.
(...) Por isso tornou-se praticamentepacífico, inclusive nos Tribunais Supe-riores, que o condenado que fizer jus aoregime aberto tem direito à prisão-albergue domiciliar quando inexistirCasa de Albergado onde possa cumprir apena no regime aberto fixado inicialmenteou pela progressão” (grifos nossos).
Na jurisprudência tem-se observado a con-trovérsia de modo geral entre o entendimentoliberal – de se deferir o regime domiciliar quan-do inexistir Casa de Albergado – e o absoluta-mente legal de somente deferir o regime domi-ciliar nos termos da lei (art. 117, da Lei deExecução Penal).
Controvérsia esta que tem levado a umaverdadeira “queda de braço” entre o SuperiorTribunal de Justiça e o Supremo TribunalFederal.
O Supremo tem entendimento restritivo,como se pode ver dos seguintes arestos:
“Regime aberto em residência parti-
cular. Habeas corpus indeferido por nãosatisfazer aos pressupostos estabelecidosno art. 117 da Lei nº 7.210/84” (STF-HC 66.594/RJ. Relator: Ministro Octa-vio Gallotti. DJ, de 7 out. 1988).
O Supremo Tribunal Federal, peloseu plenário, decidiu no sentido de quea prisão-albergue domiciliar somentepode ser concedida nas hipóteses des-critas no art. 117 da Lei nº 7.210/84, HC68.118/2" (STF-HC 69.119-6. Relator:Ministro Carlos Velloso. DJ, de 29 maio1992).
O recolhimento do condenado emresidência particular só é compatível como regime aberto e de acordo com as 4(quatro) hipóteses do art. 117 da LEP(Lei nº 7.210/84)(STF-HC 69.176-5.Relator: Ministro Paulo Brossard. DJU,de 23 nov.1992)”.
Já o Colendo Superior Tribunal de Justiçatem pontificado precedentes favoráveis à pos-sibilidade de cumprimento da pena em domi-cílio, diante da ausência de Casa de Albergado.
No Recurso Especial 129870. DJ, de 8 set.1997. Relator: Ministro Fernando Gonçalves,assentou-se:
“Processual penal. Execução. Pro-gressão. Regime aberto. Inexistência decasa de albergado.
1. É admissível a prisão domiciliarna falta de estabelecimento próprio, Casade Albergado, necessário ao cumprimen-to da pena em regime aberto”.
“Processual penal. Execução. Inexis-tência de casa de albergado. Cumpri-mento da pena em prisão domiciliar.Possibilidade.
1. Inexistindo Casa de Albergado ouestabelecimento adequado para o cum-primento da pena em regime aberto, ocondenado tem direito de cumpri-la emregime de prisão domiciliar.
2. Aplicação analógica da LEP, art.117" (Resp. 120.600/DF. Relator:Ministro Édson Vidigal. DJ, de 18 ago.1997).
“Processual penal. Habeas corpus.Regime aberto de cumprimento da pena.Falta de estabelecimento adequado.Prisão-albergue domiciliar.
1. Concedido o benefício de regimeaberto na sentença condenatória, consti-tui ilegalidade submeter o sentenciado aregime prisional mais gravoso ante a fal-

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 155
ta de casa de albergado ou de esta-bele-cimento adequado. Admissível, no caso,a prisão domiciliar.
2. Ordem concedida. (HC 3.192/RS.Relator: Mininistro Anselmo Santiago.DJ, de 14 out. 1996)”.
Note-se, agora, o disposto no RecursoEspecial 116.207. DJ, 6 out.1997. Relator oMinistro Cid Flaquer Scartezzini:
“Penal. Processual penal – recursoespecial – Condenação – regime aberto –inexistência de Casa de Albergado ouestabelecimento similar – prisão domi-ciliar – admissibilidade.
Na falta de Casa de Albergado, ou deoutro local adequado, há que se concederao réu sentenciado, condenado a cumprirpena em regime inicial aberto, a opor-tunidade de cumpri-la em residênciaparticular, sob pena de subverter-se aexecução da pena, de um regime menosrigoroso para um mais severo”.
E a fundamentação:“Sr. Presidente, pelo art. 93 da LEP,
‘a Casa de Albergado destina-se aocumprimento de pena privativa deliberdade em regime aberto e da pena delimitação de fim de semana.
Já o art. 203 e parágrafos do mesmoDiploma Legal dispõem que, no prazode 6 meses contados da publicação dalei, as unidades federativas em convêniocom o Ministério da Justiça devemprovidenciar a aquisição e desapro-priação de prédios para instalação decasas de albergado.
A LEP previu uma situação que nãofoi atendida pelo Estado e, assim, nãopode o condenado sofrer as conse-qüências do inadimplemento oficial.
É por esta razão que sempre defendio direito do condenado à prisão domi-ciliar quando inexistir Casa de Alberga-do ou estabelecimento similar onde pos-sa cumprir pena no regime aberto fixa-do inicialmente ou pela progressão”.
Já no Recurso Especial 120.595/DF regis-trou-se o voto-condutor do Ministro LuizVicente Cernicchiaro:
“A execução da pena, no Brasil,evidencia descompasso entre a lei e arealidade. A legislação encerra asrecomendações científicas e de tratadosinternacionais. O cumprimento da pena,
no entanto, é problema comovente. OEstado não implementou os estabe-lecimentos adequados para o regimesemi-aberto e o regime aberto. Quantoao fechado, sabido, o número é insu-ficiente, ocasionando a superpopulaçãocarcerária, causa imediata de rebeliões,constatemente exibidas na televisão.
O Judiciário, diante desse quadro,precisa ficar atento, evidenciar sensi-bilidade a fim de manter o equilíbrio dasituação. De um lado, conferir eficáciaao título executório. De outro, ajustá-loaos meios materiais de que dispõe.
O tema surge, com maior vigor,quando a sentença condenatória esta-belece o regime inicial semi-aberto ouaberto. Nessa faixa a regra é a inexis-tência de estabelecimentos adequados.Enviar, por isso, o condenado à disciplinado regime fechado, além de incons-titucional, fere os princípios da execução(...). O Estado condena porque o delin-qüente contrariou o preceito de lei, emseguida, o próprio Estado, com adesculpa de falta de estabelecimentopróprio, despreza e impõe execuçãopenal contra a lei, a mesma que buscapreservar. Inadequado, iníquo, imporregime de execução mais severo. (...)
O Judiciário precisa repensar essasolução, procurar ajustar-se à realidade.Se não fizer isso, a execução será merojogo de palavras. E outro dado é impor-tante, não pode ser esquecido: a clientelada execução penal são as pessoascarentes, sem possibilidade de reagir àilegalidade. Verdadeira iniqüidade! (...)
O condenado ao regime inicialaberto não pode, sob o único funda-mento de inexistência de Casa deAlbergado, ser submetido ao sistemafechado. Configura verdadeira regres-são que não deu causa”.
5. ConclusãoA questão, sobre ser absolutamente contro-
versa, como visto, refere-se a uma situação bas-tante delicada.
Se o agente apenado com regime aberto temdireito a cumprir a pena em Casa deAlbergado não pode, diante da inexistênciadesta, ser compelido a sofrer a reprimenda

Revista de Informação Legislativa156
em regime mais severo .Impõe-se que o Poder Público providen-
cie, com urgência, a instalação das Casasde Albergado. Enquanto isso não ocorre ,afigura-se correta a decisão com tempera-
mentos que permitem o cumprimento dapena em “regime domiciliar”.
Talvez seja a hipótese do próprio PretórioExcelso refletir um pouco mais sobre tãotormentoso tema.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 157
Dois fatos da maior importância para oaprimoramento do modelo brasileiro decontrole jurisdicional de constitucionalidadedas leis acabaram de acontecer no País.Referimo-nos à publicação da obra de PeterHäberle, A Sociedade Aberta dos Intérpretesda Constituição, traduzida e apresentada porGilmar Ferreira Mendes, e à remessa aoCongresso Nacional do Projeto de Lei nº 2.960,de 1997, de iniciativa do Poder Executivo, quedispõe sobre o processo e julgamento da açãodireta de inconstitucionalidade e da açãodeclaratória de constitucionalidade perante oSupremo Tribunal Federal.
Intimamente relacionados, esses fatosespelham o nosso amadurecimento no tratodessa matéria, a qual envolve problemas damaior relevância para toda a comunidade.Embora, à primeira vista, possa parecer umassunto técnico, merecedor de atenção exclu-sivamente por parte de iniciados ou deespecialistas, a leitura da sua exposição demotivos evidencia que essa proposta legislativainteressa a toda sociedade e não apenas aosprofissionais do direito, como se comprovaráno curso desta exposição.
Constitucionalista dos mais renomados daatualidade, com suas obras sendo objeto dereflexão e debate nos mais importantes centrosuniversitários do mundo, Peter Häberle destaca-se por uma visão republicana e democráticada interpretação da Constituição, centrada naidéia de que uma sociedade aberta exige umainterpretação igualmente aberta de sua leifundamental, até porque
“no processo de interpretação constitu-cional estão potencialmente vinculadostodos os órgãos estatais, todas aspotências públicas, todos os cidadãos e
As idéias de Peter Häberle e a aberturada interpretação constitucional no direitobrasileiro
INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO
Inocêncio Mártires Coelho é Professor Titularda Faculdade de Direito da Universidade de Brasília

Revista de Informação Legislativa158
grupos, não sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado comnumerus clausus de intérpretes daConstituição”1.
Nessa ordem de idéias, ele observa que ateoria da interpretação constitucional, durantemuito tempo, esteve vinculada a um modelo deinterpretação de uma sociedade fechada,concentrando-se primariamente na inter-pretação constitucional dos juízes e nosprocedimentos formalizados, do que resultouempobrecido o seu âmbito de investigação. Porisso, é chegada a hora de uma virada herme-nêutica radical para que a interpretaçãoconstitucional − que a todos interessa e a todosdiz respeito − seja levada a cabo pela e para asociedade aberta e não apenas pelos operadoresoficiais.
Em suma, no contexto de um Estado dedireito, que se pretende democrático e social,torna-se imperioso que a leitura da Constituiçãose faça em voz alta e à luz do dia, no âmbito deum processo verdadeiramente público erepublicano, pelos diversos atores da cenainstitucional − agentes políticos ou não −porque, ao fim e ao cabo, todos os membros dasociedade política fundamentam na Consti-tuição, de forma direta e imediata, os seusdireitos e deveres2.
Em tema de direitos fundamentais − e.g.liberdade de cátedra, de criação artística, deimprensa e de organização sindical − é de todoevidente que sem a participação dos seusdestinatários, daqueles que vivenciam essesdireitos, não se produz uma interpretaçãosequer razoável do texto constitucional.
O mesmo se diga com relação àquelesdireitos cujo âmbito de proteção envolveconteúdos só revelados com a ajuda herme-nêutica de intérpretes não-jurídicos, como é ocaso dos direitos das populações indígenas, nostermos em que são reconhecidos pelo artigo 231da Constituição do Brasil. Sem o apoio dospróprios índios, de antropólogos e de indige-nistas − que, aliás, participaram do processoconstituinte − o juiz não conseguirá ler essedispositivo constitucional.
Com base na experiência, obviamente emrazão do fato de vivermos numa sociedaderazoavelmente pluralista e democrática, pode-
se dizer que, até certo ponto, essa aberturahermenêutica já existe entre nós e que ela semanifesta difusamente − pelo modo como osagentes políticos aplicam a Constituição nasdiversas instâncias de decisão −, do que resultaminimamente ampliado o círculo dos parti-cipantes da realização constitucional, assimcomo assegurada, embora também em graumínimo, a influência social sobre os funcio-nários da interpretação constitucional.
Nesse contexto, o que se faz necessário,portanto, é institucionalizarmos procedimentosque densifiquem a intervenção de terceiros noprocesso de interpretação e aplicação da leifundamental. Afinal de contas, indepen-dentemente das suas peculiaridades, nunca édemais relembrar que, no âmbito da jurisdiçãoconstitucional, aqueles que não participaremda relação processual, que não assumiremqualquer posição no processo ou que, atémesmo, ignorarem a sua existência, poderãoconsiderar-se politicamente não alcançadospelos efeitos da coisa julgada e, por via deconseqüência, autorizados a ignorar a forçanormativa da Constituição.
Por isso, também sob esse ângulo, digamos,procedimental, afigura-se conveniente quetodos possam participar do jogo interpretativo,quando mais não seja para que não se animema virar-lhe a mesa ou a contestar o seu resultado.Na medida em que são partículas da Consti-tuição, como diria Lassalle, ou agentesconformadores da realidade constitucional eforças produtivas de interpretação, nalinguagem de Häberle, esses segmentos sociaisnão podem ficar à margem do processo derevelação da vontade constitucional.
Nessa perspectiva, a ampliação do númerodos tradutores constitucionais autorizados, aomesmo tempo em que promove a integraçãodas diferentes perspectivas hermenêuticas,opera como instrumento de prevenção e soluçãode conflitos. Noutras palavras, à medida queasseguram o dissenso hermenêutico e racio-nalizam as divergências de interpretação emtorno da Constituição, idéias como as deHäberle colaboram, decisivamente, parapreservar a unidade política e manter a ordemjurídica, que são os objetivos fundamentais detoda Constituição3.
Subjacente a essa compreensão ampliada eenriquecida da interpretação constitucional −1 A sociedade aberta dos intérpretes da Cons-
tituição : contribuição para a interpretação pluralistae “procedimental” da Constituição. Porto Alegre :S. A. Fabris, 1997. p.13.
2 CANOTILHO, Gomes. Direito Constitucional.Coimbra : Almedina, 1991. p. 208.
3 HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Consti-tucional. Madrid : Centro de Estudios Constitu-cionales, 1983. p. 8-9. Concepto y cualidad de laConstitución.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 159
a que serve de fundamento e legitimação −,existe uma concepção hermenêutica da maiorconsistência, segundo a qual Constituição erealidade constitucional se implicam comtamanha intensidade, que a norma jurídicadeixa de ser vista como o pressuposto para serencarada como o resultado da interpretação,resultado a que se chega no curso de umprocesso no qual o programa normativo e oâmbito normativo, em permanente interaçãodialética, reciprocamente se exigem, escla-recem-se, iluminam-se e revelam-se.
Daí, precisamente, a afirmação de Häberle,na linha de um pensamento de aceitaçãocrescente, a nos dizer que não existe normajurídica, senão norma jurídica interpretada4.
Do ponto de vista procedimental, para queessa abertura hermenêutica possa gerar frutossegundo a sua espécie, faz-se necessáriointegrar a realidade no processo de inter-pretação constitucional, o que só se alcançaráse forem criados mecanismos idôneos paracaptar, filtrar e absorver os anseios de todos osatores da cena social.
É que, embora intérpretes não-oficiais daLei Fundamental, nem por isso os chamadosgrupos intermediários e o próprio cidadãodeixam de ser legítimos interessados na suaaplicação. Detentores permanentes da privi-legiada condição de sujeitos do processoconstituinte e de realizadores e destinatáriosfinais da Constituição, de nada lhes adiantariaostentar esse título de nobreza se lhes fossevedado participar do processo de tradução davontade constitucional.
Destarte, se a jurisdição constitucional, deforma natural e continuada, conseguir preservara sintonia entre o programa normativo e oâmbito normativo, vale dizer, entre a inter-pretação constitucional e a realidade constitu-cional − tarefa que será tanto mais facilitadaquanto maior for a sua capacidade paraauscultar e compreender os anseios sociais −,as cortes que exercem essa jurisdição políticaestarão legitimando os resultados da suaatividade hermenêutica e, provavelmente, até
mesmo preservando a sua própria existênciano marco do Estado Democrático de Direito.
Afinal de contas, embora situadas fora eacima dos demais Poderes5 − enquantoinstâncias supremas cuja atividade herme-nêutica não sofre qualquer limitação jurídica−, essas cortes extraordinárias são, também elas,simples criaturas constitucionais e, nessacondição, não se acham imunes às reaçõessociais, podendo vir a desaparecer na voragemde qualquer processo constituinte.
Por isso mesmo, sem que precisem andar areboque das maiorias ocasionais, embora nãopossam nem devam ignorar a sua existência,se conseguirem preservar aquele equilíbrioinstável entre norma e realidade constitu-cional − e à medida que o consigam −, ostribunais constitucionais continuarão a contarcom o respaldo da opinião pública parareescrever de fato a Constituição6, sem que aninguém ocorra sequer indagar sobre alegitimidade desse procedimento.
Nessa visão, quanto mais aberto à partici-pação social se mostrar o processo de interpre-tação e aplicação da Carta Política, maisconsistentes e mais eficazes serão as decisõesda jurisdição constitucional enquanto respostashermenêuticas − temporalmente adequadas −às perguntas da Sociedade sobre o sentido, oalcance e a própria necessidade da suaConstituição.
4 Entre nós, pioneiramente, Miguel Reale teveoportunidade de afirmar que “o direito é norma esituação normada e que “a norma é a suainterpretação”. Filosofia do Direito. São Paulo :Saraiva, 1982. p. 594; Teoria tridimensional doDireito – situação atual. São Paulo : Saraiva, 1986.p. 98; Fontes e modelos do Direito : Para um novoparadigma hermenêutico. São Paulo : Saraiva,1994. p. 33.
5 CAPPELLETTI, Mauro. O controle de constitu-cionalidade das leis no sistema das funções estatais .Revista de Direito Processual Civil, São Paulo, v.3. p. 38, 1961.
6 A propósito do relevo institucional e do podercriador da jurisdição constitucional, afirmouFrancisco Campos, em 2.4.41, na solenidade deabertura dos trabalhos do STF: “Juiz das atribuiçõesdos demais Poderes, sois o próprio juiz das vossas.O domínio da vossa competência é a Constituição,isto é, o instrumento em que se define e se especificao Governo. No poder de interpretá-la está o detraduzi-la nos vossos próprios conceitos. Se ainterpretação e particularmente a interpretação deum texto que se distingue pela generalidade, aamplitude e a compreensão dos conceitos, não éoperação puramente dedutiva mas atividade denatureza plástica, construtiva e criadora, no poderde interpretar há de incluir-se, necessariamente, pormais limitado que seja, o poder de formular. O poderde especificar implica margem de opção tanto maislarga quanto mais lata, genérica, abstrata, amorfaou indefinida a matéria de cuja condensação há deresultar a espécie”. Direito Constitucional. Rio deJaneiro : Forense, 1942. p. 367: O Poder Judiciáriona Constituição de 1937.

Revista de Informação Legislativa160
À luz dessas premissas, ninguém teriaobjeções, pelo menos em tese, às propostas dePeter Häberle para a construção de umasociedade aberta dos intérpretes da Consti-tuição, até porque − embora omitida qualquerrelação de parentesco − elas se mostramessencialmente idênticas às incômodas esempre atuais reflexões de Fernando Lassallesobre a presença dos fatores reais de poder navida das Constituições7.
Ocorre que uma simples leitura do extensorol dos agentes que Peter Häberle reputaigualmente legitimados a interpretar aConstituição aponta, desde logo, para anecessidade de se racionalizar o processo deauscultação daquilo que têm a dizer esses novosprotagonistas da interpretação constitucional8.
Caso contrário, isto é, se nos descuidarmosdessa exigência de racionalização, como opróprio Häberle reconhece − e a crítica temapontado com freqüência −, a exegese consti-tucional poderá dissolver-se num grande
número de interpretações e de intérpretes,instaurando-se uma babel hermenêutica que,inevitavelmente, comprometerá a unidade e aforça normativo-agregadora da Constituição.
Nessa linha de pensamento, não constituiriaexagero dizermos que, levada a extremos, essadissolução hermenêutica daria ensejo aconflitos entre a Carta Política e uma realidadeinconstitucional, hipótese em que, via de regra,os fatores reais de poder acabam prevalecendosobre o texto da Constituição folha de papel,que se torna perempta e, por isso, deve sersubstituída por uma normatividade circuns-tancialmente adequada.
Conhecedor dessa realidade e sinceramenteempenhado em modernizar a ordem jurídicado País − nesse propósito compreendida,obviamente, a abertura racional da nossajurisdição constitucional −, o Ministro daJustiça constituiu uma grande comissão dejuristas9, aos quais atribuiu a incumbênciade formular estudos para a reforma das leisque dispõem sobre ação popular, ação civilpública, mandado de segurança e repre-sentação interventiva, assim como paraelaborar projetos de lei sobre o mandado deinjunção, o habeas data , a ação direta deinconstitucionalidade e a ação declaratóriade constitucionalidade.
Como resultado inicial dos trabalhos dessacomissão, foi apresentado anteprojeto de lei,cuja versão inicial esteve a cargo do renomadoconstitucionalista Gilmar Ferreira Mendes,para regular o processo e julgamento da açãodireta de inconstitucionalidade e da açãodeclaratória de constitucionalidade perante oSupremo Tribunal Federal.
Embora inspirada por aquele propósitomodernizador, em cujo âmbito, insista-se, estáinserida a necessidade de se promover,racionalmente, a abertura hermenêutica domodelo brasileiro de controle jurisdicional daconstitucionalidade das leis, a propostalegislativa, nos termos em que foi enviada aoCongresso Nacional − Projeto de Lei nº 2.960,de 1997, do Poder Executivo − acabou ficandoaquém das expectativas, precisamente no quese refere ao tamanho da pretendida abertura.
7 Em estudo a ser publicado brevemente sob otítulo Konrad Hesse/Peter Häberle : um retorno aosfatores reais de poder, tentaremos demonstrar que,a despeito de sua inegável importância, não sãooriginais as idéias desse jurista sobre a necessidadede se abrir a interpretação da Constituição aosagentes conformadores da realidade constitucionalou às forças produtivas de interpretação. Naessência, como na forma, achamos que elas sãodescendentes hermenêuticas das reflexões deLassalle sobre a essência da Constituição.
8 Além dos intérpretes oficiais e à margem dosprocedimentos formalizados de interpretaçãoconstitucional, Peter Häberle considera intérpretesigualmente legítimos da Constituição os agentesconformadores da realidade constitucional, querepresentam forças produtivas de interpretação, asaber: o recorrente e o recorrido, no recurso consti-tucional (verfassungsbeschewerde), enquantoagentes que justificam a sua pretensão e obrigam oTribunal Constitucional a tomar uma posição ou aassumir um diálogo jurídico (Rechtsgespräch );outros participantes do processo, que têm direito dese manifestar ou de integrar a lide, ou que são,eventualmente, convocados pela própria Corte;pareceristas ou experts; peritos e representantes deinteresses; grupos de pressão organizados; a opiniãopública democrática e pluralista e o processo político;a imprensa; os partidos políticos fora do seu âmbitode atuação organizada; as igrejas e as organizaçõesreligiosas; as associações de pais; as escolas dacomunidade; os meios universitário, científico eartístico; a doutrina constitucional, por si e por suaatuação para tematizar a participação das outrasforças produtoras de interpretação etc. Cf.Hermenêutica Constitucional, p. 20-22.
9 Sob a presidência do professor Caio Tácito,integram essa Comissão os juristas Ada PelegriniGrinover, Álvaro Villaça de Azevedo, AntonioHerman Vasconcelos Benjamin, Carlos AlbertoDireito, Gilmar Ferreira Mendes, Jamyr Dall’Agnol,Luiz Roberto Barroso, Manoel André da Rocha,Roberto Rosas e Ruy Rosado de Aguiar Junior.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 161
É que, atentos ao peso da tradição10 ecertamente contingenciados pela necessidadede obter o nihil obstat do STF, os redatoresfinais do projeto, mesmo tendo facilitado aconsulta aos diferentes segmentos sociaisinteressados nas respostas da jurisdiçãoconstitucional, viram-se obrigados a limitaressa tomada de opiniões e, por via de conse-qüência, também as perguntas destinadas aesclarecer o sentido da Constituição.
Com efeito, em clara oposição às idéias depublicização do processo de controle daconstitucionalidade das leis − Peter Häberle,como vimos, preconiza uma visão republicanae democrática de interpretação constitu-cional −, o projeto preferiu prestigiar juris-prudência regressiva incorporada a normasimplesmente regimental do STF para, semrazão aparente, vedar a intervenção de terceirosna ação direta de inconstitucionalidade, assimcomo na ação declaratória de constitu-cionalidade, muito embora tal restrição nãodecorra da lei ou, mesmo indiretamente, dotexto da Constituição.
Ao contrário, à luz da história da açãodireta no direito brasileiro, parece que o certoseria liberalizar-se a sua propositura, pelomenos a partir da Carta de 1988, que rompeucom a tradição de se concentrar numa só pes-soa − o Procurador-Geral da República − aprerrogativa de promover essa demandaconstitucional perante o STF.
Pois bem, a despeito dessa opção conser-vadora e não republicana da interpretaçãoconstitucional, a proposta contém váriasaberturas hermenêuticas − umas bem signifi-cativas, outras nem tanto − destinadas, todas,a conferir um caráter pluralista ao processoobjetivo de controle abstrato de constitu-cionalidade.
Entre as aberturas, digamos, menores, oprojeto permite que os autores constitucio-nalmente legitimados a instaurar esse tipo deprocesso (CF − artigo 103 caput, e § 4 º ) possammanifestar-se, por escrito, sobre o objeto daação, pedir a juntada de documentos que seconsiderem úteis para o exame da matéria,assim como apresentar memoriais.
Tendo em conta que esses autores, a rigor,não podem ser considerados terceiros interes-sados − até porque, por direito próprio, têmlegitimidade para propor diretamente a mesmaação ao invés de intervirem em demandaconstitucional alheia −, é que nós consideramossem maior expressão essa porta de acesso àrelação processual constitucional. Pelo menosenquanto instrumento democratizador daleitura da Constituição.
Contra esse nosso entendimento, sustentaGilmar Ferreira Mendes − com quem discuti-mos este e outros pontos do Projeto de Lei nº2.960/97 − que essa abertura é muito maissignificativa do que imaginamos e que a suareal dimensão somente será avaliada correta-mente se tivermos presente o fato de que, sema permissão criada pela citada propostalegislativa, os demais agentes indicados no art.103 da Constituição não teriam direito própriopara intentar aquelas demandas constitucionais.
É que − prossegue o consagrado constitu-cionalista − sendo-lhes originariamentealheias, essas ações não poderiam ser propostaspor autores outros, os quais, precisamente emrazão dessa estranheza, não preencheriam orequisito da relação de pertinência que aExcelsa Corte, a despeito do caráter impessoale objetivo desse tipo de demanda, tem exigidopara conhecer da ação direta de inconsti-tucionalidade11.
Mesmo assim, nada nos garante que o STF,apesar ou por causa dessa abertura, não venhaformular essa mesma exigência para que, nasações diretas intentadas por terceiros, aquelesoutros autores possam manifestar-se, porescrito, sobre o objeto da ação e pedir ajuntada de documentos reputados úteis para oexame da matéria, bem como apresentarmemoriais. Afinal de contas, dado o caráterrelativamente aberto e indeterminado doconceito de relação de pertinência, parece não
10 A respeito da tradição, como categoriahermenêutica, cumpre ter presente a advertência deGadamer no sentido de que, embora deva olhar parao passado, o intérprete não pode ignorar-se a si mesmo,nem desprezar a concreta situação histórica em quese encontra. Cf. Verdad y método. Salamanca :Sígueme, 1993. v. 1, p. 396-401.
11 A propósito dessa exigência criada pelo STF,vale registrar a opinião do próprio Gilmar FerreiraMendes: “Cuida-se de inequívoca restrição aodireito ao direito de propositura, que, em se tratandode processo de natureza objetiva, dificilmentepoderia ser formulada até pelo legislador ordinário.A relação de pertinência assemelha-se muito aoestabelecimento de de uma condição da ação −análoga, talvez, ao interesse de agir −, que nãodecorre dos expressos termos da Constituição eparece ser estranha à natureza do processo decontrole de normas”. Jurisdição Constitucional: ocontrole abstrato de normas no Brasil e na Alemanha.São Paulo : Saraiva, 1996. p. 142.

Revista de Informação Legislativa162
haver limites ao juízo de admissibilidade dascortes constitucionais.
Nossa experiência, no particular, não ensejamuito otimismo, até porque continua válida alição de Rui Barbosa, ministrada nos primór-dios da República, de que o Supremo TribunalFederal − como, de resto, todas as cortesconstitucionais12 − é o único juiz da sua própriaautoridade.
Bem mais significativa do que a mencio-nada fenda hermenêutica, embora vocacionadapara produzir resultados apenas por viaindireta, afigura-se a faculdade conferida aorelator para, em caso de necessidade deesclarecimento de matéria ou circunstância defato, ou de notória insuficiência das infor-mações existentes nos autos, requisitarinformações adicionais, designar peritos paraemitirem parecer sobre a questão, ou fixar datapara, em audiência pública, ouvir depoimentosde pessoas com experiência e autoridade namatéria.
Nessa mesma linha, embora com um graude importância bem mais elevado, é de seconsiderar a permissão, igualmente concedidaao relator, para solicitar informações aosTribunais Superiores, aos Tribunais federais eaos Tribunais estaduais acerca da aplicação danorma impugnada.
Imaginando-se a riqueza das informaçõesque essas instâncias de decisão poderãotransmitir ao Supremo Tribunal Federal sobrea aplicação da norma questionada − não nosesqueçamos de que interpretar é sempretambém aplicar13 −, devemos esperar que anossa Corte Suprema, explorando todas asvirtualidades dessas aberturas procedimentais,venha a ampliar consideravelmente o seuhorizonte de compreensão e, por via deconseqüência, a decidir melhor as demandasconstitucionais.
Noutras palavras, se tirar todo o proveitodo quanto lhe poderão proporcionar essesprivilegiados sensores sociais, o STF enrique-cerá a interpretação constitucional pelareintegração entre fato e norma, entre domínionormativo e programa normativo, entrerealidade constitucional e texto constitucional,reintegração que se faz tanto mais necessáriaquanto sabemos que esses elementos seimplicam e se exigem reciprocramente, comocondição de possibilidade da compreensão, dainterpretação e da aplicação de qualquermodelo jurídico.
De resto − como lembraram, com toda apertinência, os próprios autores dessa propostalegislativa − a controvérsia constitucional nãoconfigura uma simples questão jurídica deaferição da legitimidade da lei em face daConstituição. Muito mais complexa do que umaasséptica comparação lei com lei, a questãoconstitucional, até mesmo pelas conseqüênciasdo seu desfecho, exige um acurado cotejo entrea norma e a situação normatizada, porque semo exame dos fatos nada nos dizem as forma-lizações jurídicas14.
Noutros termos, porque o programanormativo e o domínio normativo se implicame se exigem reciprocramente, com intensidadetamanha que um só é o que é enquanto o épara o outro − tal como se vinculam sujeito eobjeto na relação do conhecimento −, acorrelação fato-norma é da própria essência dodireito, que só é o que é enquanto se manifestacomo ordenação jurídica da vida social.
Igualmente significativa se mostra apossibilidade de que − atento à relevância damatéria e à representatividade dos postu-lantes −, o relator possa autorizar que qualqueroutro órgão ou entidade se manifeste noprocesso na condição de amicus curiae15 e, poressa forma, venha a contribuir para que oTribunal decida as questões constitucionais compleno conheci-mento de todas as suas implica-ções ou repercussões.
12 Vide Notas 5 e 6.13 Gadamer, op. cit., p. 380.
14 A propósito, observa Karl Larenz, na linha dopensamento de Martin Kriele, que não se podeinterpretar nenhum texto jurídico senão confron-tando-o com problemas jurídicos concretos, reais ouimaginários, isto é, com soluções que se procurampara os casos ocorrentes, porque somente na suaaplicação aos casos e na concretização, que assimnecessariamente se processa, é que se revela,completamente, o conteúdo significativo de umanorma e esta cumpre a a sua função de regularsituações concretas. Metodologia da Ciência doDireito. Lisboa : Gulbenkian, 1978. p. 396.
15 Conforme o Law Dictionary, de Steven H.Gifis, Woodbury : Barron’s Educational Series, 1975.p. 11-12, Amicus Curiae é o amigo da corte, aqueleque lhe presta informações sobre matéria de direito,objeto da controvérsia. Sua função é chamar aatenção da corte para alguma matéria que poderia,de outra forma, escapar-lhe à atenção. Um memorialde amicus curiae é a peça produzida por quem nãoé parte numa ação, com vistas a auxiliar a corte,com informações necessárias, para que ela possatomar uma decisão correta ou com vistas a advogarum determinado resultado em nome de interessespúblicos ou privados de terceiros, que serãoindiretamente afetados pela solução da disputa.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 163
Muito embora o projeto faça do relator ojuiz exclusivo da conveniência e da oportu-nidade dessas manifestações, só o fato deensejá-las já representa significativo avanço,sobretudo num contexto de restrições crescentese sistemáticas, em que sempre se proclamou ocaráter reconhecidamente objetivo do processode controle de constitucionalidade em abstratopara estreitar os limites das controvérsiasconstitucionais e, por essa forma, descartar tudoquanto, subjetivamente, pudesse dificultar aleitura oficial da Constituição.
A propósito, registre-se que mesmo depoisde ampliado o número dos autores legitimadosa instaurar o contencioso de constitucionalidadena via da ação direta − ou até mesmo por causadessa ampliação −, embora sem apoio visívelna Constituição, ou sequer em norma legal, oSupremo Tribunal Federal continuou restrin-gindo o acesso da cidadania a esse modoexpedito de provocar a jurisdição consti-tucional16.
Admitida, pela forma indicada, a presençado amicus curiae no processo de controle deconstitucionalidade, não apenas se reitera aimpessoalidade da questão constitucional ,como também se evidencia que o deslinde dessetipo de controvérsia interessa objetivamente atodos os indivíduos e grupos sociais, até porqueao esclarecer o sentido da Carta Política, ascortes constitucionais, de certa maneira,acabam reescrevendo as constituições.
Nessa perspectiva, se é verdade que osautores ingleses consideram os statutes do seuParlamento como erratas e adendas do commonlaw, não seria exagerado dizermos que, à luzda experiência da jurisdição constitucional, osjulgados das cortes que a exercem têmfuncionado como correções e acréscimos notexto das Constituições.
Finalmente, o avanço mais significativo,consubstanciado no artigo 27 do projeto:
“Ao declarar a inconstitucionalidadede lei ou ato normativo, tendo em vistarazões de segurança jurídica ou deexcepcional interesse social, poderá oSupremo Tribunal Federal, por maioriade dois terços de seus membros, res-tringir os efeitos dessa declaração ou
decidir que ela só tenha eficácia a partirde seu trânsito em julgado ou de outromomento que venha a ser fixado”.
Com essa fórmula, inspirada imediatamentena Constituição Portuguesa de 1976, mashistoricamente amadurecida na experiência danossa jurisdição constitucional, tem-se em miraatenuar as conseqüências das declarações deinconstitucionalidade, em ordem a impedir que,por amor aos princípios, os juízes acabemcontrariando a natureza das coisas, desneces-sariamente aliás, porque a Constituição nemproíbe nem exige efeito retrotativo, como bemsalientaram os autores do projeto.
Conscientes da gravidade e do risco de seatribuir semelhante prerrogativa a um tribunal −mesmo que essa corte seja o Supremo TribunalFederal −, gravidade e risco que se poten-cializam pelo caráter aberto e indeterminadodos conceitos de segurança jurídica e deexcepcional interesse social, cuidaram osidealizadores da proposta de justificá-la àexaustão, certamente atentos à advertência deque o abandono dos precedentes exige nãoapenas a explicação ordinária das razões defato e de direito que fundamentaram essamudança de posição, como também umajustificação adicional dos motivos que levaramo intérprete a se afastar do critério anterior17.
Afinal de contas, sempre se entendeu queuma lei declarada inconstitucional não é lei deforma alguma e, por isso, há de ser tida comonula e de nenhum efeito... Então, por quemudar? Por que abandonar esse velho econfortável entendimento, que tem a seu favorargumentos lógicos da maior consistência? Porque, enfim, preservar situações que se criaramao abrigo de normas sabidamente incons-titucionais?
Simplesmente porque assim o exige anatureza das coisas e porque a vida do direitonão tem sido lógica, tem sido experiência...
Pela radical mudança de perspectivaconsubstanciada nessa ousada proposta, é dese considerar que aí se encontra a maior e amais importante abertura em nosso processode controle abstrato de constitucionalidade,porque dará ensejo a que o Supremo Tribunal
16 Sobre a jurisprudência de não-conhecimentodas ações diretas de inconstitucionalidade deiniciativa das confederações sindicais e entidadesde classe de âmbito nacional (CF, art. 103, IX), namesma linha do comentário registrado anteriomente(Nota 11), merece registro a avaliação crítica deGilmar Ferreira Mendes, op. cit., p. 138-145.
17 ALEXY, Robert. Teoría de la argumentaciónjurídica. Madrid, : Centro de Estudios Consti-tucionales, 1989. p. 265; AULIS, Aarnio. Lo racionalcomo razonable. Madrid : Centro de EstudiosConstitucionales, 1991. p. 260; GASCÓN ABELLÁN,Marina. La técnica del precedente y la argumen-tación racional. Madrid : Tecnos, 1993. p. 39-40.

Revista de Informação Legislativa164
Federal − alertado sobre todas conseqüênciasdas suas decisões − venha a adotar, semcontorcionismos, uma realística jurisprudênciade resultados, assumidamente inspirada nosvalores da segurança jurídica e do interessesocial, que são congênitos à idéia de direito.
Concluindo, muito embora não tenhamosido tão longe quanto desejávamos, o Projeto de
Lei nº 2.960/97 já representa um significativoavanço para a publicização e a democratizaçãodo modelo brasileiro de controle jurisdicionalde constitucionalidade das leis.
Convertido em lei, depois de aperfeiçoadopelo Congresso Nacional, não temos dúvida deque abrirá caminho para a construção da nossasociedade aberta de intérpretes da Constituição.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 165
1. Considerações iniciaisPrevista no parágrafo 3º do artigo 41 da
atual Constituição brasileira, a disponibilida-de remunerada dos servidores públicos tem tra-dicionalmente recebido do legislador pátrio umtratamento variado e não poucas vezes desar-mônico em face de sua natureza jurídica.
Talvez por esse motivo, doutrina e jurispru-dência apresentem-se tão oscilantes ao se apre-ciar o instituto, acarretando inúmeras dificul-dades àqueles que, notadamente na esfera ad-ministrativa, devem conferir aplicabilidade àdisponibilidade. É preciso esclarecer que asdúvidas suscitadas não se referem unicamenteao aparato normativo que a regulamenta, masestão voltadas à compreensão da real vocaçãoe dos principais aspectos que envolvem a dis-ponibilidade dos servidores públicos.
O crescente interesse na matéria justifica-se, de um lado, em razão do incessante movi-mento de desestatização e do profuso empregodas concessões e permissões como formas dedescentralização de serviços públicos. É que,
A disponibilidade remunerada dosservidores públicos à luz da Constituiçãode 1988
GUSTAVO HENRIQUE JUSTINO DE OLIVEIRA
Gustavo Henrique Justino de Oliveira é Procu-rador do Estado do Paraná e Mestrando em Direitodo Estado na Faculdade de Direito da USP.
Prêmio Miguel Seabra Fagundes, outorgado peloInstituto Brasileiro de Direito Administrativo(IBDA), no concurso de monografias do XI Congres-so Brasileiro de Direito Administrativo (Vitória,30.10 a 2.11.97). Ao trabalho original foram acres-centados itens relativos à evolução constitucional elegislativa do instituto.
SUMÁRIO
1. Considerações iniciais. 2. A disponibilidadeno direito positivo brasileiro. 2.1. O histórico cons-titucional do instituto. 2.2. A disponibilidade naConstituição de 1988. 2.3. O tratamento na legis-lação federal. 3. A natureza jurídica da disponibi-lidade. 4. Disponibilidade e estabilidade. 4.1. Dis-ponibilidade e vitaliciedade. 5. Extinção e declara-ção de desnecessidade de cargos públicos. 6. O afas-tamento do servidor em disponibilidade. 7. A remu-neração na disponibilidade. 7.1. A posição do Su-premo Tribunal Federal. 7.2. As vantagens excluí-das dos vencimentos de disponibilidade. 8. A figu-ra do aproveitamento. 9. Disponibilidade e Refor-ma Administrativa. 10. Conclusões.

Revista de Informação Legislativa166
como reflexo da disseminação dos diversosmeios de parceria entre o poder público e osparticulares, grande número de cargos foramdeclarados desnecessários ou extintos. De ou-tro lado, as dificuldades financeiras enfrenta-das pelas administrações públicas de todas asesferas federativas colocaram a disponibilida-de em evidência, encarada como uma soluçãocapaz de abrandar a situação deficitária doscofres públicos, pois a remuneração dos servi-dores passaria, em tese, a ser proporcional aotempo de serviço.
No entanto, as propostas de alteração dotexto constitucional na parte concernente à Ad-ministração Pública, formuladas pelo GovernoFederal e inicialmente descritas no Plano-Di-retor da Reforma do Aparelho do Estado, têmo condão de conferir novos contornos à dispo-nibilidade dos servidores públicos.
A partir da vigente Carta Magna e das dis-posições legais pertinentes, com suporte nas po-sições doutrinárias e decisões judiciais mais sig-nificativas, procurar-se-á examinar alguns dospontos controvertidos do instituto. Logo após,será apresentada a síntese das inovações suge-ridas na Proposta de Emenda à Constituiçãonº 173-A/95, na parte referente à disponibilida-de, seguida das conclusões finais do trabalho.
2. A disponibilidade no direito positivobrasileiro
2.1. O histórico constitucional do institutoAs duas primeiras Constituições da Repú-
blica silenciaram acerca do instituto da dispo-nibilidade. No entanto, é importante notar quea Carta de 1934, em seu artigo 1691, foi a res-ponsável pela inserção, em nosso Ordenamen-to, da garantia da estabilidade dos servidorespúblicos.
É com caráter abertamente sancionatórioque a disponibilidade remunerada do servidorpúblico aparece na realidade constitucional bra-sileira, no artigo 157 da Carta de 19372. Nesse
período, também as figuras da aposentadoria eda reforma (para servidores civis e militares,respectivamente) eram empregadas pela Admi-nistração como formas de punição disciplinar,em conformidade com o disposto no artigo 177do Texto Constitucional aludido.
Todavia, foi a Constituição de 1946 que ou-torgou à disponibilidade as notas hoje tidascomo essenciais a esse instituto, ao prescreverno parágrafo único do artigo 189 que
“extinguindo-se o cargo, o funcionárioestável ficará em disponibilidade remu-nerada até o seu obrigatório aproveitamen-to em outro cargo de natureza e vencimen-tos compatíveis com o que ocupava”.
Eis a gênese constitucional da concepçãogarantista da disponibilidade, imediatamenterelacionada à estabilidade conquistada pelos ti-tulares de cargos públicos após o interstício dedois anos de exercício, desde que nomeadosmediante aprovação em concurso público (ar-tigo 188, inciso I)3. Cumpre aduzir que, na ex-pressão concebida por Caio Tácito, o preceitodo Texto Constitucional de 1946 “era neutroquanto ao valor dos proventos”4.
A Carta de 1967 consolida a natureza jurí-dica do instituto ditada pela Constituição pre-cedente, acrescentando o critério da integrali-dade da remuneração do servidor público colo-cado em disponibilidade, nos moldes do § 2ºdo artigo 99.
Entretanto, o artigo 6º do Ato Institucionalnº 5, de 13.12.68, determinou que o ato de dis-ponibilidade possibilitaria “vencimentos e van-tagens proporcionais ao tempo de serviço”. Emdecorrência da alteração proposta e por impo-sição do Ato Complementar nº 40, de 30.12.68(ratificado pelo artigo 3º do Ato Institucionalnº 6, de 1º.2.69)5, inseriu-se a declaração de
1"Os funcionários públicos, depois de dois anos,quando nomeados em virtude de concurso de pro-vas, e, em geral, depois de dez anos de efetivo exer-cício, só poderão ser destituídos em virtude de sen-tença judiciária ou mediante processo administrati-vo, regulado por lei, e no qual lhes será asseguradoplena defesa”. Cf. MIRANDA, Pontes de. Comen-tários à Constituição da República dos E.U. doBrasil. Rio de Janeiro : Guanabara, 1934. v. 2.
2 O artigo indigitado estipulava que “poderá serposto em disponibilidade, com vencimentos propor-
cionais ao tempo de serviço, desde que não caiba nocaso a pena de exoneração, funcionário civil queestiver no gozo das garantias de estabilidade, se, ajuízo de uma comissão disciplinar nomeada pelo mi-nistro ou chefe de serviço, o seu afastamento do exer-cício for considerado de conveniência ou de interes-se público”.
3 Em decorrência do artigo 188, inciso II, a esta-bilidade era igualmente conquistada por aquelesservidores não nomeados por concurso público, masapós cinco anos de desempenho de suas atividades.
4 A disponibilidade na Constituição de 1988 :parecer. Revista de Direito Público, São Paulo, v.24, n. 96, p. 95, out./dez. 1990.
5 Insta destacar que no período ditatorial um atocomplementar tinha o condão de sustar a eficáciade um preceito da Constituição, o qual, nominal-

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 167
desnecessidade do cargo como motivo a ense-jar a disponibilidade do servidor, sem a obri-gatoriedade de aproveitamento.
Com o advento da Emenda Constitucionalnº 1, de 17.10.69, o instituto volta a ter umcaráter de punição disciplinar. Consagradas asmudanças previstas nos diplomas ditatoriaiselencados, a disponibilidade dos servidorespúblicos passa a ser prevista no parágrafo úni-co do artigo 100, segundo o qual “extinto ocargo ou declarada pelo Poder Executivo a suadesnecessidade, o funcionário estável ficará emdisponibilidade remunerada, com vencimentosproporcionais ao tempo de serviço”.
2.2. A disponibilidade na Constituição de 1988Não seria incorreto sustentar que o legisla-
dor constituinte de 1988 buscou inspiração naCarta de 1946 no que tange ao tratamento cons-titucional da disponibilidade remunerada.
Reintroduzindo claramente a função garan-tista do instituto, o § 3º do artigo 41 da LeiMaior, ao determinar que “extinto o cargo oudeclarada sua desnecessidade, o servidor está-vel ficará em disponibilidade remunerada, atéseu adequado aproveitamento em outro cargo”,concede um forte instrumento de proteção aoservidor público que adquiriu a estabilidade,nos moldes do caput do mesmo artigo 41.
Com efeito, além de afastar a utilização doinstituto para fins sancionatórios6, a Constitui-ção de 1988 deixa claro ser a disponibilidade“autêntica garantia do servidor público está-vel”, pois na hipótese de extinção ou declara-ção de desnecessidade do cargo do qual o mes-mo é titular, haverá a obrigatoriedade de pre-servação do vínculo por ele mantido com a Ad-ministração Pública. Outra não é a ilação queemana da cristalina dicção do § 1º do artigo41, em razão do qual “o servidor público está-vel só perderá o cargo em virtude de sentençajudicial transitada em julgado ou mediante pro-cesso administrativo em que lhe seja assegura-da ampla defesa”.
A exemplo do ocorrido na Constituição de1946, não é possível encontrar na Constitui-
ção vigente um dispositivo expresso acerca docritério – se integral ou proporcional ao tempode serviço – da remuneração do servidor públi-co colocado em disponibilidade. Insta perqui-rir se o legislador ordinário, ou mesmo o cons-tituinte estadual, teria amplos poderes paraoptar por uma ou outra forma de cálculo, ou,por outro lado, do próprio Texto Constitucio-nal afloraria a integralidade ou proporcionali-dade dos valores a serem pagos ao servidor dis-ponível.
Finalmente, há uma situação inovadora ebastante peculiar, elencada no § 2º do artigo41. Diante da reintegração de servidor públicoestável, motivada pela decretação judicial deinvalidade de sua demissão, o eventual ocupan-te da vaga será reconduzido ao cargo originá-rio (sem direito à indenização) ou aproveitadoem outro cargo. Em não sendo viável a adoçãodas medidas arroladas, o “eventual ocupanteda vaga” deverá ser posto em disponibilidaderemunerada.
2.3. O tratamento na legislação federalA evolução do tratamento legislativo con-
cedido à disponibilidade dos servidores públi-cos obviamente guarda identidade com o pa-norama constitucional apresentado.
Editado à luz da Constituição de 1937, oDecreto-Lei nº 1.713, de 28.10.39, (Estatutodos Funcionários Públicos Civis da União) re-flete o teor predominantemente punitivo da dis-ponibilidade. Embora admita que o servidorseja colocado em disponibilidade, por intermé-dio de decreto, quando seu cargo tenha sidosuprimido por lei, inexistindo possibilidade doaproveitamento de seu titular em outro cargoequivalente (art. 193, inciso II), estipula a mes-ma providência quando “tendo adquirido esta-bilidade, o seu afastamento for considerado deconveniência do interesse público e não cou-ber demissão” (art. 193, inciso I). O afastamen-to do servidor era atribuição de uma comissãodisciplinar, designada pelo Ministro de Estado(art. 193, parágrafo único). A retribuição pe-cuniária haveria de ser proporcional ao tempode serviço e calculada na razão de um trintaavos por anos de serviço público, não deven-do, porém, ser inferior a um terço do venci-mento ou remuneração da atividade (art. 194).
O Estatuto dos Funcionários instituído pelaLei federal nº 1.711, de 28.10.52, declarava quena hipótese de extinção do cargo, seu ocupanteficaria em disponibilidade, percebendo os mes-mos valores referentes ao vencimento ou re-
mente, continuava em pleno vigor. Essas alteraçõeseram corroboradas pelos atos institucionais, queconferiam nova redação aos dispositivos constituci-onais.
6 Em face do disposto no artigo 93, inciso VIII,da Constituição em vigor, a disponibilidade perma-nece em nosso Ordenamento como medida discipli-nar quando aplicada aos magistrados. A questão seráaprofundada no item 4.1.

Revista de Informação Legislativa168
muneração, permanecendo nessa situação “atéseu obrigatório aproveitamento em outro car-go de natureza e vencimento compatível com oque ocupava” (art. 174, caput). Estipulava que“restabelecido o cargo, ainda que modificadasua denominação, será obrigatoriamente apro-veitado nele o funcionário posto em disponibi-lidade quando da sua extinção” (art. 174, pa-rágrafo único).
Sob a égide da Constituição de 1967, regu-lamentando o preconizado pelo art. 99, § 2º,com a redação original alterada pelo AC nº 40/69 e AI nº 6/69, foi editado o Decreto-lei nº489, de 4.3.69. A remuneração era proporcio-nal ao tempo de serviço, “na razão de trinta ecinco avos por ano de serviço, se do sexo mas-culino, ou de um trinta avos, se do sexo femi-nino, acrescidos dos adicionais por tempo deserviço, à data da vigência deste decreto-lei”(art. 3º). Com o advento da Lei federal nº 6.943,de 14.09.81, o caput do art. 1º assegurava aosservidores aposentados ou postos em disponi-bilidade, com proventos proporcionais, retri-buição básica nunca inferior a 90% (noventapor cento) do maior salário mínimo vigente noPaís.
O texto primitivo da Medida Provisória nº150, de 15.3.90, pretendeu dar, a partir do in-ciso IV do artigo 28, nova disciplina ao insti-tuto da disponibilidade, estabelecendo a pro-porcionalidade da remuneração. No processode conversão da medida provisória na Lei nº8.028, de 12.4.90, o critério proporcional daretribuição foi suprimido. O Decreto nº 99.251,de 11.5.90 foi editado em seguida, e imediata-mente revogado pelo de nº 99.256, de 15.5.90.Com propósito idêntico, posteriormente foi ex-pedido o Decreto nº 99.300, de 15.6.90, o qualteve declarada pelo Supremo Tribunal Federal(ADIn nº 313-DF. RTJ, nº137,984) a incons-titucionalidade de seus artigos 1º e 2º.
Atualmente aplica-se à matéria os artigos30 a 32 da Lei federal nº 8.112, de 11.12.90,(Regime Jurídico Único dos Servidores Públi-cos Civis da União), diploma que permaneceusilente em relação ao critério da remuneraçãoda disponibilidade.
3. A natureza jurídica da disponibilidadeÉ a disponibilidade remunerada uma ga-
rantia especial do servidor público estável enão mera vantagem, prerrogativa ou benefíciofuncional. Portanto, toda e qualquer constru-ção teórica a respeito de sua natureza jurídica
não pode desconsiderar o fato, e isso com su-porte no Texto Constitucional de 1988, de tra-tar-se a disponibilidade de uma manifestação edimensão da estabilidade7.
Como regra geral, o servidor aprovado emconcurso público regular, após o cumprimentodo estágio probatório, adquire a estabilidadeno serviço público e, por via de conseqüência,tem assegurado constitucionalmente o direitode não ser excluído dos quadros de pessoal, emvirtude da extinção do cargo ou da declaraçãode sua desnecessidade. Cabe aduzir que o Su-premo Tribunal Federal, a partir de uma inter-pretação lógico-sistemática do Texto Constitu-cional, com a observância conjunta do dispos-to nos artigos 37 e 41, bem como do artigo 19do ADCT, estendeu a garantia da disponibili-dade remunerada aos ocupantes de empregospúblicos, desde que estáveis (MS 21.236-5-DF.DJU, 25 ago.1995, RT, n. 722, p. 347).
A doutrina brasileira há muito procura im-primir ao regime decorrente da disponibilida-de um tratamento similar àquele da inativida-de definitiva, ou seja, da aposentadoria. Tal as-sertiva pode ser comprovada em face da defi-nição formulada por Maria Sylvia Zanella DiPietro, para quem é a disponibilidade “a ga-rantia de inatividade remunerada, asseguradaao servidor estável, em caso de ser extinto ocargo, ou declarada a sua desnecessidade”8.
Embora a realidade do servidor disponívelencontre-se bastante próxima daquela presen-ciada pelo servidor aposentado, demonstra-secontraproducente nivelar as duas situações, comos objetivos de (i) propiciar a extensão à dispo-nibilidade dos parâmetros axiológicos fixadospara a aposentadoria e (ii) intentar uma supos-ta aplicação analógica da normatização desti-nada à aposentadoria.
Convém advertir que, se utilizada a dispo-nibilidade para fazer as vezes de sanção disci-plinar – ressalvada a previsão constitucionalatinente aos magistrados – ou ainda para a ou-
7 Sérgio de Andréa Ferreira assevera ser a dis-ponibilidade “o desdobramento da garantia da esta-bilidade, quando o interesse público exige altera-ções nos quadros funcionais e na organização admi-nistrativa, cuja mutabilidade é atributo que lhe éínsito, e realidade inexorável” (Comentários à Cons-tituição. Rio de Janeiro : Freitas Bastos, 1991. v. 3,p. 480).
8 Embora refira-se textualmente à garantia, re-gistra ser a disponibilidade um dos direitos – ao ladoda reintegração e do aproveitamento – decorrentesda estabilidade. Direito Administrativo. 7. ed. SãoPaulo : Atlas, 1996. p. 378.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 169
torga, por parte de uma autoridade administra-tiva, de um “privilégio” a servidores de umadada carreira –, ou seja, o incentivo de umadespropositada e imoral “ociosidade remune-rada” –, configurada estará a ilegal e ilegítimaaplicação do instituto, fato que acarretará suainvalidação.
4. Disponibilidade e estabilidadeJosé Afonso da Silva sustenta ser a dispo-
nibilidade remunerada um efeito decorrente,não somente da estabilidade dos servidores, mastambém da vitaliciedade adquirida por magis-trados, membros de Tribunal de Contas e doMinistério Público, em virtude da própria na-tureza dos cargos dos quais sejam titulares9.
Preenchidas as condições eleitas pelo legis-lador constituinte como as necessárias para aconquista da estabilidade (artigo 37, notada-mente incisos I e II; artigo 41, caput), ao servi-dor é concedido o direito de permanência noserviço público. Porém estabilidade não impli-ca proibição do desfazimento do vínculo man-tido pelo servidor estável com a Administra-ção Pública. Ao contrário, exige a “definiçãode critérios objetivos e impessoais para que oservidor seja afastado de suas funções”10. Emrazão do disposto no § 2º do art. 41 da LeiMaior a demissão ocorrerá tão-somente medi-ante sentença judicial transitada em julgado ouapós processo administrativo em que lhe sejagarantida a ampla defesa.
É sabido que a Constituição de 1988 insti-tuiu no caput do artigo 41 a estabilidade ordi-nária, que não prescinde do atributo da efeti-vidade (artigo 37, inciso II), ou seja, da nomea-ção para cargo cujo provimento a lei estabele-ça ser levado a efeito mediante a aprovação emconcurso público. A efetividade permite a con-tinuidade do titular do cargo no desempenho
das funções a ele inerentes11. Todavia, indepen-dentemente de efetividade, o caput do artigo19 do ADCT criou a rotulada estabilidade ex-traordinária. Os servidores ali elencados nãosão considerados titulares dos cargos que ocu-pam, mas gozam de uma estabilidade especialno serviço público. A despeito da ausência deefetividade desses servidores (esta poderá seradquirida posteriormente, ex vi do § 1º do arti-go 19 do ADCT), conclui-se que a garantia dadisponibilidade destina-se igualmente a eles,pelo simples fato da própria Constituição tê-lajungido, e isto de modo expresso, à estabilida-de, e não à efetividade12.
Por outro lado, cumpre assinalar que a si-tuação de disponibilidade prevista no § 2º doartigo 41 da Lei Maior excepciona a regra ge-ral inserida no § 3º do mesmo dispositivo edeve ser interpretada diferentemente13. Assim,se o eventual ocupante do cargo a ser nova-mente preenchido pelo servidor reintegrado porvia judicial ainda estiver cumprindo o biênioreferente ao estágio probatório, e não puder serreconduzido ao cargo de origem ou aproveita-do em outro cargo, também deverá ser postoem disponibilidade. Configurando hipótese dis-tinta daquelas concebidas pelo constituintecomo determinantes do fenômeno da disponi-bilidade remunerada – extinção ou declaraçãode desnecessidade do cargo – ainda que não
9 No primeiro caso, seria a disponibilidade re-flexo da extinção ou da declaração de desnecessi-dade do cargo, até o adequado aproveitamento doservidor; no segundo, adviria tão-somente da extin-ção do cargo do titular. Em ambas as hipóteses, en-tretanto, o autor reputa serem devidos vencimentosintegrais. Curso de Direito Constitucional positi-vo. 6. ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1990.p. 582.
10 MELLO, Magno Antônio Correia de. Buro-cracia, modernidade e reforma administrativa. Bra-sília : Brasília Jurídica, 1996. p. 52. Explicitando,assevera o autor que a “estabilidade não é, assim, ainviabilização da despedida, mas sua subordinaçãoa critérios previamente definidos” (Ibidem).
11 Está registrado em recente julgado do Supre-mo Tribunal Federal: “Não há que confundir efeti-vidade com estabilidade. Aquela é atributo do car-go, designando o funcionário desde o instante danomeação; a estabilidade é aderência, é integraçãono serviço público, depois de preenchidas determi-nadas condições fixadas em lei, e adquirida pelodecurso de tempo” (2ª T. Recurso Extraordinário nº167.635-PA. Relator Ministro Mauricio Correa,DJU, p. 1.355, 7 fev. 1997). No mesmo sentido, STJ.2ª T. ROMS nº 663-RN. Relator Ministro VicenteCernicchiaro. DJU, p. 15.350, 17 dez. 1990.
12 Para Adilson Abreu Dallari, “só tem direito àdisponibilidade quem for estável, sendo irrelevantea circunstância de ser ou não efetivo” (Regime cons-titucional dos servidores públicos. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p. 96). Ligando a dis-ponibilidade à efetividade, FERREIRA FILHO,Manoel Gonçalves. Comentários à ConstituiçãoBrasileira de 1988. São Paulo : Saraiva, 1990. v. 1,p. 273.
13 Estipula o § 2º do artigo 41: “Invalidada porsentença judicial a demissão do servidor estável, seráele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga re-conduzido ao cargo de origem, sem direito a indeni-zação, aproveitado em outro cargo ou posto em dis-ponibilidade”.

Revista de Informação Legislativa170
estável, no caso previsto no § 2º do artigo 41 oservidor não poderá ser demitido. Logo, em quepese a sua não-estabilização no serviço públi-co, a disponibilidade remunerada do mesmo, aqual rotula-se especial, seria absolutamentelegítima14.
4.1. Disponibilidade e vitaliciedadeNo que tange à vitaliciedade, atributo in-
trínseco a determinados cargos públicos, a dis-ponibilidade há de ser apreciada sob dois dife-rentes aspectos. Inicialmente, é preciso salien-tar que o agente público vitalício (melhor seriadizer vitaliciado) perde o cargo tão-somentepor intermédio de sentença judicial transitadaem julgado (CF, art. 95, inciso I e art. 128, §5º, inciso I, a). Concorda-se com a posição deJosé Afonso da Silva, para quem o reiterada-mente mencionado § 3º do artigo 41 da LeiMaior aplica-se também aos servidores vitalí-cios15. Sem embargo, no Recurso Extraordiná-rio nº 164.817-RJ (DJU, p. 19.303, 5. ago.1994), o Supremo Tribunal Federal analisoupretensão de Conselheiro de Contas dos Muni-cípios do Estado do Rio de Janeiro, em dispo-nibilidade em razão da extinção desse órgão,direcionada a seu aproveitamento em vaga deConselheiro do Tribunal de Contas do Estado. OExcelso Pretório concluiu ter o artigo constitucio-nal indigitado como destinatário unicamente
“o servidor estável, não se podendo apli-car por analogia por constituir, no siste-ma constitucional, exceção à vedação daforma de investidura derivada como é oaproveitamento, em face da exigência doconcurso público, nos termos do incisoII do artigo 37 da Carta Magna”16.
Todavia, além do caráter garantista da dis-ponibilidade, a mesma figura assume feiçõespunitivas, e isso em função do disposto no arti-go 93, inciso VIII da Constituição de 1988. Aolado da remoção e da aposentadoria, os magis-trados podem ser colocados em disponibilida-de “por interesse público”, após decisão toma-da por dois terços do respectivo Tribunal, ga-rantida a ampla defesa. O processo correspon-dente à decretação da disponibilidade comopena disciplinar vem previsto na Lei Orgânicada Magistratura Nacional – Lei Complemen-tar nº 35, de 14.3.79 – notadamente nos arti-gos 27, 28, 42, inciso IV, e 4617. Por sua cono-tação punitiva, a remuneração é proporcionalao tempo de serviço (artigo 45, inciso II)18.
5. Extinção e declaração dedesnecessidade de cargos públicos
Os quadros de pessoal da Administração Pú-blica são criados e organizados visando aten-der, em um dado momento, uma necessidadeespecífica da comunidade, servindo, assim, deinstrumental para a prestação de serviços pú-blicos. No entanto, alterações são passíveis deocorrer, uma vez que determinada atividadepode deixar de ser qualificada como serviçopúblico, ensejando o esvaziamento das atribui-ções inerentes a um cargo público isolado, ouainda tornar desnecessária a manutenção detoda uma categoria de servidores. Para Diogode Figueiredo Moreira Neto, “o interesse pú-blico é a única razão na existência de um cargopúblico; vale dizer, deixando de existir tal in-
14 Defendendo entendimento diverso, Celso An-tônio Bandeira de Mello sustenta que o § 2º do arti-go 41 há de ser interpretado frente ao parágrafo quelhe precede. Ademais, durante o estágio probatórioo servidor é avaliado pela administração, a qual,antes da conclusão do biênio, não teria condiçõesde afirmar ser o mesmo detentor das qualidade sufi-cientes para a permanência no serviço público.
15 Em aresto peculiar, o Tribunal de Justiça doEstado do Paraná assegurou a subsistência do atode nomeação de auditor da Corte de Contas Parana-ense vitaliciado, ressaltando que o mesmo, em vir-tude de estar o aludido cargo ocupado por outrem,ficaria em disponibilidade remunerada, com proven-tos integrais (Mandado de Segurança nº 35.304, Ór-gão Especial. Relator: Desembargador CordeiroMachado, DJ, 18 abr. 1991).
16 No mesmo sentido, STJ. 2ª T. ROMS. nº1.730-RJ, Relator: Ministro Hélio Mosimann, DJU,
p. 453, 1º fev. 1993. Destoando da posição apresen-tada, embora julgado em face da Constituição de1946, STF. Recurso Extraordinário nº 64.526, Re-lator: Ministro Thompson Flores, DJU, p. 5.847, 5dez. 1960. Contudo, insta observar que a Carta de1988 admite a disponibilidade de membros da Ma-gistratura e do Ministério Público, respectivamentenos arts. 95, parágrafo único, inc. I, e 128, § 5º, inc.II, d.
17 No ROMS nº 7.012-RS, a 1ª Turma do Supe-rior Tribunal de Justiça reconheceu a recepção daLei Complementar nº 35/79 pela Constituição vi-gente, afirmando que a disponibilidade dos magis-trados, nesse caso específico, constitui-se em uma“limitação à garantia da vitaliciedade” (Relator:Minitro Demócrito Reinaldo. DJU, p. 50.748, 16dez. 1996).
18 Sustentando que a hipótese de proporcionali-dade estaria restrita aos magistrados, FIGUEIRE-DO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo.2. ed. São Paulo : Malheiros, 1995. p. 401.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 171
teresse, não há motivo para mantê-lo”19.Exemplificando, o interesse público pode
direcionar-se à descentralização de determina-do serviço, hoje uma constante na busca dosnovos contornos do Estado Contemporâneo, le-vando à declaração de desnecessidade dos car-gos a esse serviço relacionados, podendo re-sultar ainda na extinção dos mesmos20. Podeinclusive ser decorrência de uma racionaliza-ção das atividades estatais, em face do preceitoconstitucional insculpido no artigo 169, com-binado com o artigo 38 do ADCT.
Logo, parece correto sustentar que“extingue-se o cargo que se mostrar de-finitivamente dispensável, supérfluo ouinconveniente à finalidade pública, edeclara-se desnecessário o cargo que seapresentar nessas condições, apenas tem-porariamente, com perspectivas de reco-brar sua finalidade após o decurso dedeterminado lapso de tempo”21.
Encontram-se no Texto Constitucional re-gras expressas atinentes à competência para aextinção de cargos públicos. Extensivamente,esses comandos constitucionais podem ser apli-cados à declaração de desnecessidade. A regrageral está inserida no art. 48, inciso X, reser-vando-se ao Congresso Nacional a atribuiçãolegislativa para dispor sobre a “criação, trans-formação e extinção de cargos, empregos e fun-ções públicas”. Com relação aos cargos públi-cos federais do Poder Executivo, cabe privati-vamente ao Presidente da República prover eextingui-los, na forma da lei (art. 84, incisoXXV)22. A mesma sistemática há de ser segui-
da, por coerência, no âmbito estadual e muni-cipal.
Registrada a competência para proceder àextinção ou declaração de desnecessidade docargo, emerge a problemática da forma pelaqual devem revestir-se esses provimentos. Peloprincípio do paralelismo ou homogeneidade dasformas, sendo os cargos criados por lei, por leidevem ser extintos23. Há opiniões, no entanto,que apontam para a necessidade de uma lei queestipulasse previamente parâmetros objetivosnão somente para a extinção, mas sobretudopara a declaração de desnecessidade de cargos24.
O Supremo Tribunal Federal, reformulan-do tendência apresentada no julgamento daADIn nº 313-5-DF (liminar. RTJ, n. 137, p.519; mérito, RTJ, n. 137, p. 984), decidiu “quea extinção do cargo e a declaração de sua des-necessidade decorrem de juízo de conveniên-cia e oportunidade formulado pela Adminis-tração pública, prescindindo da edição de leiordinária que as discipline” (MS nº 21.227. j.5. ago. 1993. RDA, n. 195, p. 51)25. Consoli-dando essa orientação, no Recurso Extraordi-nário nº 141.571-PR (DJU p. 30.601, 22 set.1995) foi declarada a auto-aplicabilidade daregra constitucional inserida no § 3º do art.
19 Curso de direito administrativo. 11. ed. Riode Janeiro : Forense, 1996. p. 212.
20 Nos casos de descentralização de serviçospúblicos o caminho mais correto encontra-se na de-claração de desnecessidade do cargo. É que, duran-te o prazo de duração do contrato, poderá ocorrer aextinção da concessão, pelo advento de quaisquerdas hipóteses elencadas no art. 35, da Lei federal nº8.987, de 13.2.95, devendo a Administração revita-lizar o cargo.
21 MELLO, Célia Cunha. Extinção e declaraçãode desnecessidade de cargo público. Boletim de Di-reito Administrativo, São Paulo, v. 11, n. 7, p. 385,jul. 1995.
22 Quanto à extinção dos cargos do legislativo, aLei Maior confere competência privativa à Câmarados Deputados e ao Senado Federal, respectivamen-te, nos artigos 51, inc. IV e 52, XIII. Por seu turno, oart. 96, inc. II, b, outorga legitimidade ao STF, aosTribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça parapropor ao respectivo Poder Legislativo a extinção
de cargos de seus membros, dos juízes, inclusivedos tribunais inferiores, onde houver, dos serviçosauxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados.
23 O Decreto-Lei nº 489/69 estabelecia que aextinção de cargo, na administração direta, deveriaser levada a efeito por intermédio de lei; a extinçãode cargos na administração indireta, bem como adeclaração de desnecessidade de cargos, em qual-quer caso, far-se-ia por “ato do Poder Executivo”(art. 1º, § 2º). Pela vigência do diploma federal, emvirtude de sua compatibilidade com a Carta de 1988,conferir TÁCITO, Caio. A disponibilidade na Cons-tituição de 1988 : parecer. Revista de Direito Públi-co, São Paulo, v. 24, n. 96, p. 96-98, out./dez. 1990.Em defesa da não recepção pelo atual Texto Consti-tucional, apreciar o voto do Ministro Paulo Bros-sard, Relator da ADIn 313-5-DF. RTJ, nº 137, p.1003, o qual sustenta que o Decreto “visava regulara disponibilidade punitiva, introduzida após o AI-5pelo Ato Complementar n. 40, ratificado pelo AI-6”.
24 É o entendimento de MELLO, Celso AntônioBandeira de. Regime constitucional dos servidoresda administração direta e indireta. São Paulo : Re-vista dos Tribunais, 1990. p. 103 e DALLARI, Adil-son Abreu. Regime constitucional dos servidorespúblicos. 2. ed. São Paulo : Revista dos Tribunais,1990. p. 101.
25 No mesmo sentido, MS nº 21.236-5-DF. 20de abril de 1995. RT, n. 722, p.347.

Revista de Informação Legislativa172
41, bem como reconhecidos como destinatári-os da norma os servidores do Legislativo, Exe-cutivo e do Judiciário, indistintamente26.
Em que pese ao entendimento jurispruden-cial esposado, concorda-se com Celso AntônioBandeira de Mello, pois “assim como o Chefedo Executivo só pode extinguir cargos ‘na for-ma da lei’, analogamente, só poderá declarar-lhes a desnecessidade nos termos por ela pre-vistos, isto é, nos casos e condições que previ-amente assinale”27. Acrescente-se que ao ladoda observância a esses critérios legais estaria aexigência de expressa motivação do ato, con-substanciada em análises e levantamentos deordem técnica que atestariam o caráter supér-fluo de determinados cargos. Com base nessediploma legal, e isto na esfera do Poder Execu-tivo, optando-se pela declaração de desneces-sidade do cargo, deverá haver a edição de de-creto motivado do Presidente, Governador ouPrefeito; decidindo-se pela extinção dos car-gos, para salvaguarda do princípio constituci-onal da impessoalidade, defende-se a necessá-ria edição de lei formal, cuja iniciativa compe-tiria às mesmas autoridades, nos termos acimaexpostos.
6. O afastamento do servidor emdisponibilidade
Nas palavras do Ministro Nelson Jobim,“a disponibilidade deve aplicar-se porcurtos períodos de tempo, de duraçãoapenas bastante para que a administra-ção adote as providências necessáriaspara o devido aproveitamento do servi-dor, e apenas quando isso não se possadar de imediato”28.
Convém esclarecer que o afastamento doservidor estável posto em disponibilidade étransitório, precário, ainda que por prazo in-determinado. Costuma-se qualificar a situaçãodo servidor disponível como sendo de inativi-dade, similar à situação gerada pela aposenta-doria. Todavia, aposentadoria e disponibilida-de devem ser encaradas como situações distin-tas, sem prejuízo de perceptíveis pontos de con-tato entre os dois institutos. Bem por isso, ra-zão assiste a Carlos Ayres Britto, para quem osservidores em disponibilidade não são “aposen-tados temporários”, e sim “servidores tempo-rariamente sem função”29. Reproduzindo opi-nião emitida em 1929 pelo saudoso MinistroOctávio Kelly, lembrado pelo Ministro PauloBrossard em seu voto na ADIn nº 313-DF, oservidor disponível é “um funcionário ativo, emexercício virtual” (RTJ, n. 137, p. 1007)30.
Em assim sendo, a disponibilidade encerraum afastamento remunerado do servidor está-vel do exercício de suas funções. Porém o “des-ligamento” é absolutamente circunstancial eprovisório e decorre (com exceção do artigo 93,inciso VII, da Constituição) tão-somente de trêshipóteses: (i) extinção do cargo, (ii) declara-ção de sua desnecessidade, e (iii) reintegraçãode servidor ilegalmente demitido, diante daimpossibilidade do ocupante atual do cargo serreconduzido ao cargo anteriormente ocupadoou aproveitado em outro similar. Configuradauma dessas situações, o servidor público passaa não mais desempenhar suas funções, mas nãoindefinidamente, pois deve aguardar que o Po-der Público promova o seu adequado aprovei-tamento, quando então voltará a exercer fun-ções compatíveis com aquelas relativas ao car-go do qual era titular. Pode ocorrer também a
26 Nessa ocasião, decidiu-se inclusive que “porestar a disponibilidade jungida à conveniência e àoportunidade, não há cogitar-se da observância dodevido processo legal, albergada a fase alusiva aoexercício do direito de defesa”. No Mandado deSegurança nº 21.164-DF, o STF entendeu que o fatode o servidor público encontrar-se no gozo de licen-ça para trato de interesses particulares não gerariadireito líquido e certo de ver o respectivo cargo ex-cluído do rol daqueles declarados como desneces-sários (DJU, p. 3.054, 22 mar, 1991).
27 Op. cit., p. 103.28 Parecer nº 74 (art. 37, 39 e 41) : Acumulação
de proventos, regime jurídico único e remuneraçãoe disponibilidade. Brasil. Congresso. Senado Fede-ral. Relatoria da revisão constitucional : pareceresproduzidos : histórico. Brasília : Subsecretaria deEdições Técnicas, 1994. v. 3, p. 268.
29 O regime constitucional dos proventos da apo-sentadoria do servidor público efetivo. Gênesis :Revista de Direito Administrativo Aplicado, Curiti-ba, v. 3, n. 10, p. 644, jul./set. 1996. Defende que odisponível faz jus a vencimentos, uma vez que “emnenhum dos seus dispositivos a Lei Fundamentalda República prescreve que o servidor em disponi-bilidade é pago pela forma proventual” (Ibidem, p.645).
30 Por seu turno, o Ministro Mário Guimarães,no voto proferido no Recurso Extraordinário nº19.466 sustentou que na aposentadoria o afastamentodo servidor é definitivo, ao passo que na disponibi-lidade a situação é presente e provisória. Aduz queo “funcionário está válido” e, em razão de “dificul-dades de administração, ou qualquer outro motivo,que compete ao próprio Estado resolver, se vê afas-tado temporariamente” (RDA, n. 40, p. 42).

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 173
revitalização do cargo objeto de declaração dedesnecessidade.
Um dado a ser considerado diz respeito àsprevisões inseridas em diversos estatutos de ser-vidores, as quais estabelecem que o servidorem disponibilidade pode aposentar-se volun-tariamente, sendo possível também ocorrer aaposentadoria compulsória, nos casos previs-tos na Constituição de 198831. Por outro lado,insta destacar que o servidor em disponibilida-de encontra-se subordinado às proibições cons-titucionais de acumulação de cargos públicos(art. 37, incisos XVI e XVII; art. 38). Em con-trapartida, com fundamento no princípio cons-titucional da moralidade, tem-se por incompa-tível com a situação de disponibilidade remu-nerada o exercício de qualquer outra atividadeque configure vínculo empregatício do servi-dor disponível, ou simplesmente geradora defonte de renda.
7. A remuneração na disponibilidadeSem dúvida, o ponto mais controvertido do
regime afeto ao instituto ora enfocado residena determinação do critério a ser adotado parao pagamento da remuneração ao servidor dis-ponível.
Impende explicitar que a atual Constitui-ção da República é silente quanto à proporcio-nalidade ou integralidade da remuneração de-vida, tendo ocorrido divisão na doutrina quan-to ao critério que melhor coadunar-se-ia com asistemática constitucional.
Favoráveis à proporcionalidade são CaioTácito, Hely Lopes Meirelles, Celso AntônioBandeira de Mello, Manoel Gonçalves Ferrei-ra Filho, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Dio-go Figueiredo Moreira Neto, Diógenes Gaspa-rini, Adilson Abreu Dallari e Tércio SampaioFerraz Jr., entre outros. No rol dos defensoresda integralidade da remuneração, evocam-seJosé Afonso da Silva, Sérgio de Andréa Ferrei-ra, Lúcia Valle Figueiredo, Ivan Barbosa Rigo-lin, Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto
Os argumentos destinados a comprovar a
retribuição proporcional ao tempo de serviçosão basicamente três: (i) o princípio constitu-cional da irredutibilidade (art. 37, inciso XV)referir-se a vencimentos e não a proventos; dadaa sua “inatividade provisória” o servidor emdisponibilidade perceberia proventos, e nãovencimentos, podendo ocorrer a redução da re-tribuição; (ii) o Texto Constitucional, em di-versas situações, prevê a aposentadoria comproventos proporcionais (art. 40, incisos I, infine; II e III, c e d), não sendo justo aplicar-se ocritério da integralidade à remuneração dos dis-poníveis, e (iii) o § 3º do artigo 40 estipula que“o tempo de serviço público federal, estadualou municipal será computado integralmentepara os efeitos de aposentadoria e de disponi-bilidade”, deixando claro que em ambas as hi-póteses a retribuição deverá ser calculada apartir do tempo de serviço efetivo do servidor.
É preciso enfatizar que o afastamento doservidor colocado em disponibilidade é precá-rio e cessa tão logo seja realizado o seu apro-veitamento. O tempo de disponibilidade con-ta-se para fins de aposentadoria, o que afasta aidentidade das situações. Por outro lado, mes-mo temporariamente desligado do serviço pú-blico, mantém-se o vínculo com a administra-ção, continuando o disponível a perceber ven-cimentos, e não proventos, estes reservadosàqueles em estado definitivo de inatividade, ouseja, aposentados. Além disso, o entendimen-to jurisprudencial dominante é que a cláusulaconstitucional da irredutibilidade protege a re-muneração como um todo, em seu montantereal e global, e não simplesmente o vencimen-to-base32. Por derradeiro, irradia do art. 40, §4º, da CF a unicidade de tratamento entre ven-cimentos e proventos, descabendo estabelecerdistinção entre as retribuições, notadamentecom o escopo de legitimar a redução dos pro-ventos.
Com relação às situações elencadas naConstituição de 1988 como hábeis a ensejar aaposentadoria do servidor, com proventos pro-porcionais ao tempo de serviço, impõe-se con-siderar que, em sua grande parte, dependem
31 No Mandado de Segurança nº 21.221-DF, oSFT decidiu pela ilegalidade do ato que colocou emdisponibilidade servidor que havia completado aidade necessária à aposentadoria compulsória (DJU,p. 8.428, 5 jun. 1992). Na esfera federal, conferir asOrientações Normativas nº 74 e 109, do Departa-mento de Recursos Humanos da Secretaria da Ad-ministração Federal (DOU, 1º fev. 1991 e 27 maio1991, respectivamente).
32 Conferir os seguintes arestos do STF : AgRe-gSS nº 605-SC (DJU, p. 9.730, 29 abr. 1994), RExnº 100.818-SP (DJU, p. 18.267, 16 jun. 1995) e RExnº 183.700-PR (DJU, p. 48.731/732, 6 dez. 1996),além da ADIn nº 313-DF (RTJ, n. 137, p. 984). NoSTJ, consultar MS nº 941-DF (DJU, p. 17.503, 2dez. 1991), MS nº 834-DF (DJU, p. 1.351, 17 dez.1992) e ROMS nº 5.420-MT (DJU, p. 9.280, 10abr. 1995).

Revista de Informação Legislativa174
da vontade expressa do servidor para se con-cretizar. Em alguns casos de invalidez perma-nente e na compulsória (art. 40, inciso I, infine, e inciso II, respectivamente) foi opção doconstituinte determinar que os proventos fos-sem proporcionais. A valoração (ou desvalora-ção) constitucional dessas causas de aposenta-doria não teria o condão de estabelecer, por sisó, a proporcionalidade dos vencimentos na dis-ponibilidade33. Insta reprisar que aposentado-ria e disponibilidade são institutos distintos,têm causas distintas e surtem efeitos distintos,devendo ser igualmente distintas as suas disci-plinas normativas. Tanto é assim, que ao Tri-bunal de Contas da União não compete apreci-ar a legalidade do atos declaratórios de dispo-nibilidade, ao contrário do que ocorre com osatos concessivos de aposentadoria, reformas epensões (CF, art. 71, inciso III).
Finalmente, o argumento mais sólido, ouseja, o comando constitucional do art. 40, § 4º.É possível inferir outras finalidades do dispo-sitivo assinalado, mais consentâneas com o as-pecto fundamental que a Lei Maior imprimiuà disponibilidade, ou seja, garantia especial doservidor público estável. O preceito indigitadovisaria estipular o cômputo recíproco do tem-po de serviço para fins de aquisição do própriodireito à disponibilidade. A disponibilidadeadvém da estabilidade, e esta quer significardireito de permanência no serviço público.Assim sendo, o servidor estável, investido emnovo cargo de esfera federal distinta ou mesmoda esfera idêntica, não estaria dispensado decumprir o estágio probatório nesse novo cargo,podendo inclusive ser exonerado ex officio,desde que motivadamente. Entretanto, por serestável no serviço público, teria direito a sercolocado em disponibilidade, independente-mente da conclusão do biênio34.
Outra interpretação é a conferida por Car-los Ayres Britto. Segundo o autor, o preceitoora enfocado, quando refere-se à disponibili-dade, traduz a vontade constitucional
“de que o servidor não está impedido deaverbar todo o seu tempo de serviço
público ao período em que permanecerno aguardo aproveitamento. Cuida-se,então, de simples autorização da somado tempo de serviço real (o anterior àdisponibilidade) com o tempo de servi-ço ficto (o que se passa no curso da dis-ponibilidade), na perspectiva da futurareinvestidura. Sem falar que essa aver-bação bem pode ser aproveitada paraoutros fins, a depender da política legis-lativa comum que se adote para o servi-dor público”35.
Sérgio de Andréa Ferreira defende que acontagem recíproca do tempo de serviço seráconsiderada para os fins de aposentadoria vo-luntária ou compulsória do servidor em dispo-nibilidade36.
Enumerados os argumentos favoráveis edesfavoráveis, sustenta-se que o critério da in-tegralidade da remuneração emerge diretamen-te da Carta de 1988. Durante os trabalhos daAssembléia Constituinte, procurou-se imprimira proporcionalidade dos vencimentos da dis-ponibilidade (1º Substitutivo, art. 63, incisoIV), critério expurgado no 2º Substitutivo (art.44, § 3º) e que finalmente foi afastado na apro-vação do texto definitivo (art. 41, § 3º). Porocasião da Revisão Constitucional, mediante oParecer nº 74, da lavra do então Deputado Fe-deral Nelson Jobim, perseguiu-se o mesmo in-tento, mas sem sucesso37. Assim sendo, restaclaro que a vontade do legislador constituintefoi a de privilegiar o caráter alimentar dos ven-cimentos do servidor público, qualidade refor-çada pela vedação de redução dos vencimentos(art. 37, inciso XV), garantia que deve ser res-peitada pelo Poder Público, mormente se forconsiderado o fato de que o servidor estávelnão concorreu para a sua dispensa. Conseqüen-temente, o legislador infraconstitucional nãoestá habilitado a estipular – validamente – ocritério da proporcionalidade dos vencimentosda disponibilidade do servidor público.
7.1. A posição do Supremo Tribunal FederalSem prejuízo das posições assinaladas, cabe
afirmar que o STF editou a Súmula nº 358,33 Contra a opinião manifestada, cf. FERRAZ
JR., op. cit., p. 108.34 Esta é a posição firmada pelo STF no julga-
mento do REx nº 19.466 (Relator: Ministro MárioMagalhães. RDA, n. 40, p. 44, abr./jun. 1955). Per-tinente nesse aresto é o voto do Ministro Ribeiro daCosta no sentido de que “a Constituição [de 1946]diz apenas ‘remunerada’, não diz menos remunera-da, nem mais remunerada; só pode ser ‘remunerada’com os próprios vencimentos” (RDA, n. 40, p. 46).
35 Op. cit., p. 646.36 Comentários..., p. 481.37 Para o autor do parecer, “a adoção de remune-
ração integral para o servidor em disponibilidade é,portanto, injusta, em relação aos titulares que per-manecem no exercício de suas funções, descabida,por falta de suporte bastante, e inadequada, em re-lação ao próprio instituto da estabilidade”. BRA-SIL. Congresso. Senado Federal. op. cit, p. 269.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 175
cujo enunciado defende a integralidade dos“vencimentos” do servidor posto em disponi-bilidade, e isso sob a égide da Constituição daRepública de 1946. Além de disciplinar o ins-tituto da disponibilidade de forma idêntica àConstituição em vigor, pois silenciava acercada integralidade ou proporcionalidade da re-tribuição, a Lei Maior de 1946 continha nor-ma idêntica a inserida no art. 40, § 3º, da atualConstituição. A validade desse entendimentosumular foi declarada, no julgamento da ADInnº 313-DF (RTJ, n. 137, p. 984). No aspectoterminológico, adotou-se o termo vencimentospara traduzir a remuneração percebida peloservidor posto em disponibilidade. Em relaçãoaos valores, decidiu-se por sua integralidade,com base na doutrina minoritária e jurispru-dência do próprio Tribunal, o que afeta princi-palmente a Constituição de 1946.
Ainda que se discorde da orientação fixadapelo Excelso Pretório, é preciso fazer-lhe defe-rência. Até uma revisão desse posicionamen-to, esta é a interpretação que prevalece. Por con-seguinte, a retribuição haverá de ser integral.
7.2. As vantagens excluídas dos vencimentosde disponibilidade
Finalmente, é importante notar que os ven-cimentos percebidos pelo servidor disponívelnão são rigorosamente iguais aos percebidosna ativa. É que, mesmo provisória ou tempora-riamente, o servidor não está no pleno exercí-cio de suas atividades. A disponibilidade elideo efetivo exercício, pois ocorre a interrupçãodo exercício das atribuições inerentes ao car-go. Por via de conseqüência,
“parece claro que na remuneração emdisponibilidade não estão incluídas asvantagens decorrentes do exercício docargo perdido, mas permanecem todasas demais, de caráter pessoal, atribuídosao servidor”38.
Portanto, no que tange às gratificações, so-mente aquelas que já foram incorporadas aovencimento-padrão, por determinação legal ourazão diversa, bem como as de ordem estrita-mente pessoal, é que não podem ser despreen-didas da remuneração de disponibilidade: sa-lário-família, adicionais por tempo de serviçoe todas as gratificações ou vantagens de cará-ter permanente, sobretudo. Tem-se por coeren-te a percepção da chamada gratificação natali-na ou “décimo terceiro salário”. Todavia, even-
tuais gratificações de “prêmios de produtivi-dade”, regência de classe, representação degabinete, adicionais de insalubridade e pericu-losidade, e todas aquelas que pressupõem o efe-tivo exercício do cargo, devem ser dispensa-das. O pagamento de terço de férias, além dadisciplina referente às licenças especiais, es-tão, por razões óbvias, igualmente descarta-das39.
8. A figura do aproveitamentoO aproveitamento é uma forma de provi-
mento derivado, mediante a qual o servidorpúblico estável colocado em disponibilidadereingressa à atividade em cargo diverso, masdesempenhando funções e percebendo venci-mentos compatíveis com o cargo anteriormen-te ocupado. Todavia, sendo revogado o ato quedeclarou a desnecessidade do cargo, haverá orevigoramento do feixe de atribuições a ele ine-rentes, com o obrigatório aproveitamento doservidor público titular da mesma vaga.
A Constituição de 1988, no § 3º do art. 41,alude a um adequado aproveitamento. TércioSampaio Ferraz Jr. assevera que a expressãoconstitucional significaria
“aproveitamento conforme as qualifica-ções do servidor – sentido subjetivo – mastambém conforme as necessidades daAdministração – sentido objetivo. Nãose pode, assim, aproveitar o servidor paraum cargo inadequado às suas qualifica-ções (um médico tornar-se enfermeiro-chefe), mas também não exige que a ad-ministração se transforme e se altere ape-nas para reaproveitar o servidor (criar-se um cargo de médico só para reapro-veitar o médico em disponibilidade)”40.
Do direito de ser adequadamente aprovei-tado no serviço público surge o direito de nãoser preterido, desde que configurada a criaçãode cargos semelhantes ou ainda a vacância decargos, aliada à necessidade da AdministraçãoPública em preenchê-los. Poderá ser tornadosem efeito o aproveitamento, bem como cassa-
38MOREIRA NETO, op. cit., p. 212.
39 A respeito, consultar MACEDO, Marina Ma-riani de. Disponibilidade : parecer. Revista de Di-reito Público, São Paulo, v. 20, n. 84, p. 206-207,out./dez. 1987. No âmbito federal, cfr. Ofício Cir-cular nº 985, da Secretaria da Administração Fede-ral (DOU, p. 13.700-701, 18 jul. 1990, Seção 1).
40 Interpretação e estudos da Constituição de1988. São Paulo : Atlas, 1990. p. 109 : Servidorespúblicos postos em disponibilidade.

Revista de Informação Legislativa176
da a disponibilidade, se o servidor, uma vezchamado a retornar à atividade, não o faça noprazo assinalado, sem justificativa (art. 32 daLei federal nº 8.112/90). Vale frisar que o ser-vidor não poderá, ao reverso, ser impelido aaceitar um cargo com características visivel-mente discrepantes daquele antes ocupado.
Portanto, com as ressalvas acima aponta-das, extrai-se da natureza da disponibilidade ocaráter obrigatório do aproveitamento do ser-vidor, desde que haja a necessidade de preen-chimento de uma vaga com características (fun-ções e vencimentos, sobretudo) similares aocargo antes ocupado41.
9. Disponibilidade e Reforma AdministrativaObserva Odete Medauar que a estabilidade
“expressa o direito ao cargo pelo modo comopoderá ser perdido”42. Na atual sistemáticaconstitucional, a extinção da relação do servi-dor estável com a Administração Pública advi-rá unicamente de duas situações: sentença ju-dicial transitada em julgado ou processo admi-nistrativo em que lhe seja garantida a ampladefesa (CF, art. 41, § 2º). Reside precisamenteaqui o ponto central das alterações persegui-das pela denominada “Reforma Administrati-va”, no que diz respeito ao regime constitucio-nal dos servidores públicos. Pretende-se flexi-bilizar a noção de estabilidade, ampliando asformas pelas quais o vínculo do servidor está-vel poderá ser legitimamente rompido.
As mudanças pretendidas encontram-se atu-almente em fase de discussão parlamentar naCâmara dos Deputados em torno do substitutivoapresentado pelo relator da PEC nº 173-A/95,Deputado Moreira Franco. Em síntese aperta-da, objetiva-se (i) aumentar o prazo do estágioprobatório de dois para três anos (a intençãooriginal era de cinco anos); (ii) instituir a
demissão por insuficiência de desempenho, me-diante processo de avaliação periódica, na for-ma da lei, e (iii) criar a figura da demissão porexcesso de quadros, como meio de efetuar areestruturação de pessoal, ou sempre que a des-pesa com pessoal ativo e inativo exceder os li-mites fixados em lei complementar.
Particularmente quanto à disponibilidade,busca-se o critério da proporcionalidade da re-muneração, de acordo com o tempo de serviço.O conjunto dessas mudanças, caso aprovadas,caracterizará um autêntico retrocesso na evo-lução do instituto, surtindo ao menos três efei-tos imediatos.
Em primeiro lugar, esvazia por completo aessência da noção da disponibilidade remune-rada, ou seja, garantia do servidor estável. Se ofuncionário contar, por exemplo, com três anose um mês de serviço público, sua remuneraçãoserá reduzida a valores insignificantes, quedecididamente servirá de fundamento a nãopermanência do disponível nos quadros daAdministração. Outro argumento é que a dis-ponibilidade dos servidores será uma alterna-tiva de difícil utilização na prática, uma vezque um instrumento mais valioso, como urgeser a demissão por excesso de quadros, certa-mente será aplicado pelas AdministraçõesPúblicas. Ademais, desvirtua-se totalmente o ins-tituto, pois seu emprego passa a ser visto comoatraente mecanismo de coação e pressão políti-ca, aniquilando os parcos atributos da “nova”estabilidade que se busca adotar com a reformaadministrativa e reduzindo drasticamente a in-dependência funcional dos servidores públicos.
10. ConclusõesEm síntese, são essas as ilações finais em
torno da disponibilidade remunerada dos ser-vidores públicos:
1. As semelhanças entre a situação do ser-vidor disponível e aquela vivenciada pelo ser-vidor aposentado não implicam, e muito me-nos justificam, a configuração de um pretenso“regime jurídico unitário” para tratamento dosdois institutos, sob pena de restar descaracteri-zada a essência da disponibilidade remunera-da dos servidores públicos;
2. A Carta de 1988 qualificou a disponibi-lidade remunerada como uma garantia especi-al dos servidores públicos detentores de estabi-lidade; é a partir dessa premissa estabelecidaconstitucionalmente que deve ser desenvolvi-da tanto a tarefa de regulamentação normativaquanto a de teorização acerca do instituto;
41 Impõe-se fazer menção à Súmula 39 do STF,cujo enunciado estabelece que “à falta de lei, fun-cionário em disponibilidade não pode exigir, judi-cialmente, o seu aproveitamento, que fica subordi-nado ao critério de conveniência da administra-ção”. A súmula foi aplicada pelo STJ no RecursoOrdinário em Mandado de Segurança nº 318-PA(DJU, 19 nov. 1990). Ocorre que tratava-se de dis-ponibilidade de magistrado, evidenciada a naturezadisciplinar do instituto. Sem embargo, afora essa hi-pótese, entende-se que, desde que presentes as con-dições determinantes do aproveitamento do servi-dor, este poderá utilizar-se da via judicial para terobservado seu direito.
42 Direito administrativo moderno. São Paulo :Revista dos Tribunais, 1996. p. 301 (grifos nossos).

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 177
3. A disponibilidade remunerada advémigualmente da vitaliciedade, inerente a algunscargos; com relação aos magistrados traduztambém, e em caráter excepcional, uma medi-da de ordem disciplinar, nos termos do art. 93,inciso VIII, da Lei Maior;
4. Atendidos precisos e objetivos critériosfixados em lei, e desde que de modo expressa-mente motivado, o Chefe do Poder ExecutivoFederal, Estadual e Municipal possa declarar adesnecessidade de um cargo público, por inter-médio da edição de decreto; decidindo-se pelaextinção dos cargos, em razão do princípio doparalelismo ou homogeneidade das formas, énecessária a edição de lei, cuja iniciativa com-pete às mesmas autoridades;
5. A situação de afastamento gerada peladisponibilidade é provisória, temporária e pre-cária, e obrigatório o adequado aproveitamen-to do servidor disponível;
6. A remuneração da disponibilidade é com-posta por vencimentos (e não proventos) inte-grais, conforme extrai-se do Texto Constituci-onal, entendimento aliás corroborado pelo Su-premo Tribunal Federal na ADIn nº 313-DF(DJU p. 5.722, 30 abr. 1992), excluídas certasvantagens em virtude da ausência de efetivoexercício.
7. As alterações sugeridas no substitutivoda PEC nº 173-A/95, notadamente em relaçãoà inserção do critério da proporcionalidade dosvencimentos, aniquilam a concepção garantis-ta da disponibilidade remunerada dos servido-res públicos, configurando lamentável retroces-so na evolução histórica do instituto.
BibliografiaBRASIL. Congresso. Senado Federal. Relatoria da
revisão constitucional : pareceres produzidos :histórico. Brasília : Subsecretaria de EdiçõesTécnicas, 1994. v. 3.
__________. Constituição (1988). Constituição da Re-pública Federativa do Brasil : quadro compara-tivo. Brasília : Senado Federal, Subsecretariade Edições Técnicas, 1996.
Ministério da Administração Federal e Reforma doEstado. Câmara da Reforma do Estado. Planodiretor da reforma do aparelho do Estado. Bra-sília, 1995.
BRITTO, Carlos Ayres. O regime constitucional dosproventos da aposentadoria do servidor públicoefetivo. Gênesis : Revista de Direito Adminis-trativo Aplicado. Curitiba, v. 3, n. 10, p. 631-648, jul./set. 1996.
DALLARI, Adilson Abreu. Regime constitucional
dos servidores públicos. 2. ed. São Paulo : Re-vista dos Tribunais, 1990.
DEGRAZIA, Osvaldo Flávio. O servidor público ea disponibilidade : direitos e garantias. Lex :Jurisprudência dos Superior Tribunal de Justi-ça e Tribunais Regionais Federais, São Paulo,v. 6, n. 59, p. 9-13, jul. 1994.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito admi-nistrativo. 7. ed. São Paulo : Atlas, 1996.
DUTRA JR., Adhemar F. Administração pública eestabilidade : estudo. Brasília : Câmara dosDeputados, Assessoria legislativa, 1995. Nãopublicado.
FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Interpretação e es-tudos da Constituição de 1988. São Paulo :Atlas, 1990. p. 105-109: Servidores públicospostos em disponibilidade.
FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Ad-ministrativo. 2. ed. São Paulo : Malheiros, 1995.
GARCIA, Flávio Amaral. Estabilidade e reformaconstitucional. Boletim Legislativo ADCOAS,São Paulo, v. 30, p. 217-219, mar. 1996.
GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 4.ed. São Paulo : Saraiva, 1995.
MACEDO, Marina Mariani de. Disponibilidade :parecer. Revista de direito público, São Paulo,v. 20, n. 84, p. 206-207, out./dez. 1987.
MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moder-no. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1996.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativobrasileiro. 16. ed. São Paulo : Revista dos Tri-bunais, 1991.
MELLO, Célia Cunha. Extinção e declaração dedesnecessidade de cargo público. Boletim deDireito Administrativo, São Paulo, v. 11, n. 7,p. 382-394, jul. 1995.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de di-reito administrativo. 8. ed. São Paulo : Malhei-ros, 1996.
__________. Regime constitucional dos servidores daadministração direta e indireta. São Paulo :Revista dos Tribunais, 1990.
MELLO, Magno Antônio Correia de. Burocracia,modernidade e reforma administrativa. Brasí-lia : Brasília Jurídica, 1996.
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso dedireito administrativo. 11. ed. Rio de Janeiro :Forense, 1996.
RIGOLIN, Ivan Barbosa. Comentários ao regime ju-rídico único dos servidores públicos civis : Leinº 8.112, de 11.12.1990. São Paulo : Saraiva,1992.
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitu-cional positivo. 6. ed. São Paulo : Revista dosTribunais, 1990.
TÁCITO, Caio. A disponibilidade na Constituiçãode 1988 : parecer. Revista de direito público,São Paulo, v. 24, n. 96, p. 94-100, out./dez. 1990.
__________. Disponibilidade remunerada : parecer. Re-vista de Direito Público, São Paulo, v. 23, n.95, p. 48-52, jul./set. 1990.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 179
1. Plano de exposiçãoO método correto e completo de interpreta-
ção jurídica decorre de um pressuposto neces-sário: a exata concepção do fenômeno jurídi-co, que se manifesta por meio da lei e de outrasformas de expressão (o costume, os princípiosgerais de direito, a doutrina, a jurisprudência,o direito comparado e os próprios fatos jurídi-cos). Por isso a nossa exposição compreendeduas partes: I - o conceito de Direito; II - ainterpretação do Direito.
2. O conceito de Direito
2.1. O Direito como norma
Existem duas ordens de normas no univer-so: as leis naturais, que regem os fenômenosda natureza ou do ser, de cumprimento neces-sário e uniforme; e as normas éticas, entre asquais se incluem as jurídicas ou de coação es-
Direito e hermenêutica multidimensionais
Dilvanir José da Costa é Professor de DireitoCivil nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação daFaculdade de Direito da UFMG, Doutor em DireitoCivil e Advogado.
1. Plano de exposição. 2. O conceito de Direito.2.1. O Direito como norma. 2.2. O Direito comofato social. 2.3. O Direito como valor. 2.4. Aconcepção dialética do Direito. 2.5. O Direitoconcretizado nos fatos. 3. A interpretação doDireito. O método tradicional (a escola da exege-se). O culto ao texto legal. 3.1. As escolas científi-cas. Os métodos histórico, teleológico e sociológi-co. 3.2. A livre interpretação e o direito livre. Onihilismo legal. 3.3. A conciliação dos métodos. Arestauração dos valores ideais do Direito. O méto-do histórico-evolutivo ou da jurisprudência progres-siva. 3.4. A interpretação flexível ou dialética. 3.5.A interpretação abrangente ou casuística. 4. Con-clusão.
DILVANIR JOSÉ DA COSTA
SUMÁRIO

Revista de Informação Legislativa180
tatal, que regem os homens como seres racio-nais e livres no convívio social. O cumprimen-to destas, embora imposto e exigível pela cons-ciência ética e até sancionado pela sociedade epelo Estado, é passível de desobediência, emrazão da liberdade de atuação inerente ao serlivre, inteligente e responsável.
Duas grandes correntes de opinião desta-caram no Direito o aspecto normativo comocaráter fundamental: os primeiros codificado-res do Direito, a exemplo do Direito Romano edo Código Civil francês; e a conhecida TeoriaPura do Direito, de Hans Kelsen.
O Imperador Justiniano até proibiu, de for-ma ameaçadora, qualquer comentário interpre-tativo ao Corpus Juris Civilis, enquanto que osfranceses condenaram, a princípio, a idéia daexistência de direito civil além ou fora do Có-digo Napoleão (1804), que encerraria a pleni-tude do direito civil. Foi a consagração do feti-chismo legal. Já os romanos valorizaram tantoa Lei das XII Tábuas (450 a.C.) que passarama recitar o seu texto nas escolas como poesiaobrigatória – carmen necessarium. Tudo issoem nome da segurança dos direitos dos cida-dãos contra o arbítrio e a prepotência.
Sob outro enfoque, o jurista Hans Kelsen,autor da Teoria Pura do Direito, defendeu ocaráter normativo fundamental do Direito. Di-ante da ampliação do conceito de Direito pelasdoutrinas sociológicas, filosóficas e teológicas,Kelsen reagiu em defesa do caráter normativopuro e neutro do Direito, que seria um dever-ser abstrato, à semelhança de uma figura geo-métrica, isento de conteúdos fáticos, valorati-vos e ideológicos, e ao mesmo tempo aberto aquaisquer conteúdos admitidos eventualmenteem seu esquema obrigatório pela autoridadecompetente.
2.2. O Direito como fato social
Para as escolas científicas, as normas oufontes formais do Direito não passam de sim-ples canais, condutos ou instrumentos de ma-nifestação técnica das fontes substanciais ouautênticas das regras, que assim brotam real-mente dos fatos sociais, econômicos, políticos,culturais etc., sob a inspiração e direçãos dosvalores sedimentados pela experiência jurídica.
A primeira escola a ampliar e revolucionaro conceito do Direito foi a histórica, lideradapelo jurista alemão Friedrich Karl von Savig-ny. Para ele, o Direito vai muito além dos tex-tos legais esquemáticos e resumidos. Não é pro-
duto racional e arbitrário do legislador. É fe-nômeno histórico e espontâneo, gerado na cons-ciência popular, tal como a linguagem. Sendoproduto dos fatos históricos em contínua mu-dança e expansão, o Direito não deve ser imo-bilizado num Código.
Outro grande jurista alemão, Rudolf vonIhering, fundou a escola teleológica. Concei-tuou o Direito como fenômeno necessário e nãoespontâneo, ou seja, como técnica imprescin-dível de convivência. A utilidade e a felicidadesocial (e não a vontade ou o arbítrio do legisla-dor) devem ser o fim ou a teleologia do Direi-to. Este é semelhante ao pensamento, que tan-tas vezes não se expressa bem nas palavras.Assim também um Código pode não refletirfielmente o Direito, que é mais amplo e abran-gente e por isso não pode ser aprisionado nostextos legais.
Para a escola sociológica, os fatos sociaisconfinam e convivem com os fatos jurídicos,que os envolvem e regulam, com influênciasrecíprocas. Ela defendeu a suavização e a fle-xibilização da lei para se amoldar à realidadesocial. Em sua expressão máxima, foi tambémfruto do gênio germânico.
Na torrente sociológica, destacou-se a Es-cola do Direito Livre, que defendeu o nihilis-mo legislativo, em oposição ao culto ao textolegal e à tese de que o Código contém a pleni-tude do Direito, proclamados pela Escola daExegese. Para os partidários do Direito Livre,o Direito provém dos próprios fatos: ipsis re-bus dictantibus.
Sociólogos notáveis, do renome de EmileDurkheim e Henry Lévy Bruhl, chegaram a ne-gar qualquer origem racional, ideal ou psicoló-gica do Direito, que seria fruto de um longo pro-cesso de decantação dos fenômenos sociais.
2.3. O Direito como valor
Desde Sócrates se reconhece a existênciados valores do bem, do belo e do justo. NasInstitutas do Imperador Justiniano, os roma-nos definiram o Direito Natural como o que anatureza ensinou a todos os animais, donde aunião do macho com a fêmea, a procriação eeducação dos filhos.
Na Idade Média, prevaleceu a concepçãoteológica do Direito Natural, procedente dosobrenatural, sob a influência do cristianismo.
Nos séculos XVII e XVIII, sob a influênciada Escola do Direito Natural e das Gentes e da

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 181
doutrina do Direito Racional, do filósofo ale-mão Emmanuel Kant, operou-se a racionali-zação do Direito Natural, com independênciaem relação à religião e autonomia em face doDireito Positivo.
Segundo Eduardo Espínola, o conceitomoderno de Direito Natural consiste em admi-tir, acima e independentemente do Direito Po-sitivo, um Direito que decorre da própria natu-reza do homem e de suas supremas exigências.Essa concepção foi combatida pelas escolashistórica, sociológica, positivista e realista, sobvários matizes. Mas tem sido restaurada nesteséculo por grandes juristas-filósofos e huma-nistas, segundo os quais a essência jurídicaobrigatória não está na norma nem nos fatosregulados, mas sim nos valores sociais e hu-manos carentes de proteção, contidos nessesfatos mas procedentes da razão e do sentimen-to humano – omne jus hominum causa.
2.4. A concepção dialética do Direito
Francesco Carnelutti, jus-filósofo e proces-sualista italiano, atribuiu ao princípio do con-traditório, na pesquisa da verdade pelos lógi-cos, a mesma função esclarecedora do micros-cópio para os biólogos e do telescópio para osastrônomos. O debate das questões, o choquedas idéias e a exasperação da dúvida condu-zem à verdade. A luta pelo direito e as reivin-dicações acabam por criá-lo, como professavaIhering, assim como Descartes adotou a dúvi-da sistemática como método de pesquisa daverdade, e Hegel defendeu a síntese dos con-trários e a superação das divergências e con-tradições como lei do progresso, da evolução eda perfeição. Segundo a imagem sugestiva deFrançois Perroux, as instituições e as leis atu-ais são o resultado de armistícios nas lutas so-ciais; são a consequência de conflitos passa-dos, que preparam futuras disputas; assinalampausas enquanto se definem novos adversáriose se preparam novas lutas.
Essa a contribuição para a visão dinâmica,polêmica e relativista do Direito, ampliando ocírculo da sua multidimensionalidade.
2.5. O Direito concretizado nos fatos
As imagens projetadas nas telas dos cine-mas são apenas sombras ou reflexos de umarealidade retratada nos filmes. Assim tambémas leis ou normas abstratas refletem a realida-de dos fatos jurídicos que ocorrem no ambien-
te social, envolvendo pessoas e bens ou inte-resses jurídicos de toda ordem. A realidade ju-rídica autêntica está nos fatos concretos e nascondutas da vida social e não nas leis abstratasque os resumem, sistematizam e refletem emcomandos sumários. Esta a mais recente con-cepção do Direito – o Direito concreto, proce-dente de autores alemães (Karl Engisch. L’ idéede concrétion dans le droit, Pamplona, Esp.,1968) e também presente na Teoria Egológicado argentino Carlos Cossio.
3. A interpretação do direito. O métodotradicional (a escola da exegese). O culto
ao texto legalO método lógico ou tradicional, fruto da
exaltação legal, surgiu na França, preparadopela Revolução e iniciado com a codificaçãodo direito civil. Sua filosofia e seu fundamentopsicológico consistiam na preocupação com adefesa e garantia dos direitos e liberdades in-dividuais, somente assegurados e perpetuadospor meio de sua fixação em dispositivos legaisescritos, sistematizados e codificados. Comotais, completas, perfeitas e contendo todo oDireito, prevendo todas as hipóteses discipli-náveis, as leis escritas seriam intocáveis e inal-teráveis por seu aplicador ou intérprete, quesimplesmente as aplicaria de forma estrita, semtirar nem acrescentar.
Nascido sob a inspiração do movimentocodificador, o método tradicional só poderia teruma rota e um destino: seguir a trajetória dogrande Código Civil dos tempos modernos – omonumental Código Napoleão, que tantos pro-gressos trouxe à ciência do direito no séculopassado.
Segundo Eduardo Espínola:“O método jurídico tradicional, clás-
sico ou lógico tem toda sua atenção vol-tada para a lei. É fruto da preocupaçãode limitar todo arbítrio da interpretação,movimentando-se baseado na concepçãode que o legislador é o criador do direi-to. No seu conceito, o direito se identifi-ca com a lei. Parte da idéia de que a leiescrita deve satisfazer a todas as exigên-cias da vida jurídica, bastando ao intér-prete examinar-lhe diretamente o con-teúdo para, com os meios fornecidos pelalógica, tirar as consequências todas quedela derivam, sem ultrapassar os limitesque lhe animaram a formação.” (“Trata-

Revista de Informação Legislativa182
do de direito civil brasileiro.” Rio: Frei-tas Bastos, 1939, v. III, p. 289)
Essa preocupação com a interpretação dalei já fora manifestada pelo Imperador Justini-ano, relativamente ao primeiro grande códigocivil da humanidade – o Corpus Juris Civilis(Século VI). Com efeito,
“No terceiro prefácio ao Digesto, oImperador Justiniano determinou quequem ousasse tecer comentários interpre-tativos à sua compilação incorreria emcrime de falso e as suas obras seriam se-qüestradas e destruídas: Justiniano, Deconfirmatione digestorum, in CorpusJuris Civilis, $ 21, in fine: Itaque quis-quis ausus fuerit ad hanc nostram legumcompositionem commentarium aliquotadjicere ... is sciat, quod et ipsi falsi reolegibus futuro, et quod composuerit, eri-picitur, et modis omnibus corrumpetur.”(R. Limongi França. Hermenêutica Ju-rídica. SP: Saraiva, 3a ed. 1994, p. 22).
Esse método falhou por ter se baseado numavisão parcial do Direito: como norma abstrataapenas. Mas teve dois grandes méritos: o deconsagrar e garantir os direitos dos cidadãospor meio de preceitos escritos, e o de sistema-tizar e racionalizar o Direito. Um código con-tém a síntese e o sistema de uma ciência jurídi-ca, além de regular relações e disciplinar di-reitos e obrigações.
3.1. As escolas científicas. Os métodoshistórico, teleológico e sociológico
Por meio dos métodos histórico, teleológi-co e sociológico, principalmente, as escolas ci-entíficas promoveram uma revolução no con-ceito de direito e, portanto, na sua interpreta-ção. As leis não contêm todo o Direito. A suaplenitude extrapola os códigos, mediante umsistema orgânico. O Direito envolve os fatossociais, econômicos, morais, religiosos, políti-cos, culturais etc., com influências recíprocas.A visão sociológica alertou para os riscos deum desequilíbrio nas estruturas da vida em so-ciedade. O poder político ou militar, a ruínaeconômica e o fanatismo religioso podem com-prometer a estrutura jurídica e esta pode nãocorresponder aos anseios sociais.
E assim as escolas científicas dilargaramos horizontes do Direito e da interpretação,transformando esta em ciência, técnica e arteou hermenêutica jurídica. Foi a grande contri-buição que trouxeram.
3.2. A livre interpretação e o direito livre.O nihilismo legal
Mas o método sociológico levado ao extre-mo conduziu a dois exageros: a) na conceitua-ção do Direito, transformou os valores jurídi-cos em criação espontânea e artificial da cons-ciência coletiva; b) na interpretação e aplica-ção da lei, defendeu a plena liberdade de o in-térprete recolher o direito dos próprios fatos,em primeira mão – ipsis rebus dictantibus, ain-da que ab-rogando ou contrariando a lei escrita.
3.3. A conciliação dos métodos. A restauraçãodos valores ideais do direito. O método históri-co-evolutivo ou da jurisprudência progressiva
O século XIX assistiu ao apogeu e à deca-dência do método exegético da lei escrita comoexpressão da plenitude do Direito, bem comoao triunfo do método sociológico ou do predo-mínio dos fatos sociais na composição do fenô-meno jurídico.
O século XX foi a vez do renascimento ourestauração dos valores humanos ideais, racio-nais e subjetivos, como componente ético doDireito, tão presente na consciência dos homenscomo o céu estrelado sobre as suas cabeças, naimagem famosa do grande filósofo de Konigs-berg. Em conseqüência, sobreveio o métodohistórico-evolutivo de interpretação, concilian-do todas as tendências. Ficou célebre a síntesede Raimond Saleilles no prefácio da obra deFrançois Geny (Méthode d’ interprétation...,1899), para definir o conteúdo do novo méto-do: o intérprete deve ir além da lei, mas atra-vés da lei – “au-dellà de la loi, mais par la loi.”
Além dos suportes sociológicos, deve o in-térprete agregar os valores fins da lei: a Justi-ça, o bem comum, a utilidade social. Mas sem-pre por meio da lei, baliza de segurança, bus-cando a sua intenção atualizada.
3.4. A interpretação dialética ou relativista
A visão dialética, polêmica ou dinâmica doDireito nos faz perceber o seu mobilismo ouvir a ser, pendendo para o relativismo presenteem todas as coisas, a exemplo da idade daspessoas. Nada é absoluto na realidade social. Nãohá dois fatos rigorosamente idênticos. Daí a fle-xibilidade e a maleabilidade da interpretação.
3.5. A interpretação abrangente casuística
A lei abstrata é uma regra extraída da rea-lidade por raciocínio indutivo. Provém da ob-

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 183
servação dos fatos pelo legislador.Por um lado, a lei é mais extensa ou ampla
do que cada fato específico que regula. Mas,por outra parte, é menos compreensiva do quea infinita variedade dos fatos reguláveis. Isso éque faz a grandeza e a fraqueza da lei, segundoKarl Engisch.
Para os partidários do direito concreto, aregra autêntica de direito é a que se realiza nofato concreto, como obra final do aplicador. Peloque cabe a esta grande margem de arbítrio paraampliar e adaptar a lei aos fatos específicos,regulados de forma ampla ou genérica pelo le-gislador.
4. ConclusãoSendo o Direito norma, fato e valor; sendo
fenômeno concreto e norma abstrata; sendo emparte absoluto e relativo, é dotado de flexibili-dade para se adaptar às circunstâncias de tem-po e lugar, mas contém uma estrutura de com-pressão calcada na natureza uniforme do serhumano, sensível à dor e ao amor e carente decooperação e solidariedade. Eis aí os parâme-tros da hermenêutica.
BibliografiaANDRADE, Manuel A. Domingues de. Ensaio so-
bre a teoria da interpretação das leis. Coimbra :A. Amado, 1978.
ASCOLI, Max. La interpretación de las leys. Bue-nos Aires : Lasada, 1947.
BATISTA, Paula. Compêndio de hermenêutica ju-rídica. São Paulo : Saraiva, 1984.
BETTI, Emilio. Interpretazione della legge e degliatti giuridici. Milano : A. Giuffré, 1949.
BONNECASE, Julien. La escuela de la exegesis enderecho civil. México : Jose M. Cajica, 1944.
BOSON, Gérson de Britto Mello. Filosofia do Di-reito : interpretação antropológica. Belo Hori-zonte : Del Rey, 1993.
CAMPOS, Carlos. Hermenêutica tradicional e Di-reito científico. Belo Horizonte : Imprensa Ofi-cial, 1970.
CARNELUTTI, Francesco. Arte del Derecho. Bue-nos Aires : Europa-America, 1948.
__________. Arte do Direito. Salvador : Progresso, 1957.Trad. de Pinto de Aguiar.
COELHO, L. Fernando. Lógica jurídica e interpre-tação das leis. Rio de Janeiro : Forense, 1979.
COSSIO, Carlos. La teoría egológica del derecho yel concepto jurídico de libertad. Buenos Aires :Abeledo-Perrot, 1964.
DEL VECCHIO, Giorgio. Filosofia del derecho.Barcelona : Bosch, 1953.
DURKHEIM, Emile. Les formes élémentaires de lavie religieuse. Paris, 1912.
ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídi-co. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian,1977.
__________. L´idée de concrétion dans le droit. Pam-plona, 1968. Comentário de I. André-Vincent sobo título L´abstrait et le concret dansl’interprétation, em Archives de Philosophie duDroit. Paris, 1972. v. 17, p. 135.
ESPÍNOLA, Eduardo. Tratado de Direito Civil bra-sileiro. Rio de Janeiro : Freitas Bastos, 1939. v.1/4.
__________. Interpretação da norma jurídica (verbete).Repertório Enciclopédico do Direito Brasilei-ro. Rio de Janeiro : Borsoi, v. 29, p. 137.
FERRARA, Francesco. Interpretação e aplicaçãodas leis. Coimbra : A. Amado, 1978.
FIORE, Pascuale. Interpretación de las leyes. Ma-drid : Reus, 1927.
FRANÇA, R. Limongi. Hermenêutica jurídica. SãoPaulo : Saraiva, 1994.
GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al es-tudio del Derecho. México : Porrua, 1975.
GÉNY, François. Methode d´interprétation et sour-ces en droit privé positif. Paris, 1919.
GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução à ciên-cia do Direito. Rio de Janeiro : Forense, 1956.
HERKENHOFF, João Baptista. Como aplicar oDireito. 3. ed. Rio de Janeiro : Forense, 1994.
HESSEN, Johannes. Filosofia dos valores. Tradu-ção de L. Cabral de Moncada. Coimbra : A.Amado, 1980.
IHERING, Rudolf von. A luta pelo Direito. Rio deJaneiro : Ed. Rio, 1978.
__________. L´esprit du droit romain. Traduction deMeulenaere, 3. ed.
__________. A finalidade do Direito. Tradução de JoséA. F. Correa. Rio de Janeiro : Ed. Rio, 1979.
INSTITUTAS do Imperador Justiniano. Traduçãorevista por Clóvis N. Oliveira. São Paulo : Ed.Brasil.
KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. Coimbra :A. Amado, 1974.
LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do Direi-to. Tradução de João de Souza Brito e José An-tonio Veloso. Lisboa : Fundação Calouste Gul-benkian, 1969.

Revista de Informação Legislativa184
LAZZARO, Giorgio. L´interpretazione sistematicadella legge. Torino : Giappichelli, 1965.
LÉVY BRUHL, Henry. La moral, la science et lesmoeurs. Paris, 1903.
__________. Sociologia do Direito. Tradução de TerukaMinamissawa. São Paulo : Difusão Européia doLivro, 1964.
LIMA, Mário Franzen de. Da interpretação jurídi-ca. Rio de Janeiro : Forense, 1955.
LYRA FILHO, Roberto. O que é o Direito. São Paulo: Brasiliense, 1982.
MACHADO, Edgar de Godói da Mata. Elementosde teoria geral do Direito. Belo Horizonte : Vega.
MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. A ciênciado Direito : conceito, objeto, método. Rio deJaneiro : Forense,1982.
MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplica-ção do Direito. Rio de Janeiro : Freitas Bastos,1965.
MIRANDA, Pontes de. Sistema de ciência positivado Direito. Rio de Janeiro : Borsoi, 1972. v. 2.
NIÑO, José Antonio. La interpretación de las leyes.México : Porrúa, 1971.
NONATO, Orozimbo. Aspectos do modernismo ju-rídico. Pandectas Brasileiras, v. 8, 1. parte, p.176.
OLIVECRONA, Karl. El Derecho como hecho.Buenos Aires : Depalma, 1959.
PAGE, Henri de. Traité élémentaire de droit civilbelge. Bruxelles : É. Bruylant, 1962. v. 1.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Di-
reito Civil. Rio de Janeiro : Forense, 1980. v. 1.PLACHY, Adolfo. La teoria della interpretazione.
Milano : Giuffrè, 1974.
REALE, Miguel. O Direito como experiência. SãoPaulo : Saraiva, 1968.
__________. Fundamentos do Direito. São Paulo : Re-vista dos Tribunais, 1972.
__________. Teoria tridimensional do Direito. São Pau-lo : Saraiva, 1979.
RECASÉNS SICHES, Luis. Nueva filosofia de in-terpretación del Derecho. México : Porrúa, 1973.
RIPERT, Georges. Les forces créatrices du droit.Paris : Librairie Général, 1955.
ROUBIER, Paul. Teoría general del Derecho. Pue-bla : José Cajica, [s/d.].
SANTIAGO NIÑO, Carlos. La ciencia del Derechoy la interpretación jurídica. Buenos Aires : As-trea, 1975.
SAVIGNY, Friedrich Karl von. De la vocación denuestro siglo para la lgislación y la ciencia delDerecho. Buenos Aires : Heliasta, 1977.
SILVEIRA, Alípio. Hermenêutica no Direito brasi-leiro. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1968.2 v.
TELLES JR., Goffredo. A criação do direito. SãoPaulo, 1953. 2 v.
VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Tra-dução Tércio Sampaio Ferraz Jr., Brasília : Im-prensa Nacional, 1979.
WARAT, Luiz Alberto. Mitos e teorias na interpre-tação da lei. Porto Alegre : Síntese, 1979.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 185
1. IntroduçãoApesar de estar em vigor há um ano, a nova
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-nal (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996)ainda não é bem conhecida. No entanto, elaapresenta novas alternativas que auxiliam oPaís a enfrentar o desafio do cumprimento daobrigatoriedade escolar, ainda mais num perío-do em que fica patente a necessidade social eeconômica de a população completar pelo me-nos o ensino fundamental. O presente trabalhofocalizará essas questões, dividindo-se em trêspartes: a primeira, trata do diagnóstico dosmales; a segunda, dos novos remédios legais ea terceira, das principais políticas públicas quetêm sido utilizadas.
2. Um mal que enseja outroNa verdade, os grandes obstáculos ao cum-
primento da obrigatoriedade escolar não são,em geral, a falta de vagas e a evasão. Durantemuito tempo, pensou-se que a evasão fosse maisfreqüente que a repetência. No entanto, os da-dos provinham das secretarias dos estabeleci-mentos de ensino e não podiam evitar casoscomo os dos alunos que os abandonavam semcancelar a matrícula e ingressavam em outraescola na mesma série. O trabalho pioneiro deFletcher e Castro (1985), partindo de dadosfornecidos pelos domicílios, revelou que a re-petência é muito mais freqüente que a evasão.Utilizando os dados da PNAD-82, os autoresverificaram que não há evasão precoce: em
A nova Lei de Diretrizes e Bases e ocumprimento da obrigatoriedade escolar
CANDIDO ALBERTO GOMES
Candido Alberto Gomes é Consultor Legislativodo Senado Federal, Professor Titular da Universi-dade Católica de Brasília. Membro do Comitê dePesquisa do Conselho Mundial das Sociedades deEducação Comparada.
Artigo elaborado com base em palestra proferi-da no 1º Encontro Nacional da Sétima Câmara, Pro-curadoria Geral da República, Brasília, novembrode 1997.
SUMÁRIO
1. Introdução. 2. Um mal que enseja outro. 3.Alguns remédios legais 4. Políticas públicasadotadas. 5. Conclusão.

Revista de Informação Legislativa186
geral os alunos entram na idade correta e per-manecem durante a média de 7,6 anos, ou seja,quase a duração do ensino fundamental. A eva-são na primeira e oitava séries do ensino fun-damental atingiu, respectivamente, 3,4 e 8,5por cento, enquanto a repetência chegou a 52,4e 19,5 por cento, também na primeira e últimaséries. Descobriu-se, então, que, embora se su-pusesse que o doente contraíra uma gripe e fossepersistentemente tratado como se tivesse umvírus, na realidade ele tinha uma pneumonia,que era combatida precariamente. Com efeito,a taxa de escolarização líquida do ensino fun-damental para a faixa etária de 7 a 14 anos erade 90,8 por cento, em 1996, isto é, 90,8 por cen-to da população dessa idade estava matriculadana escola, indicando a persistência das famílias,à custa de indizíveis sacrifícios, no sentido deassegurar escolaridade aos seus membros maisjovens. É claro que, sendo a média fortementeafetada pelos valores extremos, na região Sul esse
Para agravar tais problemas, as própriasescolas encontram mecanismos adicionais deretenção do fluxo de alunos. Conforme a tabe-la 2, 52,4 por cento dos alunos da educaçãopré-escolar tinham mais de sete anos de idade,indicando que quase meio milhão de crianças,já em idade escolar, deixava de freqüentar aescola constitucionalmente obrigatória. Taisnúmeros indicam possível falta de vagas noensino fundamental, mas em parte ponderávelse devem à indevida reprovação de alunos, que
valor era de 96,8 por cento, ao passo que o daregião Nordeste era de 82,8 por cento.
Assim, em grande parte, o não-cumprimen-to da freqüência escolar compulsória se deve àprópria escola, de tal modo que o Brasil apre-senta o maior número absoluto de repetentesdo mundo (Unesco e Unicef, 1996), ou seja,5.244.249 de alunos em 1992. A tabela 1 é par-ticularmente ilustrativa dos resultados ao finaldo ano letivo de 1996: com as esperadas dispa-ridades regionais, 68,4 por cento dos alunosforam aprovados; 15,5 por cento foram repro-vados e 16,1 por cento desistiram ao longo doano, significando uma perda total de 31,6 porcento ou quase 10,5 milhões de alunos. A com-paração com os dados de 1988 mostra que taisperdas de efetivos discentes estão se reduzindolentamente, num ritmo incompatível com osprejuízos sociais e econômicos que lhes sãoinerentes.
TABELA 1BRASIL
ENSINO FUNDAMENTALTAXAS DE APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO E DESISTÊNCIA
1996
TAXA DEDESISTÊNCIA*
TAXA DEAPROVAÇÃO
TAXA DEREPROVAÇÃO
PAÍS E REGIÕES
BRASIL 68,4(N=22.661.789)
60,658,860,7
74,075,768,6
15,5(N=5.135.347)
18,817,919,1
12,515,014,9
16,1(N=5.334.134)
20,623,320,2
13,59,316,5
1988
REGIÃO NORTE
REGIÃO NORDESTE
REGIÃO SUDESTE
REGIÃO SUL
REGIÃO CENTRO-OESTE
* AO LONGO DO ANO LETIVO .FONTE: SEEC/MEC
a LDB proíbe. Ademais, vários sistemas deensino criaram um vestíbulo inadequado à es-colaridade compulsória: a classe de alfabetiza-ção. Esta reúne 66,7 por cento, ou quase ummilhão de crianças, de sete anos de idade oumais, como se fosse necessário primeiro alfa-betizar-se para, depois, ingressar no primeironível de ensino e como se não fosse dever destefazê-lo (considera-se em geral o indivíduo fun-cionalmente alfabetizado após completar comsucesso quatro anos de freqüência escolar).
EM %

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 187
Ainda outra questão, indevidamente enca-rada como residual, é a da educação dos porta-dores de necessidades especiais, com freqüên-cia ocultados pelas famílias e estigmatizadospor elas, pelas comunidades e pela sociedade.Um país cuja taxa de escolarização líquida che-ga a 90,8 por cento e pretende alcançar 100por cento (cf. Brasil, 1997), não pode negli-genciar tal grupo, estimado pela OrganizaçãoMundial de Saúde em dez por cento da popu-lação. É bem verdade que a realidade latino-americana parece não confirmar aquela esti-mativa, visto que um censo realizado com pes-quisadores especialmente treinados, como o
TABELA 2BRASIL
IRREGULARIDADES PROVÁVEIS DE MATRÍCULA NAEDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E NA CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO
1996
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR:
CRIANÇAS DE MAISDE 7 ANOS
CLASSE DEALFABETIZAÇÃO:
CRIANÇAS DE 7 ANOS OUMAIS
PAÍS E REGIÕES
BRASIL 52,4(N=455.232)
13,815,77,63,6
12,8
66,7(N=962.748)
73,367,562,348,9
44,3
REGIÃO NORTE
REGIÃO NORDESTE
REGIÃO SUDESTE
REGIÃO SUL
REGIÃO CENTRO-OESTE
FONTE: SEEC/MEC.
EM %
último de Belize, encontrou apenas cerca de4,6 por cento. No entanto, é ínfima a matrículados alunos da educação especial, atingindoapenas 0,36 por cento da matrícula do ensinofundamental no País e 0,13 por cento na re-gião Nordeste (tabela 3). Em geral, clama-sepela democratização da escola, mas posiçõesvanguardistas esquecem-se dos direitos cons-titucionais dos portadores de necessidades es-peciais ou prevêem para eles um estabelecimen-to em que devem enquadrar-se às necessidadese possibilidades da maioria, sem condições deverdadeira integração.
EDUCAÇÃO ESPECIALENSINO
FUNDAMENTALREGULAR (c)PAÍS E REGIÕES
BRASIL 201.14217.538
30.09694.64241.11012.940
REGIÃO NORTE
REGIÃO NORDESTE
REGIÃO SUDESTE
REGIÃO SUL
REGIÃO CENTRO-OESTE
FONTE DOS DADOS ORIGINAIS: SEEC/MEC.
Total (a) Ensinofundamental (b)
% de (b)sobre (a)
% de (b)sobre (c)
118.57510.950
13.63057.20125.8227.321
59,017.62,4
45,360,462,856,6
33.131.2702.820.531
10.475.46912.958.6744.475.7742.003.539
0,360,39
0,130,440,580,37
TABELA 3BRASIL
MATRÍCULA NO ENSINO REGULAR E NA EDUCAÇÃO ESPECIAL1996

Revista de Informação Legislativa188
3. Alguns remédios legaisA Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
chamada Lei Darcy Ribeiro, em homenagemao seu relator no Senado Federal, além de rei-terar outros dispositivos constitucionais, repe-te o art. 205 da Lei Maior, que declara a educa-ção “direito de todos e dever do Estado e dafamília”. Quer na Carta Magna, quer na Lei,não há qualquer desobrigação do Estado, umavez que o dispositivo se refere à educação comoum todo. Os princípios e garantias para efeti-vação do dever do Estado não deixam dúvidasquanto às obrigações do Poder Público, em to-dos os níveis, no que tange à educação escolar,foco da Lei.
Entre os aditamentos e detalhamentos daLei, figura uma forma de operacionalização doprincípio constitucional da “garantia de padrãode qualidade” (LDB, art. 3º, IX). Para que estenão permaneça vago, logo adiante foi incluídaa garantia de “padrões mínimos de qualidadede ensino, definidos como a variedade e quan-tidade mínimas, por aluno, de insumos indis-pensáveis ao desenvolvimento do processo deensino-aprendizagem” (LDB, art. 4º, IX). Issosignifica que se deverá definir quais são essespadrões mínimos, quais os insumos imprescin-díveis para atingi-los e, também, o custo/alunoque representam. Serão obrigatoriamente defi-nidos, de forma concreta e sujeita à fiscaliza-ção da sociedade, os elementos mínimos parauma escola digna de ser chamada de escola e atradução monetária daqueles, conforme o Tí-tulo “Dos Recursos Financeiros”.
O art. 5º da Lei regulamenta a obrigatorie-dade escolar, com base na definição constituci-onal de que “o acesso ao ensino obrigatório egratuito é direito público subjetivo” (Consti-tuição Federal, art. 208, § 1º). É importanteassinalar que, conforme ensina Pontes de Mi-randa (1933, 1972: 335 segs.), uma tônica dahistória constitucional brasileira era a de asse-gurar apenas um direito programático à edu-cação: estabelecia-se a compulsoriedade, maso Estado não se obrigava efetivamente a mi-nistrar o ensino ou a assegurar o acesso dapopulação à escola. O direito programático écumprido se o Poder Público pode ou quer. ACarta de 1988 cruzou essa fronteira, declaran-do o ensino compulsório como direito públicosubjetivo, isto é, não o provendo o Estado, ocidadão pode acioná-lo (cf. Barbosa e Gomes,1987). Desse modo, a Lei Maior deixou clara aprioridade em favor do ensino fundamental,
enquanto a LDB, no nível que lhe compete,detalha esse direito e a maneira de exigi-lo bemcomo prescreve obrigações do Estado necessá-rias ao seu cumprimento (recenseamento esco-lar, chamada pública, zelo pela freqüência es-colar e outras, conforme o art. 5º, §§ 1º a 5º).Tais obrigações competem aos Estados e aosMunicípios, em regime de colaboração e coma assistência da União (art. 5º, § 1º), já que,realisticamente, a municipalização do ensinofundamental não é uma obrigação, mas umatendência, fortemente incentivada pelo Fundode Manutenção e Desenvolvimento do EnsinoFundamental e de Valorização do Magistério(Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996).
Para atingir o alvo desejado, o § 5º do art.5º da LDB ainda dispõe que, “para garantir ocumprimento da obrigatoriedade de ensino, oPoder Público criará formas alternativas deacesso aos diferentes níveis de ensino, inde-pendentemente da escolarização anterior”. Issosinaliza para o aproveitamento de experiênci-as educacionais não escolares, como o estudoem casa, a autodidaxia e eventualmente outras.
Contribuindo para a regulamentação do art.211 da Constituição Federal, a Lei, tendo comoprincípio a liberdade de organização dos siste-mas de ensino, estabelece as competências decada nível de governo e dos estabelecimentosde ensino (arts. 8º a 19). O quadro 1, não exaus-tivo, permite observar a distribuição das mes-mas pela União, Estados e Municípios. Distin-guem-se sete funções básicas, além da que or-ganiza, mantém e desenvolve os órgãos e insti-tuições oficiais dos respectivos sistemas de en-sino, que chamamos de coordenação, normati-zação, planejamento, avaliação, função redis-tributiva, supervisão e oferta educacional. Acoordenação e a avaliação são exclusivas daUnião. O Plano Nacional de Educação cabe àesfera federal, mas, tendo-se consagrado nasúltimas décadas uma progressiva descentrali-zação, não se poderia supor um papel imposi-tivo do poder central. Daí, a Lei prevê a cola-boração dos Estados e Municípios, de tal modoque a União tem a responsabilidade de elabo-rar o Plano, tecendo as áreas de consenso coma colaboração dos demais níveis de governo.
Uma inovação é digna de nota: a referênciaa dois processos nacionais de avaliação, um dorendimento escolar no ensino fundamental emédio e na educação superior e outro das insti-tuições de educação superior. No que se refereà normatização, a União fica com a área maisabrangente, cabendo a cada esfera governamen-

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 189
tal as normas complementares para o seu siste-ma de ensino. A supervisão de instituições tam-bém obedece a este critério: como instituiçõesde educação superior podem apresentar área deinfluência maior, permanecem na órbita federal,podendo, no entanto, ocorrer delegação, aopasso que cabe a cada Estado e Município su-pervisionar os respectivos estabelecimentos doseu sistema de ensino.
Por outro lado, dois princípios perpassamo Título IV da Lei (“Da Organização da Edu-cação Nacional”):
• quanto menor a idade do aluno a que aeducação se destina, mais próxima deve ficardo governo local, quer na execução, quer nasupervisão;
• cada nível de governo exerce uma funçãoredistributiva no interior do seu próprio siste-ma de ensino e no que se refere aos sistemas deensino de menor âmbito.
Como no fluxo de recursos do Fundo deManutenção e Desenvolvimento do EnsinoFundamental e de Valorização do Magistério,estabelece-se o papel redistributivo do Municí-pio em face das suas escolas, do Estado em re-lação aos seus Municípios e da União no quetange às demais instâncias educacionais. Comisso, pretende-se corrigir progressivamente asagudas disparidades educacionais brasileiras,como as que distanciam escolas rurais e urba-nas, escolas municipais e estaduais e estabele-cimentos das regiões de diferentes níveis dedesenvolvimento relativo.
Quanto aos níveis e modalidades de educa-ção e ensino, ao diferenciar a educação básicae superior, a Lei criou uma nova concepção queconfere maior continuidade e integração ao sis-tema como um todo e à educação básica emparticular, esta composta pela educação infan-til, pelo ensino fundamental, pelo ensino mé-dio, pela educação especial e pela educação dejovens e adultos.
Diversos dispositivos inovadores marcama educação básica como um todo (arts. 22 a24): a organização em séries anuais, períodossemestrais, ciclos, alternância regular de perío-dos de estudo (como a pedagogia da alternân-cia, em que se intercalam períodos de estudo ede trabalho na agricultura), grupos não seria-dos ou, o que é muito importante deixar auto-rizado em lei, “forma diversa de organizaçãosempre que o interesse do processo de aprendi-zagem assim a recomendar”. Os alunos tam-bém podem ser reclassificados em caso de trans-ferência, podem seguir a progressão parcial e
têm possibilidades de acelerar os estudos, sem-pre visando combater a repetência e a perdade tempo pelos alunos e pelos sistemas. E oano letivo, novamente estatui a Lei (porque taldisposição já existia desde 1971), deve adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáti-cas e econômicas. Pode-se dizer que a nova Leitrata recorrentemente do fracasso escolar e in-centiva – quando não determina – o máximoaproveitamento de estudos.
Um exemplo é a fixação da norma comumpara a educação básica no sentido de a classifi-cação do aluno em qualquer série ou etapa,exceto a primeira do ensino fundamental, po-der ser feita, independentemente de escolari-zação anterior, “mediante avaliação feita pelaescola, que defina o grau de desenvolvimentoe experiência do candidato e permita sua ins-crição na série ou etapa adequada” (art. 24, II,c). É importante que cada sistema de ensinoproceda à regulamentação tão cedo quanto pos-sível, como manda a Lei, para que se evitempráticas como a de obrigar ex-alunos de esco-las não autorizadas a retroceder na série ou,mesmo, interromper seus estudos à espera deum remoto reconhecimento do seu trabalhoacadêmico por um órgão colegiado da capital.Não é preciso lembrar que tais exigências re-caem em especial sobre os alunos da área ruralou oriundos dela.
Também é permitido organizar classes, outurmas, com alunos de séries distintas e níveisequivalentes de adiantamento na matéria (art.24, IV). Em face de tantas faculdades abertaspelo diploma legal, é preciso agora que, paraadotar as aberturas proporcionadas pela Lei,estabelecimentos e sistemas deixem de ladoformas usuais de organização, mais fáceis demanejar, em que todos os alunos caminhamjuntos, apesar das suas diversidades, para ado-tar as aberturas da Lei.
Quanto à educação infantil, é vedada a ava-liação com o objetivo de promoção, “mesmopara o acesso ao ensino fundamental” (art. 31),devendo esta ser feita mediante acompanha-mento e registro do desenvolvimento da crian-ça. Tal dispositivo impede a mencionada re-tenção de crianças fora da idade.
No que se refere à educação de jovens eadultos, além de reafirmar a responsabilidadedo Poder Público, a nova LDB confere maisflexibilidade, ao destacar cursos e exames. Es-tes últimos, inclusive, poderão aferir e reco-nhecer conhecimentos e habilidades adquiri-dos pelos educandos por meios informais (art.

QU
AD
RO
IIM
CU
MB
ÊN
CIA
S D
OS
NÍV
EIS
DE
GO
VE
RN
O
UN
IÃO
ES
TAD
OS
MU
NIC
ÍPIO
S
Pol
ítica
nac
iona
l de
educ
ação
, art
icul
ando
nív
eis
esi
stem
as.
Cur
sos
de g
radu
ação
e p
ós-g
radu
ação
.
Pla
no N
acio
nal d
e E
duca
ção,
em
col
abor
ação
com
os d
emai
s ní
veis
de
gove
rno.
Nor
mas
com
plem
enta
res
para
ose
u si
stem
a de
ens
ino.
No
rma
s co
mp
lem
en
tare
spa
ra o
seu
sis
tem
a de
ens
ino.
Em
con
sonâ
ncia
com
os
plan
osna
cion
ais,
int
egra
ndo
as s
uas
açõe
s e
as d
os s
eus
Mun
icíp
ios.
——
Com
petê
ncia
s e
dire
triz
es c
urric
ular
es p
ara
a ed
u-ca
ção
infa
ntil
e o
ensi
no fu
ndam
enta
l e m
édio
.P
roce
sso
naci
onal
de
aval
iaçã
o do
rend
imen
to e
s-co
lar
no e
nsin
o fu
ndam
enta
l e m
édio
e e
duca
ção
supe
rior,
em
col
abor
ação
com
os
sist
emas
de
ensi
-no
. Pro
cess
o na
cion
al d
e av
alia
ção
das
inst
ituiç
ões
de e
duca
ção
supe
rior,
com
a c
oope
raçã
o do
s si
ste-
mas
de
ensi
no e
nvol
vido
s.
Em
rela
ção
às d
emai
s in
stân
cias
(Est
ados
e M
uni-
cípi
os).
Em
rela
ção
aos
seus
Mun
icíp
ios.
Em
rela
ção
às s
uas
esco
las.
Cur
sos
das
inst
ituiç
ões
de e
duca
ção
supe
rior e
es-
tabe
leci
men
tos
do s
eu s
iste
ma
de e
nsin
o.*
Cur
sos
das
inst
ituiç
ões
de e
duca
-çã
o su
perio
r e
esta
bele
cim
ento
sdo
seu
sis
tem
a de
ens
ino
Est
abel
ecim
ento
s do
seu
ssi
stem
a de
ens
ino.
Impl
icita
men
te, e
duca
ção
supe
rior.
Ens
ino
méd
ioE
nsin
o fu
ndam
enta
lE
nsin
o fu
ndam
enta
lE
duca
ção
infa
ntil
* D
eleg
ável
aos
Est
ados
(e a
o D
istri
to F
eder
al) q
ue m
antiv
erem
inst
ituiç
ões
de e
duca
ção
supe
rior (
cond
ição
adi
cion
ada
pela
LD
B a
o di
spos
to p
ela
Lei n
º 9.1
31, d
e 24
de
nove
mbr
o de
199
5, n
a no
va re
daçã
o da
da a
o ar
t. 9º
, § 3
º, da
Lei
nº 4
.024
, de
20 d
e de
zem
bro
de 1
961)
.
IMC
UM
BÊ
NC
IAS
CO
OR
DE
NA
ÇÃ
O
NO
RM
ATIZ
AÇ
ÃO
PLA
NE
JAM
EN
TO
AVA
LIA
ÇÃ
O
FUN
ÇÃ
O R
ED
ISTR
IBU
TIVA
SU
PE
RV
ISÃ
O
OFE
RTA
DE
ED
UC
AÇ
ÃO
Revista de Informação Legislativa190

38, § 2º). Esse dispositivo inovador, talvez re-volucionário (e cuja aplicação, portanto, exigecautela) permite, por exemplo, que alguém quejá aprendeu conhecimentos e habilidades pro-fissionais não seja obrigado a freqüentar a es-cola, como se não os dominasse. Como emoutras disposições, tudo se orienta para o apro-veitamento do tempo e dos conhecimentos ehabilidades prévios. No caso dessa modalida-de de educação, asseguradas as oportunidadeseducacionais, os exames servem para balizar oatingimento de fins, não importando que ca-minhos os jovens e adultos tenham percorridopara chegar a eles. Isso não significa baratea-mento ou banalização, pois o ensino fundamen-tal e médio, em qualquer caso, seja regular, sejano âmbito da educação de jovens e adultos, ficasubmetido, pela mesma Lei, a processo nacio-nal de avaliação do rendimento escolar, quepressupõe padrões mínimos, inclusive paraexames.
Outra medida polêmica foi a redução doslimites de idade para conclusão do ensino fun-damental e médio, respectivamente de 18 para15 e de 21 para 18 anos (art. 38, § 1º). Noensino fundamental, os indicadores de fracas-so escolar são dramáticos e têm melhorado,quando melhoram, muito lentamente. Assim,o abandono e a reprovação atingem os níveisjá indicados pela tabela 1, ao passo que 31,5por cento das crianças da faixa etária de 7 a 14anos tinham distorção série/idade maior quedois anos. No ensino médio, a situação não émenos grave: em 1996, 54,3 por cento dos alu-nos tinham mais de 17 anos de idade, a distor-ção série/idade chegava a 70,9 por cento (1994)e a repetência, em 1992, chegou a 42 por cen-to, tendo aumentado sete pontos percentuaisdesde 1981 (dados originais do SEEC/MEC).Por outro lado, constatações do Sistema Nacio-nal de Avaliação da Educação Básica (Saeb/95) deixam claro que houve uma perda de pro-ficiência dos alunos em todas as disciplinas,séries e regiões pesquisadas à medida que au-mentou a distorção série/idade (Brasil, s/d.). Odilema, em parte, consiste em facilitar a saídade alunos do ensino regular ou prolongar a suaagonia num sistema marcado pela denomina-da pedagogia da repetência. O prolongamentodos estudos, em idade avançada para a série(ao ponto de, pelo menos, dois terços da matrí-cula inicial estarem desajustados), ou o seuabandono puro e simples têm custos para o in-divíduo e a coletividade. Paga o primeiro pelademora na obtenção de competências e certifi-
cados, paga a sociedade por se privar de pesso-as com mais alto nível de escolaridade e aindaconcorre com o pagamento dos impostos e con-tribuições que sustentam a educação pública.O legislador, diante desse quadro e contandocom salvaguardas relativas ao padrão de qua-lidade, à avaliação e ao financiamento, deci-diu-se pelo rebaixamento daqueles limites etá-rios.
A educação especial, com freqüência negli-genciada, foi objeto de todo o Capítulo V doTítulo V da Lei. A mesma será oferecida pre-ferencialmente na rede regular de ensino, mastambém em classes, escolas ou serviços especi-alizados. Assim, elevou-se ao nível de normalegal o princípio da integração (art. 58).
Além dessa, outra opção é particularmenteimportante: a alternativa preferencial é a am-pliação do atendimento aos educandos porta-dores de necessidades especiais na própria redepública regular de ensino, mantido o apoio àsinstituições privadas sem fins lucrativos (art.60, parágrafo único). As dificuldades finan-ceiras têm levado Secretarias de Educação acontar com o apoio maciço das organizaçõesnão-governamentais, cuja despesa média alu-no/ano tende a ser mais baixa que a da redeescolar pública, num processo que poderia serchamado de “terceirização de serviços”. Toda-via, em que pese ao alto valor do trabalho rea-lizado por aquelas instituições, nelas muitasvezes é inviável colocar em prática o princípioda integração, como na rede regular de ensino,correndo-se o risco, em certas situações, de seformarem verdadeiros guetos, com limitadosprogressos dos alunos (cf. Gomes e AmaralSobrinho, 1996). Uma grave questão para ocumprimento da compulsoriedade escolar vema ser o fato de o Poder Público, para fazer faceaos custos da educação especial, delegar fun-ções às organizações não-governamentais. Foiassim que, em 1996, 24,6 por cento da matrí-cula de educação especial no ensino fundamen-tal e médio estavam na dependência particu-lar; 62,7 por cento da matrícula na educaçãopré-escolar se concentravam na mesma depen-dência administrativa e, em 1989 (últimos da-dos disponíveis do SEEC/MEC), 77 por centodos portadores de necessidades especiais eramatendidos em instituições especializadas parti-culares. Compreende-se essa espécie de “ter-ceirização” realizada pelo Estado: em pesqui-sa recente, Cardoso (1997) constatou que, narede municipal do Rio de Janeiro, o custo diretode funcionamento aluno/ano em escolas espe-
Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 191

Revista de Informação Legislativa192
ciais (isto é, o custo de operação de tais esco-las) foi de R$ 2.002,86, enquanto o de uma clas-se especial foi de R$ 1.302,39. Em contraste, adespesa média aluno/ano de uma organizaçãonão-governamental pesquisada foi de US$334,36 em 1994 (Gomes e Amaral Sobrinho,1996). Assim, embora a Lei nº 9.424, de 24 dedezembro de 1996, estabeleça valor diferenci-ado por aluno de educação especial, o que re-presenta um incentivo ao seu oferecimento pre-ferencial pelas redes escolares públicas (LDB,art. 60, parágrafo único), a curto e médio pra-zos, persiste o problema da falta de recursos.Além disso, numerosos depoimentos de edu-cadores não deixam passar despercebido o ris-co de se desviarem os recursos destinados aosalunos de educação especial (um grupo de es-cassa capacidade de barganha) quando a esco-la recebe valor per capita específico, em nomede um falso princípio democrático, que visabeneficiar as “maiorias”.
Last but not least, o Título VII, “Dos Re-cursos Financeiros”, dá os meios para a corpo-rificação de princípios e o atingimento de ob-jetivos fixados pela Lei, tendo dois focos níti-dos de preocupação: definir claramente os re-cursos para a manutenção e desenvolvimentodo ensino e estabelecer critérios públicos dealocação de recursos. Assim, os principais pon-tos desse Título são:
• a definição dos recursos públicos des-tinados à educação e não apenas à manu-tenção e desenvolvimento do ensino, já queessa fonte é uma entre outras necessáriasao setor (art. 68);
• o conceito de despesas de manuten-ção e desenvolvimento do ensino é maispreciso e rigoroso, evitando que sejam fi-nanciadas com os recursos vinculados obrasde infra-estrutura e outras, utilizadas comoválvulas de escape para descumprir os obje-tivos constitucionais estabelecidos primeira-mente pela Emenda Calmon (arts. 70 e 71);
• é estabelecido um calendário de re-passe de recursos ao órgão responsável pelaeducação, para evitar que esse seja preteri-do pela desvinculação, na prática, dos meiosfinanceiros (art. 69, § 5º e 6º).Além das normas usuais, as Disposições
Transitórias da Lei apresentam um conjuntode medidas integradas em favor do ensino fun-damental. É assim que a Década da Educação,iniciada em 23 de dezembro de 1997, inclui:
• o recenseamento dos educandos doensino fundamental, especialmente dos gru-
pos de sete a 14 e de 15 a 16 anos de idade;• a matrícula de todos os educandos a
partir dos sete anos de idade e, facultativa-mente, a partir dos seis;
• o provimento de cursos presenciais ouà distância aos jovens e adultos insuficien-temente escolarizados;
• a realização de programas de capaci-tação para os professores em exercício, va-lendo-se também da educação à distância;
• a integração de todos os estabelecimen-tos de ensino fundamental ao sistema nacio-nal de avaliação do rendimento escolar;
• a progressão das redes escolares pú-blicas urbanas de ensino fundamental para oregime de escolas de tempo integral (art. 87).
4. Políticas públicas adotadasO Programa Toda Criança na Escola (Bra-
sil, 1997) teve a posição cautelosa de não pre-ver, entre as alternativas pedagógicas a seremincentivadas, senão as que têm sido testadasnos últimos anos, entre elas a aceleração daaprendizagem, as escolas rurais multisseriadase o regime de progressão continuada. Prevêainda a mobilização da sociedade civil, a des-centralização e ampliação dos programas deapoio e o fortalecimento da escola.
A aceleração da aprendizagem já era facul-tada pela Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971,e continua a sê-la pela nova LDB (art. 23, ca-put; art. 24, II, c, e III). Vários estados e muni-cípios têm criado classes de aceleração daaprendizagem, que oferecem aos alunos comdistorção série/idade oportunidades com pro-fessores especificamente treinados, materialdidático específico, jornada letiva mais longa,atividades letivas nas férias e outras alternati-vas para retomarem a trajetória regular. Os re-sultados têm sido positivos, embora seja indis-pensável trabalhar intensamente pela mudan-ça das classes regulares. Não faria sentido uti-lizar a aceleração da aprendizagem enquantoa escola continua contribuindo para que novosalunos fracassem e se eleve a distorção série/idade.
As escolas rurais multisseriadas se têm ins-pirado na experiência da Escuela Nueva daColômbia. O ensino, em vez de seriado, se or-ganiza em módulos, com atividades diversifi-cadas e de monitoria que estimulam os laçosde solidariedade entre os alunos. Como 43,6por cento dos estabelecimentos de ensino fun-damental tinham até 30 alunos, onde estuda-

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 193
vam apenas 4,3 por cento do alunado (1996), aconsolidação de escolas unidocentes rurais éinviável em muitas áreas do Brasil. Com a novametodologia, é possível superar os correspon-dentes desafios, inclusive obedecendo a calen-dário letivo adequado às condições locais.
O regime de progressão continuada é parteda tendência à desseriação, verificada no Bra-sil e em outros países. Como no caso do Estadode São Paulo, o regime divide o ensino funda-mental em ciclos e elimina a reprovação du-rante as oito séries do ensino fundamental. Emgeral, o aluno é automaticamente promovido,mas tem avaliação continuada e, se necessário,reforço dos conteúdos em que não apresentarendimento satisfatório.
Essa inovação evoluiu a partir de experiên-cias pioneiras e mais ou menos insatisfatóriasdos anos 80, quando foram organizados ciclosbásicos de alfabetização (cf., por exemplo, Sil-va e Davis, 1994; Zapponi, 1991). Os resulta-dos das avaliações indicaram que, sem altera-ção da mentalidade voltada para o fracasso es-colar, empurrava-se o problema do baixo ren-dimento para depois do ciclo básico, prolon-gando de qualquer forma o tempo passado naescola. Era uma experiência semelhante à vee-mência do marido traído que vende o sofá paraque nele nunca mais venha a se consumar oadultério... Conquanto a progressão continua-da chegue com novo arsenal, certamente pre-cisará de cuidadosos acompanhamento e ava-liação.
Parcimonioso e não novidadeiro, o Progra-ma Toda Criança na Escola deixa, entretanto,uma omissão, que é o silêncio sobre a educa-ção especial, a ser certamente retificado. Comojá foi observado, um país que deseja aproxi-mar-se da taxa líquida de escolarização de 100por cento não pode negligenciar o grupo deportadores de necessidades especiais, inclusi-ve porque os princípios de igualdade de condi-ções e de democratização educacional, além dodever do Estado no que tange ao ensino funda-mental, devem ser concretizados coerentemen-te. Não seria democracia a que aceitasse pesso-as um pouco diferentes, enquanto rejeitasse asmais diferentes. Cabe, portanto, adotar medi-das que tirem essas pessoas do ocultamento eda vergonha e, sobretudo, que as escolas pos-sam trabalhar pelo seu sucesso. Sob esse parti-cular, cabe reconhecer que, embora o princípioda integração às classes regulares esteja con-sagrado, a Lei o encara com prudência. Há ne-cessidades especiais mais e menos complexas,
associadas ou não entre si, que podem reque-rer escolas especiais (LDB, art. 58, § 2º), porserem mais recomendáveis dos pontos de vistada pedagogia e da economicidade (reunião derecursos num só local para maior eficácia dosserviços e redução do custo unitário). Por ou-tro lado, a integração deve fazer-se à medidaque professores, especialistas, alunos, prédiose equipamentos estiverem em condições de re-ceber os portadores de necessidades especiais.Já lhes basta a carga de estigmatização e a pró-pria geração indevida de novos e supostos por-tadores de tais necessidades pela própria esco-la. Se considerarmos os custos de outros níveisde ensino, inclusive instituições federais deeducação superior que superam os R$ 10.000,00por aluno/ano, os valores atrás indicados paraa educação especial não podem ser considera-dos proibitivos.
5. ConclusãoEm suma, o Brasil dispõe de um conjunto
bastante amplo de remédios legais e de alter-nativas em políticas públicas, embora insufici-entemente avaliado do ponto de vista científi-co. Quanto às últimas, são numerosas e nãopodemos aqui traçar um painel completo. Noque tange às normas legais, a cautela deve serredobrada. Temos uma tradição de jurisdicis-mo pedagógico, pelo qual o Estado, com voca-ção napoleônica, regula os menores detalhesdo setor. Não faltam minuciosas regras que,uma vez lidas, prenunciariam um mundo dequase perfeição, quando as mesmas se distan-ciam amplamente do mundo real. Daí a famo-sa expressão de Anísio Teixeira, repetida nu-merosas vezes por Darcy Ribeiro: Tudo legal etudo muito ruim. É hora de superarmos o for-malismo e perseguirmos a eficácia.
Bibliografia
BARBOSA, Francisco Salatiel de A., GOMES,Candido Alberto C. Dos direitos sociais : edu-cação. Brasília : Senado Federal, Assessoria,1987.
CARDOSO, Dalva. Custos de educação especial :análise comparativa do custo/aluno em escolasda rede municipal do Rio de Janeiro. Brasília :Universidade Católica de Brasília, 1997. Dis-sertação (Mestrado) – Universidade Católica deBrasília, 1997.
FLETCHER, Philip R., CASTRO, Cláudio de Mou-ra. Os mitos, as estratégias e as prioridades parao ensino de 1º grau. Brasília : IPEA, 1985.

Revista de Informação Legislativa194
GOMES, Candido Alberto, AMARAL SOBRINHO,José. Educação especial no Brasil: perfil do fi-nanciamento e das despesas. Brasília : MEC,SEESP, 1996.
MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constitui-ção de 1967: com a Emenda nº 1, de 1969. SãoPaulo : Revista dos Tribunais, 1972. v. 6: Arts.160-200.
__________. Direito à educação. Rio de Janeiro : Alba,1933.
PRIMARY school repetition : a global perspective.Genebra : UNESCO, International Bureau ofEducation, 1996.
PROGRAMA toda criança na escola. Brasília :MEC, 1997.
RESULTADOS do SAEB/95 : escalas de proficiên-cia. Brasília : MEC, 199?
SILVA, Rose Neubauer, DAVIS, Cláudia. É proibi-do repetir. Brasília : MEC, Secretaria de Edu-cação Fundamental, 1994.
ZAPPONI, Neuza. Experiências de implantação dociclo básico : tentativas de diminuição das defi-ciências na alfabetização. In: CADEMARTORI,Lígia (org.). O desafio da escola básica : qua-lidade e eqüidade. Brasília : IPEA, 1991. p.119-26.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 195
1. IntroduçãoO único artigo constitucional dispondo
sobre a jurisdição agrária é o 1261:“Art. 126. Para dirimir conflitos fun-
diários, o Tribunal de Justiça designarájuízes de entrância especial, com com-petência exclusiva para questõesagrárias.
Parágrafo único. Sempre que neces-sário à eficiente prestação jurisdicional,o juiz far-se-á presente no local do lití-gio.”
Após a Constituição, várias tentativas demudanças foram propostas, no sentido de secriar uma Justiça Agrária mais abrangente doque o disposto na CF, que aliás, não tem sidoaplicado. Passamos, então, a enumerar eanalisar algumas dessas propostas e projetos.
2. Projeto LaranjeiraDenominação dada pela Revista da Asso-
ciação Brasileira para a Reforma Agrária(ABRA) ao anteprojeto de Foro Agrário do
Tentativas de criação da justiça agráriaapós a Constituição Federal de 1988
A. MARCOS DA S. DE JESUS
A. Marcos da S. de Jesus é Acadêmico emDireito da UFV-MG e bolsista do CNPq.
SUMÁRIO
1. Introdução. 2. Projeto Laranjeira. 3. AntonioPinoti Jurandir. 4. Vitor Barboza Lenza. 5. Projetode Lei Complementar nº 140/89. 6. Projeto de Lei nº4.005/89. 7. PEC 47/95. 7.1. Órgãos da JustiçaAgrária. 7.1.1. Tribunal Superior Agrário. 7.1.2.Tribunais Regionais Agrários. 7.1.3. Juízes Agrários.7.2. Competência. 7.3. Parecer do Senador EdisonLobão. a) escassez de recursos. b) inexistência deprofissionais. 8. Considerações finais.
1 Vide artigo A Justiça Agrária na ConstituiçãoFederal. R. Inf. Legisl, nº 136.

Revista de Informação Legislativa196
Ministério da Justiça, em homenagem ao Pro-fessor Raymundo Laranjeira2.
É a primeira proposta para a jurisdição agrá-ria surgida depois da Constituição Federal edas restrições feitas por ela à criação da JustiçaAgrária.
Incumbido de escrever um esboço de ante-projeto de justiça agrária, diante dos obstácu-los, principalmente o constitucional, figuradono art. 126, o máximo que o Professor Laran-jeira pôde fazer foi um anteprojeto de foro agrá-rio.
“...seria até preferível falar em foro agrá-rio, mas nunca em justiça agrária, comotal, que pressupõe a entidade ímpar, maisabrangente, sem a dispersão de compe-tências e que é, sobretudo, organismodotado de reconhecimento constitucio-nal”3.
Porém, mais que isso, o objetivo do Profes-sor Laranjeira, que foi alcançado, era fazer umtrabalho que servisse de parâmetro aos futurosagraristas,
“como embrião para uma verdadeira Jus-tiça Agrária, a ser instituída por umGoverno que, antes de tudo, pense emexecutar a Reforma Agrária que rompacom a magnitude latifundiária e que aca-be com os privilégios da burguesia quedominou o campo no Brasil”4.
Certamente, entre as propostas, essa é a quemelhor obedece aos critérios científicos do Di-reito Agrário e da técnica legislativa. É umaproposta que, antes da regulamentação propri-amente dita e antes de descrever procedimen-tos, tem conceitos precisos dos elementos liga-dos à jurisdição agrária. Exemplo que deveriaser seguido pelos legisladores. As normas de-vem primar por estabelecer conceitos e princí-pios ao invés de enumerar e exemplificar exaus-tivamente, causando confusão jurídica.
Assim, são encontrados no anteprojeto oconceito de conflito fundiário, atividade agrá-ria, atividade agrária de produção, de pesqui-sa, de experimento e de conservação e outros.Isso é importante para delimitar a competên-cia agrária.
Outro ponto forte no anteprojeto é a carac-terização das questões que são da competênciaagrária estadual e federal. Excluindo, e bem,as que pertencem à Justiça do Trabalho.
Por último, estabelece o procedimento agrá-rio próprio, primado pela celeridade, informa-lidade, economia processual etc.
Devido à limitação constitucional, a emen-ta do anteprojeto diz que visa delimitar a “com-petência das Varas Agrárias decorrentes do art.126 da CF”. Mas, como argumentamos alhu-res, tal dispositivo não criou Varas Agrárias ese restringiu à competência dos conflitos fun-diários. O que poderia ocorrer seria a criaçãode Varas Agrárias, federais e estaduais (poriniciativa dos Tribunais de Justiça e com en-trância especial) que teriam como regulamen-to esta proposta da Comissão do Ministério daJustiça.
O anteprojeto não foi avante, mas tem ser-vido de parâmetro para outros projetos, comofoi o caso dos PL nº 4.005/89 e PL nº 896/91,ambos de autoria do Deputado Nelson Gibson.
3. Antônio Jurandir PinotiAntônio Jurandir Pinoti propõe a alteração
do caput do art. 126 da CF para os seguintestermos:
“Art. 126. Para dirimir conflitos fun-diários, o Tribunal de Justiça proporá acriação de varas especializadas, classifi-cadas em entrância especial, com com-petência exclusiva para questões agrá-rias”.
Ele justifica a proposta ante ao princípiodo juiz natural, que pode ser ferido quando dadesignação do juiz, ao invés da criação de va-ras.
O art. 126 alterado estaria em consonânciacom o art. 96, I, d, que elenca como competên-cia do Tribunal de Justiça a propositura da cri-ação de varas. A proposta é melhor do que aredação atual, pois a prestação jurisdicionalagrária seria mais eficiente se estruturada emvaras do que por simples designação. Porém,ainda permanecem os outros inconvenientes,por exemplo, a desconcentração da competên-cia agrária e a competência restrita apenas aosconflitos fundiários.
4. Vitor Barbosa LenzaVitor Barbosa Lenza faz uma proposta al-
ternativa: a criação dos Juizados Agrários5 pararesolver questões agrárias cujo valor não exce-da a 40 salários mínimos e questões penais2 Revista da ABRA, v. 19, n. 3, dez.1989/mar.
1990.3 Ibidem, p. 87.4 Ibidem.
5 Juizados Agrários, JA : doutrina, jurisprudên-cia, legislação, prática. Goiânia, AB, 1995.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 197
agrárias relativas a contravenções, crimes cul-posos ou crimes dolosos a que a lei comine penamáxima de até 2 anos de detenção e até 1 anode reclusão, para os quais se aplicarão a Lei nº7.244/84 (procedimento oral e sumaríssimo).
Das decisões dos JA caberá recurso inomi-nado para o Colegiado Recursal Agrário (CRA)— composto por 3 juízes do primeiro grau ecom competência regional nas microrregiõesagrárias, sob a presidência do mais antigo namagistratura estadual.
Seria regido pelos princípios da oralidade,da simplicidade, da informalidade, da econo-mia processual, da gratuidade e da celeridade.Com preferência à conciliação das partes.
Somente o rurícola, o pequeno proprietáriorural e o pequeno possuidor ou pequeno pro-prietário rural serão sujeitos de direito do póloativo da ação nos JA, sendo vedado às pessoasjurídicas e a outros proprietários serem póloativo das ações.
Trata-se de uma boa proposta, com princí-pios processuais adequados para as ações denatureza agrária. Mas é uma proposta alterna-tiva, pois todos esses feitos e procedimentos jáseriam atendidos e aplicados com a criação dajustiça agrária.
5. Projeto de Lei Complementar nº 140/89É um projeto de autoria do Deputado Vil-
son Souza. Estabelecia o procedimento contra-ditório especial para o processo judicial de de-sapropriação e de imissão de posse para fins dereforma agrária, previsto no art. 184, § 3º daContituição Federal.
Esse projeto (no art. 2º) determinava a mes-ma designação de juízes estaduais (do art. 126da CF) para essas ações e demais demandassobre questões agrárias. Contrariando o caputdo art. 184 da Contituição Federal combinadocom o art. 109, I da CF — que estabelece acompetência federal para as ações em que aUnião esteja interessada — e o art. 126 da CF,que determina esse foro agrário só para os con-flitos fundiários. Sendo, portanto, inconstitu-cional.
O projeto estimulava o ingresso de juízesnas Varas Agrárias e previa o concurso adicio-nal de provas de Direito Agrário, EconomiaRural, Sistema Financeiro Nacional e DireitoInternacional Comparado. Apesar dessas dis-posições, não havia, e não há, salvo alguns pou-cos casos, Varas Agrárias. O art. 126 da Cons-tituição Federal não criou essas Varas. Isto é
competência dos Estados, por iniciativa do seuTribunal de Justiça.
O projeto, cheio de incoerência constituci-onal, foi arquivado.
Em 1990, o Deputado Vilson Souza, junta-mente com o Deputado Haroldo Sabóia fize-ram na íntegra a mesma proposta de lei com-plementar (agora com o nº 270/90), que foiprejudicada pela aprovação do Projeto de LeiComplementar nº 71/89.
6. Projeto de Lei nº 4.005/89Este Projeto de Lei é de autoria do Deputa-
do Nilson Gibson. Conforme seu art. 1º, esta-belecia diretrizes para a instituição de VarasAgrárias das Justiças Federal e Estadual, se-gundo este, previstas no parágrafo único do art.126 da Constituição Federal.
O parágrafo único do art. 126 da CF nãoprevê nenhuma criação de Varas Agrárias, ape-nas dispõe que:
“Sempre que necessário à eficienteprestação jurisdicional, o juiz far-se-ápresente no local do litígio”.
Fora o equívoco constitucional, como pro-posta alternativa e intermediária de justiça agrá-ria, esse projeto era viável. Era uma propostamelhor do que o disposto no art. 126 da CF,porque não aumentava a divisão de competên-cia para a matéria agrária e fazia uma conju-gação entre Varas Agrárias estaduais e fede-rais, driblando os entraves constitucionais e oargumento obstrucionista da onerosidade daJustiça Agrária.
O projeto previa a instalação de Varas Agrá-rias na capital e no interior, tanto no âmbitofederal quanto estadual. Caracterizava e defi-nia as questões agrárias, os conflitos fundiári-os e a atividade agrária. Excluía dessa jurisdi-ção as questões trabalhistas e incluía algunscrimes no setor agrário. Adotava o procedimen-to das lides trabalhistas, com a obrigatorieda-de de representação por advogado. Previa, ain-da, a instalação da Defensoria Pública e a re-presentação ou substituição por Sindicatos ouAssociação de Trabalhadores Rurais.
O Deputado Nilson Gibson teve como pa-râmetro o “Projeto Laranjeira” da Comissão doMinistério de Justiça:
“Este projeto de lei tem por finalida-de principal provocar o debate sobre otema. Reconheço que ele ainda apresen-ta imperfeições. Mas em sua elaboraçãoforam tomadas em conta as diferentes

Revista de Informação Legislativa198
vertentes sobre o tema e as contribuiçõeshavidas ao longo do tempo, desde que amatéria começou a ganhar importânciasignificativa. Inclui este projeto, até mes-mo, algumas das múltiplas sugestõescontidas no Anteprojeto elaborado peloMinistério da Justiça e que foi devida-mente publicado, para o recebimento desugestões.”
Infelizmente o Projeto foi arquivado.Em 1991, o Deputado Nilson Gibson, por
meio do PL nº 896/91, voltou a propor a insti-tuição de Varas Agrárias nos termos do projetoanterior, com a supressão do art. 1º que faziareferência ao parágrafo único do art. 126 daCF. A Comissão de Constituição, Justiça e Re-dação da Câmara dos Deputados deu parecerpela inconstitucionalidade do projeto, que foiarquivado nos termos do art. 58, § 4º do Regi-mento Interno.
7. Proposta de Emenda Constitucionalnº 47/95
É um projeto de autoria do Senador Rome-ro Jucá. O que mais interessa é por ser um pro-jeto de emenda a Constituição Federal, que visainstituir a Justiça Agrária de forma completa ecomo órgão especial e autônomo do Judiciárioe por estar em tramitação no Congresso Federal.
O projeto apresenta as seguintes caracterís-ticas:
a) institui a Justiça Agrária o Ministério Pú-blico Agrário, alterando os arts. 92 e 128 daConstituição Federal e acrescentando ao Capí-tulo III do Título IV, a Seção V, que dispõe “DosTribunais e Juízes Agrários”, com 4 novos ar-tigos. Além de revogar expressamente o art.126 e acrescentar dois artigos aos Atos dasDisposições Constitucionais Transitórias.
b) inova no aspecto formal da Constituição,para evitar uma renumeração dos artigos pos-teriores à nova Seção V, que é a repetição dosartigos 111-114 seguidos da letra A (111-A a114-A).
7.1. Órgãos da justiça agráriaA PEC nº 47/95 cria a justiça agrária com
os seguintes órgãos:
7.1.1. Tribunal Superior Agrário – TSA
O TSA é composto, no mínimo, por 15 mi-nistros, escolhidos da mesma forma que os do
Tribunal Superior do Trabalho, sendo 11 entrejuízes dos Tribunais Regionais Agrários e 4entre advogados especialistas em Direito Agrá-rio e membros do Ministério Público Agrário,alternadamente, indicados em lista sêxtuplapelos órgão de representação das respectivasclasses. Não há juiz vogal.
O § 2º do art. 111-A, que deveria estar noAto das Disposições Constitucionais Transitó-rias, dispõe que na primeira investidura o TSAterá apenas 7 ministros. Isto viabiliza a com-posição do TSA porque não há ainda o MPA eTRA’s. Mas a PEC não dispõe se a nomeaçãoserá de livre escolha ou se estes 7 ministrosserão escolhidos entre os de TRF’s ou algo pa-recido; nesse ponto foi omissa.
O funcionamento do Conselho da JustiçaAgrária será junto ao TSA, para a supervisãoadministrativa e orçamentária, incumbindo-lhereceber e processar as reclamações contra osTribunais e Juízes Agrários.
7.1.2. Tribunais Regionais Agrários — TRA’sO art. 112-A cria os TRA’s, um em cada
Estado, DF ou Território Federal. Haverá, nomínimo, 7 juízes, que serão escolhidos da mes-ma forma que os dos Tribunais Regionais Fe-derais, recrutados na respectiva região, sendo1/5 entre os advogados (com mais de dois anosde efetiva atividade profissional em direito agrá-rio) e membros do MPA’s (com mais de dois anosde carreira) e os demais, Juízes Agrários promo-vidos (com mais de 2 anos de exercício). O tem-po de experiência é pequeno devido à existênciade poucos profissionais na área.
A PEC nº 47/95 é omissa em relação à pri-meira investidura nos TRA’s; como serão no-meados Juízes Agrários membros do MPA seainda não existe? O ideal seria, na primeirainvestidura, nomear juízes federais comuns, fa-zendo-os passar por um curso de especializa-ção em direito agrário.
Vencida a etapa da primeira investidura,outro questionamento que cumpre fazer é so-bre o recrutamento de Juízes Agrários na res-pectiva região. Essa exigência no caso dosTRF’s, que é órgão da justiça federal comum,possuindo nas respectivas regiões vários juízesfederais, é flexível. Para o TRF’s, o recruta-mento será na respectiva região quando possí-vel, já para os TRA’s, o mandamento nãoapresenta essa flexibilidade. O que deveriaser contrário, por se tratar de uma justiçaainda nascitura.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 199
7.1.3. Juízes Agrários
Vem disposto no art. 113-A.O ingresso na carreira dar-se-á por concur-
so público de provas e títulos, com prova deDireito Agrário e exigência de título de especi-alidade na área, além da comprovação da ex-periência específica.
Essa exigência é um excesso de zelo desne-cessário e obstaculizante. Haja vista a existên-cia de poucos cursos de especialização ou demestrado em Direito Agrário no País. Outros-sim, não é tão-somente a especialização acadê-mica que dará ao juiz a mentalidade agrarista.Esta é também uma questão de sistema legalaplicado, de princípios, normas e procedimen-tos adotados. Tanto é assim que o título de es-pecialização não é exigido para o candidato ajuiz da Justiça do Trabalho. Ademais, aprova-do na primeira etapa, o futuro juiz deve rece-ber um curso de matérias da área, que não dei-xa de ser uma especialização.
7.2. CompetênciaNa PEC nº 47/95, a competência agrária
foi centralizada, reunindo-se a que se encontrana justiça federal e na estadual unicamente naJustiça Agrária.
O art. 114-A faz uma enumeração exem-plificativa, de modo a abranger toda a matériae conteúdo do direito agrário, incluindo as ques-tões relativas à tributação, à previdência rural,ecologia e à conservação dos recursos naturais,aos direitos e ocupações das terras indígenas eaos crimes praticados na disputa da terra e deseus acessórios.
O projeto não cometeu o erro de elencar nacompetência da Justiça Agrária matéria de di-reito do trabalho, ainda que rural.
Como disposição transitória, compete aopresidente do TSA providenciar a instalação eo funcionamento da Justiça Agrária, nos ter-mos do art. 99 da Constituição Federal. En-quanto isso, a jurisdição e as atribuições dosJuízes Agrários competirão à Justiça Federal eà Justiça Comum, como se encontram atual-mente. E o art. 126 da Constituição Federal éexpressamente revogado.
A PEC nº 47/95 revela-se como uma sínte-se dos diversos estudos e propostas de criaçãode Justiça Agrária que houve até aqui, sendouma proposição viável e adequada para as ne-cessidades brasileiras.
O projeto encontra-se atualmente na Comis-são de Constituição e Justiça do Senado Federal.
7.3. Parecer do Senador Edison Lobão
Na Comissão de Constituição e Justiça, foinomeado como relator da PEC 47/95 o Sena-dor Edison Lobão, que já apresentou parecer,mas que ainda não foi votado.
O parecer é desfavorável. O relator faz umaapreciação dos aspectos formais e materiais.
Sobre os aspectos formais, basicamente anumeração repetida dos artigos seguidos daletra A. Mesmo reconhecendo o objetivo, ma-nifesta-se contrário “em face das exigências téc-nicas de ordenamento dos artigos da Consti-tuição, de modo uniforme e em algarismos ará-bicos”. Sugerindo que “melhor seria ordená-laracionalmente, determinando-se a renumera-ção dos artigos subseqüentes”.
Quanto ao mérito da proposta, o parecer ma-nifesta-se favorável, discordando, entretanto,da sua oportunidade.
Levanta-se a barreira orçamentária, dizen-do-se que a implantação da Justiça Agrária re-presentaria uma soma ponderável de recursospara a União, podendo, aliada à inexistênciade profissionais especializados para exerceremessa magistratura, constituir uma imensurávelfrustração. Aponta que é um risco essa Justiçavir a sofrer de um vício originário, “exercidapor meia dúzia de neófitos ou nefelibatas, quenada poderão fazer para equacionar o nossoantigo e doloroso problema”. E faz um substi-tutivo, que de forma canhestra propõe emendaao art. 126 da Constituição Federal, com a se-guinte redação:
“Art. 126. Nos Estados onde existi-rem conflitos fundiários, os Tribunais deJustiça designarão, de imediato, juízescom exclusiva competência para ques-tões agrárias, organizando as correspon-dentes carreiras especiais”.
O parecer dá e depois toma. Elogia paralogo mais criticar. Aceita sem reservas paradepois rejeitar. Salienta a sua necessidade eurgência no prelúdio para depois dizê-lo ino-portuno e, finalmente, fazer uma contrapropos-ta simplória, que é apenas uma redundânciado que já existe no art. 126.
No fundo o parecer representa o que ocor-reu ao longo desses anos, o rechaçamento dequalquer proposta que traga mudanças para ocampo e venha instrumentalizar uma reformaagrária. O Profesor Raymundo Laranjeira6 aler-ta para isso:
“As hostes conservadoras do País têm6 Op. cit., p. 15

Revista de Informação Legislativa200
conseguido obstruir o advento da Justi-ça Agrária. Quer por manifestações ex-pressas de minimização do seu papel re-formador, quer pelo simulacro de óbicesfinanceiras à sua implantação”.
Entretanto, não é difícil refutar esses óbi-ces.
a) Escassez de recursosEsse argumento já é velho. Quando o as-
sunto é ajuda a banqueiros ou dívidas de lati-fundiários, esse obstáculo deixa de existir.
Isso não deve subsistir ante a necessidade eas conseqüências benéficas da Justiça Agráriapara o Brasil. A escassez que há é de juízes. Eos novos juízes e serventuários da Justiça Agrá-ria não devem ser encarados como um aumen-to na despesa orçamentária, mas como um su-primento da atual carência do país.
“Na verdade, o primeiro problemaprático é o de aumento do número de ma-gistrados, pois que o número de juízesnão corresponde evidentemente ao ex-cesso de causa e ao número de jurisdici-onados. Deve haver uma correspondên-cia entre quantidade de juízes, jurisdici-onados e feitos, para evitar o retardamen-to do processo e permitir a aplicação daceleridade processual”7.
b) Inexistência de profissionaisEssa crítica só tem sentido em face dos arts.
112-A e 113-A. O primeiro determina que osjuízes dos TRA’s serão “recrutados na respec-tiva região”. Já o segundo artigo dispõe sobreo ingresso na carreira de Juiz Agrário, exigin-do não só a prova de Direito Agrário, comotambém “o título de especialista na área, alémda comprovação da experiência específica”.Exigência impossível de ser amplamente aten-dida e, acima de tudo, desnecessária.
O Professor Caio Mário8, salientando anecessidade da Justiça Agrária, adverte que
“não é questão pessoal, pois que dasmesmas faculdades saem os que vão in-tegrar a justiça comum e a justiça do tra-balho. É uma decorrência da criação decritérios que modelam as mentalidades”.
O argumento, portanto, perece e, ao invésde substituída, a proposta deveria ser emenda-da no sentido de excluir essa exigência.
8. Considerações finaisO poder público sempre tomou medidas pa-
liativas e distorcidas. As inovações realizadaspelo Estado, quase sempre, foram de acordocom a conveniência da classe dominante. Sãomedidas aplacadoras da contradição existente.Quando não dá mais para ficar como está, quan-do a crise é aguda e beira a revolta dos domi-nados, aí o Estado faz algumas concessões, fazum retoque do sistema, de forma a impedir asua superação e para que o domínio de umaclasse sobre a outra continue.
Vários são os exemplos encontrados na His-tória do Brasil.
O Brasil há muito tempo necessita de polí-tica agrária e agrícola e de uma reforma agrá-ria, com distribuição de terra, assistência téc-nica, incentivo financeiro etc., mas o PoderPúblico faz simplesmente colonização e, recen-temente, assentamentos, sem compromisso como seu sucesso, dizendo que está distribuindoterras e fazendo reforma agrária.
O mesmo ocorreu e vem ocorrendo com anecessidade da Justiça Agrária. Durante mui-tos anos os agraristas lutam para criá-la noBrasil, como um órgão autônomo e especial doPoder Judiciário, para conhecer e julgar toda equalquer questão agrária.
Várias foram as propostas tentando a suainstituição, que sistematicamente foram rejei-tadas. Até que o constituinte de 1988, como ainsistência era grande e de longa data, elabo-rou o art. 126. Mais uma vez tapeando os cla-mores progressistas.
Concluindo, vale escrever a denúncia deJosé Gomes:
“O problema fundiário brasileiro nas-ceu com o primeiro exercício político deum território que pretendia transforma-se em nação (...). Assim o Brasil atra-vessou o período inicial das Capitanias,adentrou a época das sesmarias, percor-reu o Império e viu nascer a República.As raras e tímidas tentativas disciplina-doras que o Poder público tentou implan-tar ou já vinham comprometidas em suaorigem com os interesses da grande pro-priedade territorial ou acabaram sendopara elas canalizadas”9.
Nota-se que pela maioria das propostas, háuma interpretação equivocada de que o art. 126
7 FERREIRA, Pinto. Curso de Direito Constitu-cional. 7. ed. ampl. e atual. São Paulo : Saraiva,1995.
8 Apud J. M. Maia. Op. cit., p. 475.
9 O problema fundiário do Brasil e sua dimen-são política. Revista da ABRA. v. 7, n. 4, jul./ago.1977.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 201
da Constituição Federal criou Varas Agráriasestaduais. O que não é correto, pois tal dispo-sitivo apenas criou a possibilidade da figura doJuiz Agrário intinerante e mesmo assim nãotem sido posto em prática, além de uma sériede inconveniências.
A proposta mais adequada e completa é aPEC nº 47/95. O Projeto Laranjeira pode serusado como uma lei regulamentadora da Justi-ça Agrária.
Já a proposta de Vitor Barboza Lenza e oPL nº 4.005/89 podem ser adotados como pro-postas alternativas de Justiça Agrária.
BibliografiaBRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Rela-
tório da Comissão Parlamentar de Inquéritodestinada a apurar as origens, causas e con-seqüências da violência no campo brasilei-ro. Relator: Deputado Jonas Pinheiro. 12 dedezembro de 1991, Brasília.
__________. Centro de Documentação e Informação.Seção de Documentação Parlamentar. Proje-
to de Lei nº 896, de 1991.__________. Projeto de Lei nº 4.005, de 1989.__________. Projeto de Lei Complementar nº 140, de
1989.__________. Projeto de Lei Complementar nº 270, de
1990.BRASIL. Congresso. Senado Federal. Centro Grá-
fico. Proposta de Emenda Constitucional nº47, de 1995.
FERREIRA, Pinto. Curso de Direito Constitucio-nal. 7. ed. ampl. e atual. São Paulo : Saraiva,1995.
GOMES, José. O problema fundiário do Brasil esua dimensão política. Revista da ABRA, v.7, n. 4, jul./ago. 1977.
LENZA, Vitor Barboza. Juizados Agrários, JA.Goiânia : AB, 1995.
MAIA, J. Motta. Justiça agrária, igualdade de todosem face da lei. In: Conferência Nacional daOAB, 7, 1976, Salvador. [Anais_] Brasília, p.463-479.
PINOTI, Antonio Jurandir. Proposta de alteração doart. 126 da Constituição Federal. Decisão, v.8, n. 9, p. 47-50, ago. 1993.
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DEREFORMA AGRÁRIA, ABRA, v. 19, n. 3,dez. 1989-mar. 1990. ISSN 0102-1184.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 203
1. IntroduçãoEste trabalho trata de elementos que con-
tribuem para discutir aspectos do conceito deavaliação educacional, em seus fundamentoshistóricos e sociológicos, verificando-se quaisas razões do privilégio de alguns métodos emdetrimento de outros.
Abordam-se as principais tendências deavaliação institucional no panorama mundial,relacionando-as com as características apresen-tadas pelo instrumento nacional Datacapes.
Apresenta-se uma preliminar sugestão dealguns elementos que podem ser eventualmen-te considerados, para o prosseguimento da pes-quisa em avaliação nos cursos de pós-gradua-ção em Direito.
Analisam-se os critérios quantitativos equalitativos de avaliação, em suas virtudes,problemas e questões.
Consideram-se as dificuldades institucio-nais nas relações entre o micro e o macrossis-tema social, no contexto da avaliação, bemcomo a inevitabilidade das taxonomias, do es-tabelecimento e hierarquização de objetivos emavaliação educacional.
1. Introdução. 2. Considerações acerca da ava-liação dos programas de pós-graduação no Brasil.2.1. Aspectos recentes da avaliação institucionalno Brasil e no mundo. 2.2. Observações sobre ocaso brasileiro. 2.3. Reflexões sobre a avaliaçãodos cursos de pós-graduação em Direito. 3. Avalia-ção como procedimento em educação. 3.1. O binô-mio quantidade/qualidade no processo de avalia-ção. 3.2. O difícil (mas possível) diálogo micro-macro. 3.3. Taxonomias, objetivos e hierarquiza-ção. 4. Conclusão.
Aspectos da avaliação institucional dosprogramas de pós-graduação em Direito:instrumentos e concepções
LUIZ EDSON FACHIN E MARIA FRANCISCA
CARNEIRO
Luiz Edson Fachin e Maria Francisca Carneirosão Professores Doutores da Pós-Graduação emDireito da UFPR.
SUMÁRIO
Estudo apresentado à Diretoria do Conpedi e aoComitê de Direito da Capes.

Revista de Informação Legislativa204
2. Considerações acerca da avaliação dosprogramas de pós-graduação no BrasilFalar sobre a avaliação do ensino de tercei-
ro grau, no Brasil, incluídas as pós-graduações,implica também pensar a função social da uni-versidade em nosso País.
O debate, do qual a universidade é o centroe que engloba as questões da autonomia, legi-timidade, política financeira, problemática so-cial etc., só faz ressaltar a importância e o pa-pel que exerce a universidade. Diz Amorin1:
“A Sociologia da Educação semprereconheceu duas dimensões importantesna relação sistema de ensino-sociedade:que o sistema de ensino, em qualquernível ‘serve’ à sociedade na qual estáinserido, que este sistema (especialmen-te em seu nível superior) goza de razoá-vel autonomia, mantendo uma relação‘criativa’ com a sociedade”.
2.1. Aspectos recentes da avaliaçãoinstitucional no Brasil e no mundo
A avaliação institucional nas universidadesbrasileiras e latino-americanas, em geral, é umarealidade relativamente recente, se comparadaao que ocorre nos países europeus.
Em vários países do mundo, pode-se dizerque, em nossos dias, essa atividade transita emtorno de dois grandes subsunçores: autonomiae qualidade.
A França, na tentativa de solucionar o pro-blema da ingerência estatal na avaliação dasuniversidades – porque esta tarefa era realiza-da por órgão do governo federal –, criou a fi-gura dos “pares”, avaliadores que intermedi-am as instituições e o governo. No Brasil, comalgumas adaptações, essa modalidade inspiroua criação dos professores avaliadores da Capese os consultores do CNPq, por exemplo.
A Inglaterra, com uma tradição secular deautonomia, considerava como desastrosa qual-quer intervenção do Estado nas universidades.O intermédio era feito por “acordos de cava-lheiros” celebrados entre as partes, por meiodo órgão UGC (University Grantes Comuni-tee), hoje menos fortalecido e talvez atropela-do pelos intensos ritmos da globalização e suasrelações de produção, sociedade e mercado.
Uma recente tendência no panorama euro-
peu2 é o surgimento de um evaluative state,como interessante alternativa para os paísescom forte tradição de Estado avaliador (como,por exemplo, a França). Para essa modalidade,a avaliação institucional, realizada pelo gover-no, não é desenvolvida com base em um plane-jamento a priori e burocrático, estabelecido pelogoverno, mas, sim, a posteriori, em que se bus-ca atingir padrões de desempenho indicadospela sociedade como um todo. Esses mecanis-mos, quanto ao “estado de arte”, ensejam estu-do e desenvolvimento, principalmente porqueimplicam uma grande discussão na inversãofuncional do conhecido binômio planejamen-to/avaliação.
Ainda sobre a tendência atual dos movimen-tos de avaliação no ensino superior, ouçamosPeukert3:
“Hoy se tiene cada vez más la impre-sión de que nos hallamos ante el umbralde una época histórica en la que todaslas anteriores interpretaciones y orien-taciones se cuestionan. Para la visiónhistórica se dibujan los contornos de unespacio histórico, y cada vez son másclaras las tendencias fundamentales quelo determinan. Lo que en el fondo nospermite hablar de una especie de ‘um-bral epocal’ caracterizado por la crisis,es la impresión de que son precisamentelas repercusiones de la modernidad, encuanto desarrollo social que en su diná-mica se supera continuamente a si mis-mo, las que vuelven sobre ella ponién-dola en peligro. Al amenazarse a sí mis-ma, la modernización, en cuanto movi-miento histórico, se hace así objetiva-mente reflexiva”.
O que se observa, nitidamente, é que a pes-quisa educacional em avaliação não cessa; aocontrário, é cada vez mais intensa, especial-mente em se tratando de universidades e pós-graduações, por causa da maior estreiteza como mercado de trabalho e as suas relações com aprodução de ciência.
1 AMORIN, Antônio. Avaliação institucional dauniversidade. São Paulo : Cortez, 1992. p. 80.
2 NEAVE apud SCHWARTZMAN, Simon. Ocontexto institucional e político da avaliação. DU-RHAM, Eunice R. In: SCHWARTZMAN, Simon.,(Orgs.). Avaliação do ensino superior. São Paulo :USP, 1992. p. 14.
3 PEUKERT, Helmut. Las ciencias de la educa-ción de la modernidad y los desafíos del presente.Educación, Tübinger, v. 49/50, 1994.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 205
2.2. Observações sobre o caso brasileiro
A avaliação dos cursos de pós-graduação,no Brasil, foi recentemente atualizada por meioda edição do formulário Datacapes, que, emsubstituição ao Execapes, mostra-se mais fluí-do e dinâmico, permitindo leituras diversifica-das da realidade institucional avaliada e possi-bilitando o cruzamento de múltiplos códigoscomo tópicos de conteúdo.
Nesse sentido, pode-se dizer que o instru-mento Datacapes, em sua descrição, pode sercomparado aos contemporâneos modelos nor-te-americanos e europeus, que procedem àsmensurações quantitativas complexas por meiode “rotas” ou fluxos de informações, permitin-do conjugações, disjunções ou injunções das“performances entre si”4.
Observa-se também que o aparato brasilei-ro de avaliação de pós-graduação, no fito deatender à demanda pela qualidade e produção(no caso, do saber), não descura da influênciadas pesquisas em organizações5.
Se analisado sob o prisma dos modelos atu-ais de avaliação de currículo, o Datacapes apro-xima-se das características da chamada “ava-liação responsiva” de Stake6, em virtude dasrespostas que busca às questões previamenteformuladas.
No entanto, ainda que avançadíssimo emseus pressupostos, tanto quanto em suas meto-dologias, o Datacapes continua privilegiandoas observações quantitativas quanto à aferição,tabulação e padronização dos dados levanta-dos7.
Aponta-se também que a pesquisa em ava-liação educacional não cessa. Ao contrário, in-tensifica-se e avança cada vez mais, especial-mente em se tratando de pós-graduação, emvirtude da estreita relação com as formas deprodução e transformação social8.
Por essa razão, indaga-se sobre a possibi-lidade da inclusão de elementos qualitativosem formulários de cunho quantitativo. ParaDavies9 essa hipótese não é teoricamente reco-mendável porque acarreta soluções de conti-
nuidade, na maioria das vezes insolúveis, noprocesso final de tabulação de dados. Além dis-so, descaracteriza a natureza tanto de uma comoda outra forma avaliativa.
A solução estaria, então, para esse autor10,na chamada avaliação progressiva, que con-siste em uma transição entre as quantidades eas qualidades.
Além disso, a avaliação progressiva aten-de ao requisito fundamental qualitativo, que éa paulatinidade11.
2.3. Reflexões sobre a avaliação dos cursos depós-graduação em Direito
Hipóteses experimentais de avaliação noscursos de pós-graduação podem adotar, porexemplo, padrões progressivos em direção àavaliação qualitativa, por meio de instrumen-tais compatíveis com o Datacapes ou outrosmodelos que emergirem como de interesse dasdiscussões.
No caso específico das pós-graduações emDireito, os padrões de avaliação, em consonân-cia com os pressupostos metodológicos da pes-quisa, do ensino e da aplicação, não poderiamdescurar da especificidade do conhecimentojurídico, o que, por si só, ensejaria um estudoà parte.
Assim, poderiam as pós-graduações emDireito criar seus “constructos”internos de ava-liação, experimentá-los, discuti-los, apreciarseus resultados e, desse modo, contribuir parao incremento do avanço da pesquisa nesse cam-po do saber, junto aos órgãos oficiais e em facedas exigências micro e macro-sociais12.
Porque, se para a metodologia contempo-rânea, o sentido está em percorrer caminhosplurais13, é na flexibilização14 que a culturaencontra, em nossos dias, um de seus princi-pais aportes.
A seguir examinaremos alguns dos pressu-
4 Taxonomias, objetivos e hierarquização, p. 18,item 3.3.
5 Avaliação como procedimento em educação,p. 11, item 3.
6 Idem, p. 20 e segs.7 O binômio quantidade/qualidade no processo
de avaliação, p. 12 e segs., item 3.1.8 Aspectos recentes da avaliação institucional
no Brasil e no mundo, p. 2 e segs., item 2.1.
9 DAVIES, Ivor Kevin. O planejamento de cur-rículo e seus objetivos. Tradução Marília Lins eNélio Parra. São Paulo : Saraiva, 1979. p. 56.
10 Ibidem.11 O binômio quantidade... op. cit.12 O difícil, mas possível, diálogo micro-macro,
p. 16, item 3.2.13 KUHN, Thomas S. A tensão essencial. Lis-
boa : Edições 70, 1989. p. 226-7.14 ESCOTET, Miguel Ángel. Universidad y de-
venir : entre la certeza y la incertidumbre. BuenosAires : Lugar Editorial, 1996. p. 109.

Revista de Informação Legislativa206
postos teóricos que subsidiam o tema em estudo.
3. Avaliação como procedimento emeducação
A avaliação pode ser considerada uma ati-vidade indissociável da educação, em qualquerfilosofia ou concepção metódica. Portanto, nãose faz educação sem algum tipo de avaliação15.
Havemos de considerar, também, que a ava-liação, em sentido amplo, encontra-se associa-da à experiência cotidiana do ser humano. Éfreqüente que nos deparemos avaliando circuns-tâncias, ambientes e comportamentos. ParaSaul16, “esta avaliação, que fazemos de formaassistemática, por vezes inclui uma apreciaçãosobre adequação, eficácia e eficiência de açõese experiências, envolvendo sentimentos e po-dendo ser verbalizada ou não”.
Na transposição do “grau dóxico” da reali-dade cotidiana para “grau epistêmico” da Edu-cação, essa atividade, que é a avaliação, sofresistematizações que variam de acordo com ospressupostos teóricos sobre os quais se explici-ta, de acordo com os diferentes momentos dahistória da educação. As variações ocorrem,ainda, conforme a complexidade teórica e prá-tica que assumem algumas posturas e servem amúltiplos propósitos.
Observando-se o transcurso de parcela sig-nificativa da história da educação, no Ociden-te, verifica-se que até meados deste século, aavaliação estava centrada precipuamente sobreo rendimento da aprendizagem. Essa atitude éresultado do método escolástico, que, no acom-panhamento do pensamento medieval, isolavaaspectos e classificava-os em separado. Antesdisso, na Antiga Grécia, a atividade de avalia-ção estava mais próxima da “totalidade”, já quea Paidéia pode ser entendida como o desen-volvimento integral da personalidade humana.
No início deste século, a literatura sobreavaliação como medida é predominante. Bus-ca-se, nesse período, quantificar e mensurar aaprendizagem, tão-somente.
Na década de vinte, desenvolve-se, princi-palmente nos Estados Unidos da América, omovimento dos “testes educacionais”. Essa ver-tente sustenta a avaliação de situações compor-tamentais por medidas sempre quantitativas.
Na década de trinta, a idéia de mensuraçãopor testes padronizados toma corpo e avançaquanto à sistematização e complexidade. Osestudos avaliativos incluem uma série de pro-cedimentos, tais como: escalas, testes, inven-tários, registros, técnicas estatísticas as maisdiversas, questionários e outras listagens, paracolher evidências dos resultados do rendimen-to dos alunos em perspectivas longitudinais(porque quantitativas) e em relação a padrõespreviamente estabelecidos.
Como resultado da expansão industrial dopós-guerra, analogicamente ao que ocorre noprocesso de produção, a Educação passa a va-lorizar cada vez mais acentuadamente a atitu-de do aluno como fator de avaliação. Surge,assim, a diferença entre objetivos educacionaise instrucionais, como fatores de avaliação e comeles, a necessidade de outras formas dessa ati-vidade.
A década de setenta, com a revolução doscostumes, a contracultura e todos os seus coro-lários, enseja o aparecimento da Escola Nova,em substituição à Escola Tradicional, comouma significativa inversão de valores pedagó-gicos. Surgem outras tentativas de avaliaçãoque, por apregoarem a derrocada do sistemaobjetivo de medidas, podem tender para a rela-tivização dos valores em detrimento da deter-minação dos objetivos, com o risco de culmi-narem na subjetividade. Talvez um possívelequívoco desse período tenha sido o de enten-der quantidades como sinônimo de objetivida-de e qualidades como tradução de subjetivida-de. Mais adiante, nesta comunicação, veremoscomo é essa confusão.
Fato é que a trajetória da avaliação educa-cional – agora mais complexa, com a inclusãode inúmeros aspectos como: produtividade, li-deranças, atividades paralelas e integrativas docurrículo, além do rendimento específico nãosó do ensino, mas da pesquisa e interesses afins– prossegue como sinônimo de medida e quan-tificação (não obstante as críticas que lhe te-nham sido feitas), principalmente pelas suascaracterísticas, tidas como de objetividade, fi-dedignidade e possibilidade de manipulaçãomatemática de dados.
A Educação no Brasil, em termos gerais,
15 COVELLO, Sérgio Carlos. Comenius : a cons-trução da pedagogia. São Paulo : Sociedade Educa-cional João Amós Comenius, 1991 e GASPARIN,João Luiz. Comênio ou a arte de ensinar tudo a to-dos . São paulo : Papirus, 1994.
16 SAUL, Ana Maria. Avaliação emancipatória: desafio à teoria e à prática de avaliação e reformu-lação de currículo. 2. ed. São paulo : Cortez, 1991.p. 25.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 207
foi influenciada pelas concepções de medidaseducacionais, sempre alinhadas em face deobjetivos previamente estabelecidos e de umadeterminada idéia curricular.
Nesse panorama geral, vejamos então comose desdobram algumas questões específicas daavaliação educacional.
3.1. O binômio quantidade/qualidade noprocesso de avaliação
Foi a partir da década de setenta, com aEscola Nova, que a pesquisa educacional qua-litativa tornou-se relevante.
Examinemos, então, os principais traços deuma e de outra, conforme diferentes autores.
Ouçamos Saul17, sobre avaliação quantita-tiva:
Arrola-se alguns pressupostos éticos, epis-temológicos e metodológicos que expressamforte influência do rigor positivista. Suas ca-racterísticas básicas definidoras dessa aborda-gem, podem ser assim identificadas, a partirdo Sumário das proposições de Goniez (1983):
• Defesa do princípio de objetividadena avaliação. A objetividade da avalia-ção, decorrente da crença na objetivida-de da ciência, está associada à fidedig-nidade e validade dos instrumentos decoleta e análise de dados.• O método privilegiado é o hipotético-dedutivo, próprio das ciências naturais etradicionalmente utilizado pela psicologiaexperimental. O tratamento estatístico dosdados e a quantificação das observaçõessão comumente utilizados como apoio em-pírico para formulações teóricas.• As normas da metodologia estatísticaexigem: operacionalização de variáveis,estratificação e aleatorização de amos-tras, construção de instrumentos de ob-servação objetiva, suficiente grau de va-lidade e fidedignidade, aplicação de de-lineamentos estruturados, correlação deconjuntos de dimensões e trabalho comgrandes populações (grandes números).• A ênfase maior da avaliação está qua-se totalmente nos produtos ou resulta-dos. O avaliador mede o êxito docenteou de um programa de ensino de modosemelhante a como o agricultor compro-va a eficiência de um fertilizante (men-
sura a situação inicial, recorrendo a pré-testes; aplica um programa e, posterior-mente, utiliza um pós-teste para verifi-car os resultados). A mensuração nessetipo de avaliação, requer a operaciona-lização exaustiva das variáveis e a consi-deração única dos aspectos observáveis docomportamento. Em conseqüência, deixa-se de lado aspectos nem sempre previstose freqüentemente imprevisíveis.• O delineamento experimental requerum controle rigoroso das variáveis in-tervenientes, neutralizando algumas emanipulando e observando o efeito deoutras. Busca-se simular na escola ascondições de laboratório, artificializan-do-se, dessa forma, o ambiente escolar.A possibilidade técnica e as questões éti-cas implicadas nesse delineamento sãoalguns dos pontos críticos do modeloexperimental. Este delineamento é carac-terizado como o desenho mais ortodoxodentro da abordagem quantitativa.• O delineamento estruturado do tipopré-teste, pós-teste de um projeto de ava-liação requer a permanência e estabili-dade do currículo durante um períodoprolongado de tempo, independentemen-te das alterações circunstanciais que pos-sam ocorrer durante a investigação eavaliação.• O modelo experimental busca a infor-mação quantitativa mediante meios e ins-trumentos objetivos. O problema de re-levância e significado dos dados não é ocentro das preocupações avaliativas.Muitos aspectos, talvez de importânciacrítica para a análise de um programaeducacional, são descartados por seremconsiderados anedóticos, subjetivos eimpressionistas.• Há uma tendência ao emprego de gran-des amostras de casos que permitam ge-neralizações estatísticas. Os efeitos pou-co usuais e interferências locais não sãocontemplados.
O modelo de avaliação quantitativa consi-dera a educação como um processo tecnicista.Assume a nítida diferença entre fatos e valores,a determinação de fins e objetivos da educação ea neutralidade ética da intervenção tecnológica.A avaliação quantitativa tem como preocupaçãoúnica a comprovação do grau em que os objeti-vos previamente estabelecidos foram alcançados.17 SAUL, op. cit., p. 42 e segs.

Revista de Informação Legislativa208
Em conseqüência de uma concepção tec-nológica de educação, os dados de avaliaçãotêm uma utilidade específica para um destina-tário determinado. A autoridade responsávelpelas decisões de planejamento dos programaseducacionais é a audiência para a qual o ava-liador prepara e endereça os seus relatórios.A avaliação cumpre, assim, uma função deapoio ao planejamento, que é externo ao pro-cesso de ensino. Este tipo de avaliação freqüen-temente desconsidera os interesses e às vezesos irreconciliáveis interesses e necessidadesinformativas dos participantes de um progra-ma educacional. O modelo tecnológico con-duz facilmente a uma atividade avaliativa decaráter burocrático.
Na abordagem quantitativa situam-se, pois,os modelos de avaliação centrados em objeti-vos comportamentais, análise de sistemas eaqueles cujo enfoque está na “tomada de deci-sões’’. (Grifos nossos).
A pesquisa em avaliação qualitativa, porseu turno, apresenta, já no início, o problemada pluralidade conceptual: se, para Aristóte-les18, a qualidade é a descrição do ser conformeé em si, para Kant19, o esquema da categoriaqualidade contém e representa “a síntese dasensação (da percepção com a representaçãodo tempo) ou ocupação do tempo”; enquantoque a quantidade “enche o espaço”20.
Independentemente da diversidade do con-ceito, compartilha-se do ponto de vista de quea pesquisa qualitativa desenvolveu-se primei-ramente na Antropologia, depois na Sociolo-gia e, por último, na Educação (em que é tam-bém reconhecida na espécie investigação et-nográfica). Nesse sentido, Triviños21:
“O aparecimento da pesquisa quali-tativa na Antropologia surgiu de manei-ra mais ou menos natural. Os pesquisa-dores perceberam rapidamente que mui-tas informações sobre a vida dos povosnão podem ser quantificadas e precisamser interpretadas de forma muito maisampla do que circunscritas ao simplesdado objetivo”. (Grifos nossos).
A investigação qualitativa, entretanto, nãosignificou o abandono dos posicionamentosteóricos funcionalistas e positivistas (portanto,quantitativos). Sua ação é disciplinada e ori-enta-se pela distinção dos elementos de avali-ação em essenciais e acidentais e também porprincípios e estratégias gerais22.
Nenhuma concepção de avaliação, todavia,escapa da visão de homem, mundo e valores.
A dimensão metodológica primordial dapesquisa qualitativa em educação é partir dedados dedutivos, já que não formula objetivosa serem atingidos, mas traça perfis e qualida-des próprias do objeto que avalia. O opostoocorre com a avaliação quantitativa, na qualprevalece o método indutivo.
A pesquisa qualitativa é descritiva e preo-cupa-se com o processo; a quantitativa mensu-ra e preocupa-se com o resultado ou produto.
A pesquisa qualitativa, em seus fundamen-tos fenomenológicos, coleta os dados e permi-te que se construa o perfil, característica ouqualidade, em relação ao que o próprio objetoé ou possui como valor, e não em face de pa-drões previamente postos.
Para tanto, há várias etapas e alternativasmetodológicas, sucessivas no tempo, de modoa tornar claro que a avaliação qualitativa nãose faz de uma só vez, mas paulatina e gradativa-mente, com a justaposição de uns dados sobreoutros, sucessivamente, em distintos momentos.
3.2. O difícil (mas possível) diálogomicro-macro
A avaliação que se faz quase sempre emrelação a objetivos, planejamento, currículos ecom vistas à tomada de decisões, é, além dodiagnóstico de uma realidade, um diálogo en-tre o microssistema social (escola, curso, insti-tuição ou programa) com o macrossistema soci-al23 (contextos institucionais, burocráticos, legais,
18 Para ARISTÓTELES, eliminando-se as cone-xões com a metafísica, pode-se reduzir o conceitode qualidade a três características, da maneira se-guinte: a) determinações disposicionais (capacida-des, faculdades, tendências e possibilidades do ob-jeto); b) determinações sensíveis (simples ou cone-xas, podem ser definidas por instrumentos orgâni-cos: cores, sons, sabores); c) determinações comen-suráveis (número, extensão, figura e movimento).Nesse sentido, a conceituação aristotélica é similarà de LOCKE (cf. ABBAGNANO, Dicionário de fi-losofia, [s.l.], p. 784-5).
19 KANT, Emmanuel. Crítica da razão pura.Livro 2, cap. 1, p. 109: Dos esquematismos dos con-ceitos puros do entendimento.
20 Ibidem, p. 108.21 TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. Introdu-
ção à pesquisa em ciências sociais : a pesquisa quali-tativa em educação. São Paulo : Atlas, 1987. p. 120.
22 Ibidem, p. 121.23 COULON, Alain. Etnometodologia e educa-

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 209
políticos, sociais, econômicos, culturais etc.).Nessa trama de relações, surgem inúmeras
questões para a atividade de avaliação, como,por exemplo, dificuldade na seleção dos aspec-tos a serem avaliados (especialmente nas con-siderações qualitativas, em que existe um nú-mero infinito de descrições possíveis).
Incorre-se facilmente, nessas circunstânci-as, no cipoal da superinformação, subinforma-ção e pseudo-informação, sendo que escassez eexcesso podem ocorrer simultaneamente24 emum mesmo instrumento.
Uma das sugestões para a administração dasvariáveis na integração entre o micro e o ma-crossistemas pode ser, para Coulon25, a adoçãode paradigmas, como o normativo e o socioló-gico.
3.3.Taxonomias, objetivos e hierarquização
Taxonomias, objetivos e hierarquização têmconfigurado uma trilogia constante e indisso-ciável no processo de avaliação educacional.
As taxonomias “dispõem de critérios pre-cisos e objetivos de classificação, de modo queuma forma pertence a uma e a uma só catego-ria”26. Para Strauven27, a elaboração das taxo-nomias reflete a hierarquização dos objetivos.
Na opinião de Libâneo28, a avaliação, ela-borada sob diversos prismas, pode exercer, ao
mesmo tempo, funções de diagnóstico e con-trole em face de objetivos.
Os complexos instrumentos de avaliação,especialmente na Europa29 e nos Estados Uni-dos30, continuam a privilegiar taxonomias eobjetivos, com a elaboração de “constructos”ou modelos mensuráveis, caracterizados porpermitirem “rotas” ou fluxos de informações,quantitativas ou qualitativas, que permitamconjugações, disjunções e injunções entre si,de modo a revelar o que chamam “performan-ces”, dos projetos, das organizações e dos pro-cessos, em sua dependência dos objetivos e damissão institucional31. Muitos aspectos dessemodelo podem ser identificados no instrumen-to de avaliação Datacapes.
Essa tendência fortaleceu-se mormente apósa expansão dos conceitos de “qualidade” e “qua-lidade total”, propalados com a promulgaçãodos certificados ISO. A busca desses padrõesocasionou a inserção, na Educação, de variá-veis estruturais e processuais das organiza-ções32. Desse modo, fala-se em eficiência e efi-cácia educacional, diferenciações horizontaise verticais nas avaliações, outputs e inputs,metas e participação etc.
A seguir, vejamos o quadro sinóptico ela-borado por Saul33, a respeito das principais ver-tentes genéricas da avaliação educacional-cur-ricular:
ção. Traduçâo Guilherme de Freitas Teixeira. Pe-trópolis : Vozes, 1995.
24 ATLAN, Henri. Tout, non, peut-être : éducati-on et vérité = Tudo, não, talvez : Educação e verda-de. Traduction Fátima Gaspar e Carlos Gaspar. Lis-boa : Instituto Piaget, 1993. p. 31 e também MO-RIN, Edgar. Para sair do século XX. Tradução VeraAzambuja Harvey. Rio de Janeiro : Nova Frontei-ra,1986.
25 COULON, op. cit.26 STRAUVEN, Christiane. Construir uma for-
mação-definição de objectivos e exercícios de apli-cação. Lisboa : Asa, 1994. p. 103.
27 Ibidem.28 LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo :
Cortez,1992.
29 GREEN, Diana. What is quality in higher edu-cation? Buckingham : SRHE and Open UniversityPress,1994 e ELLIS, Roger. Quality assurance foruniversity teaching. Buckingham : Open UniversityPress,1994.
30 BARNES, Melvin W. Modern viewpoints inthe curriculum experimentation. New York :McGraw Hill Company, 1964: The practical proble-ms of participating in experimental projects : expe-rimentation and evaluation.
31 ELLIS, op. cit., p. 78.32 HALL, Richard H. Organizações : estrutura e
processos. Tradução Wilma Ribeiro. 3. ed. Rio deJaneiro : Prentice-Hall do Brasil Ltda,1984.
33 SAUL, op. cit., p. 36-9.

Mod
elos c
onte
mpor
âneo
s de a
valia
ção
de c
urrí
culo
AU
TO
RE
SS
TUFF
LEB
EA
M (1
968)
SC
RIV
EN (
1967
)P
AR
LETT
& H
AM
ILTO
N (
1972
)S
TAK
E (
1967
E 1
984)
EN
FOQ
UE
Ava
liaçã
o pa
ra to
mad
a de
dec
isão
Ava
liaçã
o de
mér
ito.
Ava
liaçã
o ilu
min
ativ
a.A
valia
ção
resp
onsi
va.
DE
FIN
IÇÃ
OD
efin
ição
, obt
ençã
o e
uso
de in
for-
maç
ões
para
tom
ar d
ecis
ão.
Col
eta
e co
mbi
naçã
o de
dad
os d
ede
sem
penh
o po
nder
ando
-os
emum
a es
cala
de
obje
tivos
.
Des
criç
ão e
inte
rpre
taçã
o da
situ
-aç
ão c
ompl
exa
de u
m p
rogr
ama
dein
ovaç
ão.
Des
criç
ão e
julg
amen
to d
e um
pro
-gr
ama
educ
acio
nal,
iden
tific
ando
os s
eus
pont
os fo
rtes
e fra
cos.
OB
JETI
VO
Forn
ecer
info
rmaç
ões
rele
vant
espa
ra q
uem
tom
a de
cisõ
es.
Det
erm
inar
e ju
stifi
car o
mér
ito o
uva
lor d
e um
a en
tidad
e.“il
umin
ar”,
forn
ecer
com
pree
nsão
sobr
e a
real
idad
e es
tuda
da e
m s
uato
talid
ade.
Ver
ifica
r o
impa
cto,
ava
lidad
e, a
efic
ácia
de
um p
rogr
a-m
a de
inov
ação
.
Res
pond
er a
os q
uest
iona
men
tos
bási
cos
de u
m p
rogr
ama,
aqu
eles
oriu
ndos
das
pes
soas
dire
tam
en-
te li
gada
s a
ela.
Con
side
rar a
s re
-aç
ões
aval
iativ
as d
e di
fere
ntes
gru
-po
s em
rela
ção
ao p
rogr
ama.
PA
PE
L DO A
VA
LIA
DO
RF
orne
cer
info
rmaç
ão a
valia
tiva
para
que
m to
ma
deci
sões
.Ju
lgar
o m
érito
de
uma
prát
ica
edu-
caci
onal
par
a pr
ogra
mad
ores
(ava
-lia
ção
form
ativ
a),
cons
umid
ores
(ava
liaçã
o so
mat
iva)
.
Obs
erva
r, de
scre
ver e
inte
rpre
tar
a si
tuaç
ão b
usca
ndo:
a) is
olar
sua
s ca
ract
erís
ticas
sig
-ni
ficat
ivas
;b)
del
imita
r os
elos
de
caus
a e
efei
-to
;c)
com
pree
nder
rela
ções
ent
re a
scr
ença
s e
as p
rátic
as e
ent
re o
spa
drõe
s or
gani
zaci
onai
s e
as re
s-po
stas
dos
indi
vídu
os.
a) E
stru
tura
r o
estu
d a
parti
r de
perg
unta
s, n
egoc
iaçã
o e
sele
ção
de q
uest
iona
men
tos
sobr
e o
pro-
gram
a;b)
Col
etar
, pro
cess
ar e
inte
rpre
tar
dado
s de
scrit
ivos
e d
e ju
lgam
en-
to, f
orne
cido
s po
r vár
ios
grup
os d
epe
ssoa
s.
IMP
LIC
AÇ
ÕE
S P
AR
A O
PR
OJE
TO D
E A
VA
LIA
ÇÃ
O
1) E
mpr
ega
enfo
que
sist
êmic
opa
ra e
stud
os d
e av
alia
ção;
2) D
irigi
do p
elo
adm
inis
trado
r.
1) E
nvol
ve ju
lgam
ento
s de
val
or;
2) C
onsi
dera
mui
tos
fato
res;
3) R
eque
r o u
so d
e in
vest
igaç
ões
cien
tífic
as;
4) A
valia
um
a en
tidad
e do
pon
to d
evi
sta
“form
ativ
o” e
“som
ativ
o”.
1) R
eque
r a d
efin
ição
de
uma
sis-
tem
átic
a de
obs
erva
ção
e re
gist
roco
ntín
uo d
e ev
ento
s, in
tera
ções
ede
com
entá
rios
info
rmai
s;2)
Nec
essi
ta d
e um
a si
stem
átic
apa
ra o
rgan
izar
e c
odifi
car
os d
a-do
s de
obs
erva
ção;
3) E
nvol
ve c
olet
a de
info
rmaç
ões
1) In
clui
mat
rizes
par
a co
leta
e in
-te
rpre
taçã
o do
s da
dos.
As
mat
ri-ze
s pr
evêe
m tr
ês c
orpo
s de
dad
os:
a) a
ntec
eden
tes
(con
diçõ
es p
ré-
vias
à s
ituaç
ão e
nsin
o-ap
rend
iza-
gem
);b)
tran
saçõ
es: s
uces
são
de r
ela-
ções
que
se
esta
bele
cem
ent
re a
s
Revista de Informação Legislativa210

por m
eio
de e
ntre
vist
as, q
uest
ioná
-rio
s, a
nális
e de
doc
umen
tos;
4) re
quer
a p
rocu
ra d
e pr
incí
pios
subj
acen
tes
à or
gani
zaçã
o do
pro
-gr
ama
a fim
de
expl
icar
as
rela
ções
caus
a-ef
eito
e s
ituar
as
desc
ober
-ta
s nu
m c
onte
xto
de p
esqu
isa
am-
plo.
pess
oas
nas
dife
rent
es s
ituaç
ões
de e
nsin
o-ap
rend
izag
em;
c) r
esul
tado
s: c
onse
qüên
cias
do
proc
esso
ens
ino-
apre
ndiz
agem
.E
sse
conj
unto
de
dado
s pe
rmei
a e
se c
ruza
com
qua
tro c
ateg
oria
s de
info
rmaç
ão:
inte
nçõe
s, o
bser
va-
ções
, pad
rões
, jul
gam
ento
s, d
efi-
nind
o pa
rcel
as p
ara
regi
stro
de
obse
rvaç
ões;
2) R
eque
r ada
ptaç
ão c
ontín
ua d
osob
jetiv
os d
a av
alia
ção
dos
mét
odos
de c
olet
a de
dad
os, e
nqua
nto
osav
alia
dore
s fa
milia
rizam
-se
com
opr
ogra
ma
e co
m o
con
text
o de
ava
-lia
ção;
3) P
erm
ite a
incl
usão
de
mét
odos
alte
rnat
ivos
de
natu
reza
qua
litat
iva
e qu
antit
ativ
a.
LIM
ITA
ÇÕ
ES R
EG
ISTR
A-
DA
S N
A L
ITE
RA
TUR
A
1) P
ouca
ênf
ase
em p
reoc
upaç
ãoco
m v
alor
es;
2) P
roce
sso
de t
omad
a de
dec
i-sõ
es n
ão é
cla
ro; m
etod
olog
ia in
-de
finid
a;3)
Com
plex
idad
e na
util
izaç
ão;
4) C
usto
alto
;5)
Nem
toda
s as
ativ
idad
es s
ão c
la-
ram
ente
ava
liativ
as;
6) C
isão
ent
re a
valia
ção
e pl
anej
a-m
ento
.
1) C
ompa
raçã
o do
des
empe
nho
em re
laçã
o a
dife
rent
es c
ritér
ios
eat
ribui
ção
de p
esos
rel
ativ
os a
oscr
itério
s cr
iado
s, o
casi
onan
do p
ro-
blem
as m
etod
ológ
icos
;2)
Aus
ênci
a de
pre
visã
o de
met
o-do
logi
a pa
ra c
alcu
lar a
val
idad
e do
julg
amen
to;
3) M
uito
s co
ncei
tos
supe
rpos
tos.
1) N
atur
eza
subj
etiv
a do
mét
odo;
2) N
eces
sida
de d
e ha
bilid
ades
es-
peci
ais
para
o a
valia
dor:
técn
icas
inte
lect
uais
e d
e re
laci
onam
ento
inte
rpes
soal
;3)
Car
acte
rístic
a de
est
udo
de c
a-so
s pa
rticu
lare
s, d
e in
ovaç
ões.
1) M
etod
olog
ia i
nade
quad
a pa
raob
ter
info
rmaç
ões
a re
spei
to d
e“c
onst
ruct
os-c
have
”;2)
Alg
umas
cel
as d
a m
atriz
de
de-
linea
men
to s
uper
põem
-se:
alg
u-m
as d
istin
ções
não
est
ão c
lara
s;3)
Pos
sibi
lidad
e de
dis
cuss
ão d
en-
tro d
o pr
ogra
ma
ocas
iona
ndo
con-
flito
s de
val
ores
;4)
Nat
urez
a in
tuitiv
a e
subj
etiv
a do
sda
dos;
5) A
s qu
estõ
es f
unda
men
tais
de
aval
iaçã
o su
rgem
não
-exc
lusi
va-
men
te d
os c
oord
enad
ores
do
pro-
gram
a, d
as a
gênc
ias
finan
ciad
oras
ou d
a co
mun
idad
e ci
entíf
ica.
AU
TO
RE
SS
TUFF
LEB
EA
M (1
968)
SC
RIV
EN (
1967
)P
AR
LETT
& H
AM
ILTO
N (
1972
)S
TAK
E (
1967
E 1
984)
Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 211

CO
NTR
IBU
IÇÕ
ES
1) F
orne
ce d
ados
par
a ad
min
istra
-do
res
e re
spon
sáve
is p
ela
tom
ada
de d
ecis
ões,
na
cond
ução
de
umpr
ogra
ma;
2) É
sen
síve
l ao
feed
-bac
k (r
etro
-fin
rom
ação
);3)
Per
mite
que
a a
valia
ção
inci
daem
qua
lque
r est
ágio
do
prog
ram
a.
1) D
iscr
imin
a en
tre a
valia
ção
for-
mat
iva
e so
mat
iva;
2) F
ocal
iza
a m
ensu
raçã
o di
reta
do
valo
r da
entid
ade;
3) A
plic
ável
a v
ário
s co
ntex
tos;
4) A
nalis
a m
eios
e fi
ns;
5) D
elin
eia
tipos
de
aval
iaçã
o;6)
Ava
lia o
bjet
ivos
.
1) P
erm
ite e
stud
ar o
pro
gram
a de
inov
ação
det
ecta
ndo
com
o fu
ncio
-na
, com
o é
influ
enci
ado
pela
s di
-fe
rent
es s
ituaç
ões
esco
lare
s, q
uais
são
suas
van
tage
ns e
inco
nven
i-ên
cias
;2)
Cen
traliz
a-se
em
ava
liaçã
o do
proc
esso
de
inov
ação
ped
agóg
ica
perm
itind
o um
a ap
reen
são
ampl
ae
prof
unda
de
uma
situ
ação
viv
a e
com
plex
a;3)
É s
ensí
vel
aos
prob
lem
as d
ead
apta
ção
às c
ircun
stân
cias
loca
isqu
e sã
o in
eren
tes
à pr
ogra
maç
ãode
inov
ação
.
1) F
orne
ce u
m m
étod
o si
stem
áti-
co p
ara
orga
niza
r e d
escr
ever
da-
dos
de j
ulga
men
to,
assi
m c
omo
enfa
tiza
a in
ter e
intra
-rel
ação
en-
tre e
les;
2) C
onsi
dera
pad
rões
abs
olut
os e
rela
tivos
de
julg
amen
to;
3) R
eque
r pad
rão
expl
ícito
;4)
Per
mite
gen
eral
izaç
ão d
o m
ode-
lo;
5) C
omun
ica
aos
resu
ltado
s so
bdi
fere
ntes
form
as, f
avor
ecen
do d
i-fe
rent
es a
udiê
ncia
s;6)
Enf
atiz
a os
que
stio
nam
ento
s, a
lingu
agem
, o c
onte
xto
e os
pad
rões
de ju
lgam
ento
das
pes
soas
-cha
vedo
pro
gram
a.
AU
TO
RE
SS
TUFF
LEB
EA
M (1
968)
SC
RIV
EN (
1967
)P
AR
LETT
& H
AM
ILTO
N (
1972
)S
TAK
E (
1967
E 1
984)
Revista de Informação Legislativa212

Bibliografia
ABBAGNANO, Dicionário de filosofia, (s.l.), p.784-5).
AMORIN, Antônio. Avaliação institucional da uni-versidade. São Paulo : Cortez, 1992.
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da edu-cação. São Paulo : Moderna, 1989.
ATLAN, Henri. Tout, non, peut-être : éducation etvérité. Traduction Fátima Gaspar e Carlos Gas-par. Lisboa : Instituto Piaget, 1993.
4. ConclusãoPudemos depreender do estudo entabulado
que as diferentes concepções em avaliação ins-titucional, ao mesmo tempo em que se tradu-zem em instrumentos plurais e multifacetados,podem significar, igualmente, a diversidade deinterpretação da realidade à qual se referem.
Assim sendo, nenhuma concepção de ava-liação escapa da visão de homem, mundo evalores34.
As diferenças entre o pensar metodológicoem qualquer área do saber, inclusive em se tra-tando de avaliação institucional, acontecemconforme as concepções teóricas do sujeito,como exemplifica Badiou35:
“A questão dos direitos humanos es-tão hoje na ordem do dia. Ora, o temados direitos do homem supõe a existên-cia do homem; supõe uma idéia do ho-mem. Finalmente, a teoria dos direitosdo homem é uma certa filosofia do su-jeito”.
Portanto, se a sociedade se transforma e,em conseqüência ou causa, transformam-se oshomens que mudaram a sociedade, temos quese altera o conceito de sujeito e os discursosdele e sobre ele.
Nesse sentido, pode-se afirmar que o pros-seguimento – em ampliação, profundidade eperspectivas da pesquisa em avaliação institu-cional – é consentâneo com correspondentesalterações sobre o conceito de homem, enquantosujeito de seus direitos e autor de sua própriahistória e cultura.
34 O binômio quantidade... p. 15, item 3. 1.35 BADIOU, Alain. Para uma nova teoria do
sujeito: conferências brasileiras. Tradução de Emer-son Xavier da Silva, Gilda Sodré. Rio de Janeiro :Relume-Dumará, 1994. [S.1.]. p. 116.
BADIOU, Alain. Para uma nova teoria do sujeito :conferências brasileiras. Tradução de EmersonXavier da Silva, Gilda Sodré. Rio de Janeiro :Relume-Dumará, 1994.
BARNES, Melvin W. Modern viewpoints in the cur-riculum experimentation. New York : McGraw-Hill Company, 1964 : The practical problems ofparticipating in experimental projects - experi-mentation and evaluation.
COULON, Alain. Etnometodologia e educação.Tradução Guilherme de Freitas Teixeira. Petró-polis : Vozes, 1995.
COVELLO, Sérgio Carlos. Comenius : a constru-ção da pedagogia. São Paulo : Sociedade Edu-cacional João Amós Comenius, 1991.
DAVIES, Ivor Kevin. O planejamento de currículoe seus objetivos. Tradução Marília Lins e NélioParra. São Paulo : Saraiva, 1979.
DURHAM, Eunice R., SCHWARTZMAN, Simon(Orgs). Avaliação do ensino superior. São Pau-lo : USP, 1992.
ELLIS, Roger. Quality assurance for university te-aching. Buckingham : Open University Press,1993.
ESCOTET, Miguel Ángel. Universidad y devenir :entre la certeza y la incertidumbre. Buenos Ai-res : Lugar Editorial, 1996.
GADOTTI, Moacir. História das idéias pedagógi-cas. São Paulo : Ática, 1993.
GASPARIN, João Luiz. Comênio ou a arte de ensi-nar tudo a todos. São Paulo : Papirus, 1994.
GREEN, Diana M. What is quality in higher edu-cation? Buckingham : SRHE and Open Univer-sity Press, 1994.
HALL, Richard H. Organizações : estrutura e pro-cessos. Tradução Wilma Ribeiro. 3. ed. Rio deJaneiro : Prentice-Hall do Brasil, 1984.
KANT, Emmanuel. Crítica da razão pura. [s.l.] Li-vro 2, cap. 1: Dos esquematismos dos conceitospuros do entendimento.
KELLY, Albert Victor. O currículo : teoria e práti-ca. São Paulo : Harper & Row do Brasil, 1981.
KERR, Clarck. Os usos da universidade. TraduçãoDébora Cândida Dias Soares. Fortaleza : UFCE,1982.
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo : Cor-tez, 1992.
LOUREIRO, Maria Amélia Salgado. História dasuniversidades. São Paulo : Estrela Alfa, 1990.
MARIA, Joaquim Parron. Novos paradigmas peda-gógicos : para uma filosofia da educação. SãoPaulo : Paulus, 1996.
MARTINS, Pura Lúcia Oliver. Didática teórica,didática prática : para além do confronto. SãoPaulo : Loyola, 1993.
MELLO FILHO, Álvaro. Metodologia do ensino
Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 213

Revista de Informação Legislativa214
jurídico. 3. ed. Rio de janeiro : Forense, 1984.MORIN, Edgar. Para sair do século XX. Tradução
Vera Azambuja Harvey. Rio de Janeiro : NovaFronteira, 1986.
NÉRICI, Imídeo Giuseppe. Didática geral dinâmica .Rio de Janeiro : Fundo de Cultura, 1973.
__________. Metodologia do ensino superior. 2. ed. Riode Janeiro : Fundo de Cultura, 1973: Funçõesdo ensino superior.
PÉREZ, Jesus Martin. Metodologia do ensino su-perior. 2. ed. Rio de Janeiro : Fundo de Cultura,1973: O que não se fala sobre avaliação.
PEUKERT, Helmut. Las ciencias de la educaciónde la modernidad y los desafíos del presente.Educación. Tübinger, v. 49/50, 1994.
RIBEIRO, Darcy. A universidade necessária. Riode Janeiro : Paz e Terra, 1969.
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma mono-
grafia. 3. ed. São Paulo : Martins Fontes, 1994:Tabela de avaliação metodológica do trabalhomonográfico.
SAUL, Ana Maria. Avaliação emancipatória : de-safio à teoria e à prática de avaliação e reformu-lação de currículo. 2. ed. São Paulo : Cortez,1991.
STEGER, Hanns-Albert. As universidades no de-senvolvimento social da América Latina. Riode Janeiro : Tempo Brasileiro, 1970.
STRAUVEN, Christiane. Construir uma formação-definição de objectivos e exercícios de aplica-ção. Lisboa : Asa, 1994.
TEIXEIRA, Anísio. Ensino superior no Brasil : aná-lise e interpretação de sua evolução até 1969.Rio de Janeiro : Fundação Getúlio Vargas, 1989.
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução àpesquisa em ciências sociais : a pesquisa quali-tativa em educação. São Paulo : Atlas, 1987.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 215
1. IntroduçãoUm sistema de justiça confiável teria con-
tribuído para o sucesso das colônias inglesas.As colônias luso-espanholas que não alcança-ram igual nível de prosperidade eram dotadasde um sistema de decisão criticado pelos ho-mens de negócios da época1. Isto sugere queno período pré-industrial, tanto quanto nasmodernas democracias, os sistemas de justiçaadministrativa e judicial são indispensáveis àlegitimação do controle estatal.
Papel dos tribunais administrativos esistema judicial
ANTONIO FONSECA
Antonio Fonseca é PhD em Direito pela Uni-versidade de Londres (Queen Mary & WestfieldCollege), mestre em Direito pela UnB, procuradorregional da República e advogado licenciado, con-selheiro do Cade.
SUMÁRIO
1. Introdução. 2. Três noções fundamentais. 2.1.Em torno da segurança jurídica. 2.2. Noção de in-teresse público. 2.3. Devido processo legal. 3. Ins-trumentos de planificação jurídica. 3.1. Importân-cia das Guidelines. 3.2. Prova científica e percep-ção estatística. 3.3. Princípios de discrição admi-nistrativa. 4. Papel discricionário. 4.1. Função se-letiva. 4.2. Função estrutural. 4.3. Função contro-le. 4.4. Discricionariedade técnica? 5. Papelpolítico: influências externas. 5.1. Tarefas extra-mandato. 5.2. Colaboração institucional. 5.3. Pres-tação de contas ao Executivo ou Legislativo. 5.4. Ou-tras conexões institucionais. 5.5. Doutrina da StateAction. 5.6. Aspecto da revisão judicial. 5.7. A agên-cia e a mídia. 5.8. Aspecto da função promocional.6. Justiça administrativa: à cata de um modelo.
O texto, na sua versão inicial, foi adotado nasaulas ministradas pelo autor no Curso de Políticada Concorrência sob a direção da FGV/CADE, nascidades de Brasília e Rio de Janeiro, 1977.
1Na sua obra A Causa da Riqueza das Nações,Adam Smith sublinha que as colônias inglesas con-seguiram melhores resultados, comparados com osobtidos pelas colônias luso-espanholas, porque, aocontrário destas, dispunham, entre outras coisas, deum sistema confiável de administração da justiça.O autor sugere que os comerciantes tinham a segu-rança de que suas questões encontrariam uma solu-ção justa.

Revista de Informação Legislativa216
A legitimidade do Estado está associada aodireito, cujo escopo e estrutura têm a forma queos juízes dão. Por isso, as cortes asseguram avitalidade do Estado democrático, mediante odesempenho de um papel multifacetado no de-senvolvimento do direito, na preservação dointeresso público e segurança jurídica – pré-condições para uma estabilidade necessária aosinvestimentos e fomentação das relações decomércio. Os tribunais administrativos parti-cipam dessa mesma realidade.
Este trabalho discute o papel dos tribunaisadministrativos ou agências2 e o controle dassuas decisões. O objetivo é contribuir para umaproposta de modelo de justiça administrativa,que opere com interesses, normas, ações e rea-ções. A partir da qualificação dessa realidade(natureza do problema), espera-se estabeleceralguns pressupostos que permitam formular aproposta. A hipótese é que um modelo de justi-ça administrativa deve incorporar um conjun-to de valores, instrumentos de ação e compro-metimentos. O entrelaçamento desses elemen-tos definirá os papéis que os tribunais admi-nistrativos desempenham e qualificará o con-trole das suas decisões.
No desenvolvimento do trabalho, a experi-ência judicial é observada como um paralelo,bem assim a atuação de agências autônomasde outras jurisdições é considerada. O autor temo benefício das experimentações pessoalmenterealizadas como conselheiro do Cade e da ex-periência de duas décadas de efetiva atuação pro-fissional perante juízos singulares e cortes judi-ciais. O trabalho não discute o sistema judicialem geral nem em particular, apenas, repita-se,toma-o como paradigma, o que permite lançarmão das lições que o mesmo sistema oferece.
O desenvolvimento do direito passa por umpapel discricionário e político que qualifica afunção dos tribunais administrativos3. À partea discussão sobre se juízes podem ou não criar,
é indiscutível a assertiva de que os tribunaisnão se limitam a dizer o direito4. Essa função éfundamental para estabelecer um ambiente desegurança jurídica, garantir um processo justoe zelar pelo interesse público. Essas três no-ções básicas são discutidas no item 2.
O item 3 explora os instrumentos necessá-rios ao planejamento das ações do tribunal ouagência administrativa. Sem um planejamentoadequado, a definição de papéis e sua realiza-ção ficam prejudicadas. O item 4 discute o pa-pel discricionário e o item 5, o papel político.Ambos se completam e dão a gravidade dosencargos da entidade. Isso está sintetizado noitem conclusivo, que busca avaliar e explicaros elementos da hipótese acima indicada.
2. Três noções fundamentaisA segurança jurídica atrai a idéia de previ-
sibilidade das conseqüências decorrentes daaplicação das leis e regulamentos. Esse objeti-vo é, de certo modo, frustrado pela impossibi-lidade de se regulamentar plenamente todas ascondutas humanas. Em obséquio a elas, a se-gurança jurídica é temperada com um ideal dejustiça objetiva ou do caso concreto, compro-metida com um direito dinâmico. A noção deinteresse público suscita no aplicador do direi-to um comprometimento com o interesse dasociedade como um todo e contra os privilégi-os indevidos de elites, grupos ou indivíduos. Odevido processo legal é uma apologia à ampladefesa e ao contraditório e responde a uma de-manda de como aplicar o direito. Essas noçõesfundamentais são objetos de uma breve refle-xão a seguir desenvolvida.
2.1. Em torno da segurança jurídica
Quanto mais o direito se torna certo, pelaprevisibilidade das conseqüências da incidên-cia da norma ao caso concreto, mais gera con-dições de segurança. Onde o direito é claro edelimitado, garante o chamado câmbio das ex-pectativas, isto é, propicia ao cidadão preveras conseqüências dos atos ou ações próprias oude terceiros5.
2A noção de agência abrange uma concepção eum modelo jurídico. A concepção de agência funda-se em três elementos: autonomia (poder de auto-or-ganização), independência dos seus membros e ob-servância do devido processo legal como instrumentonecessário à justa prestação administrativa. Autar-quia especial é o modelo jurídico adequado, masnão exclusivo.
3Segundo Richard A. Posner, esse misto de pa-pel discricionário e político é uma combinação de“legislative, litigative, and enforcement functions”,delegadas pelo Congresso. Economic analysis ofLaw. 4. ed. Little Brown, 1992. p. 605.
4 FONSECA, Antonio. Técnica jurídica e fun-ção criadora da jurisprudência. Rev. Inf. Legisl. Bra-sília, v. 19, n. 75, p. 137-176, jul./set. 1982.
5 A reflexão sobre segurança jurídica segue otexto encontrado em Direito Tributário : atitude ci-entífica e pensamento jurídico eqüitativo, do autor,publicado em R.T.J.E., v. 74, p. 9-28.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 217
A organização da sociedade supõe a idéiade direito e está associada à noção de ordem esegurança. Essa noção é tão profunda que serevela conata à convivência humana. Seguran-ça jurídica e certeza são, pois, postulados bási-cos que fazem parte da ordem jurídica positivaem todas as suas manifestações.
O postulado da certeza exige clareza nadefinição dos comportamentos humanos pelanorma jurídica. Uma regra clara (conteúdo for-mal) tende a ser estável. É impossível, todavia,regulamentar todos os comportamentos huma-nos, muito menos fazê-lo de forma adequada.Isso acusa a existência de omissões, impreci-sões, ambigüidades e contradições. Enfrentan-do este problema, o princípio da plenitude ouunidade da ordem jurídica tende a criar recur-sos interpretativos de modo a buscar sempreuma norma de decisão para um caso concreto,mas é um mito supor que a legislação oferecesolução para toda controvérsia. Há situaçõesem que a incidência de uma norma é certa. Emoutras situações, a aplicação da mesma normapode ser negada ou afirmada. É possível dis-tinguir, portanto, um núcleo de certeza e umamargem de dúvida ou ambigüidade na aplica-ção de uma norma6.
Corolário da segurança é a sistematizaçãodo ordenamento jurídico, segundo o qual asnormas estão subordinadas umas às outras peloseu conteúdo (racionalismo material) e pelahierarquização de competências (racionalismoformal). A crença de que uma norma pode com-plementar outra alimenta a idéia de uma or-dem plena. A esse respeito, a segurança cum-pre um sentido racional ou lógico. Relacionaruma norma com outras, porém, nem sempre épossível. A tarefa exige habilidade de especia-lista, capaz de realizar adequada avaliação dosresultados.
Ainda que o conteúdo formal da norma con-tinue o mesmo, concepções podem mudar como tempo. Essa mudança pode ser de tal ordemque um direito certo, hoje, pode se tornar in-certo amanhã. Um direito incerto é apto a ge-rar injustiça na sua aplicação. Daí a certeza dodireito ter um sentido funcional. A ordenaçãode comportamentos traduz, também, um com-promisso do legislador com a justiça, ou do tri-bunal com a eqüidade (justiça do caso concre-to). O direito, assim, aspira a realizar valoresmais altos na hierarquia axiológica.
Usando do seu poder de subsunção, o juizadapta a norma à exigência do justo, particu-larmente falando, para atender adequadamen-te a uma necessidade humana específica ou auma política pública. Não se sabe em que me-dida o sistema jurídico constitui uma ordempronta ou dada ao juiz. Pelo mister de julgar, ojuiz tem um poder que lhe é próprio de reela-borar a lei. Isso dá ao direito um caráter dinâ-mico e permite um inevitável vaivém da segu-rança à eqüidade e da equidade à segurança.
A segurança, como se disse, está associadaa uma imagem estática do direito. Esse ladoconservador está em luta permanente com ocaráter dinâmico do direito. Suposto que a rea-lização da justiça é um compromisso inerenteao direito, é possível afirmar que a busca dasegurança qualifica um conflito da justiça con-sigo mesma. Tudo isso torna a aplicação dodireito uma tarefa desafiante, sobretudo quan-do a aplicação é inspirada no interesse público.
2.2. Noção de interesse público
A despeito da sua natureza intangível, in-teresse público é uma noção central para teoriajurídica e aplicação ou execução do direito. Oseu conteúdo, a priori indefinido, é uma cons-tante dor-de-cabeça para os tribunais, em qual-quer ramo do direito e, em particular, no cam-po do direito da concorrência. Nesta breve re-flexão, o interesse público é contrastado com ointeresse privado. Não se busca estabelecer umconceito. O propósito é refletir sobre o proces-so de seleção dos critérios, para definir inte-resse público como elemento de legitimidadedas decisões7.
O interesse público é elevado à categoriade fundamento de aceitação geral quando o le-gislador, dispondo sobre a generalidade das si-tuações, invoca-o e quando os tribunais fazemdele ingrediente da racionalidade judicial. Aesse respeito, o processo legislativo e os casosconcretos são, de alguma forma, expressivasfontes de identificação do interesse público.
A imprecisão ou ambigüidade de conceitopode ensejar manipulação das normas. A in-vocação do interesse público sem critérios pode
6 JACKSON, Bernard S. Law, fact and narrati-ve coherence. p. 144.
7 A presente discussão acompanha o texto cor-respondente ao item 7.2.1, “reflections on publicinterest”, capítulo 7 (Adjudication on Non-Volunta-ry Licences over UK Patentes) da tese de doutoradodo autor, “Limiting Intellectual Property, the Com-petition Interface”, Queen Mary and Westfield Col-lege, Unversidade de Londres, 1996.

Revista de Informação Legislativa218
servir a propósitos pouco convenientes aobem comum. Segue-se que o parlamento eas cortes, ao estabelecerem o interesse pú-blico como optativo político ou judicial, têmo dever de assegurar que o interesse da soci-edade como um todo não seja explorado porgrupos particulares na busca de ganhos pri-vados às expensas do público.
Há uma relação entre interesse individu-al e interesse público. Indivíduos ou gruposde indivíduos podem perseguir variados in-teresses. Nem todos esses interesses podempertencer à sociedade como um todo. Essaobservação leva ao pressuposto de que a so-ciedade é capaz de ter seus próprios interes-ses. A questão é como distinguir os interes-ses do público como um todo daqueles inte-resses reduzidos à esfera individual.
Pode-se argumentar que a reunião dos in-teresses individuais representaria o interes-se da própria sociedade. Para que a afirma-ção se torne verdade é necessário que os in-teresses antagônicos desses mesmos indiví-duos ou grupos de indivíduos sejam excluí-dos, ou que os indivíduos ou grupos desis-tam dos seus interesses conflitantes para afir-mar os interesses comuns ou da coletivida-de. A assertiva pode ser possível em princí-pio, mas ninguém a reivindicaria como umaverdade universal. O que é de fato reclama-do como pertencente à sociedade ou corres-pondente ao interesse público não passa damaterialização do interesse de uma maioriacontra o interesse de uma minoria. A partirdessas colocações, pode-se inferir os riscosda construção da noção de interesse públi-co: a possibilidade que grupos imponhamseus interesses sobre outros.
Se é certo que não há outra forma de es-tabelecer o interesse público senão pela re-gra da maioria, o processo como instrumen-to de decisão ganha um papel vital na teoriajurídica e no modo como o interesse públicoé oficialmente estabelecido. O reconheci-mento do interesse público como elemento-chave significa que a implementação das po-líticas públicas deve produzir um benefíciopara sociedade. Fora desse objetivo, não hálegitimidade possível. Ademais, a maneiracomo interesse individual e interesse públi-co são relacionados é também uma questãode representação. Ao isolar e legalizar uminteresse em particular, o legislador se vale
de todo um conjunto de informação que podeestar viciada e, assim, ele pode está favore-cendo a dominação ou repressão de grupos.
O caráter representativo do interesse pú-blico exige uma articulação de elementos queconfere um sentido democrático ao processolegislativo e, ao mesmo tempo, permite umajustificação de interesses que vão além daesfera individual. Esse mecanismo descrevea conversão de optativos políticos em opta-tivos jurídicos, destinados a repelir a usu-fruição individual de ocasionais benefícios.Tanto o parlamento ao fazer escolhas (opta-tivos legais) ou ao tomar suas decisões, quan-to às cortes ao operá-las, têm um objetivocomum: cuidar para que o interesse públiconão seja dirigido para o privilégio de umaelite. Até onde o quadro legal é capaz degarantir tal objetivo é um assunto da alçadadas cortes ou tribunais administrativos. Emcircunstâncias particulares, o que é bom paraa sociedade como um todo deve correspon-der ao interesse público.
Freqüentemente, os tribunais têm de apli-car conceitos imprecisos ou abertos. Noções,tais como, bem comum, liberdade de comér-cio e interesse dos consumidores, reunemconsiderável força intelectual que apelampara a sensibilidade dos juízes. O desenvol-vimento de tais conceitos exige um mínimode racionalidade. Ao desincumbir-se dessatarefa, a autoridade realiza uma política le-gal que não é dela, mas do parlamento. Se-gue-se que não cabe aos tribunais sobrepu-jar os optativos legais. Embora as autorida-des administrativas e os tribunais sejam do-tados de um mandato que lhes confere razo-ável liberdade de construção dos conceitos,essa franquia é limitada. Esse sentido delimitação governa toda a atuação do aplica-dor da norma e recebe uma qualificação par-ticular, à luz do devido processo legal.
2.3. Devido processo legal
De origem americana, o instituto do de-vido processo legal tem conteúdo variável.O seu significado depende da cultura de cadapaís.
No Brasil, a Constituição Federal ofere-ce os fundamentos do devido processo legale a legislação ordinária os implementa. Es-ses fundamentos estão descritos a seguir.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 219
Fundamentos Constitucionais doDevido Processo Legal
“Artigo 5º (...)LIV - ninguém será privado da liber-
dade ou de seus bens sem o devido pro-cesso legal;
LV - aos litigantes, em processo ju-dicial ou administrativo, e aos acusadosem geral são assegurados o contraditó-rio e ampla defesa, com os meios e re-cursos a ela inerentes;
LVI - são inadmissíveis, no proces-so, as provas obtidas por meios ilícitos;(...)
LX - a lei só poderá restringir a pu-blicidade dos atos processuais quando adefesa da intimidade ou o interesse soci-al o exigirem; (...)”
“Artigo 93 (...)IX - todos os julgamentos dos órgãos
do poder judiciário serão públicos, e fun-damentadas todas as decisões, sob penade nulidade, podendo a lei, se o interes-se público o exigir, limitar a presença,em determinados atos, às próprias e aseus advogados, ou somente a estes; (...)”
O princípio pode ser subdividido em doisaspectos: formal e substancial. Isto significa quea garantia processual, isto é, cumprimento decertas formalidades essenciais à ampla defesae ao contraditório, é um requisito necessário àobservância ou à aplicação adequada (enforce-ment) do direito. Isso se aplica também ao di-reito de concorrência e, assim, define um devi-do processo antitruste. Não se pretende esgo-tar toda a dimensão do instituto, o que escapa-ria do objetivo do presente trabalho. Deseja-seapenas estabelecer suas características maisnotáveis8 descritas abaixo .
DIREITO DE SER OUVIDO
A audiência do administrado, além de re-fletir um princípio de justiça, traduz uma ga-rantia de eficácia, porque não somente assegu-ra ao interessado o conhecimento dos fatos e apossibilidade efetiva da sua participação útilno processo, como proporciona melhor recep-ção e cumprimento da decisão administrativa.Nesta linha situa-se o magistério de Agustín
A. Gordillo9, segundo o qual:“El principio se mantiene incólume
incluso cuando los hechos sobre los cua-les debe decidirse parecen absolutamen-te claros, y la prueba existente sea con-tundente y unívoca, porque si la admins-tración tiene en cuenta no solamente ra-zones o motivos de legitimidad, sino tam-bién motivos de oportunidad, mérito oconveniencia principio éste indiscutibleen la doctrina y en la práctica – enton-ces es meridiano que la voz del afecta-do, aún en el más claros de los casos,aporta siempre un elemento más de jui-cio a tener en cuenta para el juzgamien-to del mérito ú oportunidad del acto”.
O princípio radica no direito natural, já ins-crito na parêmia jurídica nemo debet inaudi-tus demnari (ninguém deve ser condenado semser ouvido), designado, às vezes, por justiçanatural e teria sido observado pelo Criador, que,antes de condenar Adão e Eva, os ouviu (Gê-nesis, 3, 9-19). A dimensão da regra permitedesdobramentos vários, como a publicidade doprocesso administrativo, oportunidade de ex-posição de razões pelo administrador e admi-nistrado, expressa consideração dos argumen-tos e das questões propostas, dever de a admi-nistração decidir expressamente a sua decisãoe direito de defesa por profissional habilitado.
A publicidade do processo diz respeito aochamamento do interessado para se defender.As partes (administração e administrado) sãocolocadas em condições de se contrariarem.Descarta-se qualquer atuação em segredo, sal-vo circunstâncias excepcionalíssimas justifica-das pelo resguardo de situações. A publicidadecompreende não somente o conhecimento dasatuações administrativas, como também o exa-to conteúdo ou alcance da impugnação, demodo a permitir a formulação de defesa.
As razões de direito e de fato visam confor-tar um juízo de convicção. Há uma oportuni-dade adequada em que elas poderão ser ofere-cidas, variando segundo a modalidade ou o fimdo processo. A sua exposição de ordinário devepreceder a de pronunciamento administrativo;a precedência atende a uma questão de utilida-de. É desejável que o pronunciamento admi-nistrativo não ocorra muito distante da épocado oferecimento das razões do administrado.
Desde que as questões e os argumentos sus-citados se revelem pertinentes, a decisão deve8 Cf. discussão em Liquidação extrajudicial:
multicred, devido processo legal, por A. C. Fonsecada Silva. RTFE n. 66, p. 137-176. 9 RPD 10, l.19.

Revista de Informação Legislativa220
tocá-los, considerando-os expressamente. Osilêncio ou a omissão da autoridade constituifalha em detrimento do direito de ser ouvido.Deve a decisão, portanto, ferir todos os funda-mentos da defesa.
O dever de a administração decidir expres-samente os requerimentos atende ao postuladode que todo pedido deve merecer uma respos-ta, seja em nível de impugnação ou de recurso,pedido de consulta, reconsideração ou de dili-gências. Tratando-se de pedidos plúrimos, for-mulados por meio de um só instrumento, tem aadministração o dever de decidir expressamentecada um deles. A autoridade julgadora devefundamentar a sua decisão, atendendo aos fa-tos e às circunstâncias constantes do processo.Isso exige uma indicação objetiva dos motivosformativos do convencimento.
Enfim, o direito de ser ouvido, na sua ple-nitude, não dispensa a defesa do administradopor profissional habilitado. A esse aspecto, nãoé necessário que a defesa seja feita por advoga-do. Entretanto, qualquer que seja o represen-tante do adminstrado, quando este próprio nãopatrocinar a sua defesa, a ele é assegurado oacesso a todo expediente a fim de poder prati-car todos os atos procedimentais indispensá-veis a uma defesa eficaz.
DIREITO DE OFERECER DEFESA E PRODUZIR PROVAS
A prova é dirigida à formação do conven-cimento do julgador. As diligências, perícias,quaisquer meios lícitos de prova compreendem-se no âmbito do contraditório, sem o qual oprocesso perde a sua legitimidade. O direitoem destaque consiste em que: (a) toda provarazoavelmente requerida seja produzida; (b) aprodução da prova deva ocorrer em tempo útil,tendo de ordinariamente preceder a decisão dacontrovérsia; e (c) o controle da produção daprova seja realizado pela administração.
Caberá à defesa requerer as provas que dese-jar produzir, ou por elas protestar, sempre aten-dendo a uma exigência de utilidade, objetivamen-te demonstrada ou deduzida das circunstâncias.A autoridade poderá, em despacho fundamenta-do, indeferir as que considerar impraticáveis,prescindíveis ou inúteis. Essa faculdade, porém,encontra limites, devendo a recusa atender a pre-ceito de lei ou à razão de lógica jurídica. Se oescopo da prova é a procrastinação desarrazoadado feito, é evidente o seu descabimento.
A prova deferida merece ser produzida an-tes de um pronunciamento conclusivo sobre amatéria controvertida. O preceito de oportuni-dade aplica-se a toda prova cuja produção sejafactível.
Direito de defesa por profissionalhabilitado (defesa eficaz)
Controle da prova realizadapela administração
(conferência e articulaçãoda contraprova)
Síntese do devido processo legalCF, arts. 5º - LIV, LV, LVI, LX e 93 - IX
A. DIREITO DE SER OUVIDO
Publicidade dos Procedimentos(chamamento e contrariedade)
Oportunidade para exposição de razões(precedência e utilidade)
Expressa consideração dosargumentos e questões expostas
Expressa decisão dos requerimentos
Dever de fundamentar a decisão(motivos do convencimento)
B. DIREITO DE OFERECER DEFESA E PRODUZIR PROVAS
Produção de toda provarazoavelmente requerida
(utilidade objetiva)
Produção de prova emtempo útil (antes da
decisão oupronunciamento
conclusivo)

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 221
O direito de controlar (conferir, fiscalizar)a realização da prova, por fim, é conferida aosinteressados para garantir a lisura dos proce-dimentos. Pretende-se, assim, evitar a realiza-ção de provas com preterição de formalidadeslegais essenciais ou por expediente fraudulen-to ou espúrio; presta-se ainda a orientar a arti-culação da contraprova.
Estes são os traços mais frisantes do devidoprocesso legal. São um feixe de direitos, deve-res e faculdades cuja operacionalidade atendea ditames lógicos e éticos, a exigências de opor-tunidade e utilidade, requisitos que se impõemenquanto “meios” e “recursos” inerentes aocontraditório e à ampla defesa.
3. Instrumentos de planificação jurídicaParece estranho a idéia de planificar, ou
dispor em planos, a ação jurídica do Estado.Essa ação jurídica envolve uma série de atri-buições10 que melhor seriam desempenhadas sesubmetidas a um sentido de planejamento, queé obrigatório para a administração pública. Oplano é um conceito fundamental associado aodesenvolvimento racional das ações regulado-ras do poder estatal. O sentido de planificaçãojurídica aqui empregado é de ordenação de ob-jetivos e de estratégia para cumpri-los, de acor-do com uma linha ótima escolhida, dos quais aadministração de uma justiça administrativanão pode prescindir. Essa exigência de plane-jamento administrativo pode variar de acordocom a complexidade do papel ou mandato con-ferido à agência ou tribunal administrativo.
Assume-se que o regulamento (Guidelines),a prova científica e os princípios ou regras debom aviso, que limitam o poder discricionário,fazem parte de um instrumental necessário àestruturação de uma política da concorrênciaeficiente. Sem esses instrumentos, o teste dedesempenho dessa política estará prejudicadopela falta de critérios objetivos.
3.1. Importância das Guidelines
De ordinário, guias (Guidelines) ou instru-ções não são vinculantes. No seu sentido am-plo, elas podem abranger o regulamento ou re-gimento do órgão, de considerável valor para odesenvolvimento e aplicação transparente dodireito. Como instrumentos de política legal,
as Guidelines estabelecem categorias e regrasque orientam um padrão de teste legal, instru-indo um público-alvo e oferecendo um modelode interpretação que pode ser considerado ouaproveitado pelos juízes. As Guidelines sãoimportantes, como elementos de planificaçãojurídica e de transparência, bem como pelo seucaráter instrutivo11.
O guia gera na autoridade uma atitude di-ante de situações jurídicas chaves. As tarefasdesempenhadas no dia-a-dia são facilitadas,propiciando uma economia de meios (princí-pio dos meios eficientes). Isso permite que téc-nicos e pessoas que militam no foro adminis-trativo possam prever como a autoridade agiránaquelas situações. Aplicando um meio efici-ente e previsível, a autoridade se habilita a fa-zer um balanço de ganhos e perdas.
Há vários outros benefícios relacionados aprograma de treinamento, montagem de orça-mento e organização pelos técnicos da execu-ção coordenada de atividades. O planejamentonão é uma preocupação jurídica imediata. Aabordagem do planejamento, todavia, coloca emfoco a necessidade de se organizar as atividadede aplicação do direito ou execução das deci-sões como exigência de administração eficien-te ou racionalização do desempenho da agên-cia de concorrência. Ao estabelecer priorida-des e alternativas, a autoridade organiza suaatuação e procura a solução mais eficiente deproblemas, evitando esforços desnecessários oucontraproducentes.
A agência de concorrência desenvolve mé-todos de trabalho distintos daqueles normal-mente aplicados pelos órgãos judiciais. Paradesempenhar suas tarefas eficientemente, aautoridade antitruste, conservando sua indepen-dência, mantém conexões com outras agênciasgovernamentais, homens de negócios, associa-ções de defesa da concorrência, órgãos inter-nacionais e com a mídia visando informar aopúblico e difundir a cultura da concorrência.Essa interface exige respostas planejadas. Ahabilidade da agência para agir eficientemen-te deve refletir um papel avançado da burocra-cia estatal, em contraste com aquela visão quenormalmente o público tem de uma máquinaburocrática pesada e negligente.
Quanto ao aspecto da transparência, valeressaltar que, sem guia ou regulamento, o ór-gão tende a atuar com base em padrões de com-
10 Confiram-se, por exemplo, os artigos 7º a 9ºda Lei nº 8.884/94.
11 Sobre o assunto, ver “Tese” do autor, capítulo6, seção 6.3, tópico the guideline approach.

Revista de Informação Legislativa222
portamento hauridos de experiência não-escritae conhecidos apenas por um reduzido númerode funcionários. O aprendizado de situaçõespassadas pode ser válido se ajudar a estabele-cer paradigmas que sirvam de base para deci-sões futuras. Na ausência de guia não institu-cionalizado, critérios não-escritos são confina-dos ao conhecimento de poucos funcionáriosou técnicos. Valiosas informações terminamnão sendo compartilhadas com superiores. Es-sas informações podem ser importantes para apolítica ou estratégia do órgão. A falta de cri-térios na produção e gerência de dados rele-vantes impede o adequado tratamento e disse-minação da informação. Corre-se o risco de seproduzir decisões mal informadas.
O papel instrutivo do regulamento pode serencarado do ponto de vista dos destinatáriosdas regras da concorrência. A adequada orien-tação ajuda os homens de negócio e as associa-ções de comércio a observarem o direito, oupode encorajar os agentes a evitar atividadesde risco, deter condutas aventureiras e aindacriar fortes expectativas de se estar trilhandorota legal. Evitam-se, assim, condenação emmultas, dispendiosas disputas e o risco de seter um ato ou contrato anulado.
Um guia interpretativo pode esclarecer pon-tos obscuros de dispositivos vagos, ou estabe-lecer condições para aplicações de conceitos ouregras rígidas, eliminando restrições imprópriase evitando discussões desnecessárias. Onde alei permite mais de uma interpretação, o guiapode fazer uma escolha possível que pode serobservada pelo Judiciário. A esse respeito, oguia ou regulamento pode facilitar não somen-te o trabalho de consultoria privada, como tam-bém ser usado como canal de legítimos ansei-os de grupos.
O guia, enfim, pode ser alterado de tempoem tempo para operacionalizar uma nova polí-tica. Esse senso de flexibilidade é uma caracte-rística que muito se atende ao direito modernoda concorrência, comprometido com um pro-cesso competitivo dinâmico e baseado numarealidade econômica de difícil percepção.
3.2. Prova científica e percepção estatística
Em diversos campos do conhecimento, aexperiência humana é expressa em dados dis-postos estatisticamente. Elementos de estatís-ticas têm sido usados para descrição de umarealidade ou elaboração de inferenças que, porvezes, influenciam a percepção dos juízes. A
freqüência do uso de estatísticas nos tribunaislevou o juiz Holmes, da Suprema Corte ameri-cana, a afirmar que algum conhecimento deestatística não é um dever, é apenas uma ne-cessidade12. Estatística é realmente importan-te? Do ponto de vista do processo administra-tivo ou judicial, uma questão geralmente sus-citada é sobre a justa avaliação por juízes, ad-vogados e técnicos dos modelos estatísticos, ese tais modelos asseguram o devido tratamen-to dos dados em questão.
O uso de estatística tem contribuído para odiscurso racional envolvendo assuntos de inte-resse público. Esse uso tem sido feito por eco-nomistas, cientistas sociais, geneticistas, epi-demiologistas, engenheiros, físicos, biólogos eoutros profissionais, atuando como testemunhasou técnicos dentro das respectivas especialida-des. Os juízes nem sempre têm disposição ehabilidade para apreciar números. Isso pode seruma deficiência dos cursos jurídicos que aindanão descobriram os números como instrumen-tos de argumentação jurídica. Daí, muita esta-tística pode atrapalhar o tratamento da prova.Com a devida assistência, os tribunais admi-nistrativos e judiciais são capazes de avaliarbem a prova estatística. Mas a falta da assis-tência adequada pode fazer que bons modelosestatísticos sejam sumariamente rejeitados, ouque deficientes modelos sejam acolhidos sem adevida crítica. A reflexão a seguir tenta ressal-tar as virtudes e vicissitudes de algumas técni-cas estatísticas, capazes de impressionar e atri-buir crédito a pressupostos jurídicos nem sem-pre adequadamente avaliados.
A prova científica caracteriza-se pela bus-ca do conhecimento ou verdades gerais, medi-ante a descoberta ou revelação das leis funda-mentais da natureza e do modo como elas ope-ram e interrelacionam-se. Isso cria uma atitu-de que coloca um grupo de profissionais, taiscomo técnicos, advogados, membros do Minis-tério Público e juízes em contato com o mundofísico e seus fenômenos, gerando observaçõesimparciais e experimentações sistemáticas.Guardadas as devidas precauções, isso é per-feitamente adequado à exigência de motivaçãodas decisões, desde que sejam criados modelosde análises com a formulação adequada de hi-póteses. No processo administrativo antitrus-te, o resultado de uma prática ou conduta é
12 FINKELSTEIN, Michael O., LEVIN, Bruce.Statistics for Lawyers. Prefácio VIII e IX. Springer-Verlag, 1990.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 223
particularmente crucial, independentemente dasua valoração subjetiva, sendo a prova técnica,neste setor da administração pública, de extre-ma necessidade13.
O tratamento científico da prova não ga-rante necessariamente a solução ótima de umproblema jurídico, mas pelo menos permitemanejá-lo de forma racional, mediante o em-prego de diversas técnicas envolvendo amos-tragem, combinação ou comparação, descrição,contagem ou computação, probabilidade, infe-rências e regressão. Como se disse, o instru-mental estatístico ou matemático pode contri-buir para o processo de investigação e conven-cimento, mas pode também ser usado inescru-pulosamente para obscurecer ou reduzir o im-pacto de evidências ou fatos determinantes. Daíé preciso que todo modelo seja submetido a umaavaliação crítica, em que, por exemplo, permi-ta-se testar uma dada hipótese contra uma ou-tra alternativa, estabelecendo-se, ao final, a hi-pótese nula ou falsa.
A seguir, alguns exemplos de estudos esta-tísticos envolvendo questões legais:
• Um interessante experimento realizado noinício da década de 60, em que foram usadosmétodos de estatística descritiva, procurou res-ponder se uma pessoa, com evidentes laços coma comunidade local, uma vez presa e depoissolta sem fiança, retornaria para responder àacusação. O resultado foi um sucesso surpre-endente: apenas 1% (3/250) dos recomenda-dos para livramento condicional naquela basenão retornou. Esse resultado passou a ser ob-servado pela Justiça dos Estados Unidos. Umsignificante dado revelado pelo estudo foi queum número desproporcionalmente grande da-queles recomendados para livramento (60%)foram absolvidos. Um estudo estatístico de re-gressão múltipla sugeriu que, depois de consi-derados outros fatores, o fator prisão, antes doprocesso sozinho, aumentou a probabilidade decondenação. O sistema de fiança com base nesseestudo foi contestado, sem sucesso. A Corte deApelação de New York estabeleceu: “Não éporque a fiança é exigida que o acusado afinal
é condenado. É pela probabilidade de ele sercondenado que a fiança é exigida”14.
• Uma associação nacional de produtoresde ovos encomendou uma propaganda afirman-do que não havia evidência científica autoriza-da e segura de que o consumo de ovos, mesmoem quantidade discreta, aumentava o risco deataque de coração. A FTC abriu um processopara retirar a propaganda sob o fundamento deque ela era falsa e enganosa. No processo, opessoal da FTC introduziu dados preparadospela OMS relatando consumo de colesterol etaxas de doenças das coronárias em 40 países.Peritos que atuaram como testemunhas da FTCusaram método de descrição estatística.
• O Departamento Americano de Justiçaadota o Herfindahl Índice para selecionar asconcentrações a serem investigadas. O índiceé calculado pelo somatório do quadrado das par-ticipações no mercado de cada firma. Varia de0 a 10.000. O índice abaixo de 1.000 não ofe-rece preocupação. Abaixo de 1.800 representauma concentração moderada. Acima de 1.800a concentração é alta, indicando um estado dealerta15.
• Probabilidade matemática tem sido dis-cutida em comparações de cabelo humano. Fiosde cabelo encontrados no local do crime ou navítima são comparados com cabelos de pesso-as suspeitas.
• Amostragem estatística é largamente usa-da por contabilistas em auditorias. Num deter-minado caso, um contabilista não conseguiudetectar nenhuma das 17 faturas fraudulentasnum grupo de 100 faturas. Isso gerou um pro-cesso por negligência.
• Acusado de estupro, um homem de cornegra, em 1961, foi condenado à pena de mor-te, no Estado de Arkansas. A vítima era umamulher de cor branca. Em habeas corpus, o
13 É cada vez mais verdadeira a assertiva de queé impossível se desenvolver uma política de con-corrência consistente e eficiente sem um serviço depesquisa sistemática. A falta desse serviço e da ca-pacidade de avaliação crítica da prova emprestadaenfraquecem as decisões da agência.
14 FINKELSTEIN, LEVIN, op. cit., p. 8. Comoeste, os demais exemplos são da mesma obra.
15 Na jurisdição americana, o HHI é um indica-dor útil do potencial de efeito competitivo da opera-ção de concentração, sugerindo aprofundamento daanálise ou não, conforme o índice seja superior ouinferior a 1800. Cf. Horizontal Merger Guidelines(1992) do Departamento de Justiça e da FTC ame-ricanos, item 1.5, em ABA Antitrust Section, Anti-trust Law Developments, 3. ed. Apêndice F, vol. 2,1992. O referido índice não tem função na práticade avaliação de concentração pelo CADE. A Lei nº8.884/94 adota padrão próprio (artigos 20 § 3º e 54§ 3º).

Revista de Informação Legislativa224
condenado alegou que a pena foi aplicada demodo racialmente discriminatório. O argumen-to baseou-se num estudo de um sociólogo daUniversidade de Pennsylvania. Segundo esseestudo, que examinou as sentenças de estupronuma amostra representativa de 19 condadosdaquele Estado, “as variáveis críticas na deter-minação da sentença de morte foram a raça docondenado e a raça da vítima”16.
• Inferência estatística para duas propor-ções tem sido usada para estudo dos efeitos dobaixo nível de radiação de fornos de microon-das. A questão é se os microondas causam cân-cer. Os estudos têm sido conduzidos em ratos.
• Pesquisa para medir confusão entre con-sumidores, nos casos de infringemento de mar-cas, tem suscitado problemas de amostragem.Uma empresa, titular da marca Dominó paraidentificar o produto açúcar, processou outraempresa (Domino’s Pizza Inc.) que usava amesma palavra para identificar pizzas. Pesquisarealizada em dez cidades do leste dos EstadosUnidos, em duas das quais o serviço de pizzaDominó era fornecido, entrevistou 525 pesso-as, todas donas de casa envolvidas nos seus afa-zeres domésticos, responsáveis pelas comprasde mercearia. Durante a entrevista, uma caixade pizza Dominó era exibida. Parte das entre-vistadas revelou acreditar que a empresa que pro-duzia pizza produzia também outros produtos.Desse grupo, um percentual acreditava que aempresa de pizza também produzia açúcar. Opadrão de amostragem foi submetido a críticas.
O uso da pesquisa científica contribui, por-tanto, para a aplicação racional do poder dis-cricionário na formulação e operacionalizaçãodas políticas públicas.
3.3. Princípios de discrição administrativa
Os princípios que orientam o exercício dadiscrição administrativa encerram limitaçõesde duas ordens: legal ou estatutária e judicial.Construídas pelo legislador ou pelos tribunais,essas limitações comunicam um dever de jus-tificar as decisões, um senso de adequação demotivos e um dever/poder de atuar quando ne-cessário. Os princípios que decorrem da estru-tura reguladora guardam correlação entre si epodem ser assim estabelecidos17.
Ao exercitar seu poder discricionário, aautoridade pode fazer tudo, não proibido porlei, para implementar um objetivo legal espe-cífico. Desse modo, a autoridade realiza duplafunção, de guardiã da ordem econômica e decurador do direito individual à livre concor-rência. A agência de concorrência se faz intér-prete da política do legislador e a implementaem primeiro grau. A tarefa de completar o di-reito envolve opções. As escolhas que a autori-dade faz não são propriamente suas, mas dolegislador.
Um outro princípio é que a autoridade nãopode impor restrições ou encargos inconsisten-tes com a política legal, nem sua discrição podegerar desnecessário embaraço ou ônus sobre apropriedade privada. Outra limitação estabele-ce que a autoridade não deve fixar critérios oupolíticas tão rígidas que inviabilizem o exercí-cio da discrição no caso concreto. Isso reclamaum sentido prático e de flexibilidade na for-mulação de instruções destinadas a regular assituações mais ou menos gerais.
O dever de considerar os objetivos legais éuma exigência de motivação das decisões. Me-diante a declaração de razões, a autoridade podedemonstrar que uma abordagem racional foiprocedida, numa decisão em concreto, contrauma atitude de capricho ou preconceito. A dis-crição do caso individual deve-se fundar narazão, resgatada da observação ou experiência,ou ainda de diretrizes técnicas.
Para exercitar discrição adequadamente, dizoutro princípio, deve-se dispensar adequadaconsideração ao mérito e aos fatos do caso in-dividual, isto é, exige-se tratar os pontos-cha-ves de maneira racional, desenvolvendo-se ar-gumentos informados. Racionalmente razoá-veis são aqueles argumentos conclusivos e de-terminativos de respostas coerentes.
O dever de atuar, enfim, para atender a umanecessidade, decorre da percepção de que a au-toridade possui um poder-dever de dar as res-postas corretas para acudir a um interesse le-galmente protegido. Essa proteção é definida apartir da Constituição, consolidada nas leis eimplementada pelo regulamento. Dar uma res-posta adequada a um interesse juridicamenterelevante passa por um processo de justifica-ção legalmente permissível. Isso revela o caráterinterativo ou complementar dos princípios queorientam o poder discricionário da autoridade.
A observação óbvia é que não existe umpoder discricionário ilimitado. O grau de dis-
16 Idem, p. 189.17 Os princípios discutidos decorrem da jurispru-
dência ou dos textos legais. Ver “tese” do autor, ca-pítulo 7.4 (principles of judicial discretion : a sum-mary).

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 225
crição é função do enunciado das disposiçõeslegais. Uma vez revelada, a discrição poderáser corrigida pela mesma autoridade ou poroutra. Não se sabe ou não se pode afirmar, apriori, até onde uma discrição originária po-derá ser alterada ou substituída por um poderdiscricionário superveniente ou posterior. Ocerto é que, ordinariamente, a discrição admi-nistrativa, de primeiro grau ou extrajudicial,não deve ser perturbada, a não ser para repararerros in decidendo que fazem a decisão origi-nal inconsistente com as letras ou objetivos le-gais, ou ainda com os interesses individuaislegalmente protegidos. Vale esclarecer, final-mente, que à autoridade judicial não cabe di-zer como a autoridade administrativa deve exer-citar sua discrição. Em suma, a discrição ad-ministrativa não pode, em princípio, ser subs-tituída pela discrição judicial, a menos que estaseja um imperativo à reparação de um direitoindividual ou coletivo judicialmente exigível18.
4. Papel discricionárioGrande responsabilidade recai sobre as
agências ou tribunais administrativos encarre-gados de decidir sobre assuntos que afetam apropriedade privada. A esses órgãos é conferi-do um poder discricionário que lhes permite seequipar. Tal poder é mais ou menos amplo,dependendo da complexidade do mandato, edeve ser usado tendo em vista a realidade mu-tante do mercado e as necessidades da socieda-de consumidora. Nesse sentido a discricionari-edade é necessária, mas delicada pelo potenci-al de abuso que esse poder oferece.
O poder discricionário é aqui explorado sobquatro ângulos ou diferentes tipos de escolhas:seleção das situações de risco e seu tratamen-to; estruturação dos procedimentos de atuação;controle de qualidade dos serviços prestadospela agência (auto controle) e opções técnicasadotadas em cada caso.
4.1. Função seletiva
Como foi dito, poder discricionário é o po-der para fazer escolhas entre várias possibili-dades de ação ou omissão. Particularmente nodomínio da concorrência, é instrutivo dirigir aatenção do leitor sobre como a União Européiatem usado o poder de selecionar as situaçõessobre as quais o direito é aplicado19. Como sesabe, o direito da concorrência na União é ma-terializado nos artigos 85 e 86 do Tratado deRoma que descrevem com certa amplitude osacordos privados, práticas concertadas e abu-sos de posição dominante capazes de gerar efei-tos adversos ao comércio no interior da Uniãoou entre os Estados-membros. O amplo escopodos dispositivos levaram a União a adotar umapolítica seletiva, estabelecendo situações queestariam cobertas e outras não alcançadas pe-los artigos 85 e 8620. Isso somente foi possíveldepois de se adquirir suficiente experiência noscasos concretos, que atingiram um volume pre-ocupante.
Por volta de 1963, algo em torno de 37.000casos de conduta aguardavam julgamento. Aprimeira tarefa da Comissão foi agrupar os ca-sos por categorias de práticas restritivas. Aanálise dessas práticas tornou possível a defi-nição das condições objetivas de exclusão decertos acordos. Depois de decidir um certo nú-mero de casos dentro de cada categoria, a Co-missão passou a regular bloco de isenções(group exemptions). A primeira categoria dis-ciplinada foi a de certos acordos de exclusivi-dade, em que se concentrava o maior númerode processos.
Em 1967, a Comissão entendeu que haviaadquirido bastante experiência no trato dosacordos de exclusividade e expediu o Regula-mento 67/67-CEE. Com base nesse Regula-mento, mais de 13.000 casos foram informal-mente encerrados naquele ano. Em dezembrode 1972, os casos de conduta somavam apenas2.873 processos. Hoje há regulamentos comdisposições específicas sobre acordos de distri-buição exclusiva ou compra exclusiva aplicáveis
18A propósito, vale conferir a doutrina do con-trole judicial na tradição do common law. Em seumanual, Wade & Bradley escrevem: “Judicial con-trol cannot be a substitute for administrative or po-litical control of the ‘merits’ or ‘expediency’ of offi-cial decisions. Nor are the judges responsible forthe efficiency of the administration. But the courtsensure that decisions made on political or othergrounds conform to the law and that certain basicstandards of fair procedure are observed”. p. 626.
19 O resumo a seguir é baseado no relato de KarlMathias Meessen, in Kenneth Culp Davis, Discre-tionary Justice in Europe and America. Universi-dade de Illinois, 1976.
20 Posner apóia essa atividade seletiva sob o fun-damento (assumption) de que “the agency acts as arational maximizer, comparing the expected returnsand expected costs of alternative uses of its resour-ces”. Op. cit., p. 602.

Revista de Informação Legislativa226
a fornecimento de cervejas, postos revendedoresde combustíveis e veículos automotivos.
Outros regulamentos em vigor disciplinamacordos, tais como transferência de tecnologiae know-how, joint-venture, pesquisa e desen-volvimento, e franquia. De modo geral, essesregulamentos modelam uma estrutura de acor-do não considerado danoso à concorrência, sen-do desnecessária sua apresentação e exame. Asempresas são livres para adotar a estrutura deacordo com o que mais atender às necessida-des do seu negócio, ficando obrigadas, toda-via, a submeter à apreciação qualquer contratofora da modelagem preestabelecida.
Os critérios de seleção que a Comissão ado-tou na década de 60 incluíam denúncias sobreas quais havia representação formal ou queeram objeto de litígio nas cortes dos Estados-membros, casos não notificados, casos sobre oart. 86 e casos sobre práticas restritivas notifi-cadas antes de o mesmo artigo entrar em vigor.Numa etapa posterior, os critérios foram esta-belecidos de acordo com a natureza e impor-tância das condutas ou seu impacto no merca-do comum. A política então esboçada procura-va contemplar todos os setores econômicos,considerando as situações como precedentespara interpretação dos artigos 85 e 86 do Tra-tado de Roma21.
A estruturação ou construção do direitoatendia a uma exigência de ordem pública. Aoperseguir tal intento, a política comunitária, dealguma forma, sacrificava interesses individu-ais. Com o objetivo de obter alguma isençãopara os seus casos, as empresas apresentavamcontratos para apreciação. A falta de aprecia-ção dentro de um certo período de tempo pro-vocava um dilema para as empresas. Esse pra-zo podia variar de três a quatro anos ou chegara uma década. Se o contrato contendo cláusu-las restritivas era afinal isentado (exempted)ou aprovado (cleaned), tudo bem. Uma deci-são em sentido oposto era, todavia, um riscoincômodo para a empresa que ousasse aplicarum contrato pendente de apreciação.
Os regulamentos de isenção terminam pa-dronizando certos tipos de acordos e, ao mes-mo tempo, produzem uma base legal que per-mite à Comissão tomar uma decisão individu-al e possibilitam às empresas prever as conse-qüências da sua atuação.
4.2. Função estrutural
Além dos regulamentos que definem umadescrição seletiva, uma agência ou tribunaladministrativo recorre a um conjunto de regrasde procedimento que estruturam o poder dis-cricionário. Os instrumentos que incorporamessas regras são vários, mais ou menos vin-culativos, tais como regimentos, resoluções,portarias ou decisões individuais. Emborasem poder vinculativo, certas publicações,tais como boletins, cartilhas, relatórios ad-ministrativos, declarações oficiais ou artigosveiculados em publicações oficiais podem teralgum caráter informativo da linha de pen-samento sobre como o órgão estrutura os seusprocedimentos.
Sem a rigidez de um código de processo, osinstrumentos procedimentais disciplinam aposição processual de pessoas, empresas e,menos freqüentemente, órgãos governamentaisque de alguma forma se relacionam com o tri-bunal ou agência e estão sujeitos às suas deci-sões. A falta de normas procedimentais sobre aestruturação do poder discricionário pode ge-rar custos adicionais e uma insegurança paraos agentes ou seus representantes. Isso pode serconstatado no cotidiano de uma agência. É co-mum os representantes dos agentes fazeremvisitas a funcionários encarregados de deter-minados serviços, em busca de orientação daatuação do órgão. Essa informação é refletidana estratégia de apresentação de defesa ou es-clarecimento de situações.
Estruturar o poder discricionário, em suma,representa limitar o exercício desse poder. Ainsegurança pela falta dessas normas decorreda possibilidade de tratamento diferenciadodispensado aos agentes, que ficam sujeitos amaior ou menor experiência da autoridade.Ademais, a falta de normas de procedimentosfreqüentemente leva a atrasos na condução edecisão dos casos, provocados por longas dis-cussões casuístas. Em se tratando de colegia-do, pode ocorrer que cada membro, com atri-buições específicas, imprima sua velocidade eo rumo que entender adequados.
A estruturação do poder discricionário en-volve a ordenação de atividades, tais como:investigação, realização de audiências, toma-da de depoimentos orais, produção de documen-tos e ordem dos julgamentos. Uma regulamen-tação mínima desses itens, geralmente, é esta-belecida em lei que, todavia, atribui aos tribu-nais administrativos o necessário poder para21 MEESSEN, op. cit., p. 92.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 227
se organizarem e desenvolverem a regulamen-tação daquelas atividades.
4.3. Função controle
Todo órgão que reivindica uma porção deautonomia tem o dever de desenvolver um auto-controle, de modo a assegurar a qualidade doserviço oferecido à sociedade. Disso decorre umpoder de revisão das próprias decisões e de to-mar medidas reparadoras contra ações e omis-sões ilícitas de servidores pouco qualificadospara as funções.
Pelo menos numa determinada fase inicialda experiência de uma agência, a aplicação edesenvolvimento do direito da concorrênciasubmetem-se a um blend de erros e acertos. Areflexão sobre decisões passadas contribui paraaperfeiçoamento de decisões futuras. A corre-ção de imperfeições é, por vezes, resultado damudança de linha de pensamento ou do modocomo situações pouco conhecidas são tratadas.Uma decisão que reflita uma correção de rumonão afeta, necessariamente, decisões passadas.No entanto, sempre que se mostre útil pelosseus resultados práticos, uma decisão poderáser revista.
A questão que se coloca no trato da revisãoé a dos limites do poder revisional. Em princí-pio, a revisão pode ser de ofício ou a pedido.Aqui não se cuida de discorrer sobre a revisibi-lidade das decisões administrativas. Cumpreapenas observar que a consumação de uma si-tuação de fato, com a consolidação de um di-reito individual, ordinariamente interdita a re-visão de ofício. Exceção se dá quando o benefi-ciário da decisão original concorreu para o ví-cio, motivo da revisão.
Uma falha grave na administração do ser-viço força a autoridade competente a investi-gar o assunto adequadamente e produzir umaresposta motivada. O estatuto dos servidoresestabelece o procedimento e as penas adequa-das que poderão ser adotadas no caso de umafalta disciplinar, que não exclui a aplicação deoutras sanções administrativas e penais.
A função controle dos tribunais ou agênci-as administrativas é particularmente importantee necessária em face do escopo do poder dis-cricionário seletivo. Se o tribunal goza da fa-culdade de estabelecer o que pode ou deve in-vestigar ou o que não deve, está-se diante deuma porta aberta para todo tipo de abuso, in-clusive discriminações injustas e expedientesde captura ou corrupção. Isto é particularmente
sério quanto à justiça administrativa aplicadaà política da concorrência. A esse respeito, asconsiderações a seguir se valem novamente daslições de Karl Matthias Meessen sobre os sis-temas americano e europeu.
Referindo-se aos dois sistemas de adjudi-cações, Karl Meessen escreve:
“Discretion with respect to initiatingan enforcement proceeding is much bro-ader and much less controlled, both inEurope and in America. The great dis-cretionary power in both instances is thepower not to enforce, either in general,against class of parties, or against a par-ticular party. And, of course, discretionnot to enforce intrinsically involves dis-cretion to discriminate – a power verydangerous to justice”22.
A possibilidade de escolha sobre o que in-vestigar pode eventualmente traduzir na opçãode condenar ou não condenar. Quando se tratade investigação e condenação, a cautela daagência é redobrada. Nisso reside um risco denegligência com um interesse público que éremetido a um contexto de barganha: os casosaparentemente sem importância, que se deixade investigar ou são submetidos a uma investi-gação simples, são compensados com o tempoe os recursos poupados para profunda investi-gação dos casos importantes. Para que isso as-segure uma maximização da eficiência na uti-lização dos meios disponíveis é necessário umcontrole severo dos resultados. Refletindo so-bre a política seletiva e a utilização de recursoshumanos na Europa, Karl Meessen aduz:
“The afirmative decision is reviewedby at least twenty officers with universi-ty degrees, but the negative decision restsmainly with the individual official andcomes to the attention of only a smallnumber of officials. Mr. Meessen expli-citly says he was unable to determinewhether the power to delay has ever beenabused. The European system may thusprovide less than adequate protectionagainst possible abuse of the discretio-nary power not to enforce”23.
O potencial de abuso se agrava na propor-ção da deficiência de controle. A crítica que aesse respeito recai sobre o serviço da DivisãoAntitruste do Departamento de Justiça Ameri-cano é esta:
22 Ibidem, p. 96-97.23 Ibidem, p. 97.

Revista de Informação Legislativa228
“The discretionary power of nonen-forcement is enormous and little protec-ted. No one outside the Department ofJustice supervises of reviews decisionsnot to investigate or decisions not to pro-secute. Such negative decisions are se-cretly made. No systematic reporting ofthem to anyone is required. The officerswho make the decisions may have pri-vate conferences with parties under in-vestigation, and those parties do notalways limit their presentations to factsand arguments; they may use influenceof various kinds - influence that is typi-cally known only to the officers withwhom the are dealing. The potential forabuse is almost unlimited. If abuse oc-curs, the possibility of its detection orcorrection is slight, usually almost no-nexistent”24.
À administração também cabe estabelecermecanismos de avaliação dos resultados. Issopermite detectar falhas e gera oportunidade dereparação. Avaliar resultados revela um com-prometimento com o controle de qualidade dajustiça administrativa. Afora o auto controleou controle interno, existe o controle externo,de ordinário realizado pelo poder judiciário e/ou pelo parlamento, este quando provido peloquadro legal.
O controle judicial decorre da regra segun-do a qual nenhuma lesão de direito individualpode ser subtraída do conhecimento do PoderJudicial, cuja função tem o escopo, essencial-mente, de podar excessos da autoridade, prote-ger a concorrência e os direitos e garantias in-dividuais enquanto categorias de bens jurídi-cos tutelados. Diz-se que os juízes enquantoórgãos judiciais estão formados na proteção dedireitos, não na proteção do interesse geral querepresenta a concorrência. Isso leva à discus-são sobre o preparo do Judiciário para decidiras questões sobre o assunto em apreço. Esta éuma preocupação desprezível que somente po-derá se tornar num fato sério se o padrão dasdecisões da agência administrativa for um fi-asco. Todo juiz poderá tornar-se um perito emmatéria de concorrência, desde que ele tenhaoportunidades para desenvolver sua capacida-de de compreensão. A falta de perícia é preen-chida por bons assistentes técnicos.
4.4. Discricionariedade técnica?
A técnica está cada vez mais presente naformulação das políticas públicas e na aplica-
ção do direito administrativo25. Alguns exem-plos incluem as políticas de meio ambiente, fis-cal, financeira, indígena, defesa da concorrên-cia, defesa do consumidor e de desapropriaçõespara reforma agrária. O grau de precisão datécnica varia. A variação pode determinar suarejeição como elemento de apoio ou tornar asua revisão ou controle excessivamente onero-so. Enquanto sua contribuição é de indiscutí-vel valia no domínio da aplicação do direitopúblico, o uso da técnica é objeto de intermi-nável controvérsia. Questiona-se a existênciade discricionariedade técnica a qualificar umadecisão administrativa e a possibilidade de re-visão desta pelo Judiciário. O ponto que se de-seja firmar é que não há propriamente uma dis-cricionariedade técnica a se confundir com umadecisão administrativa. Esta, em face de umaalegação de lesão de direito, é sempre passívelde revisão pelo Judiciário.
O direito ou regulamento pode admitir al-guma liberdade de escolha mais ou menos va-riável, mas tal exercício nunca toma caráter ili-mitado. O exercício de funções administrati-vas normalmente envolve a escolha entre duasou mais ações possíveis por parte da autorida-de26. O legislador pode prever que a adminis-tração busque opções para realizar a funçãoadministrativa e vincular o administrador auma ação específica ou deixá-lo livre para fa-zer a opção técnica que entender adequada.
A técnica não é uma figura autônoma, istoé, que vale por si. Ela pode indicar um com-portamento da autoridade na busca do melhorresultado na aplicação do direito público. DaíRégis de Oliveira27 afirma: a técnica pode serum “antecedente ou pressuposto, fornecendo
24 Ibidem, p. 98.
25 A prova do fato ou direito dependente de co-nhecimento técnico especializado deverá sempre serrealizada, assegurada a livre manifestação do pontode vista do perito.
26 Para Celso Antonio Bandeira de Mello, dis-cricionariedade “é a margem de liberdade que re-menesça ao administrador para eleger, segundo cri-térios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelomenos dois comportamentos cabíveis, perante cadacaso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar asolução mais adequada à satisfação da finalidadelegal, quando, por força da fluidez das expressõesda lei ou da liberdade conferida no mandamento,dela não se possa extrair objetivamente, uma solu-ção unívoca para a situação vertente”. – Discricio-nariedade e controle jurisdicional. Malheiros, 1992.p. 48.
27 OLIVEIRA, Régis Fernandes. Ato administra-tivo. Revista dos Tribunais, 1992. p. 92-93.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 229
elementos para o exercício do poder discricio-nário.” Ele acrescenta categoricamente:
“Não se pode falar em discricionari-edade técnica. Se algum ato necessita deregras técnicas para ser editado, são elasanteriores a sua emanação. (...) “Podeocorrer que a própria lei determine acolheita de parecer técnico para a reali-zação de determinada atividade. Em talhipótese, estar-se-á diante do ato vincu-lado”28.
O entendimento é confirmado por outrosclássicos do Direito Administrativo.
Com arrimo em Ranelletti, Rafael Bielsa29
escreve:“En general, la actividad puramente
técnica es considerada como actividadlibre de la Administración. Y se com-prende que cuando tal actividad no se larefiere a derechos o a intereses legítimosde los administrados, no puede hablarseni de actividad reglada ni de actividaddiscrecional. Sin embargo, adviértaseque la calificación de una cuestión o deun problema de orden técnico suponenecesariamente operaciones en las cua-les la consideración o la valoración delinterés colectivo está subordinada a pre-ceptos o reglas de orden científico”.
Linares30 sugere que um ato fundado numapolítica técnico-científica que carece de objeti-vidade racional não é juridicamente razoável.Ele acrescenta:
“cuando se trata de normas generalesdictadas en base a la técnica menos pre-cisa, como por ejemplo la técnica de lasciencias culturales, la determinación delerror de la normación política genéricay, por ende, de la irrazonabilidad jurídi-ca de la norma individual, es más difi-cil”.
Isso pode criar nos juízes uma resistência àanulação do ato. O autor se pergunta se o com-portamento da autoridade realizado medianteum ato fundado em razões técnicas é ou nãodiscricionariedade técnica e se esse poder é ounão controlável pelo Judiciário. Ele entende queesse comportamento encerra um “arbítrio polí-
tico-administrativo, y luego de valoración ju-rídica”. A segunda indagação não é respondi-da, mas o autor sugere ainda que a valoraçãojurídica está condicionada por um “positivosentido de justicia para el caso”.
Como se observa, a decisão administrativaque adota uma opção técnica é sempre resulta-do de uma valoração, do contrário deixaria deser um julgamento. Esta conclusão em nada sealtera pela imprecisão da técnica, que nem sem-pre revela a solução ideal. Segundo Bandeirade Mello31,
“a providência ideal em muitas situaçõesé objetivamente incognoscível. Poder-se-á tão-somente saber que será uma que secontenha dentro de um número limitadode alternativas e que se apresente comorazoável no caso concreto”.
A decisão vale por si, isto é, independente-mente da técnica que ela embute. O seu con-teúdo valorativo, em tese, pode sempre ser re-visto. Assim, é equivocada a generalização se-gundo a qual as decisões de agências como oCade somente se sujeitariam à revisão judicialnos seus aspectos formais. A agência tem o di-reito público de formular sua política, pautadapor ingredientes técnicos e na busca de objeti-vos de eficiência e bem-estar. Os agentes eco-nômicos são sujeitos de direitos e obrigaçõesna ordem concorrencial. Ademais, certas enti-dades estão legitimadas a zelar pelo direito dacoletividade a uma concorrência sustentável.Onde esses direitos entram em conflito, o Ju-diciário tem o poder constitucional de apreciare, em sendo identificada qualquer lesão, ado-tar a reparação adequada.
A revisibilidade pode ser abordada sob oprisma da natureza da justiça administrativa,se está empenhada na busca da verdade ou sesuas decisões guardam algum caráter político.No primeiro caso, a revisão judicial poderá serfeita amplamente, de acordo com o entendi-mento do juiz. No segundo caso, a corte judici-al estaria limitada no seu poder de revisão.Todavia, nunca se sabe precisamente se a deci-são administrativa baseou-se em motivos téc-nicos ou políticos32.
A experiência judicial revela que as cortestendem a não alterar elemento da discriçãoadministrativa quando ele não é capaz de afe-tar direitos legalmente exigíveis. Essa parece
28 Ibidem.29 Derecho Administrativo. 4. ed. Ateneo, 1947.
v. 563.30 LINARES, Juan Francisco. Poder discrecio-
nal administrativo. Abeledo-Perrot, [s.d.].p. 275-277.
31 MELLO, op. cit., p. 43.32 POSNER, op. cit., p. 610.

Revista de Informação Legislativa230
ser uma posição acertada que respeita a autori-dade da agência pela sua especialização. Istonão exclui o poder-dever do Judiciário de, es-crutinando o mérito da discrição administrati-va, examinar eventual lesão de direito e, sendoo caso, repará-la.
O Judiciário não está preocupado com omérito da política adotada pela autoridade, mascom a proteção dos direitos individuais33, nostermos das questões submetidas a exame. Com-prometidos com esse múnus, os juízes reivin-dicam para si, sempre que podem, avaliar aadequação da técnica34. Aqui como alhures, elesacreditam que a sua valoração, quando possí-vel, tem por fim “evitar que sob a aparência detécnica se disfarcem o exagerado arbítrio ou ainjustiça notória35.“ Por tudo isso, o presente es-tudo não considera a discricionariedade técnicacomo um papel dos tribunais administrativos.
5. Papel político: influências externasAs cortes, como as agências autônomas, não
tomam parte em questões políticas porque de-sejam. O papel de árbitro ou juiz em sentidoamplo, que elas eventualmente podem desem-penhar no trato dessas mesmas questões, de-corre das falhas do Parlamento e/ou do Execu-tivo em responderem adequadamente às de-mandas políticas. Ao organizar, desenvolver ouaplicar sua política, a agência se depara comsituações que a colocam em interface com ou-tras fontes de poder, capaz de afetar as deci-sões. Aqui se procura explorar aspectos da re-lação institucional, estabelecer a natureza des-sa relação e as lições de atuação adequada, sem
o propósito de traçar um código de conduta, aqual, em última instância, determina um papelpolítico.
Uma agência ordinariamente persegue umapolítica pública, mas o papel político por eladesempenhado que aqui se explora é aquele quedecorre do seu relacionamento com outras fon-tes de poder. As suas decisões não são políti-cas, mas freqüentemente são contaminadaspelas influências externas36. As situações quese vêem a seguir revelam os traços desse papel.
5.1. Tarefas extramandato
Juízes administrativos são convidados, em-bora pouco freqüentemente, a tomar parte emcomissões instituídas pelo governo do dia parainvestigar assuntos específicos, geralmente deinteresse político, podendo sobre ele opinar.Dependendo da reputação da agência adminis-trativa, a presença de seus membros nessas co-missões pode agregar prestígio a elas. O efeitopode ser contrário: a indicação de algum mem-bro poderá fortalecer a reputação da agência.O risco na realização dessa tarefa extramanda-to decorre do proveito político que dela o go-verno tira. O resultado desse benefício poderáminar a autonomia da agência.
Richard Posner sugere que uma agênciaadministrativa é uma forma de judiciário “de-pendente”, estabelecido “to promote the inte-rest group politics rather than allocative effici-ency”37. Isto não é necessariamente uma ver-dade perseguida pela justiça administrativa,mas de algum modo ocorre ou pode ocorrer naprática. A possibilidade de a agência ou seusmembros servirem a uma política de interessede grupos torna-se mais factível na participa-ção em comissões ad hoc cujos membros ordi-nariamente não gozam de autonomia política.A conclusão da comissão poderá representarsimplesmente o pensamento do grupo políticoque sustenta o governo. Nessa hipótese, a par-ticipação da agência por meio dos seus mem-bros, sobretudo sem especificação clara de pa-pel, poderá representar um comprometimentopolítico-partidário, capaz de falsear os objeti-vos da agência.
33 A Agência também tem o dever de observaros direitos individuais. Mas esses direitos são fre-qüentemente contrastados com a função da primei-ra, que realiza um desígnio estatal. Segue-se que,no exercício da sua potestade, a agência – enquantoestado administração fazendo justiça com as suaspróprias mãos – está destituída da vocação de ga-rantir os direitos individuais.
34 Particularmente na década de 70, o então Tri-bunal Federal de Recursos enfrentou tormentosasquestões a respeito de censura de peças de artes,obras literárias, filmes, notícias de jornais e músi-cas. Os motivos da interdição decretada pelo órgãotécnico de censura eram pouco objetivos ou racio-nais. A Corte não chegou a criar uma política judi-cial própria, mas sempre apreciou o mérito da ques-tão.
35 AZEVEDO, apud LEAL, Vitor Nunes. Pro-blemas de Direito Público. Forense, 1960. p. 244.
36 A susceptibilidade da agência a influênciaspolíticas é um fato também ilustrado pelo rápidoturnover dos seus membros conforme observado porPOSNER, op. cit., p. 605.
37 op. cit., p. 605.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 231
5.2. Colaboração institucional
Fala-se em modernização do Estado paracapacitá-lo a responder adequadamente às ne-cessidades da sociedade e aos desafios de ummundo em mudança. Parece inserir-se nesselargo objetivo a articulação dos órgãos do esta-do. A colaboração entre eles deve estar acimade qualquer interesse político-partidário. Oquadro constitucional encoraja essa colabora-ção, mas a força dos interesses individuais fre-qüentemente conspira contra a sinergia que osórgãos são capazes de produzir.
A harmonia entre os poderes é um dos fun-damentos da República. De fato, harmonia podeser traduzida na oportunidade que os poderestêm de desenvolver uma articulada colabora-ção. Protocolos de cooperação são instrumen-tos de aplicação prática do comando da har-monia que, politicamente, acusa a ausência depoder absoluto na República: todos os órgãos,em menor ou maior grau, estão em relação deinterdependência. Isso qualifica um compro-metimento com a colaboração, como elementode maximização da eficiência administrativa epromotor de um relacionamento político, ca-paz de resgatar a sintonia dos instrumentos deregulamentação.
5.3. Prestação de contas ao Executivo ouLegislativo
Em princípio, as agências de concorrênciadevem prestar contas ao Executivo ou ao Le-gislativo, de acordo com a experiência legal einstitucional de cada jurisdição. No sistemaparlamentar, a prestação de contas é em últimainstância feita ao Parlamento. No sistema pre-sidencialista, a tendência é se fazer a prestaçãoperante o Executivo, particularmente à unida-de administrativa à qual a agência está vincu-lada. No primeiro sistema, não há observaçãorelevante. No segundo sistema, um embaraçopode ser criado com insinuações de prestaçãode contas ao Legislativo fora da previsão legal.Um afago político da espécie pode não trazerconseqüências, mas nunca se sabe das inten-ções e dos possíveis efeitos que a atitude, emprincípio inocente, pode gerar38. Há o risco de
as influências políticas, presentes no Congres-so, poderem ser transmitidas à agência39.
Particularmente no sistema presidencialis-ta, Executivo e Congresso podem disputar ocontrole da agência, seja diretamente sobre osseus ou indiretamente sobre o chairman. Se essecontrole sempre existirá, como um fato naturaldo sistema, cumpre regulamentá-lo adequada-mente. Cumpre observar, contudo, que o con-trole político, sob o ponto de vista da teoriajurídica, deve “garantir que as operações cons-tituam um instrumento que irá promover a con-secução de objetivos definidos como pública”40.
5.4. Outras conexões institucionais
Acordos de cavalheiros anticoncorrenciaise a possibilidade de recurso impróprio se con-verteram em dois problemas cruciais que afe-taram a defesa da concorrência brasileira nadécada de 90. Os primeiros diziam respeito aacertos de preços, ainda no tempo de inflaçãoalta, que alguns órgãos do governo estabeleci-am. Tais tratativas nitidamente contribuíampara formação de cartéis privados. Embora ile-gal a conduta, a grande dificuldade da agênciasempre foi penalizar as empresas privadas; soba pressão das autoridades, a elas não restavaalternativa senão seguir a orientação, ou por-que não dizer, imposição oficial. Isso ocorreuparticularmente nos setores de medicamentose alimentos. Uma política institucional deve ad-vogar a busca de aliados no governo41.
Situação peculiar se criou com um recursoadministrativo contra a primeira decisão doCade no caso Gerdau42 para o titular da Pastada Justiça. O argumento que ornava o recurso
38 Vale aqui repetir a observação de Castñeda:“competion policy is only one component of generaleconomic policy. It does not happen in a vacuumand it is essentially a high-risk activity that must bedistanced from politics as much as possible”. op.cit.
39 A especulação é recolhida da experiência dePosner que sugere serem os órgãos administrativosencarregados da aplicação do direito público partede um processo político. op. cit., p. 602 e 605.
40 Para uma reflexão teórica e crítica sobre oassunto,conferir “Dever de prestar contas e respon-sabilidade administrativa : concepções alternativas”,por Daisy de Asper e Valdés. R. Inf. Legisl. v. 25, n.99, p. 29 a 56.
41 Cf. Catañeda que escreve: “Government day-to-day issues create many opportunities for anticom-petitive action. Competition policy must be part ofthe basic creed of key government officials not onlyto undo entrenched anticompetitive arrangementsalready affecting social welfare, but also to stop newlegislation/regulation/decisions that go against com-petition principles”. op. cit.
42 AC 16/94 - requerentes Grupo Gerdau, KorfGmbH

Revista de Informação Legislativa232
dizia com o devido processo legal. Conato aeste, como acreditava o recorrente, a revisãoda decisão no âmbito administrativo seria umaexigência constitucional. Minou-se a autono-mia da agência e, mais do que isso, pôs-se emrisco a sua existência institucional. O episó-dio, que mostrou a ousadia do lobby político,não foi totalmente exaurido, visto que o prece-dente pode encorajar semelhante ação no futu-ro. Como o recurso nunca foi julgado, a omis-são da autoridade ministerial desautoriza o pre-cedente, lembrando que a sua invocação emsituação concreta poderá outra vez converter-se em fonte de crise política.
A assistência do governo quanto a acertosde preços não é um acontecimento impossível.O assunto continua com um viés político, nosistema brasileiro de defesa da concorrência.Com efeito, a instrução dos processos de con-dutas sobre o tema fica a cargo de órgãos queatuam sob a orientação de autoridades políti-cas43. A legislação atual deixa margem paraconclusão de compromisso tomado pelo órgãoque dirige a instrução visando à cessação deprática de aumentos excessivos ou injustifica-dos de preços. A menos que medidas estrutu-rais eficientes façam parte desses compromis-sos, o termo de cessação poderá ocasionalmen-te se converter em instrumento de controle depreço. A resistência eventualmente oferecidapelo Cade a um tal procedimento é sempre fontede conflito. A eliminação deste é um desafioao sistema.
5.5. Doutrina da State Action44
A política da concorrência freqüentementegera atrito com outras políticas de governo,desafiando a legalidade e/ou conveniência daatuação de outras autoridades governamentais,notadamente em setores submetidos à regula-mentação econômica. Isso exige uma delicadaarticulação e nem sempre a agência está pre-parada para fazer essa interface institucional.
Variando conforme a cultura legal de cadajurisdição, o poder da agência de constrangerautoridades públicas a fazer ou deixar de fazeralguma coisa pode ser reconhecido quando,num setor regulamentado, o regulamento é ina-dequado ou omisso, ou ainda a autoridade nãoexerce adequadamente a supervisão prevista emlei ou regulamento. Como resultado, o órgãogovernamental termina contribuindo para aadoção de conduta ofensiva à concorrência porparte dos agentes que desenvolvem certa ativi-dade econômica regulamentada. A agência daconcorrência, geralmente, enfrenta grandesdificuldades para adotar medidas corretivas dafalha de mercado cujo cumprimento, não rara-mente, depende da boa-vontade da autoridaderegulamentadora. A repercussão política decor-rente de um atrito ou conflito administrativorecomenda um esforço discreto, senão diplo-mático, em busca de um resultado que minimi-ze os custos, reservando os remédios judiciaispara as situações extremas.
5.6. Aspecto da revisão judicial
A revisão judicial se realiza em resposta àsquestões trazidas ao exame da corte sem preo-cupação com os amplos objetivos de uma polí-tica previamente estabelecida. Os remédiosbuscados na revisão judicial visam corrigirações ilegais, não prescrições para futura con-duta da administração45.
A justiça administrativa tende a se orientarpelos princípios da economia (eficiência dosmeios), velocidade nas decisões, capacidade deadaptação à variação de condições, flexibilida-de nas tecnicidades formais, pouca aderênciaou vinculação aos seus precedentes e formaçãoeclética dos membros do colegiado. Ademais,
43 A instrução sob a orientação de autoridadespolíticas mais o fato de o presidente do Cade ser ocanal político da agência caracterizam a naturezasemipolítica da defesa da concorrência. Esta reali-dade torna inócua a distinção entre órgão de gover-no e órgão de estado algumas vezes bradada paraatribuir ao Cade um status que, se verdadeiro, so-mente existe no plano formal. A defesa da concor-rência ganha traços de política de Estado, enquantoobjetivos básicos do consórcio estatal. Mas na me-dida em que os órgãos que implementam essa polí-tica se contaminam de interesses do governo do dia,a defesa da concorrência se identifica com o mesmogoverno. Isto não é um exercício de interpretação, éum fato. O comando de uma política da concorrên-cia partilhado com autoridades políticas é criticávelpela dificuldade de se estabelecer uma estratégiacomum de ação, consistente e duradoura, embora omodelo seja juridicamente acomodável. Esclareça-se que o fato de uma autoridade ser qualificada comocanal político não é necessariamente um demérito;o mérito dela está na qualidade do seu trabalho que,em se tratando de julgamento, deve atender à exi-gência do devido processo legal.
44 Sobre o desenvolvimento dessa doutrina najurisdição americana, ver ABA Antitrust Section, op.cit.,v. 2, cap. 11.
45 MCELDOWNEY, John. Administrative justi-ce. In: BLACKBURN, Robert. Rights of Citizenship.Mansell, 1994. p. 159.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 233
a justiça administrativa combina prática comteoria, busca uma abordagem multidisciplinare se submete a uma revisão interna e externa.Há uma crença de que esse formato é mais ade-quado à defesa do interesse público do que arigidez do sistema judicial.
A diversidade de estrutura da justiça admi-nistrativa e do sistema judicial nem sempre écompreendida. Pelo contrário, às vezes é moti-vo de críticas. É importante que a agência tomeemprestado alguns predicados das cortes judi-ciais, mas não deve se judicializar. O Judiciá-rio tem um papel indiscutível, mas se a agên-cia se converte, em todos os sentidos, numacorte judicial ela perde a essência da advocaciada concorrência46 e se submete a uma forma decontrole muito particular. O fato destacável éque o controle judicial continua insubstituívelpela capacidade de as cortes contribuírem paramanutenção dos altos padrões de administra-ção pública que a agência deve perseguir.
A conotação política que se desponta norelacionamento da agência com o Judiciáriodecorre da interação entre as instituições. Ocontrole judicial abre a perspectiva de corre-ção de uma política da concorrência, por exem-plo, desenvolvida autonomamente mas conta-minada com padrões de administração públi-ca, que inclui a vocação natural para formularpolíticas e aplicá-las. Ao mesmo tempo o Judi-ciário, que é chamado a decidir um grandenúmero de ações privadas sobre o mesmo as-sunto abordado pela agência, termina conta-minado dos conceitos e praxes que a mesmaagência desenvolve. Em suma, é inevitável que
a influência da agência se projete na jurispru-dência judicial ou na própria discrição judicial.
5.7. A agência e a mídia
A propaganda constitui a base financeiramais importante da imprensa. Isso pode gerarcomprometimentos e afetar a precisão na apre-sentação das notícias e a responsabilidade dodebate de um modo geral. Os grandes comis-sionadores da propaganda privada são os gru-pos de pressão que têm uma grande capacida-de de influenciar as forças de mercado. Não ésurpresa que eles usem a mídia, que dependedeles, para canalizar os seus interesses. Essarealidade deturpa as reais funções política, so-cial e cultural da imprensa47.
É certo que a dependência da mídia em re-lação aos grupos de pressão é de alguma formamitigada pela regulamentação estatal e pelocompromisso formal, induzido pelo regulamen-to, de imparcialidade no tratamento justo e equi-librado da informação. A experiência, todavia,tem revelado que esses valores, em si vulnerá-veis, têm se submetido a uma permanente ten-são entre as funções da imprensa, enquantoentidade, e os seus interesses comerciais. Oresultado é uma manipulação da imagem, quepoderá ganhar proporções gramáticas, episo-dicamente, e produzir um sentimento esquizo-frênico de amor e ódio a refletir a relação daagência com a mídia. Tudo, porém, não estáperdido.
A imprensa tem um lado positivo, que é apossibilidade de melhorar o desempenho daagência. A atuação desta é rotineiramenteacompanhada por repórteres que oferecem obenefício do esclarecimento à sociedade sobredecisões que afetam a configuração de merca-do. As notícias plantadas na imprensa, porém,nem sempre correspondem fielmente à políti-ca da agência. Essa assimetria pode ser resul-tado da falta de especialização dos repórteresou é produto dos interesses, nem sempre reve-lados, que estão por trás do noticiário. Qual-quer que seja o diagnóstico, a mensagem é decautela da agência ao se envolver com a im-prensa.
A cautela não deve ser lida como atitudehostil à mídia, que deve ser utilizada para pas-sar a mensagem correta e, sempre que possí-vel, responder aos anseios da sociedade comoum todo. O risco ou custo desse relacionamen-to deve necessariamente ser avaliado regular-mente, tendo em vista a política da agência e o
46 O sumário da Conferência sobre política daconcorrência, realizada pelo Banco Mundial em1996, conceitua advocacia da concorrência como “theability of the competition office to provide advice,influence and participate in government economicpolicy formulation and decision-making, promotingmore competitive industry structures and firm beha-viours. It is a function that needs to be strengthenedand formally embodied in a competition law. Com-petition offices should be able to ‘proactively’ fos-ter competition by lowering barriers to entry, pro-moting deregulation and trade liberalisation. A com-petition advocacy function will also tend to fostergreater accountability and transparency in govern-ment economic decision making and give rise tosound economic management and business princi-ples in both the public and private sectors”. (Com-petition policy in a global economy: a latin ameri-can perspective. World Bank, OECD : Buenos Ai-res, 28-30 out. 1996. p. 45).

Revista de Informação Legislativa234
seu mandato legal. Acima de tudo, é extrema-mente odioso e contrário aos desígnios legais ouso da imprensa para satisfazer os desejos pes-soais da autoridade que, em vaidosas manifes-tações de fins inconfessáveis, lança-se a umapolítica de marketing da instituição, que se con-funde com a promoção da imagem pessoal48.Uma tal conduta, além de incompatível com osfins perseguidos pela agência, revela um des-preparo da autoridade.
5.8. Aspecto da função promocional
Uma questão atual que tem suscitado co-mentários é saber se, na aplicação da políticada concorrência, há espaço para um papel con-ciliatório da agência. Em caso positivo, inda-ga-se qual seriam os limites dessa função e osriscos dela decorrentes. Para responder positi-vamente à indagação, o texto emprega a ex-pressão função promocional49 como subtítulopara desviar os preconceitos em torno das pa-lavras conciliação, negociação50 ou transação.
A conciliação se desponta como um traçomarcante do direito moderno51, sendo um ins-tituto de larga aceitação no direito brasileiro52.
Embora restrita, a sua aplicação estende-se aotrato das relações de direitos indisponíveis. Atransação, como elemento da conciliação, é ple-na nas relações de direitos disponíveis e parci-al nas de direitos indisponíveis, naquilo quenão contrariar a lei53.
Outras leis esparsas adotam a conciliaçãosob outros títulos jurídicos. O “compromissode ajustamento de conduta” é previsto na Leide Ação Civil Pública54, sendo largamente apli-cado em matéria do consumidor55. O “com-promisso de cessação de prática” e o “compro-misso de desempenho” são instrumentos pre-vistos na Lei de Concorrência56. Na área cri-minal, a transação penal é de alguma formaadmitida nas penas alternativas, na extinçãoda punibilidade pelo pagamento do tributo an-tes da denúncia por crimes fiscais57, bem assimno sursis processual a respeito de pequenas in-frações penais58. Tudo isso representa formasmodernas de composição no direito público.
O sentido de transação ou barganha admi-tida pela ordem jurídica acima desenhada põea agência, em situações peculiares, na posiçãode sugerir condições que permitam a empresaou empresas aproveitar a oportunidade paraexercitar sua generosidade e abreviar a inves-tigação. Esse envolvimento da agência é parteda advocacia da concorrência, mas não deveprejudicar o múnus a ela atribuído de protegera concorrência ou o mercado59. Não se deve,
47 BLUMLER, Jay G. (ed.). Television and thepublic interest: vulnerable values in West Europe-an Broadcasting. Sage, 1992.
48 Uma política da concorrência baseada em ima-gem (marketing-based policy) pode se converter emfraude à sociedade.
49 A expressão foi inspirada no direito promoci-onal de Norberto Bobio, Dalla struttúra alla funzi-one : studi del teoria del Diritto. 1977.
50 Sobre o processo de negociação ou bargain nocontrole das concentrações na União Européia, verDamien Neven, Robin Nuttall e Paul Seabright.Merger in Daylight. CEPR, 1993. p. 78, 151/152,154, 160, 204 e 225.
51 No âmbito do direito internacional vale con-ferir os princípios de cooperação relativos à políticaantitruste. Um sumário desses princípios, destacan-do-se o positive ou discretionary comity, pode serencontrado em Limiting Intellectual Property, theCompetition Interface, tese do autor, seção 6.3.2.Ainda, James R. Atwood, 1991 Fordham CorporateLaw Institute, capítulos 4 e 6 (ed. Hawk). Na Suíça,a Comissão de Cartéis tem um papel mediador emcasos de pequena importância; ela adota uma políti-ca seletiva nas investigações relativamente aos pro-cessos de concentração. Cf. Competition policy inOECD countries: 1989-1990: OECD Report. 1992.p. 252-253.
52 A base jurídica é formada a partir da Consti-tuição Federal, que prevê para órgãos públicos atri-buições conciliatórias ou de transação, nos termos
da lei (art. 98). O CPC é um instrumento legal ordi-nário que contempla o assunto com amplitude: arti-gos 121-IV, 277, 331, 447 parágrafo único, 448, 449,585-II e 1122.
53 Algumas leis especiais: Lei de Alimentos (ar-tigos 6º, 9º e 11 parágrafo único), Lei de Divórcio(artigo 3º §§ 2º e 3º), Lei dos Juizados Especiais,artigos 2º, 8º § 2º, 22 e 24), Lei de GerenciamentoCosteiro (L. 7.661/88 - matéria de lesões ambien-tais, art. 7º).
54 Lei 7.347/85, art. 5º § 6º acrescentado peloart. 113 do CDC (Código de Defesa do Consumi-dor).
55 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos inte-resses difusos em juízo. p. 240-248.
56 Lei. 8.884/94, artigos 53 e 58.57 Lei 8.137/90, art. 14 hoje revigorado.58 Lei 9.099/95, artigos 89 e 90.59 A defesa do mercado não se confunde neces-
sariamente com protecionismo. O conceito de mer-cado pode ser estabelecido como um feixe de rela-ções jurídicas entre fornecedores e consumidores,bem como produtores ou distribuidores de bens eserviços entre si. Essas relações revelam, freqüen-temente, interesses conflitantes subordinados a leis

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 235
todavia, perder a consciência dos riscos ine-rentes à atividade conciliatória.
Certamente, o desempenho de uma funçãopromocional como aqui definida expõe a agên-cia às influências de grandes agentes, que po-dem usar a mídia como um veículo de pressão,prestígio e poder. Na prática, essa influênciapoderá ocorrer pelos destaques na imprensa e,dessa forma, canalizar forças políticas para re-duzir o papel da agência ou neutralizar suasações com base em critérios não-jurídicos, po-dendo ainda comissionar a cobertura da im-prensa de modo a angariar a opinião pública.Tudo isso sugere que a agência deve adotar umaatuação discreta, mas não renunciar a sua vo-cação promocional, no sentido de envidar osmelhores esforços para promover o direito. Aagência deve, sim, mostrar-se refratária às pres-sões, já que não há como eliminá-las, e não sesubmeter aos seus encantos60. Daí a ação pro-mocional é desenvolvida no contexto de umarelação jurídica de subordinação e não de co-ordenação.
A conciliação poderá, pois, ser admitida porliberalidade, não em todos os casos, mas na-queles em que a autoridade, no exercício dasua atividade de advocacia da concorrência,perceber que eventual efeito adverso é passívelde reversão por mais de um meio sem acarre-tar ônus indevido a um ou mais agentes envol-vidos. As condições impostas devem correspon-der ao dano ou potencial de dano objetivamen-te identificado, guardando um senso de pro-porcionalidade. Das mesmas condições nãodevem resultar prejuízo para terceiros ou paracoletividade, tampouco ofensa à concorrência.Respeitados tais requisitos, a conciliação ten-de a reduzir os custos do processo, abreviandosoluções e oferecendo rápidas e transparentes
respostas61 às falhas de mercado. A função pro-mocional, que supera o sentido de conciliação,enseja, enfim, que as empresas explorem todasas possibilidade de realização do direito da con-corrência. Esse exercício exploratório não dis-pensa a orientação da agência, sobretudo nasjurisdições em que a cultura da concorrência ébastante insipiente62 e o serviço de defesa daconcorrência padece de estrutura adequada.Mediante a função promocional, a agência as-sume um papel positivo na busca dos melhoresresultados na aplicação do direito.
6. Justiça administrativa:à cata de um modelo
Ao cabo da exposição, percebe-se que umaagência da concorrência está envolvida em doistipos de interesses: interesses externos e inte-resses internos. Para qualificar a realidade ob-servada, esses dois conjuntos de interesses es-tão sob o controle de dois outros conjuntos deelementos. São eles as normas e as ações-reações.
Os interesses externos representam as ex-pectativas criadas pelas forças do mercado, in-cluindo agentes, pessoal do governo, impren-sa, políticos e todos os indivíduos que de umaforma ou de outra se relacionam com o serviçode defesa da concorrência. Os interesses inter-nos estão representados pela atuação dos mem-bros da agência e seu staff qualificado. Nemtodos os interesses são legítimos. São ilegíti-mos aqueles interesses que estão fora de umpadrão legal ou regulamentar preestabelecido.As ações expressam a atuação dessas mesmaspessoas no sentido de verem os seus interessesatendidos.
A partir desse quadro, alguns pressupostospodem ser estabelecidos:
• a multiplicidade de interesses determinaeconômicas que fazem parte de um processo dinâ-mico. Esse processo pode ser incentivado, no senti-do de que, observando-se regras éticas e de eficiên-cia, se possa maximizar a satisfação dos agentesenvolvidos nas suas posições ativas e passivas. Daí,proteger o mercado significa zelar pelos interessesdos agentes envolvidos e pela manutenção do equi-líbrio desses interesses. Enquanto um bem jurídicoem si, esse processo de troca e de produção de bense serviços pode ser considerado parte integrante dopatrimônio nacional. Em síntese, proteger o merca-do significa assegurar respeito pelo consumidor epugnar por uma concorrência livre e sustentável.
60 O perfil dos membros da agência exige notá-vel saber e reputação ilibada testados pelo Senado.Isso é adequado às adversidades da posição.
61 Confiram-se as remarks de Gabriel Castñeda,especificamente a do tipo fix-it-first possibilities,sob o título Elements for competition Law lnforce-ment: Seminário sobre Política da Concorrência eReformas Econômicas. OCDE, Banco Mundial,CADE e IBRAC, Rio de Janeiro, 10-13.7.97.
62 A experiência tem revelado que muitas fir-mas se envolvem em condutas ilegais não porquedesejam, mas porque desconhecem o direito e prin-cípios da concorrência. Diante dessa realidade, oórgão atua como um agente catalisador, capaz deencorajar atitudes proconcorrenciais (competitioncompliance action).

Revista de Informação Legislativa236
uma tendência a conflitos;• os conflitos tomam a feição de disputas,
nas quais vencem os mais fortes ou a maioria,dependendo dos instrumentos de ação utili-zados;
• os interesses legítimos devem ser respei-tados;
• o respeito aos interesses depende de limi-tes adequadamente definidos, fora dos quais ne-nhuma composição é possível;
• a justiça administrativa contém uma pro-posta de composição ou equilíbrio dos interes-ses qualificados, função que lhe exige o desem-penho planejado de diferentes papéis.
Os princípios segurança jurídica, interessepúblico e devido processo legal formam a es-trutura da justiça administrativa. A despeito dasua relativa objetividade, esses pilares são umaforma de tratamento racional e justo dos inte-resses básicos que movimentam o processo dedecisão, no seu mais amplo sentido. Mais doque uma crença, isto está refletido na legisla-ção e na prática ou experiência diária dos tri-bunais administrativos que, diferentemente dascortes judiciais, estão subordinados ao coman-do constitucional do planejamento obrigatóriodas ações jurídicas.
A expectativa é que quanto mais claras ouprevisíveis forem as regras do jogo, maior aprobabilidade de a agência realizar os objeti-vos que perseguem. Isto é, uma suposição e umadefesa que permeia todo o texto. A regulamen-tação adequada das condições formais e a de-claração de valores que ornam essas condiçõesformam a melhor resposta aos desafios da jus-tiça administrativa. Essa estrutura analíticapermite construir um modelo de justiça admi-nistrativa que incorpora um conjunto de prin-cípios básicos, comprometimentos com proces-so e com a planificação jurídica, capazes deassegurar o desempenho eficiente de um duplopapel: discricionário e político.
Modelo de justiça administrativa
PAPEL
DISCRICIONÁRIO
SJ IP
DLP
COMPROMETIMENTO COM
PLANIFICAÇÃO JURÍDICA
PAPEL
POLÍTICO
COMPROMETIMENTO
COM PROCESSO
b b
→
→
←
←
Os instrumentos de planificação jurídicarepresentam um comprometimento da justiçaadministrativa com o planejamento. Esse com-prometimento é guiado por dois princípios: vi-gilância (surveillance) e justificação. Nesse par-ticular, cumpre destacar a opinião do autor alhu-res63 defendida:
“Surveillance is necessary to the ex-tent that it makes state action effectiveby capturing the best opportunity to act,
63 Tese, final do capítulo 2, sob o destaque “Gui-dance to the state catalyst function”.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 237
while de process of justification makesthe implementation of the legal policy,in a particular situation, reasonably ac-ceptable to the parties concerned”.
O planejamento acusa as falhas na organiza-ção da agência e busca estabelecer mecanismosde controle da qualidade do serviço ou dos re-sultados.
O resultado da planificação tende a refletirum ajustamento de interesses internos confli-tantes, compostos pela maioria dos membrosda agência64. A expectativa é que as preferên-cias individuais não devem boicotar a resolu-ção da maioria, mas é crucial identificar e re-gistrar, por meio de instrumentos adequados, oproduto da vontade dessa mesma maioria, docontrário perde-se o escopo dos comprometi-mentos da agência, inabilitando-a ao desem-penho do seu papel discricionário e político.
Formular, desenvolver e aplicar uma polí-tica legal é sempre um convite a abusos, pelapossibilidade de se varar os limites da açãoadministrativa, que deve se pautar pelo gover-no da lei. Isso é tanto mais verdadeiro na pre-sença de uma advocacia arrojada65 da concor-rência, que representa um formidável poder nasmãos de altos oficiais a quem a lei confere au-tonomia e independência de ação. Daí o de-sempenho dos papéis centrais da agência de-ver ser orientado por rígidos freios intrínsecosmesmos à estrutura da justiça administrativa,como resultados de comprometimentos.
O papel discricionário representa um com-prometimento com a qualidade da administra-ção da justiça, ou seja, com a eficiência, orga-nização e controle do serviço de aplicação dodireito. Preocupar-se com a qualidade é buscarum modelo que seja capaz de combater injusti-ças66. Isso não estaria completo sem o devidotratamento ao papel político.
O elemento político se revela nas relaçõesda agência com os outros setores do governo, oParlamento e setores influentes da sociedade.O papel político nem sempre é ostensivamenteassumido. Mas a consciência da sua existênciae da sua delicada natureza permite a agênciaavaliar constantemente os seus riscos e benefí-cios67, bem assim se preparar para exercer oseu papel com personalidade e sem faltar comos seus comprometimentos institucionais.
Como todo o cidadão, os membros de umaagência gozam da livre manifestação do pen-samento e de crença, inclusive a política. Emrazão da profissão, os juízes administrativos,como os togados, devem se abster de revelarseus pendores políticos, mas isso não retiradeles a capacidade natural de pensar, formarsuas convicções políticas e agir ou fazer esco-lhas inspirados nelas. Esse fato da naturezahumana é tão forte e inegável que determina anecessidade crucial de uma agência revelar sualinha de pensamento, indicando, de formatransparente, os princípios que orientam suapolítica, organização e atuação do órgão68.
64 Vale lembrar, como paralelo, a dinâmica in-terna da Sumprema Corte americana envolvida nosconflitos dos seus membros sob a influência de lo-bistas e da imprensa, segundo o relato de Bob Woo-dward & Scott Armstrong, Por Detrás da SupremaCorte . Tradução Torrieri Guimarães. 2. ed. Sarai-va, 1985. p. 88-89, 102, 117, 222-239, 556-60. Tra-dução de: The brethren, inside the Supreme Court.
65 Isto é, eficiente, incentivadora, rápida, sim-ples e transparente.
66 A preocupação com as injustiças cometidaspela justiça administrativa motivou os trabalhos depesquisa em seis países organizado pelo professornorte-americano Kenneth Culps Davis. Para ele “theclusters of injustice in all six countries lie in theadministrative application of governmental power
in the absence of systematic fact-finding and beyondthe reach of previously existing law that controlsthe result”. Ele acrescenta: “the strongest need andthe greatest promise for improving the quality ofjustice to individual parties in the entire legal andgovernmental system are in the areas where decisi-ons necessarily depend more upon discretion thanupon rules and principles and where formal hearin-gs and judicial review are mostly irrelevant”. op.cit., p. 1-3.
67 De um modo geral, as autoridades da concor-rência aceitam que é importante para a efetividadedo seu trabalho que a agência mantenha uma inter-face política.
68 Este é o rationale dos dispositivos que defi-nem a competência do Plenário do Cade, sobretu-dos os incisos XIX, XX e XXI do art. 7º e art. 51 daLei nº 8.884/94.
Bibliografia
ANTITRUST Law Developments. 3. ed. AmericanBar Association, 1992. v. 2.
BARAK, Aharon. Judicial Discretion. Yale Univer-sity Press, 1989.
BIELSA, Rafael. Derecho Administrativo. 4. ed.Buenos Aires : El Ateneo, 1947. v. 1.
BLUMLER, Jay G.(Ed.). Television and the publicinterest: vulnerable values in West EuropeanBroadcasting. Sage, 1992.

Revista de Informação Legislativa238
BOBBIO, Norberto. Dalla struttúra alla funzione:nuovi studi di teoria del Diritto. Ed. di Comuni-tà, 1977.
CASTAÑEDA, Gabriel. Elements for competitionlaw enforcement: outline for remarks: palestrano Seminário sobre Concorrência e ReformasEconômicas. Organização conjunta de OCDE,Banco Mundial, CADE e IBRAC, Rio de Janei-ro, 10-13 Julho 1997.
DIREITO da concorrência nas comunidades euro-péias : regras aplicáveis às empresas. 1994. v.1A.
DAVIS, Kenneth Culp (Ed.). Discretionary justicein Europe and America. University of Illinois,1976.
FINKELSTEIN, Michael O., LEVIN, Bruce. Sta-tistics for lawyers. Springer-Verlag, 1990.
SILVA, A. C. Fonseca da. Direito Tributário : atitu-de científica e pensamento jurídico eqüitativo.R.T.J.E. v. l. 74, p. 9-28.
_________. Limiting intellectual property: the Compe-tition Interface. Universidade de Londres, 1996.Dissertação (Doutorado) – Universidade de Lon-dres, 1996.
_________. Liquidação extrajudicial: multicred, devidoprocesso legal. R.T.J.E. v. 66, p. 61-80.
_________. Técnica legislativa e função criadora da ju-risprudência. R.I.L., n. 75, p. 137-176, jul./set.1982.
JACKSON, B. S. Law, fact and narrative coheren-ce. DC Publications, 1988.
LEAL, Victor Nunes. Problemas de Direito Públi-co. Forense, 1960.
LINARES, Juan Francisco. Poder discrecional ad-
ministrativo. Abeledo-Perrot, [s.d].MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos interesses
difusos em juízo. 6. ed. Revisa dos Tribunais,1994.
McELDOWNEY, John. Administrative justice. In:BRAKBURN, Robert. Rights of citizenship.Mansell, 1994.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discriciona-riedade e controle jurisdicional. Malheiros,1992
NEVEN, Damien et al. Merger in daylight. CEPR,1993.
OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Ato administrati-vo. 3. ed. Revista dos Tribunais, 1992.
POSNER, Richard A. Economic analysis of Law. 4.ed. Little Brown , 1992.
WADE, E.C.S., BRADLEY, A. W. Constitutionaland Administrative Law. 10. ed. Longman, 1988.
WALTAMAN, Jerold L., HOLLAND, Kenneth H.(Ed.). The political role of law courts in mo-dern democracies. St. Martin’ Press, 1988.
VALDÉS, Daisy de Asper. Dever de prestar contase responsabilidade administrativa: concepçõesalternativas. R.I.L., n. 99, p. 29-56. jul./set. 1988,
WHITE, Robin. Lawyers and the courts. In Rightsof Citizenship, BLACKBURN, Roberto. Man-sell, 1994
WOODWARD, Bob, ARMSTRONG, Scott. Pordetrás da Suprema Corte. Tradução TorrieriGuimarães. 2. ed. Saraiva, 1985.
COMPETITION policy in a global economy: a latinamerican perspective : interpretative summaryof the conference, 28-30 de outubro de 1996,Buenos Aires.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 239
1. IntroduçãoQuestão alguma toca mais diretamente a
vigência e a garantia da Constituição que aquelaque concerne à jurisdição, no exercício da qualtodos os direitos assegurados no sistema sãopostos a salvo ou restabelecidos em caso deameaça ou lesão.
Os séculos XVIII e XIX foram do PoderLegislativo, enquanto no século XX predomi-nou o Executivo. As condições históricas for-jam suas próprias necessidades e as respostasnecessárias a cada qual das situações que seoferecem ao resguardo das liberdades públicas.O século XX vê o seu final mostrar a face reca-tada e quase sempre silenciosa do Poder Judi-ciário como a garantia essencial dos direitosfundamentais. Todos os indicativos que se têmsão de que sobrevém uma quadra na qual essePoder terá um papel decisivo no modelo deEstado e de sociedade que predominará. Logo,o figurino jurídico a ser não apenas posto, massobretudo aplicado em cada sociedade, de-
A Reforma do Poder Judiciário
Cármen Lúcia Antunes Rocha é Advogada.
“É claro que a justiça, sendo cega, não vê se évista, e então não cora”.
MACHADO DE ASSIS
SUMÁRIO
1. Introdução. 2. A Constituição-Cidadãtalhada, retalhada e retaliada. 3. A Constituição eo Poder Judiciário. 4. O Poder Judiciário e ademocracia. 5. O Poder Judiciário e a cidadania.5.1. O acesso à justiça. 5.2. A eficiência da justiçaou a justiça que tarda, falha. 5.3. A eficácia dadecisão jurisdicional. 5.4. Poder Judiciário e osDireitos Humanos. 6. Conclusão.
CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA

Revista de Informação Legislativa240
penderá essencialmente do Poder Judiciário.Daí que o próprio paradigma a ser adotado paraa reconstrução orgânica do Poder Judiciário epara a forma de se desempenharem as funçõesque lhe são entregues, e mesmo essas funções,são repensadas.
No turbilhão de idéias e experiências quese amalgamam neste final de década, final deséculo, final de milênio, que correspondem,paralelamente, ao início de outra década, deoutro século e de outro milênio, logo, início deoutra sociedade, o questionamento sobre as ins-tituições, especialmente as estatais, tem umrelevo incontestável.
Há que se realçar o que se viveu, sem medode se experimentarem novas aventuras políti-cas. Contudo, este novo que surge antes quetenha desaparecido o antigo – se é que a expe-riência anterior pode ser assim considerada –estabelece um quadro de névoa e ilusão mes-clado a laivos de certeza e definição. O homemvive o novo que vem chegando antes de deixarde viver o velho que ainda não partiu. No mes-mo espaço de uma vida se tem a contradiçãode existências diversas se encontrando, se en-trecruzando, não poucas vezes como conflitos,aparentes ou não.
Para o Judiciário, como para as demaismanifestações políticas, quer-se o novo para omesmo homem de sempre, busca-se uma idéianova de justiça para a mesma dimensão huma-na livre e vocacionada à felicidade do ser – cadavez mais escondido no “ter” – de todos os mo-mentos, guarda-se a mesma preocupação como indivíduo numa sociedade dita “de massa”,na qual a proliferação de conflitos solúveis pelotoque único do juiz, cuja presença mesmo físi-ca se exige, traz bem à face de todos e de cadaum a condição efervescente vivenciada peloquestionamento que se põe sobre o viver comos outros.
Não se pense, pois, que apenas o Brasil as-siste a uma discussão sobre o Poder Judiciário,ou sobre o seu papel, ou sobre o papel do Direi-to, de qual Direito, para qual Estado.
Entretanto, nem por ser uma conjectura quese propõe em vários outros pontos do mundose haverá de deixar de discutir o Poder Judiciá-rio nacional, os problemas que são peculiaresà contingência histórica que aqui se vive paraos que aqui querem viver.
É na esteira do que se põe, do que se pro-põe, do que se expõe à discussão na chamada“reforma do Poder Judiciário”, e que se debatejá no fórum parlamentar, que expresso algu-
mas idéias sobre o tema neste breve estudo.De se realçar que nele se parte, antes de
tudo, do entendimento de que o momento nãoé apenas de uma reforma, mas de uma trans-formação do pensamento jurídico e dos mode-los que lhe são inerentes. A justiça que se quercomo ideal não se afasta dos modelos pelosquais ela se dá a saber na sociedade.
2. A Constituição-Cidadã talhada,retalhada e retaliada
Não se há de debruçar sobre a questão dareforma do Poder Judiciário sem antes se dizeruma palavra sobre a Constituição, na qual elese põe, desenha-se e segundo cujos termos elese organiza.
Preambularmente, há de se afirmar que semuma Constituição forte não há Poder Judiciá-rio forte. Vale também o inverso. Sem um Po-der Judiciário forte, não há Constituição forte.
O constitucionalismo brasileiro, pródigo emmodelos normativos de boa qualidade e de bomnível material, alguns mesmo progressistas emrelação aos demais textos vigentes em outrosEstados, sempre teve uma prática pouco afeitaao quanto posto e disposto no Direito.
No Brasil, o Poder Público sempre foi mui-to pouco público e sempre quis ser muito Po-der. Nesta condição, aquele que o exerce não ofaz em nome do povo na verdade. Povo é ape-nas um apelido mal cunhado, que não traduz aessência do exercício do poder do Estado nahistória nacional. Triste história quanto a estetema...
O sentimento de Constituição, que se tra-duz na emoção e na confiança política do povoem relação aos fundamentos segundo os quaisele pretende viver para realizar os seus ideaisde Justiça, revela-se no respeito às normas ena sua observância integral. Os efeitos produ-zidos pela ordem jurídica é que promovem asmudanças sociais que determinam a superaçãoda barbárie e da falta de civilidade, que condu-ziriam ao extermínio do próprio homem. Semesse sentimento de Justiça, que se expressa pelaconfiança do povo no Direito que se positiva,não se tem verdadeiramente a prevalência deuma condição civilizatória.
Daí a importância da fé de um povo no seusistema de Direito, resumido pela confiança queele deposita em sua Constituição, na qual seresume o seu ideal de vida política e o seu mo-delo de convivência no espaço público.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 241
Numa história de pouca democracia e demuito autoritarismo a prática constitucional sefaz sempre com dificuldades. Autoritarismoestranha limites; e essa é uma das funções daConstituição: traçar balizas além das quais nãose pode aventurar aquele que exerce o poder.Conquanto a existência da Constituição seja im-prescindível à experiência democrática, é cer-to que a sua mera formulação não se faz bas-tante. É necessário o texto, mas não o é menoso contexto constitucional, a dizer, a condiçãoplena de sua aplicação e de produção de seusefeitos.
No Brasil, os eventuais detentores do po-der preferem “escrever em papel em pauta”,na sempre lembrada fala de Vargas.
Não é estranhável, pois, que a Constitui-ção da República de 1988, enfatizada em suavocação democrática a realçar o cidadão brasi-leiro como centro da organização sócio-política,tenha despertado não apenas algumas reaçõescontrárias à sua promulgação, como, o que é mais,um movimento que pretendeu vilipendiá-la des-de os primeiros momentos de vigência.
Com assertivas que vão desde críticas à suaforma até outras que se lhe estranham e com-batem o conteúdo, a Constituição da Repúbli-ca de 1988 não se fez promulgar sem que hou-vesse tenaz adversidade ao seu advento, pre-tensamente modificador do quadro de desigual-dades jurídicas, políticas e econômicas que,historicamente, tem predominado no País.
Antes mesmo do final dos trabalhos cons-tituintes 87/88, o texto que viria a se tornar aConstituição passou a ser objeto de continua-das críticas de alguns setores, especialmenteaqueles que se sentiam de alguma forma atin-gidos em seus privilégios até então mantidos.
Daí não causar espécie que se tenha bus-cado alterar a Constituição para “ajeitá-la” aoscontornos que a tornassem adequada aos para-digmas anteriormente adotados.
E teve início, então, o processo de revisio-nismo e de reformismo do sistema constitucio-nal inaugurado em 1988.
Vivemos, hoje, com uma Constituição re-talhada e retaliada.
Retalha-se a Constituição ao promover-se asua reforma consecutiva, permanente, em dosesque não são pequenas nem desimportantes.
Ao contrário. Mesmo considerando-se quehá passagens que mereceriam aperfeiçoamen-to, é certo que o que se cobrou não foi o acaba-mento do processo de sistematização constitu-cional para que, numa experiência que não se
mostrasse a contento, se pudesse alterar o seuquadro normativo para uma melhor adaptaçãoaos ideais e objetivos nacionais. O que se veri-ficou desde as primeiras experiências reforma-doras foi a tentativa ininterrupta de se tocar ocoração do sistema, modificar-lhe a alma e fa-zer com que uma nova Constituição viesse a seencravar no ordenamento jurídico.
Paralelo ao movimento nacional voltado àdesconstitucionalização e mesmo à desjuridi-cização, próprios dos interesses de grupos em-poleirados no poder há séculos, sobreveio aquestão mais extensa, internacional, do neoli-beralismo e da globalização econômica. Repro-duzindo o mesmo modelo de colonialismo an-tes apresentado na história, o neoliberalismotornou-se “moda” “politicamente correta”,embaraçando conquistas sociais, entravandopropostas coerentes com as novas demandaspolíticas do povo, extinguindo direitos. Nadaveio de novo, mas a mundialização do poderde quem detém a força econômica determinaum figurino estatal que não vinha sendo cons-truído ao longo da história deste século XX.
Os retalhos da Constituição vêm sendo lan-çados pelos nove anos que se vão desde a suaorigem. A década da desjuridicização passa peladesconstitucionalização, que vê romper umcabedal de direitos fundamentais que se vinhaalicerçando sob o signo de uma sociabilidadecomprometida com o princípio da solidarieda-de juridicamente acalentada.
Agora se cogita que quanto menos regrasditadas pelo Estado houver, tanto mais fácil amercantilização tecnológica dominará sem pei-as o mercado. Mercado de homens, não apenasmercado de coisas.
Quanto menos direito significará, contudo,também menos justiça?
Qual o Direito e qual o Judiciário para umEstado contingenciado pelo neoliberalismo glo-balizante e globalizado? Quer-se um Judiciá-rio? Será ele necessário?
A Constituição não sofreu apenas uma “re-talhação”, mas principalmente uma “retalia-ção”. Tem hora e vez o desagravo dos gruposdominantes contra os cidadãos que se viram abraços com novos direitos quando promulgadaa Constituição de 1988.
A colcha de retalhos, que chegou a ser lem-brada na vigência da Carta de 1967, não tar-dou a envolver mais uma vez o direito consti-tucional positivo brasileiro.
A Constituição é um sistema harmonioso.A harmonia normativa perdida é um desarran-

Revista de Informação Legislativa242
jo jurídico a tornar vulnerável não apenas osdireitos, mas os homens que os titularizam. Oprocesso a que se assiste agora, de retalhamen-to e de retaliação constitucional, passa exata-mente pelo esgarçamento do sistema políticodemocrático protetor de direitos e garantidorda cidadania.
Se para que a Constituição seja garantidaé necessário um Poder Judiciário forte em to-dos os Estados, naquele em que a democracia éum ideal (pouco mais que um sonho) buscadopor uma minoria e a cidadania ainda engatinhaem sua organização, ele se faz um dado impres-cindível, não apenas para a sobrevivência dela,mas para a vivência política dos homens.
3. A Constituição e o Poder JudiciárioConforme acima lembrado, há uma vincu-
lação estreita, necessária e permanente entre aConstituição, sua função e sua eficácia, e oPoder Judiciário, sua função e sua independên-cia em relação aos demais poderes.
A democracia constitucional depende dademocracia judicial. A força da Constituiçãoata-se à eficiência do Poder Judiciário.
O Judiciário fez-se poder, ultrapassando,assim, a sua condição de mera autoridade, oumesmo apenas um braço do Poder Executivo(ou mais propriamente do Rei em tempos anti-gos), pela Constituição moderna. A ela coubecunhar a nova estrutura do poder, na qual oprincípio da separação de poderes passou a fun-damentar o sistema. Do artigo 16 da Declara-ção dos Direitos do Homem e do Cidadão fran-cesa, de 1789, veio a fórmula segundo a qual aadoção daquele princípio determinava a pró-pria existência da Constituição. E o paradig-ma da “separação de poderes” afirmava-se nalição de Montesquieu, então aproveitada pelosautores do documento revolucionário dos oito-centos. Para o Barão francês
“la liberté politique ne se trouve quedans les gouvernements modérés. Maiselle n’est pas toujours dans les Étatsmodérés; elle n’y est que lorsqu’onn’abuse pas du pouvoir; mais c’est uneexpérience éternelle que tout homme quia du pouvoir est porté à en abuser; il vajusqu’à ce qu’il trouve des limites... Pourqu’on ne puisse abuser du pouvoir, il fautque, par la disposition des choses, le pou-voir arrête le pouvoir... Il y a dans cha-que État trois sortes de pouvoirs: la puis-sance législative, la puissance exécutri-
ce des choses qui dépendent du droit desgens, et la puissance exécutrice de cellesqui dépendent du droit civil... Toute lapuissance y est une; et, quoiqu’il n’y aitpoint de pompe extérieure qui découvreun prince despotique, on le sent à cha-que instant”1.
A imprescindibilidade de se entregar a fun-ção jurisdicional a um corpo de magistradosindependente dos demais órgãos burocráticosestatais patenteia-se, no pensamento de Mon-tesquieu, pela necessidade de deter o cidadão“esta tranqüilidade de espírito” que lhe é asse-gurada pela certeza de que a lei será o únicolimite que se lhe impõe e que dela derivam asdiretrizes que balizam as condutas públicas emesmo particulares.
A Constituição escrita e impressa – e, pois,democraticamente distribuída aos cidadãos quepassam, então, a conhecer os seus direitos e apoder reivindicá-los a partir de tal ciência –erigiu a função jurisdicional a uma das maisimportantes manifestações estatais e organizoua sua prestação por órgãos dotados da sobera-nia própria do Poder do Estado e afirmados coma independência que os tornam desvinculadosdos governantes de cada momento histórico.
Mas se a Constituição garante a condiçãode Poder do Judiciário, não é menos verdadei-ro, nem menos importante, que é a existênciadeste Poder do Estado – separado e, especial-mente, independente dos demais – que garantea existência e a eficácia da Constituição. Já naobra O Federalista, esclareciam os pais do sis-tema jurídico norte-americano que
“aceitando, então, que as cortes de justi-ça devem ser consideradas como baluar-tes de uma Constituição limitada, opon-do-se às usurpações do Legislativo, dis-poremos de um forte argumento em fa-
1 Para o pensador francês, importante seria queas três funções não permanecessem no mesmo ór-gão, nem fossem detidas pela mesma pessoa: “toutserait perdu si le même homme, ou le même corpsdes principaux, ou des nobles, ou du peuple exer-caient des trois pouvoirs: celui de faire des lois, ce-lui d’exécuter les résolutions publiques, et celui dejuger les crimes ou les différends des particuliers.Dans la plupart des royaumes de l’Europe, le gou-vernement est modéré, parce que le prince, qui a lesdeux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l’exercicedu troisième. Chez les Turcs, où ces trois pouvoirssont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreuxdespotisme”. (De l’esprit des lois. Paris: Aux Editi-ons du Seuil, 1964. p. 587).

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 243
vor da estabilidade nos cargos judiciais,uma vez que nada contribuirá tanto paraa sensação de independência dos juízes– fator essencial ao fiel desempenho desuas árduas funções. Esta independên-cia dos juízes é igualmente necessária àdefesa da Constituição e dos direitos in-dividuais contra os efeitos daquelas per-turbações que, por meio das intrigas dosastuciosos ou da influência de determi-nadas conjunturas, algumas vezes enve-nenam o povo e que – embora este rapi-damente se recupere após ser bem infor-mado e refletir melhor – tendem, entre-mentes, a provocar inovações perigosasno governo e graves opressões sobre aparcela minoritária da comunidade”2.
Daí por que uma das normas de garantiada Constituição moderna é exatamente a querespeita o controle da constitucionalidade dasnormas infraconstitucionais entregue, freqüen-temente, no modelo jurídico ocidental, ao Po-der Judiciário.
Daí, também, a criação da denominada “jus-tiça constitucional”, pela qual as questões ati-nentes à própria existência e à eficácia da LeiFundamental são entregues à competência deum órgão jurisdicional específico.
É que esta matéria condiciona a forma daprestação jurisdicional, vez que dela dependemtodas as outras, que porventura possam ser tra-zidas à solução do Estado.
Ademais, a função jurisdicional tem natu-reza excelentemente fundamental. A sua pres-tação estatal realça a passagem da barbárie àcivilização. Desta é exemplo definitivo a cons-trução do Estado. É na adoção de uma idéia dejustiça a condicionar o projeto político tornadoo Direito fundante do Estado e na garantia deque o sistema no qual se estratifica tal idéiaserá rigorosamente observado que se põe a se-gurança jurídica do indivíduo. É desta segu-rança que nasce o acatamento do Direito peloindivíduo e a sua incursão ao Estado (basica-mente ao Poder Judiciário) ao invés de fazerjustiça pelas próprias mãos. Da confiança, pois,de que a Constituição garante a jurisdição in-dependente e eficiente e que o Poder Judiciáriogarante a Constituição suprema e eficaz derivaa civilização constitucional a dominar as insti-tuições políticas e a impor os princípios demo-cráticos que presidem as sociedades modernas.
Resulta, pois, da crença no sistema consti-tucional a confiança no Poder Judiciário. E,paralelamente, da confiança na atuação destePoder nasce a segurança depositada no siste-ma jurídico-constitucional.
O Estado constitucional é um Estado ga-rantidor da jurisdição.
No Estado constitucional, a jurisdição é quedá segurança a todos os direitos, especialmen-te aqueles que são considerados fundamentaise que, portanto, se ameaçados ou lesados, de-pendem da atuação do Poder Judiciário para oseu pronto restabelecimento.
De que adiantaria o rol dos direitos decla-rados fundamentais pela Constituição e garan-tida a sua inviolabilidade no sistema se, viola-dos, não fossem eles restabelecidos por um po-der competente e independente? Quais os efei-tos da dicção constitucional garantidora de di-reitos, se nasce da convivência sócio-política apossibilidade, sempre presente, de haver o seudesrespeito?
A idéia de justiça se oferece ao aperfeiçoa-mento concreto em casos postos à solução doEstado quando e onde haja um sistema jurídi-co e uma estrutura política institucionalizadasegundo um modelo que assegure a plena eficá-cia dos seus ditames, especialmente no que serefere aos direitos fundamentais reconhecidos.
A Constituição oferece ao homem seguran-ça jurídico-institucional. O Poder Judiciáriogarante ao homem segurança concreta fruívelno plano individual e daí passando ao planosocial. A segurança individual e social estápotencializada na palavra da Constituição erealizada na fala do Poder Judiciário, quandoa força única da norma não se fizer bastante arefrear excessos transgressores de direitos.
A Constituição é necessária; é imprescin-dível em sua existência e em sua eficácia. Masnão é bastante a impedir a adoção de compor-tamentos que contrariam direitos. Tanto seriapróprio de uma sociedade de anjos. Esse não éo Estado dos homens. Daí porque, necessáriaque seja, ela não é bastante em si para dispen-sar que os órgãos e poderes, por ela mesmaconstituídos e segundo ela institucionalizados,garantidores da jurisdição a desfazer conflitoshavidos na sua vigência, façam-se atuantes eeficientes.
A convicção constitucional passa pela con-fiança do cidadão no Poder Judiciário. O senti-mento constitucional tem moradia certa no co-ração da Justiça. A Constituição, a democraciae o Poder Judiciário guardam estrita vincula-
2 HAMILTON, Alexander, MADISON, James,JAY, John. O Federalista. Brasília: Ed. Universida-de de Brasília, 1984. p. 579.

Revista de Informação Legislativa244
ção, umbilicalmente ligados como se achampara a segurança do homem no Direito sob oqual conduz a sua vida e exerce a sua liberdade.
Disso resulta que, entre os direitos funda-mentais listados nas declarações ou no corpodas normas constitucionais que os contém, con-templa-se expressamente o direito à jurisdição.
Assim, os arts. VIII e X da Declaração Uni-versal dos Direitos do Homem, ditada pelaONU em 1948, estabelecem que
“Toda pessoa tem direito a um recur-so efetivo perante as jurisdições nacio-nais competentes contra os atos que vio-lem os direitos fundamentais que lhe sãoreconhecidos pela Constituição e pela lei.
Toda pessoa tem direito, em plenaigualdade, a que a sua causa seja ouvidaeqüitativamente e publicamente por umtribunal independente e imparcial, quedecidirá seja de seus direitos e obriga-ções, seja da legitimidade de toda acusa-ção em matéria penal dirigida contraela”.
No Brasil, a Constituição da República es-tabelece, em seu art. 5º, inciso XXXV, que alei não poderá excluir da apreciação do PoderJudiciário lesão ou ameaça a direito3.
4. O Poder Judiciário e a democraciaCerto que a Constituição traça uma estru-
tura político-institucional que permita tornar-se efetivo o que nela se contém apenas em pa-lavras – expressão da criação jurídica –, pare-
ce igual e paralelamente exato que é da coe-rência entre o quanto posto e disposto no siste-ma jurídico sobre a competência garantidorada inviolabilidade dos direitos fundamentais(ou restabelecedora deles quando comprometi-dos se achem) e a possível demanda social re-sultante das práticas correntes no grupo cuida-do que se tem a excelência do ordenamentojurídico fundamental.
E é da observância integral e dinâmica (atu-alizadora) do sistema constitucional que nascea convivência democrática segundo o Direito.O Estado Democrático de Direito depende, en-tão, da constitucionalização legítima do proje-to político da sociedade configurada sob o mo-delo estatal; da atualização permanente do sis-tema constitucional pela jurisprudência cria-dora, recriadora e criativa do Direito que im-peça o seu esclerosamento e a sua defasagemdas necessidades sócio-políticas, ou seja, de-pende do Direito vivo e em permanente movi-mento para ter sintonia com a sociedade; coma eficiência do sistema jurídico aplicado paraque a democracia não se transforme em anar-quia, menos ainda em demagogia. Não se quero Direito eficaz, mas carente de povo, dele afas-tado, pois tanto desaguaria em práticas políti-cas ilegítimas, conquanto legais; nem se aspi-ra ao Estado sem Direito, pois a democracianão conduziria à segurança, em cuja crença sebaseia o povo para renunciar ao exercício ab-soluto de suas liberdades.
Quer para a rigorosa aplicação do quanto
3 Nessa norma repousa o direito-garantia funda-mental à jurisdição. Diversamente de outros textosconstitucionais vigentes, nos quais, como anotadoacima, a expressão normativa é direta no sentido daexistência do direito à jurisdição, na Constituiçãobrasileira a norma encarece o limite de atuação ne-gativa do legislador. É ele proibido de restringir odesempenho do Poder Judiciário ressalvando maté-rias ou situações configuradoras de lesão ou amea-ça a direito de sua apreciação. Note-se que a Cons-tituição afirma que o núcleo do desempenho juris-dicional está na “apreciação” do caso pelo PoderJudiciário. Quer dizer, ao legislador (ou ao consti-tuinte reformador, por força do art. 60, parágrafo4º, inciso IV, combinado com o art. 5º, inciso XXXV,ambos da Constituição) não é dado excluir de julga-mento (pelo poder competente) lesão ou ameaça adireito. Não se pode cogitar, pois, de ser entregueao Poder Judiciário apenas o conhecimento de umcaso e a aplicação a ele de decisão prolatada emcaso diverso, pois tanto corresponderia a que aque-le caso não seria objeto de “apreciação” pelo PoderJudiciário, o que configura o núcleo do “tipo consti-
tucional”, ou seja, a própria norma contida no dis-positivo.
A razão de se ter preferido essa fórmula, ende-reçada ao legislador, está na História brasileira ex-perimentada na década de 30. No período da dita-dura Vargas não poucas leis excluíam da apreciaçãodo Poder Judiciário questões que seriam a ele enca-minhadas para que direitos desrespeitados fossemrestabelecidos ou ressarcidos. Daí a fórmula indiretaadotada.
De outra parte, a Constituição de 1988 amplioua configuração constitucional do direito-garantia àjurisdição. Nesta, diversamente do quanto se tinhaanteriormente, não se realça a jurisdição como ins-trumento garantidor de direitos fundamentais, masde qualquer direito.
Ademais, não apenas a lesão ao patrimônio ju-rídico de alguém, mas também a ameaça incita ajursidição, faz nascer o direito a ela. Tanto significadizer que a jurisdição preventiva – aquela que sepõe antes do completamento do gravame – tornou-se direito constitucional fundamental no sistemabrasileiro.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 245
posto no texto jurídico vigente, quer para aaplicação objetiva e com rigor do quanto pro-posto no contexto jurídico e nele pescado pelooperário especializado e competente para a in-terpretação e para a aplicação do Direito de-mocrático, o Poder Judiciário faz-se necessá-rio. De verdade, melhor seria afirmar, talvez,que o Direito não se põe, mas se compõe nocurso da vigência de um sistema. Neste finalde século XX, a composição do direito faz-sepelo movimento da sociedade captado em suasidéias, quando de sua madureza, pelos órgãosestatais competentes e pelos organismos soci-ais ativamente participantes do processo de ela-boração ou de reelaboração de idéias e ideolo-gias. A própria doutrina articula-se, hoje, emescolas das quais brotam e frutificam idéiasjurídicas que refluem para a sociedade e paraos órgãos estatais especificamente envolvidosno processo de reprodução do Direito.
Direito produz-se na sociedade e formali-za-se no Estado; mas reproduz-se, democrati-camente e engajadamente, num movimento quevai da sociedade ao Estado e de volta à socie-dade.
A Constituição aberta promove a interpre-tação jurídica aberta, significando tanto a atu-ação permanente e direta dos cidadãos e de seusorganismos sociais e políticos no sentido dacriação e da recriação dos institutos jurídicos.
A democracia qualifica aquela dinâmica.Em efeito. Direito petrificado, parado, eterni-zado em um único entendimento é impróprio àqualidade democrática que a agitação socialpropicia. Democracia é movimento. A estáticapolítica é própria do regime antidemocrático.
Como a multiplicação frutificadora do Di-reito tem que se compor com a segurança jurí-dica, o Poder Judiciário passa a desempenharum papel inédito na conformação histórica dasinstituições estatais. Ao lado da função tradi-cional de solução de conflitos particulares e doslitígios havidos entre cidadãos e entidades pú-blicas (mas sempre unipessoais ou litisconsor-ciais), no desempenho da qual o juiz é “escra-vo da lei” e seu mero aplicador, vê-se impor,neste final de século, uma função jurisdicionalvoltada à prevenção de litígios, à solução deconflitos plurais e não mais meramente singu-lares e à aplicação do Direito recomposto e re-criado, diuturnamente, numa gestação perma-nente da sociedade. A função social do juiz eos fins sociais do Direito libertam a lei de seutexto fincado no momento de sua feitura ou desua promulgação. A democratização do Direi-
to passa pela efervescência judicial e pela am-pliação funcional do Judiciário.
A jurisdição achega-se à natureza aberta daConstituição atualmente concebida em ambi-ência democrática.
A jurisdição constitucional, à sua vez, ges-ta-se permanentemente no movimento políticoda sociedade repensada e dinamizada num tur-bilhão que se multiplica na mesma proporçãodo número de jurisdicionados e de cidadãosconstitucionalmente vinculados.
A sensibilidade política, feita chaga socialnum mundo de diferenças e de novas formasde escravidão, faz com que a libertação e a igua-lação política, além da jurídica, sejam objeti-vos dos indivíduos na universalidade dos ho-mens conviventes.
A jurisdição passa a ser muito mais impor-tante na vida de cada um e de todos em razãode sua condição única de baluarte no qual sepodem sustentar as liberdades públicas. AConstituição, pilar sustentador destas mesmasliberdades, faz-se viva na jurisdição excelente-mente prestada e universalmente assegurada.Porém, mais que uma Constituição-Cidadã, háque se obter um Judiciário do cidadão. Sem umnão há outro.
5. O Poder Judiciário e a cidadaniaO Poder Judiciário é sede da cidadania ati-
va. Não é apenas no voto em representante seuno Poder Executivo ou em membro do PoderLegislativo que a cidadania se completa. Estevoto é uma manifestação temporalmente deli-mitada, legalmente definida e circunstancial-mente objetivada para o exercício do que teriasobrado como poder do povo.
A jurisdição, diversamente, é uma via deagitação permanente da cidadania. É por elaque o Direito faz-se vivo e insuperável pela atu-ação de quantos pretendam transgredi-lo. É pelaprovocação da jurisdição que o cidadão faz comque o Direito seja universalmente acatado eigualmente imposto a todos. É pela jurisdiçãoque direitos políticos – como aqueles que sereferem ao governo honesto, às políticas públi-cas voltadas à concretização de princípios cons-titucionalmente definidos e objetivos juridica-mente estabelecidos são honrados pelos queestejam no exercício de funções públicas – quese refreia o Poder Público nas estritas balizasdo Direito.
Daí porque negar a jurisdição é renegar aConstituição; é negar, em verdade, o Direito

Revista de Informação Legislativa246
em sua função, em seu vigor e em seus fins.Não há democracia garantida sem jurisdiçãoassegurada aos cidadãos. Não há Constituiçãoeficaz sem Poder Judiciário eficiente, tal comoacima advertia.
A jurisdição cumpre-se, democraticamen-te, pelo desempenho de três etapas de um per-curso estatal que vai do acesso assegurado aocidadão ao órgão judicial competente, passapela eficiência da prestação e aperfeiçoa-se naeficácia da decisão proferida no caso apresen-tado.
5.1. O acesso à justiçaa) A jurisdição inicia a sua trajetória nos
umbrais do prédio em que se encontram os ór-gãos judiciários competentes. Daí porque a di-ficuldade posta ao ingresso em juízo e à ad-missão nos locais onde esta esboça a sua açãoconfigura constrição indevida ao direito à ju-risdição.
Aquele que se autodenominou “sem terra”não pode se sentir à vontade em um “Palácioda Justiça”. Quem mal tem um chão a palmi-lhar sente-se constrangido nos extensos corre-dores abarrotados de gravatas e engraxates adominar os passos.
Mais que isso. Parece exato afirmar-se quea pletora de processos num mesmo espaço con-duz, necessariamente, a uma burocratizaçãomorosa e frustrante de ações. Não há como umaserventia judicial cumprir a sua tarefa (de ser-vir) com presteza com uma montanha de pro-cessos, em cujas pilhas se empoeira a sensibi-lidade do servidor deles encarregado. As coi-sas repetidas reiteram sentimentos e sensações,que se vão perdendo com a constância de suavisão. Multidões de partes que se ajuntam nummesmo balcão provoca a banalização de suaangústia pela decisão judicial pela qual cadaum espera. A parte processual, encostada nobalcão sensaborrento, faz-se anônima e desim-portante, não interessa a ansiedade que lhe vin-ca a face: ela não tem mais face humana e, afi-nal, diz-se que a justiça é mesmo cega... O ser-vidor, repetidor de gestos iguais e mecaniza-dos, torna-se igualmente anônimo e desimpor-tante. E a própria jurisdição faz-se, assim, anô-nima e... desimportante para o atingimento deseus fins precípuos.
Posto que as ações tendem a se multiplicar– pela jurisdicionalização de matérias antes nãocuidadas, como, por exemplo, meio ambiente,consumidor etc., e pelo crescimento do núme-ro de cidadãos em todo o mundo – bem como
os direitos aviam-se para ser objetos de buscasmais assíduas, parece certo supor que o cami-nho mais factível para o encontro do cidadãocom a jurisdição que lhe é assegurada consti-tucionalmente não é a reunião de julgadores eprocessos num mesmo espaço, mas a descen-tralização física, espacial dos órgãos compe-tentes a prestá-la e a especialização dos mes-mos segundo a matéria a ser por eles apreciada.
b) Além da acessibilidade física aos locaisde atuação dos magistrados, é de se relevar apertinência jurídica dos requisitos materiaisimpostos ao cidadão interessado no desempe-nho judicial. Cuida-se, então, de observar se oquanto se estabelece legalmente como condi-ção prévia relativa a valores devidos para o ajui-zamento de uma ação e, posteriormente, parao acionamento das instâncias recursais guardacoerência com o direito constitucional à juris-dição.
Enquanto os serviços públicos essenciais(como, por exemplo, a segurança pública e aeducação fundamental, ou a saúde) são asse-gurados como direitos constitucionais funda-mentais fruíveis gratuitamente, o serviço pú-blico judicial é o único – de igual natureza e deidêntica sede – a ser exercitável mediante pa-gamento de valores estabelecidos legalmente.
Nenhum outro direito constitucional, con-siderado fundamental e listado no art. 5º, daConstituição da República, sofre o mesmo tipode limitação. Note-se que a jurisdição é umamanifestação da liberdade individual. Livrepara entender e até mesmo para interpretar odireito e aplicá-lo segundo a inteligência quelhe empresta, o cidadão que duvide ou se in-conforme com determinada situação, na qualse contenha o que lhe parece ameaça ou lesão adireito, pode buscar, no órgão judicial compe-tente, o restabelecimento da sua segurança ju-rídica ou o ressarcimento pela sua ruptura. Masimpõe-se-lhe que pague por esse serviço esta-tal. Poder-se-á debater sobre a pertinência ju-rídica do pagamento exigido de custas judici-ais até onde tal imposição não tolha o exercí-cio do direito constitucional do cidadão ou nãolhe onere em demasia. Todavia, quando se temnaquele ônus um embaraço ou um entrave aoexercício do direito, é de se ter como inconsti-tucional aquela cobrança. Custas judiciais nãopodem entravar o exercício de direito constitu-cional fundamental. O embaraço assim estabe-lecido por norma infraconstitucional infirmatodo o sistema e rompe a segurança jurídicaque o ordenamento pretende garantir.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 247
Ademais, é de se salientar que as custas ju-diciais não se podem constituir fonte de recur-sos estatais para a satisfação de necessidadespúblicas, que teriam que ser atendidas pelopagamento dos impostos. Esses têm de supriras demandas essenciais, uma das quais é, exa-tamente, a prestação da jurisdição. Pelo queimpor ao cidadão custas judiciais para o exer-cício do seu direito fundamental à jurisdição,mais ainda, para reverter o resultado deficitá-rio de recursos financeiros obtidos com a exe-cução de serviços públicos (ainda que parale-los ou de igual natureza aos judiciais) obriga-tórios para o Estado, parece inteiramente con-trário aos princípios e aos preceitos constitucio-nais.
c) O acesso à “justiça” passa, ainda, pelaeducação cívica de todas as pessoas. Conside-rando-se que somente pode aceder à reivindi-cação o direito conhecido e que se crê desres-peitado, é de se supor que o acesso à justiçaestá tolhido quando não se oferece ao cidadãoo direito à informação mínima, porém correta,sobre os seus direitos. Quem não conhece di-reito não busca o seu cumprimento. Não se afer-ra a resguardar o seu direito aquele que delenão dá notícia.
Num Estado como o brasileiro, em quegrande número de pessoas não sabe que temdireitos, que não conhece o Poder Judiciárionem sabe identificar os seus contornos, os seusmodos, os seus agentes, que mal sabe ler e oDireito é escrito e, fosse pouco, hermético emsua apresentação lingüística, é de se supor quesem uma firme transformação desse quadro,qualquer “reforma do Judiciário” não transfor-mará a jurisdição nem a colocará no plano de-sejado, qual seja, o do jurisdicionado, para oqual ela existe e para o qual se há de voltar.
No Brasil, vive-se o descompasso entre umaConstituição aberta e um Direito hermético,com um Poder Judiciário fechado até mesmo àinteligência da universalidade dos brasileiros.Essa inacessibilidade aqui referida já não é maisapenas aquela formal, mas material. Sem aeducação cívica não se há de proceder à mu-dança essencial deste quadro e todas as refor-mas promovidas serão meramente formais e nãoestruturais.
A linguagem concebida como se eruditafosse (e que nem sempre o é) e que impede oingresso do cidadão no mundo dos direitos (tor-nando-o, assim, estrangeiro em seu própriomundo) há que ser refeita para que a voz da leiexpresse a fala do cidadão e que o seu ouvido
se apronte, então, ao som do direito, no qualele se veja refletido.
5.2. A eficiência da justiça ou a justiça quetarda, falha
Ao declarar como direito fundamental docidadão a jurisdição, o Estado encarece nãoapenas que ele poderá ter acesso ao Poder Ju-diciário, mas, principalmente, que se terá umaresposta à demanda posta.
A renúncia à vingança e a fazer justiçapelas próprias mãos teve sempre o seu funda-mento na crença do homem de que o Estadorealizaria a justiça humana concreta despidada emoção que o caso concreto desperta para ointeressado.
Ora, não se realiza tal crença apenas noacionamento do Estado. Antes, ela se revelaconcreta na resposta que a pessoa estatal ofere-ce. Assim, além do acesso à justiça, há que seter por certo que o direito à jurisdição compre-ende o direito a obter uma decisão judicial pron-ta, eficiente, a dizer, produzida tempestivamen-te, dotada da virtude de recompor a situação desegurança jurídica do interessado. Não há efi-ciência tardia. Não há justiça no atraso da pres-tação pleiteada. Vida não garantida é vida per-dida, ao menos naquilo que a lesou. Liberdadeameaçada, lesada, amordaçada é pássaro feri-do de morte. Há que se buscar, pois, a eficiên-cia da prestação jurisdicional, a fim de que te-nha assegurado o direito constitucionalmenteestabelecido e havido como “inviolabilidade”.
Para tanto há que se repensar o sistemaprocessual. Esse não pode ser considerado vá-lido senão naquilo que importe em concretiza-ção dos princípios maiores do devido processolegal, de uma parte, e de uma jurisdição pres-tada de maneira independente, imparcial e tem-pestiva.
Significa dizer que não se pode cogitar deum sistema processual constitucionalmenteaceitável e havido como válido quando ele pro-voca insegurança ao invés de produzir segu-rança para o jurisdicionado; quando ele impe-de o acabamento do processo ao invés de pro-piciar a emissão de decisão saneadora do con-flito ou extintiva da dúvida posta; quando eleobstrui ao invés de promover o curso da ação;quando ele permite a procrastinação do pro-nunciamento final do Estado; quando ele pro-picia o tratamento desigual de partes ao invésde ser instrumento de igualação jurídica.
Em nome da revisibilidade das decisõesjudiciais – aceitável por conta da fragilidade

Revista de Informação Legislativa248
humana – não se pode ter como válida a eter-nização dos processos e a infindável sucessãode recursos que impedem, primeira, a emissãode decisão e, posteriormente, a sua execuçãoem tempo devido.
Parece também certo supor que, exatamen-te por conta daquela multiplicação de temasjurisdicizados, de ações que na esteira do au-mento do número de cidadãos e de titulares dedireitos discutidos se produz, tudo isso condu-zindo a um crescimento significativo da deman-da social de atuação do Estado, haverá que sebuscar a especialização dos órgãos e agentesjudiciais. Não há eficiência judicial quando amultiplicidade de temas impede um conheci-mento fácil das matérias sujeitas à decisão es-tatal. Quanto mais especializados – o que su-põe conhecimento específico – forem os agen-tes e órgãos judiciais, mais facilmente se daráa apreciação dos casos pelo Poder Judiciário,ganhando a cidadania tanto na correção do jul-gamento quanto em relação à rapidez de suaprolação.
Direito não se inventa, menos ainda se im-provisa. Direito se aprende. E o aprendizadoleva o tempo certo da maturação de todas ascoisas dos homens e com os homens. Pelo quesendo a especialização de conhecimentos – emépoca de tantos saberes e tantos correres – umaconstante para se lidar com questões jurídicas,parece ingênuo imaginar que o julgador pode(sozinho ou por meio de seus assessores) che-gar à onisciência e, em seu fluxo, na onipotên-cia olímpica e sobre-humana de pequenos deu-ses. Ademais, quanto mais especializado (semperda da noção da árvore do Direito em suaintegridade), mais profundo e atualizado seráo conhecimento do magistrado. E quanto maisprofunda e atualizada a sua ciência do Direitomais habilitado estará ele a responder pronta-mente ao quanto lhe seja questionado proces-sualmente.
5.3. A eficácia da decisão jurisdicionalNão basta que sobrevenha uma decisão ju-
dicial eficientemente prestada para que se te-nha por garantido o direito à jurisdição. Cuidaque se tenha o seu cumprimento imediato. Aimpunibilidade, que empresta um autênticosentimento de frustração ao cidadão, repousaem sede de decisão bolorenta, sem atendimen-to pronto e satisfatório. A não punição afasta-se do sentido leigo e simplista de negar-se aapenação. Mesmo onde a matéria não seja deimputação de pena, mas de cumprimento de
uma ordem judicial, tem-se o agravo ao senti-mento humano de justiça pela existência de umaação sem decisão tornada efetiva. Decisão ju-dicial que não produz efeitos não promove ajustiça humana buscada pelo cidadão. É pala-vra sem vida. E é a vida o que se quer, em últi-ma instância, garantir-se com a jurisdição cons-titucionalmente assegurada. Poder Judiciárionão sugere, ordena. Se essa ordem vê-se às vol-tas com condutas incompatíveis com aquelaqualidade coercitiva, é de se considerar que osseus efeitos são frouxos e desprovidos da ca-racterística que torna os atos do Estado impo-sitivos e não meramente opinativos no que con-cerne à jurisdição.
Por isso, é de enorme importância que ocumprimento das decisões judiciais pela pes-soa pública seja repensada no modelo brasilei-ro. A fórmula dos precatórios, pelo qual se dãoa executar as decisões contrárias às pessoasestatais, esvaziou-se em seus fins. O precató-rio tornou-se um instrumento de frustração enão de realização da decisão judicial. A pos-tergação do cumprimento do decisum lesa umasegunda vez o direito do cidadão diretamenteinteressado e da própria sociedade, que pre-tende vislumbrar o restabelecimento da nor-malidade jurídica, além de enfraquecer a suaconfiança no sistema posto. Assim, quantoàs decisões relativas à Fazenda Pública, éde se cogitar de novos mecanismos para queo seu atendimento seja tão célere que satis-faça o cidadão e tão segura que garanta aintegridade e a dinâmica do patrimônio pú-blico responsável.
Quanto ao cumprimento das decisões judi-ciais, cuja execução fica a cargo de órgãos in-tegrantes dos outros poderes do Estado (basi-camente do Poder Executivo, nos termos do art.144, parágrafo 1º, IV, e parágrafo 4º, da Cons-tituição da República), é de se sublinhar quedeverá haver uma permanente e sólida integra-ção entre esses e os órgãos de decisão do PoderJudiciário. É que se não há a firme e imediataexecução daquela decisão sobrevém a fragili-zação do Poder Público e a insegurança da soci-edade no seu sistema de Direito. Não muitoraramente a sociedade confunde membros dopoder executivo (basicamente da polícia) comagentes do Poder Judiciário. A base de tal vin-culação confusa está na estreita relação entreas funções exercidas preventiva ou repressiva-mente pelos órgãos da polícia judiciária e a efi-cácia da decisão judicial, que, em alguns ca-sos, depende da atuação daqueles.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 249
5.4. O Poder Judiciário e os direitos humanos
Muito distante ainda tem estado a jurisdi-ção nacional da questão fundamental, em todoo mundo no atual momento histórico, relativoaos direitos humanos. Poucas vezes o PoderJudiciário brasileiro tem posto como fundamen-to central de suas decisões os direitos funda-mentais, arrolados no sistema constitucional demaneira extensa, clara e taxativa.
A eficácia das decisões judiciais passa tam-bém pela eficácia social e jurídica do Direito.E a efetividade do Direito depende também(conquanto não somente) da aplicação das nor-mas pelos órgãos estatais competentes paratanto.
Sendo as normas constitucionais declara-tórias dos direitos fundamentais e constituti-vas das garantias correspectivas o núcleo cen-tral do sistema jurídico, é certo que, quando asdecisões judiciais nelas se embasarem, terãovigor especial e incontestável. Por esta mesmarazão as decisões dotam-se, nesse caso, de efi-cácia social e jurídica superior.
Assim, não se é de desconhecer que a in-vocação das normas constitucionais dos direi-tos fundamentais projetam sobre as decisões,que nelas se fulcrem, força nova e operante,pelo que se há de relevar, sempre, o fundamen-to havido naquela matéria.
6. ConclusãoConsiderando que a transformação do Po-
der Judiciário demanda uma reflexão sobre al-ternativas para o quadro que ora se vislumbra,no qual se nota uma óbvia dificuldade de pres-tação eficiente e eficaz da prestação jurisdicio-nal constitucionalmente garantida a todos oscidadãos, ofereço, à guisa de conclusão e ape-nas como pontos para debate alguns tópicos queme parecem estar a merecer um rebalizamentoinstitucional e jurídico, a saber:
Descentralização judiciáriaExperimenta-se, há algum tempo, a descen-
tralização administrativa como modo de se de-sempenharem as funções executivas. Ciente deque o Poder Executivo não dispõe de onipre-sença para assumir todas as demandas sociais,as Constituições (tanto a Federal quanto algu-mas estaduais) cogitam da criação das regiõesadministrativas, a fim de que o poder se exerçamais perto e prontamente com os cidadãos.
Na mesma linha, parece inexistir razão
para que se mantenha a centralização físicado Poder Judiciário.
Os grandes e únicos fóruns havidos nosMunicípios – especialmente em Metrópoles –tornam não apenas impraticável uma maiorpresença dos juízes na comunidade, um me-lhor acesso dos cidadãos ao Judiciário, como,ainda, burocratiza, concentra milhares de pro-cessos em secretarias absolutamente abarrota-das, de difícil trato e abordagem pelos interes-sados, emperrando, sem solução, o desenlacedos casos.
A descentralização judiciária tornaria, pos-sivelmente, mais baratos os serviços e, comcerteza, mais fácil o acesso aos cidadãos, poiso seu deslocamento até um fórum no centro deuma metrópole é difícil, caro, constrangendo-os sempre.
A existência de fóruns nos bairros ou emregiões dos Municípios devidamente organiza-das romperia esse quadro de absoluta concen-tração judiciária hoje existente. Como há dele-gacias nos bairros, além das delegacias especi-alizadas espalhadas nos Municípios; como háclínicas de saúde públicas também situadas emvárias áreas dos Municípios, para facilitar achegada dos cidadãos até ela; como há escolase delegacias educacionais em vários pontos dosMunicípios, haverá de se pensar a possibilida-de de haver fóruns espalhados em vários pon-tos e até mesmo alguns que concentrem as va-ras especializadas em determinadas matérias,como já existem as de família, de falência econcordata, da Fazenda Pública etc.
Tais fóruns deveriam ser estruturados compoucas varas, multiplicando, assim, o espaçopopular de acesso do cidadão aos órgãos doPoder Judiciário, de tal maneira que a burocra-cia não emperre, às vezes, até mesmo material-mente, a leveza do gesto a produzir a jurisdição.
É certo que tal descentralização seria me-ramente organizacional, mas é identicamenteexato que a influência de tal medida no planodo desempenho material das atividades pareceincontestável.
Em efeito. Quanto mais houver essa des-centralização judiciária, mais o juiz estará apro-ximado do cidadão que o procura e mais pró-ximo estará ele da situação cultural na qual seproduz a situação sujeita a seu juízo.
Não se pretende mais crer num juiz neutro,pairando acima da sociedade na qual ele atua.Ao contrário, busca-se encontrar o “julgamen-to do cidadão pelos seus iguais”. Significa di-

Revista de Informação Legislativa250
zer que quanto mais ambientado estiver ele nacultura na qual ocorre a situação posta ao seuexame, mais detém ele todos os elementos so-ciais havidos na base do caso trazido ao seuconhecimento e à sua decisão. Quer-se, é cer-to, um juiz imparcial, a dizer, aquele que nãose comprometa nem se vincule a qualquer daspartes, mas já não se acredita que a neutrali-dade ou a condição abúlica social e politica-mente de um magistrado promova a melhorjustiça.
O cumprimento do disposto no art. 5º daLei de Introdução ao Código Civil, segundo oqual o juiz deve atender os fins sociais a que sedestina a lei, estará facilitado pela reorganiza-ção dos órgãos do Poder Judiciário, pois o co-nhecimento das condições sociais põe-se demaneira adequada ao quanto objetivado pelosinteressados.
Daí por que, também por esse conhecimen-to mais completo, do contexto no qual se enga-jam as partes de um processo, a proximidademesmo física pode conduzir a um melhor de-sempenho judicial.
Merece uma palavra, ainda, a questão dohorário de funcionamento dos serviços judiciá-rios.
Contrariamente a todos os outros serviçospúblicos, que cada vez mais estendem o seuperíodo de atendimento ao cidadão, os órgãosdo Poder Judiciário persistem na prática de dis-porem de não mais que um curto tempo (nor-malmente de 12:00 às 18:00h) para tal acessodo público.
Num mundo em que os bancos atendem 24horas ao dia, em que o comércio abre durantequase 12 horas ao dia, em que os serviços es-senciais atendem por períodos cada vez maio-res, em que a locomoção física no espaço dascidades é cada vez mais demorado e penoso, édifícil imaginar as razões que determinam queum serviço público essencial, como o é o dajurisdição, mantenha-se nos estreitos limites deum horário apertado para o acesso ao público.
Força é, pois, cogitar-se de novas propos-tas de horários de atendimento ao público nosórgãos do Poder Judiciário, a fim de que se fa-cilite o acesso físico aos mesmos pelos cida-dãos e para que haja uma adaptação daquelePoder à sociedade, e não o contrário.
Regionalização dos tribunais
Tanto quanto a descentralização dos servi-
ços forenses nos Municípios, cogita-se, ainda,de uma regionalização dos tribunais em Esta-dos que tenham área mais extensa.
Os Tribunais de Justiça recebem númerocada vez maior de processos, inclusive no pla-no recursal, que poderiam ser solucionados eminstâncias regionais, mediante a criação deTribunais Regionais de Direito, a congregar,em áreas nas quais se reunissem as competên-cias recursais de diversas comarcas, os casospendentes ali.
Os Tribunais de Justiça, que hoje tendem aum aumento do número de seus membros, nãoconseguem mais resolver as pendências, aindaque aquele aumento se faça em progressão geo-métrica.
Aliás, tal aumento impede que a políticajudiciária, relativa à uniformização da jurispru-dência, à solução de causas de maior comple-xidade e que tangenciem interesses públicosmaiores, possa ser exercida, pois tanto depen-de de um número menor de membros do órgãodecisório.
De outra parte, a proliferação de tribunaisde alçada nas capitais não soluciona a questãoda distância e das dificuldades de deslocamen-to das partes e de seus advogados para acom-panharem e atuarem nos processos de seu inte-resse, o que seria resolvido se houvesse, proxi-mamente à comarca de origem das ações, tri-bunais nos quais se resolvessem as causas.
Ademais, não se há de desconhecer que areunião de processos em Tribunais de Justiçaacaba gerando – tal como ocorre nos fóruns –um acúmulo indevido de processos num únicolocal e sujeitos a decisões que se fazem ofereci-das mais e mais morosamente.
Tal providência teria, ainda, o condão defortalecer a Federação, pois a organização doPoder Judiciário ainda se distancia da autono-mia federativa, mais bem acabada quanto aosdemais poderes dos Estados-membros.
Especialização dos órgãos judiciais
A especialização dos órgãos judiciais, a fimde que da especialização nasça uma facilidadee melhor atuação dos magistrados, parece im-por-se no atual momento.
A complexidade e a diversificação das ma-térias tornadas objeto de tratamento pelo Di-reito deixa claro que não há mais como operarnesse ramo do conhecimento sem que haja umapreparação específica para cada tema.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 251
Por outro lado, quanto mais conhecedor dasmatérias de sua competência for o magistrado,mais rapidamente estará ele habilitado a ofere-cer uma solução em cada caso concreto comque ele depare.
Assim, a especialização dos órgãos e res-pectivos agentes do Poder Judiciário contribuirátanto para a celeridade da prestação jurisdicio-nal pleiteada quanto para a justeza das deci-sões exaradas.
Cuida-se, aqui, de uma descentralizaçãotemática, a dizer, a divisão da competênciamaterial, ensejando que da especialização sepromova uma nova organização judiciária.
Há que se cuidar para que a especializaçãonão seja tão restritiva que imponha a perda davisão de conjunto do Direito, nem tão mesqui-nha, que impeça a garantia de um maior e me-lhor conhecimento utilizado para a decisãobuscada.
Coisa julgada administrativa
Contribui, grandemente, para a perda darespeitabilidade e confiabilidade da eficácia dasdecisões judiciais e para o equilíbrio da atua-ção judicial, o acúmulo de recursos, de carátermeramente procrastinatório, interpostos pelasentidades públicas. Useiras e vezeiras em pos-tergar o cumprimento de decisões judiciaismediante o expediente, muitas vezes leviano,de interpor recursos que impeçam o seu trânsi-to em julgado, as entidades públicas são cam-peãs de descumprimento de sentenças e acór-dãos proferidos contra os seus comportamentos.
Por esta conduta tanto o próprio Poder Ju-diciário queda sem força em sua respeitabili-dade social (vez que a ele é que o leigo, impro-priamente, atribui a morosidade de se executa-rem decisões), quanto o próprio cidadão dire-tamente interessado e que se vê a braços comprocessos intermináveis, a perambularem du-rante décadas pelos corredores e secretarias deórgãos judiciais.
Urge, pois, que se supere tal compor-tamento, mediante a instituição constitucionalda coisa julgada administrativa, pela qual nãose tenha que ver o cidadão com as sucessivasinvestidas das entidades públicas em lhe negardireito que, materialmente, já foi reconhecido.
Tanto não demanda sequer modificaçãoconstitucional, pois bastaria uma mudança nalegislação processual para que se obtenha talefeito. Com isso se restabelece um ponto doEstado de direito que se nota, hoje, completa-
mente descumprido, descumprimento esse pro-movido pelo Estado. Afinal, como o cidadão éobrigado a acatar o quanto determinado peloPoder Judiciário também o é a entidade públi-ca que tenha a sua situação definida, processu-almente, pelo julgador.
Provimento obrigatório dos cargos de juízes
Na constatação da existência de quase qua-tro mil cargos de juízes vagos e enfatizando,ainda, que há um número de cargos de juízes,no país, muitas vezes inferior à demanda soci-al (há um juiz para cada 26.000 brasileiros,enquanto, por exemplo, há um juiz para cada3.000 alemães), é de questionar o que fazer parasanear esse quadro.
As alegações de que os cargos vagos de ju-ízes não são providos por inexistência de con-cursados aprovados na forma exigida mais pa-rece evidenciar a imperiosidade de se refletirsobre a forma de realização dos concursos pú-blicos voltados ao provimento destes cargos.Imaginar-se inexistirem interessados suficien-temente habilitados a acudir ao atendimentodas funções inerentes àqueles cargos seria, nomínimo, ingênuo.
Em verdade, concurso público – como jáafirmamos em outra ocasião – é para selecio-nar os melhores, não para eliminar os candi-datos. Concursos públicos são realizados, nascarreiras jurídicas, com provas que não seri-am, certamente, respondidas nem por magis-trados experientes e de ótimo desempenho nocargo.
Provas são elaboradas por pessoas que, con-quanto conhecedores do Direito, não têm amenor idéia de técnica de elaboração de exa-mes ou de como questionar e objetivar o quequerem saber do candidato para a perfeita ava-liação a ser feita.
Ademais, hoje, em geral, se realizam con-cursos públicos quando um número grande decargos já se encontra vago. Mais acertado seriarealizar-se o concurso para manter-se um ban-co de candidatos concursados aprovados parao seu pronto aproveitamento quando se dessea vacância dos cargos de juiz, de tal modo quenão se mantivessem comarcas com cargos dejuízes vagos a aguardar os demorados proces-sos de realização dos respectivos processosseletivos.
Enfatize-se, ainda, que a criação de cargosnecessários de juízes – para fazer face à

Revista de Informação Legislativa252
demanda onde existam jurisdicionados a de-mandar a prestação do serviço pelo Estado –não pode ser deixada ao sabor de conveniênci-as de políticas de ocasião.
Assim, pela sua condição de serviço públi-co necessário e sustentador do próprio Estadode direito, dever-se-ia pensar na adoção domodelo que hoje prepondera para o serviço deeducação fundamental. Para este há o que sedesigna de geração espontânea de vagas (naverdade seria geração espontânea de cargos):onde houver uma criança em idade escolar, háo dever imediato de se garantir um professor.Ora, onde houver um jurisdicionado a deman-dar a apreciação de uma sua questão jurídica,há que haver um juiz a prestar tal serviço. Nãocabe ao Estado determinar que, ausente juiz nalocalidade do cidadão, desloque-se o interessa-do até a comarca mais próxima para buscar oserviço. Parafraseando Milton Nascimento,poderia dizer que a Justiça tem que ir até ondeo povo está. Compete ao Estado deslocar-se atéo local em que se encontra o jurisdicionado. Éele, Estado, que deve presença permanente emtodos os rincões do país. Portanto, teria quehaver cargos de juiz para fazer face a todas asdemandas sociais relativas a tal serviço. Se onúmero de demandas numa determinada loca-lidade não fizesse jus à manutenção de ummagistrado, em caráter permanente, ali, seriade se restabelecer a figura do juiz de fora. Essese deslocaria para cobrir áreas nas quais sepudessem reunir os processos de interessadosde várias localidades. O que se modificaria emrelação ao quanto hoje se tem seria a caracteri-zação do cargo do juiz itinerante e a freqüên-cia de sua presença nos diferentes locais reuni-dos sob a sua competência.
Preferencialidade de matérias para o julgamento
Para o aperfeiçoamento do Direito há quese relevar que a sua aplicação deve-se dar se-gundo os valores e os princípios tidos comopróprios na sociedade e formalizados no siste-ma de normas adotado, o que impõe uma pre-ferencialidade no desenvolvimento das compe-tências jurisdicionais. Deveras, onde a liber-dade ou a vida estiver em questão não se pode-rá ter como próprio e adequado o aguardo depautas de julgamentos cada vez mais longas emais complexas, causando lesões irreversíveisao patrimônio jurídico do interessado.
Assim, haverá que se estabelecer uma pre-ferencialidade como critério de julgamento para
as ações que respeitarem os direitos fundamen-tais em todas as instâncias, a fim de que o siste-ma jurídico tenha aplicação coerente à hierar-quia dos valores sociais e políticos adotados.
Necessidade de um novo processo
Parece haver consenso, e não apenas nacomunidade jurídica, sobre a necessidade dese reformular, inteiramente, o sistema proces-sual. Remendos nesse tema não resolvem. Mos-tra-se preciso recriar-se o processo, em seusprincípios e, na seqüência disso, de seus ins-trumentos. Concebido, modernamente, paraoferecer segurança ao jurisdicionado, o processoconverteu-se, na atualidade, num fator de em-baraços e de instrumentalização de ineficáciado Direito.
O alongamento das fórmulas processual-mente adotadas, a complexidade dos recursosque se acumulam, em repetições absolutamen-te inaceitáveis, a tornar inoperantes o que deveser instrumento de eficiência da prestação, de-termina que se transformem os figurinos hojeadotados para se desbastarem os excessos quepromovem a eternização dos processos e a frus-tração dos direitos.
Não se é de permitir, contudo, que em nomeda celeridade, princípios como o do devido pro-cesso legal, do contraditório e da ampla defe-sa, bem como o da revisibilidade de decisõessejam extintos. O processo continua sendo de-vido. O que se há de repensar é “qual e como”o processo, para que seja ele o adequado e de-vido quanto aos fins realizadores do Direito enão como negadores do sistema jurídico. Prin-cipalmente, qual e como o processo haverá queser pensado, considerando-se o momento his-tórico vivido pelo cidadão: um momento noqual o dia não se fecha com a chegada da noi-te, as fronteiras dos Estados não são mais quemarcos territoriais postos para serem transpos-tos, os homens guerreiam em plena discussãosobre a solidariedade humana. O mundo ficouigual, pequeno e rápido para um homem desi-gual em sua igualdade, enorme em sua peque-nez e tão lerdo em sua condição pessoal quan-to célere em sua condição profissional.
Justiça constitucional: necessidade de umacorte constitucional
Há que se pôr à reflexão sobre a oportuni-dade de se instituir, no Brasil, uma justiça cons-titucional.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 253
Sistemas existem – e desde os albores doséculo que ora se extingue – que concebem oaparato jurisdicional, especializando o cuida-do da matéria constitucional, que é entregue aórgãos incumbidos, exclusivamente, deste tema.
Na seqüência da especialização acima men-cionada, tem-se na especialização orgânica dacompetência para a apreciação de matéria cons-titucional um dos pontos mais delicados.
Em primeiro lugar, porque todos os juízescuidam, ainda que indiretamente, de matériaconstitucional, vez que, ao examinar uma pen-dência e buscar a sua solução no Direito, have-rá o magistrado que atentar à hierarquia dasnormas a incidirem sobre o tema, o que con-verge, sempre, para a Constituição.
Ocorre que, quando o que prepondera ouquando a questão de que se cuida em determi-nada ação é exclusivamente constitucional,haverá que se cogitar da especialização dosórgãos encarregados de se debruçar sobre ela.É que Direito não se improvisa e o seu apren-dizado especializado demanda conhecimentoespecífico, como acima lembrado.
Em segundo lugar, porque as decisões so-bre matéria constitucional acarretam, necessa-riamente, um desdobramento no plano infra-constitucional, pelo que a sua eficácia é dife-rente do quanto se põe em outras matérias.
Assim, especialmente no que concerne àjurisdição nacional, é de se cogitar da criaçãode um Tribunal Constitucional no Brasil.
O Supremo Tribunal Federal, “a quem com-pete, precipuamente, a guarda da Constituição”,nos termos do art. 102 da Lei Fundamental daRepública, é órgão de cúpula da magistraturabrasileira, além de ser o órgão máximo da ju-risdição, inclusive comum, conquanto a seleti-vidade de sua competência constitucional dealguma forma o afaste de questões comuns demenor repercussão social.
Contudo, não se confunde o Supremo Tri-bunal Federal com uma Corte Constitucionalou Tribunal Constitucional.
Preliminarmente divergem os dois órgãospela forma de competência que se confere acada qual. Nos sistemas nos quais se adota aCorte ou Tribunal Constitucional, toda a ma-téria constitucional – e exclusivamente esta –é entregue à decisão definitiva dele. Abre-se,então, a possibilidade de instituição de figurasdesconhecidas nos sistemas influenciados pelomodelo norte-americano tais como a “ação po-pular constitucional”.
Como a Corte Constitucional não é órgãode cúpula do Poder Judiciário – como se dácom o Supremo Tribunal Federal, por exem-plo, no modelo brasileiro –, sedia-se ele, cons-titucionalmente, fora dos três poderes, poisopera apenas como “guarda” da Lei Magnaindependente dos demais poderes. É ela órgãode garantia da Constituição e não dos poderesconstitucionais do Estado.
Em outro ponto, a composição da Corte ouTribunal Constitucional é bem diferente doscritérios adotados em órgão do Judiciário. ACorte ou Tribunal Constitucional é compostade magistrados constitucionais, eleitos para ummandato com prazo determinado (média de setea doze anos), mediante indicação e nomeaçãoque emanam de vários órgãos governamentaise não apenas de uma autoridade, como ocorre,por exemplo, no sistema brasileiro.
Ouvidor-Geral do Judiciário
Na pluralidade de idéias e sugestões que seoferecem no tema do controle do Poder Judiciá-rio, é de se deixar uma palavra a mais para seacrescentar, se for o caso, aos tantos e quantosoutros figurinos já sugeridos.
O controle do Poder Público é característi-ca da democracia. Não há Democracia onde oPoder não seja exercido com o controle do ci-dadão. Por isso, considerando-se fora de dis-cussão e dúvida a condição de Poder do Judiciá-rio, é de se ter por certo que ele haverá queadotar um instrumento mais eficaz de controledo seu desempenho, a fim de melhor adaptar-se à qualidade democrática do sistema adotado,juridicamente, no Brasil.
A sugestão ora oferecida da criação de umaOuvidoria-Geral do Judiciário, órgão que seriaunipessoal e com competências para ouvir asreclamações dos cidadãos relativamente à pres-tação jurisdicional, não tem como fito a insti-tuição de uma modalidade de controle, mas,com certeza, o estabelecimento de um órgão dedemocratização da atividade jurisdicional.
O Ouvidor-Geral do Judiciário seria esco-lhido entre pessoas de notório saber jurídico,inteireza moral e probidade, reconhecido soci-almente pela sua retidão e independência, comtempo mínimo de desempenho profissional emsua área de atuação, não tendo que ser ou tersido magistrado. A sua competência, a ser de-finida por lei, teria que ter como núcleo a oiti-va dos requerimentos e reclamações dos cida-dãos relativas ao desempenho do Poder Judi-

Revista de Informação Legislativa254
ciário e o encaminhamento, para o devido es-clarecimento e justificativa, da situação enfo-cada em cada caso.
A Ouvidoria-Geral do Judiciário poderiapermitir a ruptura da dificuldade cultural, hojeobviamente existente, entre a sociedade (espe-cialmente as pessoas mais pobres) e os órgãosjudiciais.
Considerando-se a necessidade de se repen-sarem os modelos de órgãos judiciais utiliza-dos para a prestação eficiente e eficaz da juris-dição, é de se realçar a atuação dos juizadosespeciais, exemplo de alternativas possíveispara a solução e a prevenção mesma de confli-tos sociais conduzidos ao Estado para a suaresposta.
Importante é, contudo, assinalar-se quequalquer figurino novo a ser estudado não podepassar pela privatização da justiça, pela dis-pensabilidade do Estado e do Poder Judiciá-rio especialmente, porque tanto equivaleria nãosalvar o Judiciário pela sua transformação, masfomentar a sua descartabilidade, voltando-se ao
sistema feudal de justiças particulares, nos quaisos poderosos, donos dos novos feudos, os feudosda era tecnológica dita globalizante e neoliberal,serão os novos senhores do baraço e do cutelo,afastando-se a pessoa política da sociedade.
A leveza e celeridade justas da justiça dopróximo milênio não passa pela não-justiça,nem se afasta da publicidade que a envolve,tanto pela sua natureza de ser devida pela enti-dade pública, como pela condição de ser voltadaao público (ao povo, considerado em sua totali-dade), como, ainda, pela sua característica de serdada ao conhecimento e atuação públicos.
Não se quer um Estado sem justiça. Quer-se uma justiça do Estado para o povo. Quer-seum Estado de justiça concreta para o povo, pen-sando na necessidade de cada cidadão e de todaa sociedade. É por ela que haverá de se fazer aluta de todos e de cada um. Somos todos partesdo mesmo processo político-social. Somos to-dos solidários com aqueles que fazem parte deum processo judicial, litisconsortes cidadãosque somos na ação da democracia da justiça.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 255
1. Democracia formal e democraciasubstancial
Independentemente dos desacordos possí-veis em torno do conceito de democracia, pode-se convir em que dita expressão reporta-se nu-clearmente a um sistema político fundado emprincípios afirmadores da liberdade e da igual-dade de todos os homens e armado ao propósi-to de garantir que a condução da vida social serealize na conformidade de decisões afinadascom tais valores, tomadas pelo conjunto de seusmembros, diretamente ou por meio de repre-sentantes seus livremente eleitos pelos cida-dãos, os quais são havidos como os titulares dasoberania. Donde resulta que Estado democrá-tico é aquele que se estrutura em instituiçõesarmadas de maneira a colimar tais resultados.
Sem dúvida essa noção, tal como expendi-da, maneja também conceitos fluidos ou im-precisos (liberdade, igualdade, deliberaçõesrespeitosas destes valores, instituições armadasde maneira a concretizar determinados resul-tados). Sem embargo, é dela – ou de algumaoutra que se ressinta de equivalentes proble-matizações – que se terá de partir para esboçaruma apresentação sumária de certas relaçõesentre Estado e democracia, algumas das quaissão visíveis e outras apenas se vão entremos-trando a uma visão prospectiva.
A democracia e suas dificuldadescontemporâneas
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
Celso Antônio Bandeira de Mello é ProfessorTitular da Faculdade de Direito da UniversidadeCatólica de São Paulo.
SUMÁRIO
1. Democracia formal e democracia substancial.2. A crise dos instrumentos clássicos da democracia.3. Tentativas de resposta à crise da democracia. 4.Insuficiência dos meios concebidos para salvaguar-da dos ideais democráticos. 5. Possível agravamentoda crise da democracia. 6. Globalização e noelibe-ralismo: novos obstáculos à democracia.

Revista de Informação Legislativa256
Seja como for – e até mesmo em razão dasobredita fluidez dos conceitos implicados nanoção de democracia – ,é conveniente distin-guir entre Estados formalmente democráticose Estados substancialmente democráticos, alémde Estados em transição para a democracia,tendo-se presente, ainda assim, o caráter apro-ximativo destas categorizações.
Estados apenas formalmente democráticossão os que, inobstante acolham nominalmenteem suas Constituições modelos institucionais– hauridos dos países política, econômica esocialmente mais evoluídos – teoricamente ap-tos a desembocarem em resultados consonan-tes com os valores democráticos, neles não apor-tam. Assim, conquanto seus governantes (a)sejam investidos em decorrência de eleições,mediante sufrágio universal, para mandatostemporários; (b) consagrem uma distinção,quando menos material, entre as funções le-gislativa, executiva e judicial; (c) acolham, emtese, os princípios da legalidade e da indepen-dência dos órgãos jurisdicionais, nem por isso,seu arcabouço institucional consegue ultrapas-sar o caráter de simples fachada, de painel apa-ratoso, muito distinto da realidade efetiva.
É que carecem das condições objetivas in-dispensáveis para que o instituído formalmen-te seja deveras levado ao plano concreto da re-alidade empírica e cumpra sua razão de exis-tir. Biscaretti Di Ruffía, em frase singela, maslapidar, anotou que “a democracia exige, paraseu funcionamento, um minimum de culturapolítica”, que é precisamente o que falta nospaíses apenas formalmente democráticos. Asinstituições que proclamam adotar em suasCartas Políticas não se viabilizam. Sucumbemante a irresistível força de fatores interferentesque entorpecem sua presumida eficácia e lhesdistorcem os resultados. Deveras, de um lado,os segmentos sociais dominantes, que as con-trolam, apenas buscam manipulá-las ao seusabor, pois não valorizam as instituições de-mocráticas em si mesmas, isto é, não lhes de-votam real apreço. Assim, não tendo qualquerempenho em seu funcionamento regular, pro-curam, em função das próprias conveniências,obstá-lo, ora por vias tortuosas, ora abertamentequando necessário, seja por iniciativa direta,seja apoiando ou endossando quaisquer desvir-tuamentos promovidos pelos governantes, sim-ples prepostos, meros gestores dos interessesdas camadas economicamente mais bem situa-das. De outro lado, como o restante do corposocial carece de qualquer consciência de
cidadania1 e correspondentes direitos, não ofe-rece resistência espontânea a essas manobras.Ademais, é presa fácil das articulações, mobi-lizações e aliciamento da opinião pública, quan-do necessária sua adesão ou pronunciamento,graças ao controle que os segmentos dominan-tes detêm sobre a “mídia”2, que não é senãoum de seus braços.
É que – como de outra feita o dissemos – asinstituições políticas destes países
“não resultaram de uma maturação his-tórica; não são o fruto de conquistas po-líticas forjadas sob o acicate de reivindi-cações em que o corpo social (ou os es-tratos a que mais aproveitariam) nelasestivesse consistentemente engajado; nãosão, em suma, o resultado de aspiraçõesque hajam genuinamente germinado,crescido e tempestivamente desabrocha-do no seio da sociedade”.
Pelo contrário, suas instituições jurídico-políticas, de regra,
“foram simplesmente adquiridas porimportação, tal como se importa umamercadoria pronta e acabada, suposta-mente disponível para proveitoso consu-mo imediato. Nestes Estados recepcio-nou-se um produto cultural, ou seja, ofruto de um processo evolutivo marcadopor uma identidade própria, transplan-tando-o para um meio completamentedistinto e caracterizado por outras cir-cunstâncias e vicissitudes históricas. Édizer: instituições refletoras de uma dadarealidade vieram a ser implantadas debaixo para cima, como se fossem irrele-vantes as diversidades de solo e de en-raizamento”3.
Em suma: esses padrões de organizaçãopolítica não se impuseram à conta de autênticaresposta a conflitos ou pressões sociais que ostivessem inapelavelmente engendrado; antes,foram assumidos porque a elite dirigente desociedades menos evoluídas, de olhos postosnas mais evoluídas, entendeu que se constituí-am em um modelo natural a ser incorporadocomo expressão de um desejável estágio civili-
1 O fenômeno não é restrito às camadas sociaismais desfavorecidas, mas alcança também a cha-mada classe média.
2 O Brasil é um perfeito exemplo da situaçãodescrita.
3 Representatividade e democracia. In: DIREITOEleitoral. Belo Horizonte : Del Rey, 1996. P.45.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 257
zatório. Então, não lhes atribuem outra impor-tância senão figurativa. Daí que, não estandocerceadas por uma consciência social democrá-tica e correlata pressão, ou mesmo pelos even-tuais entusiasmos de uma “opinião pública”,já que as modelam a seu talante, aceitam asinstituições democráticas
“apenas enquanto não interferentes comos amplos privilégios que conservam oucom a vigorosa dominação política quepodem exercer nos bastidores, por detrásde uma máscara democrática, graças,justamente, ao precário estágio de desen-volvimento econômico, político e socialde suas respectivas sociedades”4.
De outra parte, esta situação inferior em quevivem os Estados apenas formalmente demo-cráticos lhes confere, em todos os planos, umcaráter de natural subalternidade em face dospaíses cêntricos, os quais, compreensivelmen-te, são os produtores de idéias, de “teorias”políticas ou econômicas, concebidas na confor-midade dos respectivos interesses e que se im-põem aos subdesenvolvidos, não apenas peloprestígio da origem, mas também por toda aespécie de pressões. Sendo conveniente aospaíses desenvolvidos a persistência desta mes-ma situação, que lhes propicia, em estreita ali-ança com os segmentos dominantes de tais so-ciedades, manejar muito mais comodamente osgovernos dos países “pseudodemocráticos” emprol de suas conveniências econômicas e polí-ticas5, é natural que existam entraves suplemen-
tares para superação deste estágio primário deevolução.
Resulta deste quadro que as sociedades deincipiente cultura política para poderem vir ase configurar como Estados democráticos, de-mandariam mais do que apenas reproduzir emsuas Constituições os traços especificadores detal sistema de governo. Com efeito, de um lado,teriam que ajustar suas instituições básicas demaneira a prevenir ou dificultar os mecanis-mos correntes de seu desnaturamento6 e, deoutro – o que ainda seria mais importante –,empenhar-se na transformação da realidadesocial buscando concorrer ativamente para pro-duzir aquele mínimo de cultura política indis-pensável à prática efetiva da democracia, úni-ca forma de superar os entraves viscerais aoseu normal funcionamento.
Uma vez que a democracia se assenta naproclamação e reconhecimento da soberaniapopular, é indispensável
“que os cidadãos tenham não só umaconsciência clara, interiorizada e reivin-dicativa deste título jurídico político quese lhes afirma constitucionalmente reco-nhecido como direito inalienável, mas
4 Ibidem, p. 46.5 Ainda aqui, o Brasil vale como exemplo. Após
uma formidável campanha desencadeada pela “mí-dia” em prol de reformas constitucionais, com des-taque para as reformas fiscal e administrativa (semo que, dizia-se, o País seria “ingovernável”), o Pre-sidente Fernando Henrique Cardoso, em seu primei-ro ano de Governo, animado por esta onda reformis-ta, fez aprovar quatro emendas constitucionais. Cu-riosamente, entretanto, essas quatro emendas, aoinvés de se reportarem a problemas internos foramtodas – registre-se e sublinhe-se – sintonizadas comaspirações externas ou de agrado internacional.Devem ter sido consideradas as verdadeiramente ur-gentes e importantes. São as seguintes: (a) EmendaConstitucional nº 6, de 15.8.95, por força da qual,de um lado, foram eliminados o conceito de empre-sa brasileira de capital nacional e a preferênciaque o Poder Público lhe deveria dar quando preten-desse adquirir bens e serviços e, de outro, permitiu-se, assim, que a exploração mineral do subsolo bra-sileiro pudesse ser feita por empresas controladase dirigidas por pessoas não residentes no País, oque dantes era vedado. (b) A Emenda Constitucio-
nal nº 7, também de 15 de agosto do mesmo ano,veio extinguir a garantia de que a navegação de ca-botagem e interior no Brasil fosse, salvo caso denecessidade pública, privativa de embarcações na-cionais, pelo que não há mais óbice constitucionala que seja feita por embarcações estrangeiras; alémdisto, suprimiu a exigência de que os armadores, osproprietários, o comandante e pelo menos dois ter-ços dos tripulantes de nossas próprias embarcaçõesfossem brasileiros (espantosa a minúcia dos inte-resses alienígenas em excluir até mesmo a cláusulaque estabelecia devessem ser brasileiros dois ter-ços dos tripulantes de nossas próprias embarcações).(c) A de nº 8, da mesma data das anteriores, veiopara eliminar a previsão de que a exploração de ser-viços telefônicos, telegráficos, de transmissão dedados e demais serviços públicos de telecomunica-ções fossem explorados diretamente pela União oupor concessão a pessoa sob controle acionário esta-tal. (d) A de nº 9, também da mesma data, para fle-xibilizar as disposições relativas ao monopólio es-tatal do petróleo.
6 Sem embargo, os que acedem ao Poder, esme-ram-se na tendência inversa. Valendo-se de meiospróprios e impróprios, que outrora combatia, apósingentes esforços junto ao Legislativo, o PresidenteFernando Henrique Cardoso conseguiu fazer passaremenda constitucional em proveito próprio: a dareelegibilidade para os atuais ocupantes da Chefiado Executivo. Completará, assim, neste particular,

Revista de Informação Legislativa258
que disponham das condições indispen-sáveis para poderem fazê-lo valer de fato.Entre estas condições estão, não apenas(a) as de desfrutar de um padrão econô-mico-social acima da mera subsistência(sem o que seria vã qualquer expectati-va de que suas preocupações transcen-dam as da mera rotina da sobrevivênciaimediata), mas também, as de efetivoacesso (b) à educação e cultura (para al-cançarem ao menos o nível de discerni-mento político traduzido em consciên-cia real de cidadania) e (c) à informa-ção, mediante o pluralismo de fontesdiversificadas (para não serem facilmen-te manipuláveis pelos detentores dosveículos de comunicação de massa)”7.
Uma vez reconhecido que nos Estados ape-nas formalmente democráticos o jogo espontâ-neo das forças sociais e econômicas não pro-duziu, nem produz por si mesmo – ou ao me-nos não o faz em prazo aceitável – as transfor-mações indispensáveis a uma real vivênciademocrática, resulta claro que, para eles, os ven-tos neoliberais, soprados de países cujos estádiosde desenvolvimento são muito superiores, nãooferecem as soluções acaso prestantes nestes úl-
timos. Valem, certamente, como advertência con-tra excessos de intervencionismo estatal ou con-tra a tentativa infrutífera de fazer do Estado umeficiente protagonista estelar do universo econô-mico. Sem embargo, nos países que ainda nãoalcançaram o estágio político cultural requeridopara uma prática real da democracia, o Estadotem de ser muito mais que um árbitro de confli-tos de interesses individuais.
Cumpre ter presente que acentuadas dispa-ridades econômicas entre as camadas sociais,que já foram superadas em outros países, in-clusive mediante ação diligente do Estado,persistem em todos aqueles de insatisfatóriarealização democrática. Nestes, a péssima qua-lidade de vida de vastos segmentos da socieda-de, bloqueia-lhes o acesso àquele “mínimo decultura política” a que se reportava BiscarettiDi Ruffía. Assim, seria descabido imaginar queo papel do Estado pode ser o mesmo em quais-quer deles.
De fato, para engendrar os requisitos con-dicionais ao funcionamento normal da demo-cracia ou promover-lhes a expansão, o Estadonão tem alternativa senão a de se constituir emum decidido agente transformador, o que su-põe, diversamente do que hoje pode ocorrer nospaíses que já ultrapassaram esta fase, um de-sempenho muito mais participante, notadamen-te no suprimento dos recursos sociais básicos eno desenvolvimento de uma política promoto-ra das camadas mais desfavorecidas.
Na medida em que suas instituições e prá-tica estejam voltadas a este efeito transforma-dor, caberia qualificá-las como Estados em tran-sição para a democracia. Entretanto, se, emdespeito do formal obséquio que lhe prestematravés das correspondentes instituições clás-sicas, deixarem de consagrar-se à instauraçãodas condições propiciatórias de uma real vi-vência e consciência de cidadania, não se lhespoderá reconhecer sequer este caráter.
Ademais, contrariamente ao que pode su-ceder, e vem sucedendo nos Estados substanci-
sua paridade com dois outros seus confrades sul-americanos que também fizeram aprovar emendasda mesma natureza: os srs. Fujimori (Peru) e Me-nem (Argentina), os quais, tal como ele, desenvol-vem políticas ao gosto dos organismos internacio-nais controlados pelos países cêntricos, sendo-lhesconveniente que permaneçam no poder o máximode tempo possível. Note-se que, desde a primeiraConstituição Republicana, todas, com exceção daCarta da Ditadura de 1937, proibiam a reeleição doPresidente, perfeitamente cônscias do risco dosChefes de Executivo usarem seus formidáveis po-deres para assegurar-se a continuidade no mandatosucessivo. Foi o que bem anotou Geraldo Ataliba:“Aliada, portanto, à temporariedade dos mandatosexecutivos encontra-se, no Brasiil, a consagração tra-dicional do princípio da não reeleição dos seus exer-centes. Querem, destarte, as instituições assegurarque a formidável soma de poderes que a repúblicapresidencialista põe nas mãos do Chefe do Executi-vo seja toda ela empregada no benefício da função ejamais em benefício próprio. Não é por outra razãoque tal função designa-se no discurso político, pormagistratura, dada a impessoalidade e imparciali-dade que hão de caracterizar o comportamento doseu titular.” (República e Constituição. Revista dosTribunais, 1985. – grifo do autor).
7 Representatividade e democracia. P. 46. Ob-serve-se que, entre nós, os veículos de comunicaçãoa que a esmagadora maioria da população verdadei-ramente acede são o radio e a televisão. Daí que a
força, não apenas informativa, mas também alicia-dora ou persuasiva, que possuem é incontrastável.Assim, não por acaso, em contradita frontal às Cons-tituições e às leis, concessões de radio e televisãosão outorgadas sem um procedimento licitatório pré-vio; distribuídas como favor. Acresça-se que umaúnica emissora de televisão detém índices de audi-ência esmagadores, o que lhe proporciona, com umatecnologia de Primeiro Mundo sobre cabeças doTerceiro Mundo, modelar, a seu talante, a opinião eo pensamento do cidadão comum.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 259
almente democráticos, naqueles outros que ain-da estão em caminho de sê-lo, quaisquer tran-sigências com a rigidez do princípio da legali-dade, quaisquer flexibilizações do monopóliolegislativo parlamentar, seriam comprometedo-ras deste rumo.
É que toda concentração de poder no Exe-cutivo, assim como qualquer indulgência emrelação a suas pretensões normativas, consti-tuem-se em substancial reforço ao autoritaris-mo tradicional, solidificam uma concepçãopaternalista do Estado – identificado com apessoa de um “Chefe” – e alimentam a tendên-cia popular de receber com naturalidade e es-perançoso entusiasmo soluções caudilhescas oumessiânicas.
Em uma palavra: atribuir ao Executivo –órgão estruturado em torno de uma chefia uni-pessoal – poderes para disciplinar relações en-tre administração e administrados é, nos paí-ses de democracia ainda imatura, comporta-mento que em nada concorreria para a forma-ção de uma consciência valorizadora da res-ponsabilidade social de cada qual (que é a pró-pria exaltação da cidadania) ou para encarecera importância básica de instituições imperso-nalizadas como instrumento de progresso ebem-estar de todos. Contrariamente, serviriaapenas para reconfirmar a anacrônica relaçãosoberano-súdito8.
Assim, em despeito da generalizada tendên-cia mundial de transferir ao Executivo poderessubstancialmente legislativos, ora de maneiraexplícita e sem rebuços, como se fez na França(e logo acomodada pelos teóricos em uma eu-fêmica reconstrução do princípio da legalida-de), ora mediante os mais variados expedien-tes ou através de acrobáticas interpretações dostextos constitucionais, nos Estados que aindacarecem de uma experiência democrática sóli-da, a acolhida destas práticas não é compatívelcom a democracia, ainda que tal fenômeno haja
sido suscitado – reconheça-se – por razões ob-jetivas poderosas, tanto que se impuseram ge-neralizadamente.
2. A crise dos instrumentosclássicos da democracia
O tópico do fortalecimento do Poder Exe-cutivo, e correlato declínio do Legislativo, sus-cita reflexões que concernem genericamente aotema das relações entre Estado e democracia,extravasando em muito o âmbito das conside-rações feitas quanto à especificidade de suasrepercussões imediatas nos países onde aindaé débil o enraizamento social da democracia.
É sabido que, em despeito da importânciaatribuível ao Parlamento na história da demo-cracia, importância esta correlata ao declíniodo poder monárquico, o Executivo, sucessor dorei, cedo começou a recuperar, em detrimentoóbvio das Casas Legislativas e, pois, de um dospilares da democracia clássica, os poderes nor-mativos que lhe haviam sido retirados9. É cer-to, sem dúvida, que, na presente quadra histó-rica, poderosas e objetivas razões vêm concor-rendo crescentemente para isto.
Desde que o Estado, por força da mudançade concepções políticas, deixou de encarar arealidade social e econômica como um dado,para considerá-la como um objeto de transfor-mação, sua ação intervencionista operada porvia da Administração e traduzida não só emaprofundamento, mas sobretudo em alargamen-to de suas missões tradicionais, provocaria,como tão bem observou Ernst Forsthoff, umainsuficiência das técnicas de proteção das li-berdades e de controle jurídico, as quais havi-am sido desenvolvidas sob o signo do Estadoliberal10.
Acresce que, inobstante ameacem vingar eprevalecer concepções neo-liberais, nem poristo reduzir-se-á a intensificação de um con-trole do Estado sobre a atividade individual. Éque o progressivo cerceamento da liberdade dosindivíduos, tanto como o fortalecimento doPoder Executivo, arrimam-se também em ra-zões independentes das concepções ideológi-
8 Assim, exempli gratia, o atual Chefe do PoderExecutivo brasileiro – no passado, havido como um“intelectual progressista” e hoje associado politica-mente com expoentes da ditadura que dantes com-batia – não se constrangeu em expedir uma “medi-da provisória” à cada 19 horas, conforme registrofeito há alguns meses pela Revista Veja. Nisto con-tribuiu eficazmente para a crescente desmoraliza-ção das instituições democráticas entre nós, tantomais porque ditas medidas têm sido visivelmenteinconstitucionais, por ausentes os pressupostos desua válida produção.
9 Notável a este respeito é o estudo desenvolvi-do por Santa Maria Pastor, em seu Fundamentos deDerecho Administrativo.Madrid : Editorial Centrode Estudio Ramon Areces. 1998. v.1, p 690-714.
10 Traité de Droit Administratif Allemand. Tra-dução da 9. Ed. alemã por Michel Fromont. Bruxe-lles : Établissements Émile Bruyant, p.126-127 e133.

Revista de Informação Legislativa260
cas sobre as missões reputadas pertinentes aoEstado. Um outro fator de extrema relevância– o progresso tecnológico – igualmente con-correu e concorre de modo inexorável para es-tes mesmos efeitos.
Deveras, o extraordinário avanço tecnoló-gico ocorrido neste século, a conseqüente com-plexidade da civilização por ele engendrada e,correlatamente, o caráter cada vez mais técni-co das decisões governamentais, aliados à ten-dência recente da formação de grandes blocospolítico-econômicos formalizados, quais mega-Estados, conspiram simultaneamente contra omonopólio legislativo parlamentar e, possivel-mente, a médio prazo, até mesmo contra as li-berdades individuais. Senão, vejamos.
Sabidamente, como resultado da evoluçãotecnológica, as limitadas energias individuaisse expandiram enormemente, com o que am-pliou-se a repercussão coletiva da ação de cadaqual, dantes modesta e ao depois potencialmen-te desastrosa (pelo simples fato de exponenci-ar-se). Em face disto, emergiu como imperati-vo inafastável uma ação reguladora e fiscali-zadora do Estado muito mais extensa e intensado que no passado. Notoriamente, o “braço tec-nológico” propiciou gerar, em escala macros-cópica, contaminação do ar, da água, poluiçãosobre todas as formas, inclusive sonora e visu-al, devastação do meio ambiente, além de en-sejar saturação dos espaços, provocada por umadensamento populacional nos grandes conglo-merados urbanos, evento, a um só tempo, im-pulsionado e tornado exeqüível pelos recursosconferidos pelo avanço tecnológico. Tornou-se,pois, inelutável condicionar e conter a atuaçãodas pessoas físicas e jurídicas dentro de pautasdefinidas e organizadas, seja para que não sefizessem socialmente predatórias, seja paraacomodá-las a termos compatíveis com umconvívio humano harmônico e produtivo.
Em suma: como decorrência do progressotecnológico engendrou-se um novo mundo, umnovo sistema de vida e de organização social,consentâneos com esta realidade superveniente.Daí que o Estado, em conseqüência disto, teveque disciplinar os comportamentos individu-ais e sociais muito mais minuciosa e extensa-mente do que jamais o fizera, passando a imis-cuir-se nos mais variados aspectos da vida in-dividual e social.
Este agigantamento estatal manifestou-sesobretudo como um agigantamento da admi-nistração, tornada onipresente e beneficiária de
uma concentração de poder decisório que des-balanceou, em seu proveito, os termos do ante-rior relacionamento entre Legislativo e Execu-tivo. Com efeito, este último, por força de suaestrutura monolítica (chefia unipessoal e orga-nização hierarquizada), é muito mais adapta-do para responder com presteza às necessida-des diuturnas de governo de uma sociedade quevive em ritmo veloz e cuja eficiência máximadepende disto. Ademais, instrumentado poruma legião de técnicos, dispõe dos meios há-beis para enfrentar questões complexas cadavez mais vinculadas a análises desta naturezae que, além disto, precisam ser formuladas comatenção a aspectos particularizados ante a diver-sidade dos problemas concretos ou de suas im-plicações polifacéticas, cujas soluções dependemde análises técnicas – e não apenas políticas.
3. Tentativas de resposta à criseda democracia
Estes fatores convulsionantes do quadroclássico da democracia (e não apenas da de-mocracia liberal) suscitaram respostas tenden-tes a neutralizar, ao menos parcialmente, osriscos oriundos da transferência de poderes doLegislativo para o Executivo e da maior expo-sição, individual ou coletiva dos cidadãos, aum progressivo cerceamento das liberdades.
A disseminação do parlamentarismo terásido, possivelmente, o meio de que as socieda-des mais evoluídas lançaram mão, na esferapolítica, para minimizar as conseqüências dofortalecimento do Executivo. Os Estados Uni-dos da América do Norte constituem-se emexceção confirmadora da regra. Com efeito,ainda dentro dos quadros tradicionais de orga-nização política, não havendo irrompido ou-tras fórmulas de estruturação democrática doPoder e ante a presumida impossibilidade dedeter utilmente a aludida transferência deatribuições do Legislativo para o Executivo, asolução terá sido transformar este último emdelegado daquele. Ou seja: se o Executivo, ar-mado agora de formidáveis poderes, atuar des-comedidamente, em descompasso com o senti-mento geral da coletividade, é simplesmentederrubado. Ou seja: converte-se o Parlamento,acima de tudo, em um organismo dotado domais formidável poder de veto: o veto geral;portanto, uma inversão radical, do modesto eprovisório poder de veto típico do Executivo.
Na esfera administrativa, ganha relevo cres-cente o procedimento administrativo, obrigan-

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 261
do-se a administração a formalizar cuidadosa-mente todo o itinerário que conduz ao proces-so decisório. Passou-se a falar na “jurisdicio-nalização” do procedimento administrativo (ouprocesso, como mais adequadamente o deno-minam outros), com a ampliação crescente daparticipação do administrado no iter prepara-tório das decisões que possam afetá-lo. Emsuma: a contrapartida do progressivo condici-onamento da liberdade individual é o progres-sivo condicionamento do “modus procedendi”da Administração.
Outrossim, no âmbito processual, mas comas mesmas preocupações substanciais de defe-sa dos membros da sociedade contra o poderdo Estado, surge o reconhecimento e proteçãodos chamados “interesses difusos” ou “direitosdifusos”, os quais, em última instância, ao nossover, não passam, quando menos em grandenúmero de casos, de uma dimensão óbvia dossimples direitos subjetivos. De fato, não há sen-tido algum em conceber estes últimos com vi-são acanhada, presa a relações muito típicasdo direito privado, inobstante categorizadocomo noção pertinente à teoria geral do direito.
4. Insuficiência dos meios concebidos parasalvaguarda dos ideais democráticosOs valiosos expedientes a que se vem alu-
dir minimizaram, mas não elidiram, a debili-tação dos indivíduos perante o Estado, assimcomo o enfraquecimento da interação entre oscidadãos e o Poder Público.
O certo é que entre a lei e os regulamentosdo Executivo, hoje avassaladoramente invasi-vos de todos os campos (nada importando quan-to a isto que hajam sido autorizados expressa-mente ou resultem da generalidade das expres-sões legais que os ensejam), há diferenças ex-tremamente significativas que, no caso dos re-gulamentos, repercutem desfavoravelmentetanto no controle do poder estatal quanto nasuposta representatividade do pensamento dasdiversas facções sociais. Estas diferenças, a se-guir referidas, ensejam que as leis ofereçam aosadministrados garantias muitas vezes superio-res às que poderiam derivar unicamente dascaracterísticas de abstração e generalidade tam-bém encontradiças nos regulamentos.
Deveras, as leis provêm de um órgão cole-gial – o Parlamento – no qual se congregamvárias tendências ideológicas, múltiplas facçõespolíticas, diversos segmentos representativos doespectro de interesses que concorrem na vida
social, de tal sorte que este órgão do Poder seconstitui em verdadeiro cadinho onde se mes-clam distintas correntes. Daí que o resultadode sua produção jurídica termina por ser, quan-do menos em larga medida, fruto de algum con-temperamento entre as variadas tendências. Atépara a articulação da maioria requerida para aaprovação de uma lei, são necessárias transi-gências e composições, de modo que a matérialegislada resulta como o produto de uma intera-ção, ao invés da mera imposição rígida das con-veniências de uma única linha de pensamento.
Com isto, as leis ganham, ainda que emmedidas variáveis, um grau de proximidade emrelação à média do pensamento social predo-minante muito maior do que ocorre quando asnormas produzidas correspondem à simplesexpressão unitária da vontade comandante doExecutivo, ainda que este também seja repre-sentativo de uma das facções sociais, a majori-tária. É que, afinal, como bem observou Kel-sen, o Legislativo, formado segundo o critériode eleições proporcionais, ensejadoras justa-mente da representação de uma pluralidade degrupos, inclusive de minorias, é mais demo-crático que o Executivo, ao qual se acede poreleição majoritária ou, no caso do Parlamenta-rismo, como fruto da vitória eleitoral de umpartido. Daí que os regulamentos traduzem umaperspectiva unitária, monolítica, da corrente oudas coalizões partidárias prevalentes.
Além disso, o próprio processo de elabora-ção das leis, em contraste com o dos regula-mentos, confere às primeiras um grau de con-trolabilidade, confiabilidade e imparcialidademuitas vezes superior ao dos segundos, ense-jando, pois, aos administrados um teor de ga-rantia e proteção incomparavelmente maiores.
É que as leis se submetem a um trâmite gra-ças ao qual é possível o conhecimento públicodas disposições que estejam a caminho de se-rem implantadas. Com isto, evidentemente, háuma fiscalização social, seja por meio da im-prensa, de órgãos de classe, ou de quaisquersetores interessados, o que, sem dúvida, difi-culta ou embarga eventuais direcionamentosincompatíveis com o interesse público em ge-ral, ensejando a irrupção de tempestivas alte-rações e emendas para obstar, corrigir ou mi-nimizar tanto decisões precipitadas quanto pro-pósitos de favorecimento ou, reversamente, tra-tamento discriminatório, gravoso ou apenasdesatento ao justo interesse de grupos ou seg-mentos sociais, econômicos ou políticos. Ade-

Revista de Informação Legislativa262
mais, proporciona, ante o necessário trâmitepelas Comissões e o reexame pela Casa Legis-lativa revisora, aperfeiçoar tecnicamente a nor-matização projetada, embargando, em graumaior, a possibilidade de erros ou inconveni-ências provindos de açodamento. Finalmente,propicia um quadro normativo mais estável, abem da segurança e certeza jurídicas, benéficoao planejamento razoável da atividade econô-mica das pessoas e empresas e até dos projetosindividuais de cada qual.
Já os regulamentos carecem de todos estesatributos e, pelo contrário, ensancham as ma-zelas que resultariam da falta deles. Oposta-mente às leis, os regulamentos são elaboradosem círculo restrito, fechado, desobrigados dequalquer publicidade, libertos, então, de qual-quer fiscalização ou controle da sociedade oumesmo dos segmentos sociais interessados namatéria. Sua produção se faz em função da di-retriz estabelecida pelo Chefe do Governo oude um grupo restrito, composto por seus mem-bros. Não necessita passar, portanto, pelo em-bate de tendências políticas e ideológicas dife-rentes. Sobre mais, irrompe da noite para o diae assim também pode ser alterado ou suprimido.
Tudo quanto se disse dos regulamentos emconfronto com as leis, deve-se dizer – e commuito maior razão – das medidas provisórias,sobretudo tal como utilizadas no Brasil, isto é,descompasso flagrante com seus pressupostosconstitucionais e com a teratológica reitera-ção delas.
5. Possível agravamento dacrise da democracia
Ao que foi dito cumpre acrescer – e é estepossivelmente o aspecto mais importante – que,na atualidade, está ocorrendo um distanciamen-to cada vez maior entre os cidadãos e as ins-tâncias decisórias que lhes afetam diretamen-te a vida. A claríssima tendência à formaçãode blocos de Estados, de que a Europa é a maisevidente demonstração, por exibir um estágioqualitativamente distinto das ainda prodrômi-cas manifestações, mal iniciadas em outraspartes, revela o surgimento de fórmulas políti-cas organizatórias muito distintas das que vi-goraram no período imediatamente anterior e,como dito, um distanciamento quase que ine-vitável entre o cidadão e o Poder. Com efeito,as decisões tomadas pelos Conselhos de Mi-nistros Europeus (os quais não são investidos
por eleições para este fim específico) possivel-mente afetam de maneira mais profunda a vidade cada europeu do que as tomadas pelos res-pectivos Parlamentos nacionais, isto é, pelosque receberam mandato expresso para lhes re-gerem os comportamentos (O chamado “Par-lamento Europeu”, distintamente do que onome sugere não é um órgão legislativo).
Procederia concluir que um número cadavez menor de pessoas decide sobre a vida deum número cada vez maior delas e que os mo-delos tradicionais, sobre os quais se assentou ese procurou assegurar a democracia, estão seesgarçando. Os valores liberdade, igualdade,assim como a realidade da soberania popular(que se pretendeu traduzir nas formas institu-cionais da democracia representativa), encon-tram-se, hoje, provavelmente, muito mais res-guardados enquanto valores incorporados àcultura política do ocidente desenvolvido doque propriamente pela eficiência dos vínculosformais das instituições jurídico-políticas. Ditode outro modo: a convicção generalizada de queliberdade e igualdade são bens inestimáveisatua como um freio natural sobre os governan-tes e permite que a positividade concreta detais valores se mantenha ainda incólume, con-quanto as instituições concebidas para assegu-rá-los já não possuam mais as mesmas condi-ções de eficácia instrumental que possuíram.
Para usar uma imagem exacerbada, é comose já houvesse se iniciado uma caminhada emdireção a um “despotismo esclarecido”.
Poder-se-ia entender que os valores própriosda democracia encontram-se tão profundamenteenraizados na consciência coletiva de socieda-des politicamente mais evoluídas que se consti-tuiriam em estágio já definitivamente incorpo-rado, tornando impensável a possibilidade dequalquer retrocesso, independentemente da in-trínseca eficiência das instituições concebidaspara lhes oferecer o máximo de respaldo.
Nada garante, entretanto, o otimismo destasuposição. Ainda permanece verdadeira a clás-sica asserção de Montesquieu: “todo aquele quetem poder tende a abusar dele; o poder vai atéonde encontra limites”11. A História da huma-nidade, inobstante a progressiva evolução emtodos os campos, confirma, tanto quanto fatose episódios ainda muito recentes, que a preva-lência de idéias generosas ou o sepultamentode discriminações odiosas e preconceitos detoda ordem mantém correlação íntima com as
11 De l’ esprit des lois. Paris :Garnier 1869. P.142.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 263
situações coletivas de bem-estar e segurança.E duram tanto quanto duram estas.
No patamar do humano existem algumasconstantes de comportamento social comuns àgeneralidade da esfera animal. Tal como os ir-racionais, que, uma vez saciados, convivembem com as demais espécies e, inversamente,agridem quando tangidos pela fome ou acica-tados pelo temor, também as coletividades hu-manas, quando ameaçadas pela presumida in-segurança ou pelo risco ao seu bem-estar, subs-tituem suas convições e ideais mais elevadospelas pragmáticas (e já agora especificamentehumanas) racionalizações e atacam com zoo-lógica violência. Surtos de racismo, de recha-ço ao estrangeiro, de nacionalismo exacerba-do, de inconformismo com as levas migratóri-as advindas de um refluxo do colonialismo ousimplesmente da descomposição política, eco-nômica ou social de outras sociedades – quais-quer deles já prenunciados nas tendências degrupos políticos ou sociais em algumas socie-dades européias – tanto como o recente e de-vastador consórcio bélico dos principais Esta-dos desenvolvidos contra um país árabe, o Ira-que (cujo ditador, quanto a isto, em nada é di-ferente dos demais, distinguindo-se deles ape-nas em que se revela mais resistente aos inte-resses das grandes potências e mais preocupa-do na defesa dos pertinentes ao próprio País),demonstram exemplarmente a precariedade dasidéias que não se encontrem alicerçadas, simul-taneamente, em interesses e em instituiçõesformais hábeis para mantê-las consolidadas.
À vista deste panorama, ainda incipiente,mas desde logo preocupante, é difícil prenun-ciar, nestes umbrais do próximo milênio, o queseus albores reservam para a sobrevivência dademocracia e, muito mais, portanto, para aspossibilidades dos países subdesenvolvidosacederem às condições propiciatórias de umademocracia substancial. É que os subdesen-volvidos têm sido e são, naturalmente, merospeões no tabuleiro de xadrez da economia e,pois, da política internacional; logo, por defi-nição, sacrificáveis para o cumprimento dosobjetivos maiores dos que movem as peças.
6. Globalização e neoliberalismo: novosobstáculos à democracia
Talvez se possa concluir, apenas, que ascondições evolutivas para aceder aos valoressubstancialmente democráticos, como igualda-de real e não apenas formal, segurança social,
respeito à dignidade humana, valorização dotrabalho, justiça social (todos consagrados nabem concebida e mal-tratada Constituição Bra-sileira de 1988), ficarão cada vez mais distan-tes à medida que os governos dos países subde-senvolvidos e dos eufemicamente denomina-dos em vias de desenvolvimento – em troca doprato de lentilhas constituído pelos aplausos dospaíses cêntricos – entreguem-se incondicional-mente à sedução do canto de sereia proclama-dor das excelências de um desenfreado neoli-beralismo e de pretensas imposições de umaidolatrada economia global. Embevecidos nar-cisisticamente com a própria “modernidade”,surdos ao clamor de uma população de miserá-veis e desempregados, caso do Brasil de hoje,não têm ouvidos senão para este cântico mo-nocórdio, monolítica e incontrastavelmenteentoado pelos interessados.
Diga-se de passagem que é incorreta a su-posição de que tanto a chamada “globalizaçãoda economia” (com as feições que, indevida-mente, se lhe quer atribuir como inerências),quanto o “neoliberalismo”, constituam-se sim-plesmente em um estágio evolutivo determi-nado tão só por transformações econômicasinevitáveis e, conseqüentemente, que encam-pá-las nada mais significa senão adotar umaatitude racional de atualização do pensamentopara mantê-lo conformado ao que há de inco-ercível no desenvolvimento histórico. Esta for-ma de “interpretar” o fenômeno presente é –como freqüentemente ocorre – apenas uma for-ma astuciosa de valorizar o próprio ideário ede desacreditar, por antecipação, as contesta-ções que se lhes possam fazer. É que traz con-sigo, implícita, ou mesmo explicitamente, aprévia qualificação dos que se lhe oponham,como ultrapassados (“dinossauros”).
Em rigor, elas nada mais são que “teoriza-ções” pobres, racionalizações, elaboradas parajustificar interesses meramente políticos – edestarte contendíveis – dos países cêntricos edas camadas economicamente privilegiadas, emcujo bojo e proveito foram gestadas. Com efei-to, o modesto acervo de idéias atualmente di-fundidas “sub color” de verdade científica uni-versal nada mais é que o uso de nomenclatu-ras novas encobridoras de experiências velhas,destinadas a consagrar um simples movimen-to de retorno, quando menos parcial, ao sécu-lo passado, ao statu quo precedente à emer-gência do chamado Estado Social de Direitoou Estado Providência.

Revista de Informação Legislativa264
Relembremos que a partir de meados doséculo XIX e sobretudo no início do atual ir-rompeu e expandiu-se um movimento de in-conformismo das camadas sociais mais desfa-vorecidas cujas condições de vida, como é no-tório, eram extremamente difíceis. Fazendo ecoa tais eventos, eclodiram, no campo das idéiase sucessivamente das realizações políticas,manifestações, de maior ou menor radicalismo,ponto de origem de duas diversas vertentes –comunismo e social democracia – insurgentesambas contra o quadro político social da época.
O Manifesto Comunista (1848) e assim tam-bém ulteriormente Encíclicas papais (“RerumNovarum”, 1891, “Quadragesimo Anno”,1931) são expressivas de uma visão então crí-tica e renovadora. Os resultados concretos des-te panorama de insurgência, em suas duas ver-tentes, foram, respectivamente, de um lado, aRevolução Comunista de 1917 e implantaçãode tal regime na Rússia e, de outro a expansãoda social democracia. Em sintonia com estasegunda vertente, consagraram-se, pois, pelaprimeira vez, em Texto Constitucional, os “Di-reitos Sociais”, na Constituição mexicana, tam-bém de 1917 e ao depois na Constituição ale-mã de Weimar em 1919, disseminando-se pelomundo a acolhida de tais direitos, de tal sorteque a preocupação em fazer do Estado um agen-te de melhoria das condições das camadas so-ciais mais desprotegidas expande-se ao longode todo o século presente, explicando porquepassou a ser referido como Estado Social deDireito ou Estado Providência. De outra parte,o regime comunista, ano a ano se alastrava,implantando-se em novos países. Paralelamen-te, o colonialismo e seu sucessor, o imperialis-mo das grandes potências do Ocidente, iniciaum processo de agonia, lenta, mas contínua,afligido também por censuras crescentes aoexcessivo desequilíbrio entre as nações (Encí-clicas “Mater er Magistra”, 1961, “Pacem inTerris”, 1963 e “Populorum Progressio”, 1967).
Foi, desde o início, o temor de que se ex-pandisse a concepção comunista – radicalmenteantitética à sobrevivência do capitalismo – comsua capacidade de atrair as massas insatisfei-tas, ou quando menos de alimentar os ativistasque as mobilizavam, o que forneceu o necessá-rio combustível para a implantação e dissemi-nação do Estado Social de Direito. Com efeito,a História não registra gestos coletivos de ge-
nerosidade das elites para com as camadas maiscarentes (ainda que seja pródiga em exemplosdela no plano individual). Ora bem, assim comoo receio do comunismo propiciou a irrupçãodo Estado Providência, sua falência na UniãoSoviética e no Leste Europeu – e sinais precur-sores de seu declínio no Extremo Oriente – estáa lhe determinar o fim.
A simples cronologia dos eventos e das cor-relatas idéias o demonstram de modo incon-tendível. O Estado Social de Direito emerge,encerrando o ciclo do liberalismo, quandoemerge o comunismo. Tão logo fracassa o co-munismo, renascem, de imediato, com vigormáximo as idéias liberais, agora “recauchuta-das” com o rótulo de “neo”, propondo liminar-mente a eliminação ou sangramento das con-quistas trabalhistas e direitos sociais, do mes-mo passo em que revive o imperialismo plenoe incontestado sob a designação aparentemen-te técnica de “globalização”. Não há nisto,como é óbvio, coincidência alguma. O que háé disseminação de idéias políticas, de interes-se dos países dominantes e das camadas soci-ais mais favorecidas. Livres, uns e outros, dostemores e percalços que lhes impuseram as con-cessões feitas no curso do século presente, em-penham-se, agora, ao final dele, em retomar asposições anteriores. Trata-se, como se vê, deum retorno ao mesmo esquema de poder, nosplanos interno e internacional, vigente no finaldo século passado e início deste, sob aplausospraticamente unânimes em ambas as frentes.
No momento, parece que não há mais nú-cleo algum capaz de contender esta rebarbati-va unaninimidade que se autolisonjeia com oqualificativo de moderna, categorizando comoultrapassados quaisquer que ainda não hajamrenunciado ao trabalho de pensar criticamen-te. A bipolaridade mundial, dantes existente(mas finda com a implosão da União Soviéti-ca), com o confronto de idéias provindas dosdois centros produtores de ideologias antagô-nicas, ensejava, além da área de fricção, de persi desgastadora de seus extremismos, um natu-ral convite à crítica de ambas, na trilha da sín-tese resultante de tal dialética. A momentâneaausência das condições objetivas para um de-bate consistente possivelmente é, para os paí-ses subdesenvolvidos, um dos piores dramasdeste final de milênio e um dos maiores obstá-culos a que venham, finalmente, a abicar emregimes efetivamente democráticos.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 265
1. IntroduçãoA Constituição Federal de 1988 enrique-
ceu o direito orçamentário brasileiro com vári-as inovações importantes, sendo que a exatacompreensão de algumas delas vem represen-tando um permanente desafio. A Lei de Dire-trizes Orçamentárias (LDO) é certamente umadessas novidades. No âmbito da União, desde1988, foram elaboradas nove LDOs, uma paracada exercício, existindo, ainda, muitas dúvi-das sobre a melhor forma de tratar vários deseus conteúdos. Um dos temas, ainda carentede melhor abordagem na LDO, é o da políticade aplicação das agências financeiras oficiaisde fomento. O presente estudo trata o assuntode forma exploratória, tendo como objetivocontribuir para o aperfeiçoamento legislativodeste tema, assim como enriquecer o debatemais amplo que se desenvolve sobre a LDO.
Como preliminar ao estudo específico dotema, faz-se uma ligeira digressão sobre a na-tureza da LDO, ponto certamente importantepara a compreensão da referida norma e de suaeficácia legal. Na seqüência, o trabalho con-textualiza a questão das ações de fomento, apre-sentando breve nota histórica sobre a experi-ência federal e situando, resumidamente, a atu-
A Lei de Diretrizes Orçamentárias e apolítica de aplicação das agênciasfinanceiras oficiais de fomento
JAMES GIACOMONI
James Giacomoni é Consultor de Orçamentosdo Senado Federal e Professor Adjunto do Departa-mento de Ciências Contábeis e Atuariais da Uni-versidade de Brasília (UnB).
SUMÁRIO
1. Introdução. 2. A natureza da Lei de Diretri-zes Orçamentárias. 3. As ações de fomento a cargodo Governo Federal. 3.1. Antecedentes históricos.3.2. As instituições financeiras federais (IFFs). 4.Precisando-se os termos. 4.1. Política de aplica-ção. 4.2. Agências financeiras oficiais de fomento.5. Os recursos orçamentários voltados ao fomento.6. O tratamento dado ao tema nas LDOs. 6.1. Polí-ticas e prioridades. 6.2. Regras. 7. Conclusão.

Revista de Informação Legislativa266
ação das instituições financeiras federais (IFFs).Na seção seguinte, busca-se precisar o enten-dimento sobre as expressões empregadas naConstituição – política de aplicação e agênci-as financeiras oficiais de fomento – condiçãojulgada indispensável para o correto cumpri-mento da norma. A seguir, descreve-se como otema em estudo foi tratado em cada uma dasLDOs aprovadas. Na conclusão, são apresen-tadas algumas sugestões com o objetivo de con-tribuir para os debates sobre o tema, assim comopara o próprio processo de aperfeiçoamento dasfuturas LDOs.
2. A natureza da Lei de DiretrizesOrçamentárias
A doutrina orçamentária é palco de umalonguíssima controvérsia sobre a natureza dalei orçamentária. Pode-se reunir as várias pos-turas teóricas frente a esse debate em três li-nhas básicas. A primeira, originária da com-petente doutrina alemã da segunda metade doséculo passado, defende a existência de valorapenas formal na lei orçamentária. A cobran-ça das rendas públicas e a execução das despe-sas a cargo do Estado não derivam da lei orça-mentária, mas de leis ordinárias – materiais – ,onde estão verdadeiramente estabelecidos osdireitos subjetivos. Por se limitar a prever aarrecadação de tributos criados por leis tribu-tárias e a autorizar a realização de despesas,cuja efetiva execução depende, igualmente, delegislação ordinária, o orçamento não passariade um “ato administrativo” com a forma de lei.
Outra linha doutrinária considera que, aofuncionar como “ato-condição” para a arreca-dação de receitas e para a realização das des-pesas, ou seja, por condicionar o cumprimentodas leis ordinárias que tratam de receita e des-pesa pública, a lei orçamentária tem clara eevidente natureza material. Da terceira corren-te, fazem parte as teorias que consideram o or-çamento como uma lei sui generis, com carac-terísticas formais e materiais, ou ainda, comouma “lei de organização”.
Apesar do interesse que tal debate aindasuscita, “deve-se ter presente que o problemada natureza da lei orçamentária é sobretudo dedireito positivo” (Buscema e Buscema, 1994,p. 60).
No âmbito do direito orçamentário brasi-leiro, a opção pela teoria da natureza formaldo orçamento vem, pelo menos, desde 1926,com a adoção do chamado “princípio da ex-
clusividade” por meio de emenda à Constitui-ção de 1891. Ao determinar, no § 1º do art. 34,que “As leis de orçamento não podem conterdisposições estranhas à previsão da receita e àdespesa fixada para os serviços anteriormentecriados”, a Constituição acabou por estabele-cer claramente o caráter limitado da lei orça-mentária no disciplinamento de questões subs-tantivas das finanças públicas.
A nova regra incorporou-se às Constitui-ções outorgadas posteriormente, produzindo,pelo menos, duas conseqüências importantes:a primeira, positiva, significou a eliminação dapraga das “caudas orçamentárias” e a segun-da, negativa, tem impedido que a lei orçamen-tária anual discipline questões de interesse paraa gestão dos recursos públicos.
A introdução da LDO no âmbito do direitoorçamentário brasileiro, a par dos inúmerosoutros aspectos objetivos que estão implícitosnesse novo instrumento, induz a que se avaliea natureza da nova lei, de molde a melhor apro-veitar suas potencialidades disciplinadoras,com vistas a tornar mais efetiva a própria leiorçamentária anual.
Para efeito desta análise, a LDO apresentaduas características básicas: (i) tem seu con-teúdo explicitado na Constituição; e (ii) é umalei anual, como a própria lei orçamentária.Entre as questões cruciais aqui, estão as seguin-tes: qual o espaço disciplinador que efetivamen-te tem a LDO, tendo em vista a legislação or-dinária? e como conciliar o tratamento aos con-teúdos em face do caráter periódico da lei?
Os outros conteúdos da LDO poderiam serinvocados visando subsidiar esta discussão. Ostemas relativos às alterações na legislação tri-butária e às medidas no âmbito da gestão depessoal são exemplos ilustrativos do significa-tivo papel que cabe à LDO, além de trazeremreais interrogações sobre o caráter meramenteformal da nova norma. A criação da LDO peloconstituinte de 1988 parece suprir a incapaci-dade normativa da Lei Orçamentária Anual,determinada pelo princípio da exclusividade.Nesse particular, a LDO cumpriria, em parte,papel similar ao desenvolvido no sistema orça-mentário italiano pela lei financeira1, normaaprovada anualmente em paralelo à lei orça-mentária.
No que tange ao objeto deste estudo, isto é,1 A legge finanziaria não está prevista na Cons-
tituição Italiana; foi criada pela Lei nº 468, de 1978,e teve ampliado seu conteúdo por meio da Lei nº362, de 1988.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 267
à política de aplicação das agências financei-ras oficiais de fomento, o eficaz tratamentodesse tema na LDO depende da compreensão,a mais precisa possível, sobre a margem de açãoque esse normativo pode ter no disciplinamen-to de temática coberta por legislação ordináriae por inúmeros regulamentos técnico-operaci-onais. Sendo vedado à LDO alterar a legisla-ção substantiva, assim como violar a lógica quepreside as políticas operacionais das agênciasde fomento, cabe utilizar o instrumento comodemonstração transparente da ação públicanessa área e como base para seu efetivo controle.
3. As ações de fomento a cargo doGoverno Federal
3.1. Antecedentes históricosNo Brasil, as ações de fomento às ativida-
des econômicas por parte de instituições doEstado remontam ao início do período imperi-al com a constituição, em 1808, do Banco doBrasil. Ao longo do século XIX, esta tradicio-nal instituição contou com diferentes graus departicipação governamental, funcionando, al-gumas vezes, como banco de emissão, parale-lamente à sua missão comercial. Em 1861, coma finalidade de incentivar a poupança popular,foi criada a Caixa Econômica Federal, cujaexpansão pelas antigas províncias começou ase dar ainda durante o Império.
A partir da Proclamação da República, adescentralização político-administrativa levouos Estados a assumirem papel mais ativo noapoio às atividades econômicas, ainda marca-damente vinculadas ao setor primário. Na pri-meira década do século XX, exemplo impor-tante dessas iniciativas foi o Convênio de Tau-baté, firmado em 1906 entre os Estados de SãoPaulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com vis-tas a organizar, em bases modernas, a produ-ção e a comercialização de café. Já na décadade 20, os governos estaduais passam a fomen-tar as atividades agrícolas por meio da consti-tuição de bancos comerciais. Surgiram, nesseperíodo, o Banco do Estado de São Paulo (1927)e os Bancos dos Estados do Rio Grande do Sule do Paraná (1928).
Durante a Primeira República, o GovernoFederal manteve as mesmas características não-intervencionistas do período imperial, “conce-dendo ocasionalmente favores especiais aosnovos setores por meio de tarifas alfandegáriasou empréstimos” (Baer, Kerstenetzky & Villela,1973, p. 887).
Foi a partir da década de 30 que se desen-
volveu de forma acelerada a vocação do Esta-do brasileiro para o fomento às ações econômi-cas privadas. Datam dos anos 30 iniciativascomo a criação de autarquias econômicas coma finalidade de proteção a setores importantesda economia nacional, como café, açúcar, mate,sal e pesca. Em 1937, foi criada a carteira deCrédito Agrícola e Industrial (Creai), do Ban-co do Brasil, introdutora do financiamento àsindústrias nacionais e responsável pelo mode-lo de financiamento agrícola praticado nas dé-cadas seguintes.
No plano internacional, a busca de meca-nismos que evitassem as depressões econômi-cas e que possibilitassem a recuperação da eco-nomia mundial no pós-Segunda Guerra trou-xe, como um dos resultados da reunião reali-zada em 1944 em Bretton Woods, a criação doBanco Internacional de Reconstrução e Desen-volvimento (Bird) ou Banco Mundial, institui-ção que se responsabilizou, ao longo do tem-po, por fluxos significativos de recursos volta-dos a projetos de desenvolvimento no Brasil.
Após a Segunda Guerra Mundial, o Paísiniciou o processo de industrialização marca-do por grande dinamismo. Constituído em1952, o Banco Nacional de DesenvolvimentoEconômico (BNDE) teve papel destacado nes-se esforço, responsabilizando-se pela mobili-zação de recursos e, inicialmente, pelo finan-ciamento aos setores públicos encarregados dainfra-estrutura. Caracterizada a carência derecursos para investimentos no âmbito empre-sarial, o BNDE passou, nas décadas seguintes,a ser o principal financiador de projetos indus-triais no País, viabilizando linhas de crédito delongo prazo e de baixo custo.
Como instrumento da política de desenvol-vimento das regiões mais atrasadas, o Gover-no federal, ainda na década de 50, introduziu omecanismo dos incentivos fiscais, adotando,como braços financeiros nessas regiões, o Ban-co do Nordeste do Brasil (BNB), constituídoem 1952, e o Banco de Crédito da Amazônia(BCA), sucessor em 1950 do Banco do Créditoda Borracha (BCB). Em 1966, o BCA é trans-formado no Banco da Amazônia S.A. (Basa).
A partir dos anos 60, o modelo de desen-volvimento econômico baseado na ação indu-tora e financiadora do Estado se consolidou ese fortaleceu amparado pelo sistema autoritá-rio de governo que assumiu em 1964. A cria-ção do Banco Central (Bacen), em 1965, e doBanco Nacional da Habitação (BNH), em 1964,de fundos de financiamento como o Finame(1964) e o FGTS (1966) e a unificação das 22Caixas Econômicas Estaduais (1969) exem-

Revista de Informação Legislativa268
plificam bem as preocupações oficiais com aorganização do sistema financeiro e com a cri-ação de mecanismos mobilizadores de poupan-ça para o financiamento de projetos nas áreaseconômica e social.
Seguindo esse mesmo figurino, os Estadosbrasileiros passaram a constituir suas própriasinstituições financeiras de fomento, na formade bancos de desenvolvimento. A instituiçãopioneira foi o Banco Regional de Desenvolvi-mento do Extremo Sul (BRDE), autarquia in-terestadual criada, em 1961, pelos Estados doParaná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.Esses três Estados, assim como, praticamente,todos os demais, no decorrer das duas décadasseguintes, criaram seus próprios bancos estadu-ais de desenvolvimento, com a finalidade prin-cipal de repassarem as linhas de financiamentodos bancos federais, em especial, do BNDES.
A crise do modelo de financiamento doEstado brasileiro, bem evidente já no início dadécada de 80, afetou as instituições financeirasfederais de forma intensa e variada. Em pri-meiro lugar, o esgotamento da capacidade doorçamento federal em gerar poupança, retiroudas instituições oficiais de crédito a principalfonte de financiamento dos programas de fo-mento. Em segundo lugar, as taxas elevadas deinflação e os descompassos entre a correçãomonetária das fontes de recursos do SistemaFinanceiro da Habitação – caderneta de pou-pança e Fundo de Garantia do Tempo de Ser-viço (FGTS) – e dos saldos devedores das apli-cações tornaram inviável o Banco Nacional daHabitação (BNH), que acabou por ser absorvi-do pela Caixa Econômica Federal, em 1986.Em terceiro lugar, o encerramento, pelo Go-verno Federal, das operações da “conta-movi-mento”, por meio da qual eram canalizadosimportantes subsídios à agricultura, passou arepresentar, permanentemente, o sacrifício da
rentabilidade do Banco do Brasil.Apesar dessas limitações, as instituições fi-
nanceiras federais, como de resto também osbancos privados, no decorrer da década de 80,beneficiaram-se da figura do “imposto inflacio-nário” como mecanismo garantidor de altas ta-xas de rentabilidade durante os longos perío-dos de inflação elevada, que se alternavam comas rápidas fases de estabilização, proporciona-dos pelos planos econômicos. O resultado dasdistorções foi o superdimensionamento do sis-tema financeiro, cuja crescente participação noPIB chegou a alcançar 24,1% em 1989 (Tápias,1994, p. 105).
Na primeira metade da década de 90, o sis-tema financeiro desenvolveu grande esforço deajuste, preparando-se para a estabilidade eco-nômica. A participação do sistema no PIB caiu,em 1993, para 9,3%, o que é uma boa medidado ajuste realizado (Tápias, 1994, p. 105). Su-jeito a limitações político-institucionais, o sis-tema financeiro oficial vem ajustando-se à novarealidade com lentidão e grandes dificuldades.Tome-se como exemplo, a crise do Banco doBrasil e dos bancos estaduais.
3.2. As instituições financeiras federaisO segmento das instituições financeiras Fe-
derais é constituído pelas seguintes entidades:Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal(CEF), Banco de Desenvolvimento Econômicoe Social (BNDES), Banco do Nordeste do BrasilS/A (BNB), Banco da Amazônia S/A (Basa) eFinanciadora de Estudos e Projetos (Finep)2 .
Na forma de um rápido perfil das institui-ções financeiras federais, apresenta-se, na ta-bela abaixo, alguns dos principais númerosextraídos do balanço patrimonial e, na seqüên-cia, uma descrição sucinta dos programas decada instituição, com destaque para as ativida-des voltadas ao fomento3.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS(saldos em 31.12.96 das principais contas do balanço patrimonial)
Instituição FinanceiraFederal
Operaçõesde Crédito
Ativo Total Pass. Circ. eExig. L. P.
PatrimônioLíquido
BNDES/a
Caixa Econômica FederalBanco do Brasil S.A./b
Banco do Nordeste do Brasil S.A.Banco da Amazônia S.A.Financiadora de Estudos e Projetos
32.028.05146.085.57823.520.4582.643.285
196.977766.995
46.488.65994.370.67581.526.7474.380.3801.032.370
829.245
36.453.73990.198.31475.919.2533.917.790
901.435478.045
10.034.9204.171.8865.592.213
434.547102.535351.200
FONTE: Balanço patrimonial de 31.12.1996.Notas: a Inclui Finame e Bndespar; b BB, agências no país e exterior (legislação societária).
2 No período 1985 a 1997, o Governo Federalcontrolou o Banco Meridional, instituição sucessora
de tradicionais casas bancárias sediadas no Rio Grandedo Sul, estatizado em 1985 com o objetivo de evitar a
Em R$ 1.000,00

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 269
Banco Nacional de DesenvolvimentoEconômico e Social (BNDES)
O BNDES, empresa pública vinculada aoMinistério do Planejamento e Orçamento, é umdos maiores bancos de desenvolvimento domundo. Possui ativos totais e patrimônio líqui-do correspondentes, respectivamente, a 8% e16 % do Sistema Financeiro Nacional. Contacom duas subsidiárias: (i) a Finame, destinadaa apoiar, com recursos de longo prazo, os pro-jetos de expansão, reequipamento e moderni-zação do parque fabril brasileiro, assim comoa financiar a comercialização, no Brasil e noexterior, de máquinas e equipamentos fabrica-dos no País; e (ii) a Bndespar que opera sob aforma de participação societária transitóriaminoritária junto a empresas que executamprojetos considerados prioritários. O valor con-tábil da carteira de ativos da Bndespar alcançaUS$ 10 bilhões.
O banco é o agente executor do ProgramaNacional de Privatização desde a criação doPND, em 1990. Nesse período, foram privati-zadas 48 empresas e participações acionáriasestatais federais, além de seis trechos da RedeFerroviária Federal S.A., repassados à inicia-tiva privada por concessão. O total das vendasdas empresas estatais alcança U$ 17,3 bilhõesque, somados a U$ 8,9 bilhões corresponden-tes às dívidas transferidas para as empresasprivadas, elevam o resultado consolidado doprocesso de privatização até agora a U$ 26,2bilhões.
A atuação do BNDES deve ocupar lugarcentral nos esforços de formulação, na LDO,da política de aplicação das agências oficiaisde fomento. Conforme os dados do balanço de31.12.96 da instituição, dos R$ 46,4 bilhõesque constituem o passivo total, setenta por cento– R$ 31,1 bilhões – são recursos do PIS-Pasepe do FAT. Além disso, o banco administra trêsfundos públicos – Fundo de Participação Soci-al, Fundo de Marinha Mercante e Fundo Nacio-nal de Desenvolvimento – cujos ativos totaissomam R$ 5,9 bilhões.No exercício de 1996, oBNDES realizou cerca de 30 mil operações –de forma direta ou por meio da rede de insti-
tuições repassadoras –, desembolsando R$ 9,7bilhões.
As modalidades principais de atuação dobanco e de suas subsidiárias compreendem: (i)financiamento a investimentos, aquisição e le-asing de máquinas e equipamentos; (ii) finan-ciamento à exportação de bens e serviços; (iii)operações de capitalização de empresas; (iv)operações de prestação de garantias financei-ras, e (v) programas de financiamento setori-ais, regionais e sociais. Vale a pena citar al-guns dos projetos de infra-estrutura aprovadosem 1996 e que se encontram em execução:Gasoduto Brasil–Bolívia, Hidrovia do RioMadeira, Porto de Sepetiba, Metropolitanos deSão Paulo e do Rio de Janeiro e Hidrovia Ara-guaia–Tocantins. A carteira do Proempregochegou a contratar, em 1996, financiamentosno valor de R$ 2 bilhões para projetos em cin-co subprogramas: Transporte Coletivo de Mas-sa, Infra-Estrutura para Melhoria da Competi-tividade, Saneamento Ambiental, Infra-Estru-tura para Turismo e Revitalização de SetoresIndustriais.
Caixa Econômica FederalA Caixa Econômica Federal, empresa pú-
blica vinculada ao Ministério da Fazenda, é omaior banco do País em ativos (R$ 90,6 bi-lhões), empréstimos (R$ 46,1 bilhões) e depósi-tos (R$ 53,2 bilhões), se considerados os dadosde 1996. Possui 2.011 pontos de vendas, ondeoferece as várias modalidades de serviços típicosde banco comercial. Administra importantes pro-gramas oficiais, entre eles, o Programa de Inte-gração Social (PIS), o Salário-Desemprego, oFundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social(FAS), o crédito educativo, além de possuir omonopólio das loterias federais.
A instituição possui importante papel nosetor do financiamento habitacional (50% dasoperações de financiamento), no saneamentobásico (70% das obras) e na infra-estrutura ur-bana. No âmbito da habitação popular, a CEFé responsável por 95% dos financiamentos emvigor, responsabilizando-se pela administraçãodo Fundo de Desenvolvimento Social e peloFundo de Custeio de Programas de HabitaçãoPopular. Em 1996, após cinco anos de carên-cia na oferta de financiamentos habitacionais,as operações contratadas somaram R$ 1,5 bi-lhão, havendo demanda efetiva de contrataçãode operações no montante de R$ 4 bilhões aoano nos próximos dois exercícios. Ainda em
falência do Banco Sul-Brasileiro. Contando, em30.4.97, com um patrimônio líquido de R$ 337,2 mi-lhões e um circulante e exigível de longo prazo de R$2.311,9 milhões, o Banco Meridional foi privatizadoatravés de leilão realizado em 4.12.97.
3 Os dados e informações foram obtidos junto aosendereços mantidos pelas entidades na Internet.

Revista de Informação Legislativa270
1996, a CEF realizou 997 mil inscrições paraas novas linhas de crédito no segmento habita-cional e emitiu 242 mil cartas de crédito.
Como agente financeiro do Tesouro Fede-ral, a CEF vem atuando na implementação doPrograma de Apoio à Reestruturação e ao Ajus-te Fiscal dos Estados, compreendendo os se-guintes tipos de operações: (i) aquisição de cré-ditos detidos pelo sistema bancário junto aosEstados, (ii) refinanciamento da dívida mobi-liária e outras de responsabilidade dos Estadose do Distrito Federal, (iii) financiamento dosprogramas de desligamento voluntário dos Es-tados e (iv) apoio à administração fiscal dosEstados. Em 1996, as operações neste segmen-to alcançaram R$ 2,4 bilhões.
Com recursos do Orçamento da União, aCEF, por meio dos Programa Pró-Moradia,Habitar Brasil, Programa Ação Social em Sa-neamento (PASS) e o Programa de Infra-Es-trutura (Pró-Infra), financia projetos dos Esta-dos, Distrito Federal e Municípios destinadosà melhoria da qualidade de vida da populaçãode baixa renda. Em 1996, no âmbito dessesprogramas foram firmados cerca de 2.350 con-tratos, no valor total de R$ 798 milhões. Res-ponsável pela implementação da Política Na-cional de Saneamento e Infra-Estrutura Urba-na, a Caixa, de 1970 a 1994, liberou recursosda ordem de R$ 15 bilhões para projetos deabastecimento de água, esgotamento sanitárioe drenagem urbana. Em 1996, por meio do Pro-grama Pró-Saneamento, foram realizadas 368operações com recursos do FGTS, no valor deR$ 731,2 milhões, beneficiando 1,8 milhões depessoas.
Banco do Brasil S.A.O Banco do Brasil S.A. é a maior institui-
ção financeira do País e da América Latina.Desenvolvendo estrutura de conglomerado fi-nanceiro, o banco possui várias subsidiáriasintegrais, nas áreas de cartões, corretora, dis-tribuidora de títulos e valores mobiliários, fi-nanceira, investimentos e leasing. Controla aBBTur e possui participação acionária em cer-ca de cem empresas nacionais. Conta com cer-ca de 4.500 pontos de atendimento no país eno exterior, entre agências e postos, onde tra-balham 80 mil funcionários.
Como as demais instituições financeiras, oBB vem executando mudanças estruturais nosprocedimentos operacionais internos visandoadaptar-se à estabilidade econômica. Além dodesaparecimento dos ganhos derivados da in-flação, o banco tem sofrido com elevadas taxas
de inadimplência, conseqüência das novas re-gras do crédito sem subsídio. O reconhecimentode significativo volume de créditos em liqui-dação levou a instituição a encerrar os últimosexercícios com grandes prejuízos: em 1995, oresultado líquido negativo alcançou R$ 4,2 bi-lhões e, em 1996, R$ 7,5 bilhões. O esforço desaneamento da instituição acabou exigindoaporte substancial de recursos do acionistamajoritário – União – que, em 1996, subscre-veu aumento de capital da ordem de R$ 6,4bilhões. Os resultados líquidos positivos dosdois últimos semestres – R$ 255 milhões no 2ºsemestre de 1996 e R$ 287 milhões no 1º se-mestre de 1997 – parecem sinalizar o início darecuperação do banco.
Afora seu importante papel de mobilizadorde recursos destinados ao capital de giro paraas atividades econômicas urbanas, o BB se no-tabilizou como o grande responsável pelo fi-nanciamento do setor primário, em particularda agricultura. Na parte relativa ao custeio agrí-cola, o banco, historicamente, responsabiliza-va-se por dois terços dos empréstimos; nos úl-timos exercícios, essa participação vem alcan-çando 80%.
A partir de 1991, com a nova realidade or-çamentária do setor público, os repasses doTesouro e dos demais fundos das entidadesgovernamentais destinados ao setor passarama representar menos de 10% dos recursos, sen-do que 90% dos empréstimos agrícolas conce-didos pelo banco têm por base recursos própri-os ou captados no mercado, em particular pelaCaderneta de Poupança. Ao lado da implemen-tação de planos de regularização de dívidas,com a reincorporação de produtores ao créditorural, o BB tem buscado novas fontes de recur-sos destinados a empréstimos, criado modali-dades inovadoras de atuação, como o Progra-ma de Garantia da Atividade Agropecuária(Proagro), a Cédula de Produto Rural (CPR), aCentral de Leilão Eletrônico em Bolsas deMercadorias e os Convênios de Integração Ru-ral (Convir).
O BB responsabiliza-se pela aplicação dosrecursos do Fundo Constitucional de Financi-amento do Centro-Oeste (FCO), criado em1989, com o objetivo de contribuir para o de-senvolvimento da região Centro-Oeste, medi-ante o financiamento a projetos dos setoresagropecuário – inclusive reforma agrária –,agro-industrial, industrial e de turismo. Prio-ritariamente, o fundo busca apoiar empreendi-mentos realizados por micro e pequenas em-

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 271
presas e produtores rurais de pequeno porte.Para o exercício de 1997, o Orçamento da Uniãocontempla o FCO com dotação de R$ 314,6milhões; no projeto de lei orçamentária para1998, esses recursos estão estimados em R$289,4 milhões.
Banco do Nordeste do Brasil
O Banco do Nordeste do Brasil, sociedadede economia mista vinculada ao Ministério daFazenda, desempenha funções de banco comer-cial e de desenvolvimento, responsabilizando-se pela execução dos principais programas definanciamento do desenvolvimento da regiãoNordeste do País. Administra o Fundo Consti-tucional de Financiamento do Nordeste (FNE)e operacionaliza o Fundo de Investimentos doNordeste (Finor). O banco é agente repassadorde recursos do Banco Nacional de Desenvolvi-mento Econômico e Social (BNDES), da Cai-xa Econômica Federal, da Financiadora deEstudos e Projetos (Finep), do Banco Central,da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur)e do Tesouro Nacional. Com base em recursospróprios, o BNB financia projetos na área dapesquisa por meio do Fundo de Desenvolvimen-to Científico e Tecnológico, do Fundo de Apoioàs Atividades Sócio-Econômicas do Nordestee do Fundo de Desenvolvimento Regional.
As aplicações totais em 1996 somaramR$ 2,5 bilhões, oriundos do Fundo Consti-tucional de Financiamento do Nordeste (R$776 milhões), do Fundo de Amparo ao Tra-balhador (R$ 266 milhões), de repasses doBanco Nacional de Desenvolvimento Eco-nômico e Social (R$ 134 milhões), de cap-tações externas regulamentadas pelas Reso-luções 63 e 2.148 do Banco Central do Bra-sil (R$ 150 milhões) e de captações junto aomercado. No final de 1996, o saldo das apli-cações atingiu R$ 6,5 bilhões, com cresci-mento de 34% em relação a 1995.
Além da administração do Fundo Consti-tucional de Financiamento do Nordeste (saldode operações de R$ 3,2 bilhões em 31.12.1996)e da operacionalização da carteira de ações ede debêntures do Fundo de Investimento doNordeste (carteira no valor de R$ 2,7 bilhões),o BNB programa investir cerca de U$ 800 mi-lhões, dos quais U$ 400 milhões oriundos doBanco Interamericano de Desenvolvimento(BID), em projetos enquadrados no Programade Desenvolvimento do Turismo no Nordeste(Prodetur).
Banco da Amazônia S.A.
O Banco da Amazônia S.A, sociedade deeconomia mista vinculada ao Ministério daFazenda, além das operações próprias de ban-co comercial, opera como banco de desenvol-vimento e agente financeiro do Governo Fede-ral na região da Amazônia Legal. É responsá-vel pela operacionalização de dois importantesmecanismos de apoio financeiro ao desenvol-vimento regional: o Fundo de Investimento daAmazônia (Finam) e o Fundo para o Desen-volvimento da Região Norte (FNO), em arti-culação com a Superintendência do Desenvol-vimento da Amazônia (Sudam). O Basa atua,igualmente, como repassador de recursos debancos e instituições de fomento do governofederal, especialmente do Banco Nacional deDesenvolvimento Econômico e Social (BN-DES), da Caixa Econômica Federal, da Finan-ciadora de Estudos e Projetos (Finep), da Em-presa Brasileira de Turismo (Embratur) e doTesouro Nacional.
Financiadora de Estudos e Projetos
A Financiadora de Estudos e Projetos (Fi-nep), empresa pública vinculada ao Ministérioda Ciência e Tecnologia, completou, em 1997,trinta anos de atuação nas áreas de fomento aodesenvolvimento científico e tecnológico. Nesseperíodo, por meio de recursos reembolsáveis ea fundo perdido, a instituição apoiou a execu-ção de 1.200 projetos e a criação de 1.500 cur-sos de pós-graduação.
Entre os principais programas da institui-ção estão os seguintes: (i) DesenvolvimentoTecnológico (ADTEN), dirigido ao financia-mento de projetos de empresas relativos ao de-senvolvimento, aperfeiçoamento ou absorção detecnologias de produto, processos e serviços;(ii) Pré-Investimento (AUSC), voltado ao fi-nanciamento de estudos, projetos, planos e pro-gramas de interesse econômico e social, pelacontratação de serviços de empresas de con-sultoria; (iii) Apoio Tecnológico às Micro ePequenas Empresas (PATME), voltado ao apoiofinanceiro às micro e pequenas empresas vi-sando a incorporação de novas tecnologias e oaumento da produtividade e competitividade;(iv) Apoio ao Desenvolvimento Científico eTecnológico (ADCT/FNDCT), voltado à apli-cação de recursos do Fundo Nacional do De-senvolvimento Científico e Tecnológico na in-fra-estrutura de pesquisa no País, desenvolvi-da por universidades, centros e institutos de

Revista de Informação Legislativa272
pesquisa e pós-graduação; e (v) Apoio ao De-senvolvimento Científico e Tecnológico(ADCT/PADCT), destinado à mobilização derecursos, inclusive externos, destinados a uni-versidades, centros de pesquisas e empresas,visando a ampliação, melhoria e consolidaçãoda competência técnico-científica nacional, emáreas específicas.
As principais fontes de recursos da Finep,com vistas ao atendimento das linhas acimarelacionadas, são as seguintes: aportes de ca-pital do Tesouro, dotações orçamentárias doPADCT constantes do orçamento do Ministé-rio de Ciência e Tecnologia, dotações orçamen-tárias do Fundo Nacional de DesenvolvimentoCientífico e Tecnológico (FNDCT), emprésti-mos internos junto ao Fundo Nacional de De-senvolvimento e ao Fundo de Amparo ao Tra-balhador (FAT), empréstimos externos junto aoBanco Interamericano de Desenvolvimento(BID) e recursos derivados do retorno de fi-nanciamentos. Em 1996, a instituição liberouum total de R$ 322,5 milhões, dos quais R$227,3 milhões na forma de operações com re-torno – R$ 205,4 milhões de financiamentos eR$ 21,9 milhões como participação nos resul-tados – e R$ 95,2 milhões em operações semretorno – R$ 66,8 milhões com recursos doFNDCT e R$ 28,4 milhões do PADCT4.
4. Precisando-se os termosA Constituição Federal, no art. 165, § 2º,
estabelece que a lei de diretrizes orçamentári-as, entre outros conteúdos, “estabelecerá apolítica de aplicação das agências financei-ras oficiais de fomento”. Há, nesta frase, duasexpressões cuja correta interpretação é neces-sária para que se possa observar corretamentea regra constitucional: política de aplicação eagências financeiras oficiais de fomento.
4.1. Política de aplicação
Na bibliografia especializada, nos documen-tos oficiais e, até mesmo, nas normas legais,emprega-se o termo política com tantas e varia-das conotações, que a interpretação desse dis-positivo constitucional é plena de interrogações.Simplificados para o caso em tela, os váriossentidos podem ser sintetizados em dois: po-
lítica como o conjunto (i) de regras que nortei-am a ação do Estado e (ii) de objetivos preten-didos com a execução dos programas de açãodo Estado5.
Conforme o exposto inicialmente, não cabeà LDO estabelecer regras instrumentais paraas aplicações das IFFs, posto que tal compete àlei ordinária e, dentro desse marco, aos nor-mativos internos de cada instituição. Assimsendo, política de aplicação das agências fi-nanceiras oficiais de fomento diz respeito, es-pecialmente, aos objetivos concretos que o go-verno espera alcançar com a aplicação das li-nhas de fomento. É oportuno ressaltar que taisdefinições, na LDO, estarão sempre condicio-nadas pelas disposições da legislação ordiná-ria porventura relacionadas com a matéria.
4.2. Agências financeiras oficiais de fomento
Assim expresso, o dispositivo permite su-por que, entre as agências financeiras da União,algumas são de fomento, outras não. Até queponto é correta essa interpretação? No presen-te contexto, o verbo fomentar tem, segundo oDicionário Aurélio Eletrônico (V. 2.0), o sen-tido de “promover o desenvolvimento, o pro-gresso de; estimular; facilitar”etc. Dito assim,não haveria exagero em considerar-se todas asIFFs como agências de fomento, pois conven-ciona-se ser missão do sistema financeiro ofi-cial o apoio às ações e aos projetos ligados aodesenvolvimento econômico e social. Se corre-ta essa interpretação, todas as IFFs estariamenquadradas na regra constitucional em análi-se.
Não é razoável, entretanto, restringir-se aesse entendimento – por demais extensivo –dado ao conceito de fomento. Olhando pelo ladoda oferta de recursos, as IFFs operam com vari-ada gama de linhas de financiamento e pro-gramas de crédito, envolvendo especialmente:a expansão e modernização de empreendimen-tos dos setores primário, secundário e terciá-rio, o apoio a projetos de capacitação tecnoló-gica, de infra-estrutura, meio ambiente, sanea-mento, turismo, habitação, capital de giro, cus-teio agropecuário, comercialização de produ-tos, além de crédito à pessoa física. Deve-se
4 Dados obtidos em BRASIL. Ministério da Ci-ência e Tecnologia. Relatório de Atividades MCT,1986. Brasília : Ministério da Ciência e Tecnologia,1997. p. 256.
5 O dicionário eletrônico Aurélio (V.2.0) defineassim essas duas conotações para a expressão polí-tica: “2. Sistema de regras respeitantes à direçãodos negócios públicos. 4. Conjunto de objetivos queenformam determinado programa de ação governa-mental e condicionam a sua execução” .

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 273
reconhecer que algumas das operações citadasnão são, estrito senso, de fomento, enquanto,em outros casos, essa caracterização é mais di-fícil e problemática.
Como exercício de identificação, poder-se-ia partir de três categorias visando classificaras áreas de atuação das IFFs: fomento, não-fo-mento e fronteira entre estas duas categorias.
Entre os programas e linhas de crédito defomento estariam enquadrados os que viabili-zam os investimentos públicos e privados nasvárias áreas e setores da economia. Esses fi-nanciamentos, em geral de médio e longo pra-zos, têm as características de fomento por esta-rem a serviço do esforço de Formação Bruta deCapital Fixo (FBCF). Entre as modalidades deintermediação financeira não voltadas ao fo-mento classificar-se-iam, pelos menos, as des-tinadas ao crédito pessoal e ao fornecimentode capital de giro às empresas. Já na fronteiraentre essas duas categorias, estariam os pro-gramas de financiamento de custeio de ativi-dades e de comercialização agropecuárias e definanciamento às exportações.
Ao aceitar-se, ainda que preliminarmente,esta classificação, percebe-se que as IFFs exe-cutam operações nas três categorias citadas.Com o objetivo de eliminar-se as atuais indefi-nições, a regulação da disposição constitucio-nal sobre as agências financeiras oficiais defomento seria realizada, na lei complementarde que trata o art. 165, § 9º, por meio da defi-nição do que seja operação financeira de fo-mento.
5. Os recursos orçamentáriosvoltados ao fomento
As dúvidas porventura derivadas da impre-cisão dos termos e da ausência de definiçõesconceituais não são de molde, entretanto, a atin-gir todas as modalidades de aplicações a cargodas agências financeiras de fomento. Os recur-sos constantes de leis orçamentárias e repassa-dos às IFFs para aplicação são, sem nenhumadúvida, recursos de fomento, merecendo, porisso, disciplinamento na LDO segundo as dis-posições da Constituição.
Esse ponto é ilustrado com os dados doAnexo I, onde aparecem as dotações constan-tes do orçamento federal destinadas a financi-ar atividades e projetos por intermédio das IFFs.O referido levantamento cobre o fomento àsatividades econômicas e, mesmo assim, de for-ma não exaustiva, estando excluídos os recur-
sos oficiais destinados ao financiamento deprogramas sociais, onde se destacam os repas-sados pela Caixa Econômica Federal. A iden-tificação e levantamento completo dessas apli-cações e linhas fogem do escopo deste traba-lho, o que não significa desconsiderá-las, depronto, como aplicações de fomento.
Os elementos do Anexo I possibilitam con-siderações úteis para a presente análise. Emprimeiro lugar, está a questão do montante derecursos orçamentários, a cada ano destinadosao fomento de atividades econômicas. Mesmoque se considere que, no passado, a poupançapública destinada a apoiar projetos privadosalcançava valores bem superiores aos atuais,os recursos destinados, hoje, às ações de fo-mento econômico não deixam de ser significa-tivos, especialmente se comparados ao mon-tante total dos investimentos diretos realiza-dos no âmbito dos orçamentos fiscal e da segu-ridade. No projeto de lei orçamentária para1998, por exemplo, as diversas ações de fomen-to a cargo das IFFs contam com recursos daordem de R$ 7,7 bilhões, enquanto o total alo-cado no Grupo de Despesa e Investimentossoma valor bastante próximo: R$ 8,3 bilhões.Nos dois últimos exercícios encerrados – 1995e 1996 – o montante de recursos aplicados pe-las IFFs chegaram a superar as aplicações eminvestimentos diretos. No caso do exercício de1996, os recursos orçamentários transferidospara as IFFs mais que dobraram em relaçãoaos investimentos diretos, como conseqüênciada aplicação de R$ 6,4 bilhões no aumento decapital do Banco do Brasil S/A.
Em segundo lugar, cabe ressaltar a ausên-cia praticamente total de monitoramento oucontrole parlamentar sobre o destino dessesrecursos após sua entrega às IFFs. Apenas asaplicações rotuladas como Operações Oficiaisde Crédito reaparecem anualmente na receita,sujeitando-se ao processo orçamentário comum.As demais transferências, na modalidade deinversões financeiras – empréstimos (FAT eFundos Constitucionais) e aumento de capital(Finep, BNB e BB) –, após o único tratamentoorçamentário que sofrem, passam a constituirpassivos das IFFs, sobre os quais inexistem, deacordo com o interesse parlamentar, mecanis-mos institucionalizados de avaliação e contro-le dos resultados alcançados.
Exceção feita aos recursos das OperaçõesOficiais de Crédito, cuja reprogramação anualtem na própria lei orçamentária um importan-te instrumento de acompanhamento e aferição,

Revista de Informação Legislativa274
as demais aplicações orçamentárias destinadasàs IFFs, normalmente caracterizadas pela au-sência de transparência quanto aos objetivospretendidos, estão na dependência de melhordisciplinamento, que deve se dar no âmbito docapítulo da LDO sobre a política de aplicaçãodas agências financeiras oficiais de fomento.
6. O tratamento dado ao tema nas LDOs
6.1. Políticas e prioridades
Veja-se, agora, como as nove LDOs apro-vadas, no nível federal, desde a outorga daConstituição de 1988, tratam o tema da políti-ca de aplicação das agências financeiras ofici-ais de fomento. Os dados constantes dos Ane-xos II e III, apresentados no final deste estudo,estão organizados de forma a possibilitar umavisão de conjunto das questões abordadas, des-tacando, ao mesmo tempo, os elementos trata-dos em cada LDO.
No Anexo II, estão listadas as 26 políticasou prioridades que foram especificamente iden-tificadas nas várias edições da LDO. A ques-tão abordada anteriormente, sobre as dificul-dades de compreensão dos termos, está bemexemplificada nas LDOs, em que, quase sem-pre, os termos política e prioridade são em-pregados como sinônimos. As três primeirasLDOs – exercícios de 1990, 1991 e 1992 – de-monstram claramente as principais limitaçõesdessa abordagem, que podem ser assim sinteti-zadas: (i) fixação de grande número de áreas esetores a serem atendidos pelas agências defomento (por exemplo: 16 em 1991 e 1992);(ii) estabelecimento de políticas e prioridadesexcessivamente genéricas (por exemplo: “re-dução das desigualdades intra e inter-regionais”e “proteção ao desenvolvimento de atividadesestratégicas para a defesa nacional”); e (iii)ausência total de quantificação e de medidaspara os objetivos, com a conseqüente inexis-tência de amarração entre a disposição legal eo seu cumprimento.
As LDOs relativas aos exercícios de 1993,1994 e 1995 não apontaram políticas e priori-dades específicas, optando por determinar, àsagências de fomento, a observância das priori-dades constantes do Plano Plurianual (PPA).Foi uma solução de duvidosa eficácia, por duasordens de razões: em primeiro lugar, são sufi-cientemente conhecidas as limitações do PPAcomo instrumento de programação e de defini-ção de prioridades e, em segundo lugar, o PPA
é um plano destinado a estabelecer “as diretri-zes, objetivos e metas da administração públi-ca federal” (art. 165, § 1º da CF), enquantoque a definição da política de aplicação dasagências oficiais de fomento deve consideraras necessidades do desenvolvimento regionale nacional, onde as iniciativas, em boa medi-da, cabem ao setor privado.
As LDOs para os exercícios de 1996, 1997e 1998 representaram um avanço em relaçãoàs anteriores: cada política/prioridade está as-sociada à uma IFFs específica: Banco do Bra-sil, BNDES, Caixa Econômica Federal, Bancodo Nordeste etc. Esse aperfeiçoamento é, dequalquer forma, insuficiente, pois os objetivoscontinuaram sendo tratados de forma excessi-vamente genérica, sem quantificação e semqualquer base para aferição.
6.2. RegrasAs várias LDOs, ao lado do estabelecimen-
to de políticas/prioridades, têm fixado algumasregras a serem observadas pelas IFFs. No Ane-xo III, aparecem relacionadas as sete regrasbásicas constantes das várias LDOs, duas dasquais aprovadas pelo Congresso Nacional evetadas pelo Poder Executivo. Das sete regrascitadas, três sofreram complementação emLDO posterior.
Uma das regras tem estado presente, comvariações, em todas as LDOs. Trata-se da exi-gência de que os “critérios de remuneração dosempréstimos, pelo menos, preservem o valordos recursos”, ou seja, os encargos de financi-amento “não poderão ser inferiores aos custosde captação e de administração, salvo os casosprevistos em lei”.
Duas outras regras constaram, cada uma,em seis LDOs. A primeira, com várias com-plementações, fez parte das LDOs do período1990 a 1995. Determinava que a mensagemque acompanha o projeto de lei orçamentáriaanual traria a política de aplicação de cadaagência de fomento. Em três dessas LDOs, fi-cava “vedado ao Tesouro Nacional repassarrecursos à agência cuja política não constasseda mensagem”, sendo que na LDO para 1992esse dispositivo acabou vetado. Igualmente ve-tada nessa LDO foi a disposição prevendo quea mensagem do Ploa traria a política de aplica-ção de cada agência detalhada “por região,Estado e Município”. No período 1993 a 1995,as LDOs alteraram em parte o sentido da re-gra, estabelecendo que a “mensagem que acom-panha o Ploa deverá demonstrar a proporção

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 275
de recursos destinados às prioridades”.As LDOs dos últimos seis exercícios vêm
estabelecendo que “a concessão de emprésti-mos a Estado, Distrito Federal e Município,inclusive suas entidades da administração in-direta, fica condicionada a que elas não este-jam inadimplentes com a União e seus órgãosda administração indireta”. Nas últimas cincoLDOs, a exigência de adimplência foi estendi-da, também, com relação ao Fundo de Garan-tia do Tempo de Serviço (FGTS).
O processo de elaboração da LDO para oexercício de 1998, há pouco finalizado, man-teve as regras tradicionais relativas (i) à pre-servação do valor dos recursos captados pelasagências de fomento e (ii) à necessidade deadimplência por parte das unidades da Federa-ção candidatas aos financiamentos, e buscouinovar por meio da proposição de três novasregras, duas delas vetadas pelo Presidente daRepública. As disposições vetadas estabelecem(i) que “os bancos de desenvolvimento fede-rais e seus agentes financeiros adotarão políti-cas de fomento destinadas a privilegiar os seg-mentos das micro, pequenas e médias empre-sas, de forma que, no mínimo, sessenta e cincopor cento do total de seus recursos sejam a elesconcedidos, desde que haja demanda habilita-da” e (ii) a vedação da “utilização de recursosdas agências financeiras oficiais de fomentopara concessão de empréstimos ou financia-mentos a empresas com a finalidade de inte-grar o processo de privatização”.
A terceira regra estabelece que “a progra-mação orçamentária dos recursos destinados àsagências oficiais de fomento será detalhada deforma a possibilitar a verificação do cumpri-mento do disposto nesta Lei”. Apesar de atin-gir apenas os recursos de fomento consignadosno orçamento anual e não esclarecer como deve-se dar o detalhamento da programação orça-mentária, este dispositivo representa uma si-nalização positiva em busca do aperfeiçoamentoda LDO.
7. ConclusãoA experiência obtida, no âmbito federal,
com as nove LDOs elaboradas desde 1988 nãopossibilitou ainda avanços significativos no tra-tamento do tema da política de aplicação dasagências financeiras oficiais de fomento. OPoder Executivo, na postura cômoda propicia-da pela garantia do direito de iniciativa dessamatéria, vem demonstrando falta de interesse
em compartilhar o disciplinamento do tema etem proposto de forma burocrática e anódina,a cada ano, o capítulo respectivo da LDO. OPoder Legislativo, por seu turno, pretende con-tribuir na condução do assunto, mas sofre delimitações importantes, conseqüência da espe-cialização que caracteriza o tema, da falta sis-temática de informações e dados e, também,do desconhecimento sobre os próprios funda-mentos da atividade financiadora por parte doEstado6.
O exercício da função do Poder Legislativode apreciar e aperfeiçoar o capítulo em questãoda LDO ficará facilitado com a aprovação denormas que regulem esse tópico constitucio-nal, superando as indefinições conceituais eestabelecendo como o tema deve ser tratado,seja na fase de projeto de lei, como da próprialei. A oportunidade para produzir tal normati-zação é a lei complementar exigida pelo art.165, § 9º, da CF, que tem como incumbênciadispor, entre outros assuntos, sobre a elabora-ção e a organização da Lei de Diretrizes Orça-mentárias.
A futura lei complementar precisará enfren-tar várias das indefinições que cercam, na LDO,a elaboração do capítulo sobre a atuação dasagências financeiras oficiais de fomento. Exem-plificadamente, espera-se que a referida nor-ma esclareça a amplitude do conceito de fo-mento tendo em vista suas modalidades (fomen-to econômico ou social), especificidades (comretorno ou sem retorno) e classes de tomadores(setor privado lucrativo ou não-lucrativo ou,ainda, setor estatal). Não menos necessário, étratar essa mesma questão quanto à origem dosrecursos envolvidos nos programas de fomen-to: orçamentários, da própria instituição, em-préstimos internos e externos, retorno de finan-ciamentos etc. Indispensável, igualmente, édefinir, de forma operacional, a expressão po-lítica de aplicação para o caso em tela, assimcomo fixar os critérios de identificação dasagências financeiras oficiais de fomento no
6 Parte das limitações que caracterizam a açãolegislativa nesse campo decorre da própria teia deproteção que, ao longo do tempo, se teceu em tornodo sistema financeiro estatal, sob a pretensa justifi-cativa de protegê-lo das influências políticas. Se noplano político-institucional, essa “proteção” acaboupor funcionar, com prejuízo do importante papel fis-calizador que cabe ao Poder Legislativo, o mesmonão ocorreu no nível das relações comerciais entreinstituições financeiras estatais e agentes políticos,em significativa medida marcadas pelo clientelismo.

Revista de Informação Legislativa276
conjunto das IFFs.Na falta da lei complementar7, cabe ao Con-
gresso Nacional, por meio de emendas, aper-feiçoar os dispositivos que integram o capítuloda LDO sobre a política de aplicação das agên-cias oficiais de fomento. Nesse sentido, pode-riam ser consideradas as sugestões apresenta-das a seguir.
a) No caso dos recursos de fomento que in-tegram os orçamentos fiscal e da seguridadesocial, a LDO estabeleceria que os créditos edotações correspondentes nos projetos de leiorçamentária anual seriam acompanhados pordemonstrativos explicitando, para os principaisprogramas e linhas de cada instituição repas-sadora, (i) a legislação e normas principaispertinentes, (ii) as políticas e prioridades, (iii)a programação de operações a serem realiza-das, (iv) as metas e resultados esperados e (v)os valores a serem aplicados. Os referidos de-monstrativos ganhariam substância adicionalse trouxessem, também, os números e os resul-tados obtidos nos dois últimos exercícios en-cerrados e os previstos para o exercício em quea proposta orçamentária está sendo elaborada.
b) A LDO deveria passar a definir as ex-pressões política de aplicação e agências fi-nanceiras oficiais de fomento, de forma a co-brir as aplicações realizadas com os recursos
7 Desde a promulgação da Constituição Fede-ral, o tema da lei complementar – que atualizará alegislação sobre os orçamentos e sobre a gestão fi-nanceira e patrimonial estatal – tem mobilizado osinteressados, assim como proporcionado a elabora-ção de estudos e anteprojetos e a apresentação deprojetos de lei junto ao Congresso Nacional. O pro-jeto de lei de tramitação mais adiantada é o PL nº135, de 1996, proposto pela Comissão Mista de Pla-nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Aprova-
próprios das IFFs e de outras fontes que não osorçamentos fiscal e da seguridade social. Comoaqui não é o caso de se utilizar da lei orçamen-tária como instrumento demonstrativo dessasações, a LDO poderia estabelecer exigênciasno sentido de que cada IFF publique, previa-mente ao início de cada exercício, a programa-ção de suas aplicações de fomento, assim comorelatório anual, de maneira a comprovar a ob-servância dos dispositivos da própria LDO edas demais normas legais que regulam os vári-os programas e linhas de financiamento. Ca-beria, igualmente, determinar a publicação comas posições ativas e passivas de cada um dosfundos oficiais administrados pelas IFFs.
Bibliografia
BAER, Werner, KERSTENETZKY, Isaac, VILLE-LA, Annibal V. As modificações no papel doEstado na economia brasileira. Pesquisa e Pla-nejamento Econômico. Rio de Janeiro, v. 3, n.4,p. 883-912, dez. 1973.
BUSCEMA, Salvatore, BUSCEMA, Angelo. Con-tabilità dello Stato e degli enti pubblici. 2. ed.Milano : Guiffrè, 1994.
TÁPIAS, Alcides L. Os bancos em cenário de esta-bilidade econômica. São Paulo : Instituto Brasi-leiro de Ciência Bancária, 1994: A visão dosbancos.
do na Comissão de Finanças e Tributação da Câma-ra dos Deputados, o projeto encontra-se na Comis-são de Constituição e Justiça e de Redação da Câ-mara dos Deputados. Considerando a complexida-de dos conteúdos envolvidos e as distintas maneirasde valorizar tais conteúdos pelas Unidades da Fe-deração, assim como pelos Poderes Executivo eLegislativo, é de se esperar que a matéria tenha tra-mitação demorada.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 277
ANEXO IORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Recursos aplicados pelas IFFS, Receitas de OOC e Aplicações no GND Investimentos
Especificação Liquidado1995
Liquidado1996
LOA1997
PLOA1998
Fundos Constitucionais de financiamento do
FONTE:1995 a 1997: Siafi e Prodasen; 1998: Projeto de Lei nº 25 de 1997.
• Norte (FNO)• Centro-Oeste (FCO)• Nordeste (FNE)
304.745304.745914.234
1.523.724Subtotal
314.648314.648943.945
1.573.241
289.435289.435868.306
1.447.176
Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT)• Repasse ao BNDES
Subtotal
Operações Oficiais de Crédito• Financiamento Programas Investimento Agroindustrial 0
2.059.248Subtotal
0
3.103.394
0
3.568.049
• Programa de Financiamento às Exportações (Proex) 185.534 1.005.558 1.450.458• Empréstimos do Governo Federal (EGF) 691.929 515.700 303.209• Aquisições do Governo Federal (AGF) 810.801 1.227.903 1.446.035• Garantia e Sustent. Preços Comerc. Prod. Agropecuários 0 0 164.030• Progr.Nac. Fortalec. Agricultura Familiar (Pronaf) 4.812 64.630 90.380• Financiamento Programas Investimento Agropecuário 56.345 47.800 22.740• Financiamento de Custeio Agropecuário 309.827 241.803 91.197
29.789167.052
1.209.6701.369.605
00
124.8711.160.744
4.061.731
2.168.183
2.168.183
2.872.000
2.872.000
2.463.648
2.463.648
1.750.075
1.750.075
Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND)• Financiamento a Pequenas e Médias Empresas• Capitalização do Banco do Nordeste do Brasil (BNB)• Financiamento à Finep
315.000100.00075.000
490.000Subtotal
34.56485.00050.000
169.564
77.18395.00070.000
242.183
Ministério da Ciência e Tecnologia• Aumento de Capital da Finep
Subtotal
55.499
55.499
91.670
91.670
55.800
55.800
25.799
25.799
7.9730
36.000
43.973
Encargos Financeiros da União• Aumento de Capital do Banco do Brasil S/A
Subtotal
6.410.255
6.410.255
0
0
0
0
0
5.881.578Total
Receitas de Operações Oficiais de Crédito (Fonte 160)
Aplicações dos Orçamentos Fiscal e da SeguridadeSocial em Investimentos
0
4.006.069
4.715.150
12.706.909
1.949.508
5.704.405
7.809.869
2.475.211
9.916.929
7.776.856
2.658.941
8.353.716
Em R$ 1.000,00

Revista de Informação Legislativa278
ANEXO IIAGÊNCIAS FINANCEIRAS OFICIAIS DE FOMENTO
Prioridades e políticas estabelecidas nas LDOs de 1990 a 1998
90 91 92 93 94 95 96 97 98
Número de políticas ou prioridades apontadas na LDO:Especificação das políticas ou prioridades:• redução das desigualdades intra e inter-regionais;• defesa e preservação do meio ambiente;• apoio às micro, pequenas e médias empresas e aos mini,pequenos e médios produtores rurais e suas cooperativas;• prioridade para empreendimentos geradores de emprego;• prioridade às indústrias de bens de capital;• investimento no setor de energia elétrica;• desenvolvimento de pesquisas básica e aplicada;• saneamento básico e infra-estrutura urbana;• habitação popular;• investimento em transporte ferroviário, inclusive urbano;• projetos de agricultura irrigada e agroindústria;• reaparelhamento, aprimoramento e ampliação dos sis-temas de transporte urbano de massa;• restauração e conservação da malha rodoviária nacional;• reaparelhamento/melhoria do transporte ferroviário decarga;• melhoria e ampliação do sistema portuário nacional;• investimento em telecomunicações;• proteção ao desenvolvimento de atividades estratégi-cas para a defesa nacional;• redução do déficit habitacional e melhoria das condi-ções de vida da população carente por meio de apoio aprojetos de saneamento básico e infra-estrutura urbanapela Caixa Federal;• aumento da oferta de alimentos e produtos agrícolas deexportação pelos recursos alocados pelo Banco do Brasil;• aumento de oferta de alimentos no mercado interno eprodutos agrícolas de exportação por meio de recursosalocados pelo Banco do Brasil;• estímulo à criação de empregos e ampliação da oferta deprodutos de consumo popular, mediante apoio à expansãoe desenvolvimento de pequenas e médias empresas comrecursos do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal;• desenvolvimento da infra-estrutura e da indústria pelofomento à capacitação tecnológica, melhoria da competi-tividade da economia e geração de empregos, por meioda Finep e BNDES;• idem, a estruturação de unidades e sistemas produtivosorientados para o fortalecimento do Mercosul• intensificação das relações internacionais do Brasil comos seus parceiros comerciais, por meio do apoio do Ban-co do Brasil ao financiamento dos setores exportador eimportador;• redução das desigualdades sociais nas regiões NO, NEe CO do País, mediante apoio a projetos de aproveita-mento a oportunidades de desenvolvimento econômico-social e adoção de providências para aumentar a eficiên-cia dos instrumentos gerenciais dos Fundos – FNO, FNEe FCO – administrados pelo Bancos da Amazônia, doNordeste e do Brasil, respectivamente;• observando critérios de detalhamento por Estado e ação.Prioridades estabelecidas no Plano Plurianual
LDO dos exercícios de
12 16 16 6 6 6
X X XX X X
X X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XXX X X
X XX X
X XX XX X
X X X
X X X
X
X X
X X X
X X
X
X X X
X X
X X XX

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 279
ANEXO IIIAGÊNCIAS FINANCEIRAS OFICIAIS DE FOMENTO
Regras estabelecidas nas LDOs de 1990 a 1998
90 91 92 93 94 95 96 97 98
LDO dos exercícios de
X X
X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X
X
X
X
1. Política de aplicação de cada agência de fomento cons-tará da mensagem que acompanha o projeto da LOA.• Idem, com o detalhamento por região, Estado e Municí-pio.• Anexo à mensagem que acompanha o PLOA deverádemonstrar a proporção de recursos destinados às priori-dades.• Vedado ao Tesouro Nacional repassar recursos à agên-cia cuja política de aplicação não conste da mensagem.2. Operações de crédito das agências de fomento terãocritérios de remuneração que, pelo menos, preservem ovalor dos recursos.• Os encargos dos empréstimos não poderão ser inferio-res aos custos de captação, salvos os casos previstosem lei.• Idem, e aos custos de administração.3. As Unidades da Federação terão acesso à emprésti-mos das agências de fomento se comprovarem: a insti-tuição, a regulamentação e a cobrança dos tributos esta-belecidos na Constituição, a arrecadação de receita pró-pria, a aplicação de recursos no ensino, o atendimento dolimite de gastos com pessoal e de realização de opera-ções de crédito.4. A concessão de empréstimos a Estado, DF e Municí-pio, inclusive suas entidades da administração indireta,fica condicionada a que não estejam inadimplentes com aUnião e seus órgãos da administração indireta.• Idem, e com o FGTS.5. Os bancos de desenvolvimento federais e seus agen-tes financeiros adotarão políticas de fomento destinadasa privilegiar os segmentos das micro, pequenas e médiasempresas, de forma que, no mínimo, sessenta e cincopor cento do total de seus recursos sejam a eles concedi-dos, desde que haja demanda habilitada.6. A programação orçamentária dos recursos destinadosàs agências de fomento será detalhada de forma a possi-bilitar a verificação do cumprimento do disposto nesta Lei.7. Vedada a utilização de recursos das agências financei-ras oficiais de fomento para concessão de empréstimosou financiamentos a empresas com a finalidade de inte-grar o processo de privatização.
Regras
X X X
X X X X X
Observação: partes sombreadas significam dispositivos vetados pelo Poder Executivo.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 281
Concorde-se ou discorde-se, forçoso édobrar a cerviz e reconhecer, sem lugar àdúvida, que o imaginário da humanidade nãoelaborou, em seu processamento muitas vezesmilenar, apenas as poderosas representaçõesreferentes à vida, à justiça, à liberdade, àigualdade, à fraternidade, ao equilíbrio e à paz.Em seu difícil e fascinante percurso, oconflitado espaço da mundividência, comocampo de forças que é, abrigou as energiasdíspares de polaridades positivas e negativas,garantido, sem mais atavios, a desafiantecidadania para os desvalores da morte, dainjustiça, da escravidão, da desigualdade, doegoísmo, e da guerra. Daí, nasceu, sem que ajustiça estivesse a caminho, e, muito menos, aambição de sua plenitude, o ideal de chumboda segurança.
A gramática das idéias, por evidente, éíntima das demandas do concreto. A coleti-vidade e o indivíduo, as crenças totêmicas e aarte da guerra, as dádivas da natureza e osgrandes cataclismos, a livre e comum possessãoe o advento excludente da propriedade sãoforças, ora concentracionárias, ora dissolu-tórias, que testemunham, em seu embateinterativo, como a realidade circundante,casada com as formas de pensamento queensejou, delas recebeu, como recebe, inces-santes iluminações, pois, entre outros aspectos,só do mundo projetivo das idéias é possível aohomem antever e prefigurar – a si, ao cosmo e(este é o seu sonho infinito) ao destino. Aexistência, a sociabilidade e a história, enquanto
Da anarquia para a polícia(Elysio de Carvalho, lacuna na história do Direito Nacional)
ROSSINI CORRÊA
Rossini Corrêa é Bacharel em Direito e emCiências Sociais, Mestre em Sociologia e Doutorem Ciências Sociais, com Seminários Pós-Douto-rais em Política Internacional e Comparada.Professor de Direito (FADI-CEUB) e de Sociologia(DECOM-UPIS) e, eventualmente, do CESPE-UnB.
“Até os justos forças à injustiça. Desnorte-ando-lhes o pensamento”.
SÓFOCLES

Revista de Informação Legislativa282
fluxos processuais à civilização e/ou à barbárieabertos, em sua eterna contingência, eviden-ciam o secreto amálgama, tecido entre osfenômenos materiais e as esferas espirituais,em divórcio, quanto mais pretendido, menosconsumado.
O que é a segurança, senão a força formadaem sistema de poder (e temor), de comando (esubordinação) e de autoridade (e reconhe-cimento)? Sistema de força é aquele que,formando uma unidade, em si mesma conden-sada e organizada, institui como sustentáculomaterial da vida em sociedade o código que,em sua simbologia, celebra o culto da ordem,da disciplina, da hierarquia, do controle, e dasegurança, podendo/devendo, se necessário e aqualquer tempo, recorrer aos expedientesextremos da tecnologia mortífera, cujosantecedentes, no limite da legalidade, são acondenação e a penitenciária. Por que o Estadoe a sua guarda pretoriana? Confessadamente,para garantir a segurança do indivíduo e dacoletividade, enfim, da vida social, que é feitade materialidade (coisas e interesses) e deespiritualidade (valores e desvalores). E aquicomeça uma verdade que mil fábulas buscamesconder: as coisas e os interesses são objetosde determinados sujeitos que, em sua refrega,ordenam regimes de propriedade, confirmamestruturas de classes e legitimam as desigual-dades sociais.
Eis onde e quando o reinado do egoísmoencontra o sistema de força, instituído, de jure,para garantir o bem comum, mas, de facto parapreservar o estabelecimento dos donatários, daexistência social, muito menos de todo oconjunto da sociedade do que deveria ser, emrazão da discrepância entre o escudo éticoformal e abstrado, e os dados da vida, real econcreta, a permitir, muitas vezes à sombra doDireito, que o universalismo seja transformadoem particularismo, na sua possessiva eradicalista exclusão do conjunto da huma-nidade. É que a deusa Thêmis, nunca emflagrante e jamais à luz do dia, foi capturada.Despotencializada, porta uma espada; jádescompensada, possui uma balança; e, famintade paisagem humana, puseram-lhe vendasimpenetráveis à luminosidade peregrina,advinda da fome e da sede de justiça. A sofrívelresignação, qual é? A de colocar toda a energiavital, destruída de expectativas, a serviço dosistema de segurança, a este submetendo ainfinita voltagem semiológica da aspiraçãouniversal ao que exprime o bem, afirma o belo
e proporciona o justo, comprometida com averdade.
A poderosa tradição romanística, aoalcançar o apogeu do Direito Clássico, modeloua relação sistêmica, que foi um dos monumentosdo mundo antigo, articulando entre si o Estado,que é uma força de concentração da hierarquiae da autoridade, advinda, como destacamentoarmado, da sociedade, sobre cuja liberdade,regulando-a, intervém, à Cidade, que, urba-nizada a história, passou a ser o espaço, porexcelência da convivência humana, hospedadaem sua segunda natureza, em condensação nocenário básico dos conflitos sociais; o Direito,configurado como instrumento de controle dosaspectos plurais da existência, com respaldo noEstado e no interesse da Cidade, na sua buscado equilíbrio e da pacificação, ainda que pormotivações diversas, relacionado com a vontadefirme de dar sempre (Justiniano) esperanças deafirmação da arte do bem e do justo (Celso),como símbolo garantido do reconhecimento, acada um, do seu direito (Ulpiano); o Advogado,enquanto operador do Direito, ao patrocinar acausa deste ou daquele cliente, com a reiteradarecorrência à lógica e à dialética, por ser a suaarte a da conseqüência e da retórica, em umapráxis à procura do seu logos, e, enfim, aJustiça , eleita a virtude magna, desdeAristóteles, e daí compreendida enquantoproporção vocacionada, não para o confi-namento no mundo das idéias, mas, sim, parapresidir, com a sua presença, todos os caminhosdo mundo da experiência.
Compreenda-se, todavia, que o conceito desegurança, de maneira subjacente, terminou porser o reino da sombra, projetado por sobre aconstrução solar da cadeia de relações existentesnos vínculos do Estado (poder), do Direito(norma), da Cidade (convivência), do Advo-gado (palavra) e da Justiça (medida). Simulta-neamente à consagração do aceno da harmoniauniversal, adveio para a superfície da realidadeconcreta a empiria dos conflitos econômicos,sociais, políticos e ideológicos, desafiando, coma prosa da sua cruenta manifestação, o verso,ora épico, ora lírico, do Direito. A propriedadeprivada, a riqueza, a acumulação, o comércio,o lucro, a conquista, a família, o contrato, aobrigação, a guerra, a sucessão, os trubutos, ascastas, os senhores, os clientes, os escravos, osexcluídos, os bárbaros, a pessoa humana, osproletários, as colônias, César, Cristo e o eternoproblema da linha divisória entre o meu, o teue o nosso, reduziram, em sua desordenada

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 283
ciranda, por força dos interesses bem mais doque dos valores, as possibilidades do campojurídico, limitando-o, de sucesso em sucesso,ao mínimo do Estado (poder), do Direito(norma) e da Cidade (convivência), neces-sitados do máximo do Advogado (concor-dância) e da Guarda Pretoriana (segurança).
O Advogado, que é o pai da palavra, e nãoo filho do silêncio, do possível serviço àliberdade, que qualifica a vida, transitou paraos desvãos do código de dogmas, em umaprática estéril, por não transfigurar jamais aexistência com o concurso do Direito, elemesmo sob ferros, capturado, já escravo. OEstado em crise, esvaziado pela plenitude deuma vontade política interessada em globalizar,segundo os parâmetros coisificadores daengenharia de mercado, a existência social. Deonde o seqüestro da sua capacidade democráticade perseguir o bem comum, associado àmanutenção do complexo industrial arma-mentista, desejoso de transformar em cliente aordem pública universal. O Direito, destituídoda constelação de valores vocacionados a seremanimados no mundo da experiência, acabandopor admitir, de mínimo ético em mínimo ético,o seu colapso referencial junto à vida social,menos sujeito a mais objeto da mudança deparadigma em curso. Do Dogma ao tecnicismo,o universo normativo, capturado, tornou-seinstrumento do Estado, funcionando, muitasvezes, como mísero instrumento de sustentaçãode privilégios. A Cidade que daí resulta é oembargo da civilização e a sustentação, caóticae ampliada, da barbárie. Marcada no âmbitolocal, dos blocos e universal, por uma profundadistância societária, a urbe excludente congregaa pré-história renascida e a qualidade de vidasonegada, demonstrando, na prática, que o seulugar é onde nenhum bem é comum. Compre-ende-se, em virtude do exposto, a triste figurareservada, nos desvãos do processo, à GuardaPretoriana, por meio do manuseio da espadasem balança, que torna frágil e estéril o sistemade normas, afirmando o oblíquo e tortuosodesdireito da força. É a redução da perspectivaoperacional da Justiça à abstração (eterna), aorelativismo (infinito) e à subjetividade(desordenada). O Processo passa a ser tudo. AJustiça chega a ser nada.
Rompida a igualdade originária, de quandonão havia propriedade, divisão do trabalho eprodução de riqueza, o ideal de chumbo dasegurança, da esfera material para a dimensãoespiritual, foi ganhando asas legitimadoras, à
proporção que transitou da condição de puroescudo protetor das coisas, contra as pessoasque não as tinham, para a posição global datutela às coisas e às pessoas, àquelas por meiodestas, vislumbradas, de vez a vez, comoportadoras universais e soberanas da vida, dodireito, da dignidade, do reconhecimentoautônomo e da liberdade qualificadora. Oembargo oferecido à perspectiva em questão,entretanto, estava vinculado à consolidação doEstado enquanto destacamento saído dasociedade, detentor do monopólio legal daforça, como instrumento de estabelecimento ede conservação da hierarquia e da autoridade,exercidas, no mais das vezes, contra osinteresses, as necessidades e as expectativas dospárias, dos plebeus, dos clientes, dos escravos,dos bárbaros, dos estrangeiros, dos servos e dosoficiais. A plenitude da afirmação da pessoanão poderia ser possível, desde os mundos maisantigos do que o clássico, em virtude dasupremacia da coletividade sobre o indivíduo,expressa nos nexos sucessivos, existentes doGrupo para o Chefe, e deste para o Estado. Apassagem do direito real provisório (posse) parao direito real definitivo (propriedade), constituia própria revelação da difícil emergência dopoder da pessoa sobre a coisa – ius utendi, iusfruendi e ius abutendi – no plano individualprivado, antecedido pelo familial privado e pelapropriedade coletiva, segundo a enumeraçãoadvinda de Pontes de Miranda1.
Como não se tratasse mais de vínculomaterial da pessoa à coisa (possessio), e simda faculdade da pessoa sobre a coisa (dominium),o trânsito da posse (facto) para a propriedade(jure), exigiu a garantia de um instituto jurídicopara tutelar o exercício do direito em questão,permitindo a seu titular, a vivência absoluta dosfamosos jura – ius utendi (uso), ius fruendi(frutos e produtos) e ius abutendi (abuso) –,bem como exclusiva quanto à disposição dacoisa, definida pela perpetuidade, isto é, porintermédio de uma relação incessante, ressal-vadas a vontade do proprietário e as exceçõesda lei2. Tamanho poder estável e permanente,não poderia ser hegemônico na história,consagrando o direito da pessoa sobre a coisa,oponível à humanidade, sem o concurso de umapoderosa tessitura ideológica, em busca dejustificativas morais e éticas para a vigência
1 NASCIMENTO, Walter Vieira do. Lições daHistória do Direito. p. 81.
2 CRETELLA JÚNIOR, J. Curso de DireitoRomano. p. 146 e segs.

Revista de Informação Legislativa284
excludente, desde que esta é uma inquietademanda de todos os tempos subseqüentes, queencontrou em Jean-Jacques Rousseau, às portasda modernidade, o seu sofrido intérprete, noDiscurso sobre a Origem e os Fundamentosda Desigualdade entre os Homens
“Aquele que primeiro murou umterreno e teve a esperteza de dizer: Isto émeu, e ainda por cima encontrou gentesuficientemente simples para o acreditar,foi o verdadeiro fundador da sociedadecivil”3.
Como se fingisse acreditar que a metáforafabulosa substitui o processo histórico, o filósofogenebriano reverberou:
“Quantos crimes, guerras, assas-sínios, quantas misérias e horrores nãoteria poupado ao gênero humano o queousasse arrancar os marcos e tapar asvalas e gritar aos seus semelhantes:Livrai-vos de escutar este impostor.Estais perdidos se esqueceis que osfrutos são de todos e a terra de nin-guém!”4.
Toda a complexa controvérsia política daagônica era das nações, relativa ao capitalismo,servido pela ideologia liberal, e contestado peloanarquismo, pelo socialismo e pelo anarquismo,pelo socialismo e pelo comunismo, resultou daíntima conexão com as temáticas do regime dapropriedade e da desigualdade social, traba-lhadas segundo percepções diferenciadas daigualdade, da liberdade e da fraternidade. Aordem social livre e justa, reclamada em termosalternativos, não conquistou sinais segurossobre a terra dos homens, consistindo no desafioa céu aberto do terceiro milênio, forçado aelaborar respostas mais convincentes, nãoapenas no âmbito do imaginário, mas no mundoda experiência, para os sensíveis caminhos dadiferença e do nivelamento sociais. De qualquermaneira, nunca é demasiado recordar que, seos embates ideológicos dos séculos XIX e XXremetem para as presenças emblemáticas,conflitadas em torno do sentido e da direçãodo ideal da justiça, de Joseph Proudhon(anarquismo), de Karl Kaustky (socialismo) ede Karl Marx e Friedrich Engels (comunismo),quem garantiu o estabelecimento mais dura-douro, ou seja, o do capitalismo, foi o realismo
da espada de Napoleão Bonaparte, síntese daRevolução Francesa (1789)5, que suplantou aRevolução Russa (1917), em termos dodesdobramento histórico. O herói burguês emoderno, o pequeno corso, cavalgando adurabilidade do novo regime no espaço e notempo, sentenciou: “Só o general Bonapartepoderá salvar o imperador Napoleão”6.
Eis a compreensão literal e conservadorada força do poder. Chegará, quanto ao tempohistórico, o instante dialético do motortransmutar-se em freio: o imperador Napoleãoé a consumação da revolução burguesa, quenecessita do general Bonaparte para ofereceros embargos da Força, em defesa do seu Poder,ao processo revolucionário em desdobramento,sinalizando não apenas para o embate dosliberais (vitoriosos) contra os democratas(derrotados), ao ultrapassar o horizonte daordem posta, clamando em favor da revoluçãona revolução, por meio do radicalismo, nosentido filosófico, das proposições anarquista,socialista e comunista. Daí o sacrifício,conquistado o Poder do Estado, de todo o direitonatural dos iluministas, vocalizado pelo generalBonaparte: “Já não existe direito natural naEuropa: uns e outros só procuram dilacerar-secomo chacais”7. Quanto ao imperador Napoleão,soube como ninguém ser o pai da codificaçãomoderna e burguesa, com o Código Civil(1804), o Código de Processo Civil (1806), oCódigo Comercial (1807), o Código deInstrução Criminal (1808) e o Código Penal(1810). O que existia era o direito positivo,transformando a Norma, não em limite doPoder, porém, em domadora seletiva de chacais,considerada a necessidade da reprodução daestabelecida ordem social classista.
Eis de onde surgiu, no pragmatismo deNapoleão Bonaparte, a consciência do impe-rador quanto à relevância do general: “O poderabsoluto não tem necessidade de mentir: age esilencia”8. O sentido do agir bonapartistapassou a ter por propósito a colocação dasmáscaras revolucionárias ao chão: “umarevolução é uma opinião apoiada por baio-netas”9. Força que condenava a violência,
3 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contratosocial : discurso sobre a origem e os fundamentosda desigualdade entre os homens. p. 349.
4 Ibid., p. 349.
5 Consultar a respeito CORRÊA, Rossini. Oliberalismo no Brasil : José Américo em perspectiva.p. 13-188.
6 BALZAC, Honoré. Napoleão: máximas epensamentos. p. 109.
7 Ibid., p. 111.8 Ibid.9 Ibid., p. 21.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 285
preterindo a insurgência em função do dogmada ordem, prosseguiu: “Uma revolução é umcírculo vicioso: começa com um excesso pararetornar a ele”10. Alcançou o pequeno corso aidade política da prudente recordação: “Emuma revolução, tudo se esquece: ...Pitt era obanqueiro da Revolução e da guerra civil naFrança”11. É que, tecendo a sua estratégia deconvencimento, tornava-se conveniente apelarpara a justiça: “Sem justiça, não há opressoresnem vítimas, e durante as revoluções jamaispoderá haver justiça”12. O cenário bárbaro edissoluto foi reacendido pelo enorme guerreiro:“Durante a revolução tudo foi vendido em hastapública, entre trinta milhões de homens”13.Revelada a sua suposta natureza, nada melhordo que explicitar os resultados do processorevolucionário: “Nas revoluções, só há duasclasses de pessoas: as que as fazem e as quedela se beneficiam”14. Nada mais dramático doque a sua medonha catadura: “Jamais haverárevolução social sem terror”15. Revolução? ParaNapoleão Bonaparte só como exceção: “Umarevolução se faz quando se tem apenas quedesfazer-se de um homem para fazê-la”16.
Do abalo para o alicerce – eis como o grandeconquistador realizava a leitura do processohistórico de que era contemporâneo, teste-munha e personagem. A materialidade daexistência social não escapou à percepçãonapoleônica, em sua tradução como conflitoentre formas de propriedades rural e urbana, aseu juízo, em busca de uma síntese estatalsuperadora:
“Em outros tempos, só uma proprie-dade era conhecida: a da terra; surgiuoutra: a da indústria, em guerra atual-mente com a primeira; depois veio umaterceira: a que origina enormes encargosarrecadados dos administrados e que,distribuídos pelas mãos neutras eimparciais do governo, podem garantiro monopólio das outras duas, servir-lhesde intermediária e impedir que cheguema combater-se”17.
A propriedade vivenciara o incompreendidofenômeno da revolução, passível, entretanto, decontrole, por intermédio da engenharia jurídicae política, resultante da afirmação, a seu juízo,do poder público: Napoleão Bonaparte era oEstado. Nada mais napoleônico e romanístico,por meio da sua metafórica transfiguração, aoconvergir o moderno e o antigo, seja comoimperium, seja enquanto potestas.
Como? Garantia Ulpianus: “O imperadorestá liberto do constrangimento das leis”18.Tratava-se do poder irresponsável, sem o limitee o controle das Normas. Toda a ambiçãojurídico-política da modernidade pré-revolu-cionária esteve formatada na expectativa doEstado de direito, com a separação entre opúblico e o privado, a especificação dos poderesentre o cidadão e o Estado, o contrato socialpartidário representativo, a expressão estatal doDireito por meio da lei e a presença da justiçaoficial como a instância capacitada a dirimiros conflitos registrados na vida social19. Nãoobstante, a síntese das conquistas revolu-cionárias foi a vontade imperial de NapoleãoBonaparte. Afirmava a teoria jurídica do poderde Ulpianus:
“O que é da vontade do príncipe tema força de lei: na medida em que, com alex regia promulgada acerca do seu poderimperial, o povo lhe conferiu todo o seuImperium e Potestas”20.
Eis o Populus conferindo os ilimitados Impe-rium e Potestas ao Principis, escudando-o,soberanamente, com a da Lex Regia, da qual,em nome da pátria, Napoleão Bonaparteconsiderava-se acima: “Aquele que salva suapátria não viola lei alguma”21. E salvar a pátria,para o pequeno corso, era torná-la hegemônicadentro da Europa Unida, ao prefigurar, nomundo das nações, a era dos blocos.
O notável jurista Rudolf von Ihering, em OEspírito do Direito Romano nas Diversas Fasesdo seu Desenvolvimento, revelou o seu fascíniopelas circunstâncias conducentes à magni-ficação sistêmica da experiência jurídica. Ei-las,em sua descrição:
10 Ibid., p. 22.11 Ibid.12 Ibid., p. 26.13 Ibid., p. 27.14 Ibid.15 Ibid., p. 29.16 Ibid., p. 40.17 Ibid., p. 129.
18 GILISSEN, John. Introdução histórica aoDireito. p. 99.
19 HESPANHA, Antônio M. Panorama históricoda cultura jurídica européia. p. 32.
20 BALZAC, Honoré. op. cit., p. 40.21 IHERING, Rudolf Von. O espírito do Direito
Romano nas diversas fases do seu desenvolvimento.v. 2, p. 48.

Revista de Informação Legislativa286
“a codificação, que desde muito cedo lhedeu a espontaneidade na forma ; aseparação do direito das esferas de açãodo fas e da censura, que assegurou aespontaneidade do desenvolvimento dosprincípios jurídicos e tornou possível odesenvolvimento do direito privado emtoda a sua pureza; e, finalmente, o caráterde inviolabilidade da lei das XII tábuas,que manteve o direito durante muitotempo, sobre uma base fixa e inque-brantável”21.
O embargo à violação, a permitir a durabilidadedas instituições jurídicas no tempo histórico,sob a exigência de que o jus conquistasse oimperium, portando a Força decorrente danegação da injustiça, constituiu no “desen-volvimento da vida política”, bem como na“energia e sensibilidade do sentimento jurídiconacional”22. A base que Ihering, sobre vê-lafixa, desejou inquebrantável, representada pelalei das XII tábuas incólume e inviolável, paraexistir, advogou para si (aquém da Justiça?) osideais da certeza e da segurança23.
Acaso não foi de semelhante natureza apostura de Marco Túlio Cícero, o jurista,filósofo e retórico político do mundo romano,guardião da ordem estabelecida, ganhou o títulode Pai da Pátria, ao abordar a conjuração deCatilina e supliciar os seus cúmplices? Ou atéquando, o abuso, a paciência, os tempos, oscostumes e a energia dos homens, ao circularemno discurso contra Catilina, cercaram derealismo o direito natural de Cícero, levando-oà defesa da pena de morte, como instrumentode proteção da elite romana: “Há muito tempo,ó Catilina, devia o cônsul condenar-te à morte,fazendo cair sobre ti a ruína que vensmaquinando contra nós!”24 Louvada a repressãoe recordados os severos castigos, os varões queambas perpetraram foram qualificados comoretos e íntegros. Exemplos? O sumo-pontíficePúblio Cipion Náscia, que matou Tibério Gracopor simples perturbação da ordem pública e oalígero Quinto Servílio Ahala, que liquidouEspírito Mélio pessoalmente, molhando asmãos com seu sangue, mas, em compensação,evitando que a mudança fosse pregada.
Era a segurança levada a extremos:“Decretou outrora o Senado que o Cônsul LúcioOpímio atendesse a que a república nãoperdesse a segurança”25. De onde as mortesimediatas de Caio Graco e Marco Fúlvio, ambosnobres, e sob Caio Mário e Lúcio Valério, asimediatas execuções do pretor Caio Servílio edo tribuno Lúcio Saturnino. A execução deCatilina, porém, Cícero a desejou legitimada,reconhecida por todos como processada “comtoda a justiça ou com todo direito”26, ou seja,de acordo com o princípio da segurançajurídica. Enquanto houver um que não estejaconvencido, Catilina vai viver. Todavia, o farásob absoluto controle, cercado (a guarda é virile numerosa) e vigiado (há olhos e ouvidos dopoder em toda a parte). Onipresença, onisci-ência e onipotência, estas, que permitiram aCícero garantir que, de imediato, sabia de todoo fazer, de todo o tramar e de todo o conseguirde Catilina. A estratégia ciceroniana foi deconfundir a si e aos seus com a pátria –“separa-te dos bons, declara guerra àpátria”27 –, para que pudesse haver a grandeexclusão – “os maus retirem-se; separem-se dosbons; reúnam-se num lugar: sejam isolados denós como um muro”28, tornando possível atranqüila fruição da ordem estabelecida.
Marco Túlio Cícero foi educado entre ossábios estóicos no mundo grego. Ali, no berçoda pólis ocidental, o militar, funcionário edramaturgo Sófocles, na tragédia Antígona,tocou a fundo a corda sensível da relação dacidadania com o Estado, ao confrontar a normapositiva (Creonte e o seu comando) e a justiçanatural (Antígona e a sua desobediência), emtorno da negativa real de concessão de sepulturaa Polinice. Não obstante fosse Antígona noivade Hemon, seu filho, o rei, desatento a seu papelmoderador, cobrou àquela a ordem desres-peitada:
“Creonte – Responde em poucas palavras.Conhecias o meu comando?
Antígona – Como poderia deixar deconhecê-lo? Era público.
Creonte – E ousaste desrespeitar a minhadeterminação?
Antígona – Sim, porque não foi Zeus quema promulgou, e a Justiça que respeita aos deuses22 Ibid., p. 48.
23 Pode ser utilidade a consulta a CAVALCANTIFILHO, Theóphilo. O problema da segurança noDireito. p. 177.
24 CÍCERO, Marco Túlio. Contra Catilina. In:TITÃS da Oratória. p. 40.
25 Ibid., p. 41.26 Ibid.27 Ibid., p. 50.28 Ibid., p. 49.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 287
não estabeleceu tais determinações entre oshomens. Eu não julgava, por certo, que os teuscomandos tivessem tanto poder que permi-tissem a um mortal violar as leis divinas – nãoescritas, mas intangíveis”29.
Antígona é sobrinha de Creonte, soube sera noiva de Hemon. Creonte a nada considera,por estar servido de distinta lógica, pouco selhe dando que Antígona tenha evitado quePolinice fosse pasto de vermes. Norma a serviçodo poder, o direito estatal do rei Creonte existiapara ser cumprido: “Quem faz respeitar a regrana família saberá fazer respeitar a justiça nacidade”30. A vigência do direito natural seria,na perspectiva do poder, a violação da leipositiva e o ditado da ordem à autoridade que,sobranceira, imaginava que podia tudo e tudopodia, sem limite e sem consentimento. Apeculiar ponderação de Creonte foi a de que secedesse no âmbito da família, amanhã osestrangeiros transgradiriam na/contra a Cidade.Cabia-lhe, portanto, preservar a hierarquia e aautoridade. Nada de liberdade:
“A anarquia constitui o pior dosmales. Arruina as cidades, destrói oslares, rompe as linhas de combate,estabelece o pânico, enquanto a disci-plina preserva a maior parte dos que semantêm nos seus pastos”31.
A anarquia de Creonte é a revolução deNapoleão. Em ambos, o culto dogmático àordem estabelecida. Nos dois, a decisão frontalde cercá-la de certeza e de segurança. Enfim, aconvicção de que a hierarquia e a autoridadenecessitam de instrumentos operacionais devigilante defesa, perante o que constituir, ourepresentar, adversidade real e/ou possível. Deonde a fúria da elite da Cidade contra Sócrates,cristão antes de Cristo, e, não obstante, acusadode ateísmo, por acreditar, eqüidistante dopoliteísmo reinante, em Deus (e não, nosdeuses)? Monoteísta, portanto, Sócrates éportador de uma diretriz ética, buscandoreinventar a Cidade e os seus dirigentes, pormeio da educação da juventude, que não queriaerrática. Acusar-lhe-ão, entretanto, de corrom-pê-la. Meditado no ofício de discernir o justodo injusto, conforme registro de Xenofonte,tinha Sócrates convicção de que não jurara,nomeara e oferecera sacrifícios em vão, levando
a juventude, como bom pastor de rebanhos, àfrugalidade e à paciência. Da Apologia deSócrates , de Xenofonte, para o Críton , dePlatão, é similar o diapasão. Perguntaram-lhe:
“Sócrates: será que te preocupas, emrelação a mim e aos teus amigos, a idéiade que, se saíres daqui, os sicofantas noscriem problemas com o argumento deque te tiramos daqui, sujeitando-nos ouao confisco de todos os nossos bens ouao pagamento de uma soma avultada oua algum dano ainda pior?”32.
Confessou-se Sócrates preocupado com aspossibilidades enumeradas por Críton, “e muitomais”33. Nascido do socratismo34, Platão foi amáxima expressão do trauma resultante damorte do mestre pensador. Todavia, quando daformulação do diálogo A República, utopiaaristocrática e comunista, reafirmadora daclivagem dos senhores e dos escravos, tripartiuas classes do Estado em Governantes (saber),Sentinelas (lutar) e Trabalhadores (fazer), naexpectativa organicista de que, cada umcumprindo a sua função, a saúde do tecidosocial seria preservada e ampliada. Osguardiões, soldados ou seguranças – ossicofantas de Críton – não eram o braço armadoda elite da Cidade que condenou Sócrates àmorte? Retratados como cumpridores de umafunção orgânica no Estado autoritário, em ARepública, Platão os descreveu como guerreirosaudazes e valentes, merecedores dos louros pelavitória.
“– Perguntaremos ao deus como devemossepultar estes seres geniais e divinos, e comque distinções, e celebraremos os seus funeraisda maneira que ele nos mandar?
– Porque não”35.E mais– E para sempre lhes prestaremos culto e
veneraremos as sepulturas deles, como sefossem gênios? E a quantos forem julgados devalor excepcional em vida, quando morrerem,de velhice ou de qualquer outra maneira,entendemos dever fazer-lhe exatamente omesmo?
29 TEXTOS de Filosofia do Direito. Seleção,tradução e notas de Pedro Soares da Martinez.p. 15.
30 Ibid., p. 17.31 Ibid.
32 PLATÃO, XENOFONTE. O julgamento deSócrates.
33 Ibid., p. 45.34 Consultar a respeito ROBLEDO, Antônio
Gómez. Sócrates y el Socratismo. p. 247; MOSSE,Cláudio de. O processo de Sócrates. p. 166; eSTONE. I. F. O julgamento de Sócrates. p. 279.
35 PLATÃO. A República. p. 244.

Revista de Informação Legislativa288
– É justo, certamente”36.Aristóteles, ou O Filósofo, como o chamava
São Tomás de Aquino, foi alguém debruçadosobre a possibilidade do encontro das formasde governo com a mudança revolucionária,refletindo, na Política, sobre as salvaguardasconstitucionais, como instrumentos de preser-vação de todas e de cada uma das formas degoverno. Discípulo rompido com o seu mestrePlatão, distante de destinar o magma daexistência ao mundo das idéias, Aristótelesestava à procura da ordem, das causas, daregularidade, do mecanismo e das classificaçõescontidas na natureza e na sociedade. Nesta, OFilósofo vislumbrou, quanto à Cidade, decor-rente, a seu juízo, do crescimento orgânico daFamília, sucedida pela Vila, o problema dasformas de governo, associadas, de algumamaneira, aos percalços do homem, este animalsocial, este animal político. Dotado deperspicácia operacional, para Aristóteles “ajustiça é a igualdade proporcional”37, que nãoconseguiu ser instaurada a contento na vidasocial.
Toda a celeuma revolucionária, consoanteO Filosofo, decorreu do imbróglio de demo-cratas (“a democracia surgiu pelo fato de oshomens pensarem que, se eles eram iguais sobalguns aspectos, eram absolutamente iguais,pois supunham que, sendo todos igualmentelivres, eles eram absolutamente iguais”38) e deoligarcas (“a oligarquia surgiu da suposição dealguns de que, se eles eram desiguais sob algunsaspectos, eram absolutamente desiguais – porserem desiguais em termos de posses elessupunham que eram absolutamente desi-guais”39). Relativista, ensinou Aristóteles:“Todas estas formas de governo têm um critériode justiça, mas consideradas de maneiraabsoluta, elas estão erradas”40. Pensandoabsoluta e revolucionariamente, passaram osdemocratas a querer, na esfera do agir político,realizar a completa igualdade, enquanto que,radicais em sua convicção, e pelos mesmoscaminhos, buscaram os oligarcas a instauraçãoda total desigualdade. Da percepção valorativaabsoluta, teria nascido a força material darevolução, estudada, esta, em sua origem,situações e objetivos, em disputar o alcance (de
ganhos e de honrarias) e a libertação (de perdase de desonras). A preservação das constituiçõesera a detalhada preocupação aristotética, quesugeriu medidas defensivas para o pactojurídico-político, sublinhando-se aquelareferente à manifestação do imaginário, com oobjetivo de mobilizar a sociedade, transformadoem soldado a serviço da defesa da ordemestabelecida:
“aqueles que se preocupam com apreservação da constituição devemimaginar meios de inspirar temor, paraque os cidadãos se mantenham emguarda e não relaxem a vigilância emtorno da constituição, como uma senti-nela à noite, fazendo parecer próximo operigo distante”41.
O manuseio da psicologia social peloFilósofo, recomendando-a como utensíliopolítico defensivo, ao vender o perigo e comprara segurança, é uma vigorosa demonstração dacidadania do ideal da certeza a reclamar atutela, e da tutela a garantir a estabilidadesocial. Desde os tempos da legislação mosaica,em cenários míticos, na antigüidade bíblica eprofética, com o sentido do controle e davigilância, que há expessa presença do idealda segurança no texto ideológico, a perpassarséculos e milênios. O Livro de Enoch, pormuitos considerado apócrifo, apartando-se daBíblia Sagrada, já distinguia a Bem-Aven-turança dos justos da iniqüidade dos pecadores,todos entregues ao Altíssimo, eternamenteSenhor do trono dos céus e da passarela da terra:
“Pois tu os fizeste e os governa. Nadase pode subtrair à tua potência infinita.Contigo, a sabedoria é imutável: velaincessantemente ao pé de teu trono.Conheces, vês, ouves tudo, nada pode sesubtrair o teu possante olhar, pois teuolho está em toda parte”42.
Esta plenitude (divina) sobre o destino, decertoinspirou o poder (terreno), que no sagradobuscou repousar a sua origem. No livro deMalaquias, com que é concluído o AntigoTestamento, “o sol da justiça e seu precursor”foram tematizados:
“4 – Pois eis que vem o dia e ardecomo fornalha, todos os soberbos e todosos que cometem perversidade serão comoo restolho; o dia que vem os abrasará,diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que
36 Ibid., p. 245.37 ARISTÓTELES. Política. p. 160.38 Ibid., p. 140.39 Ibid.40 Ibid.
41 Ibid., p. 184.42 O LIVRO de Enoch. Cap. LXXXII, 4, p. 148.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 289
não lhes deixará nem raiz nem ramo.2 – Mas para vós outros que temeis o
meu nome nascerá o sol da justiça,trazendo salvação nas suas asas; saireise saltareis como bezerros soltos naestrebaria.
3 – Pisareis os perversos, porque sefarão cinzas debaixo das plantas devossos pés, naquele dia que prepararei,diz o Senhor dos Exércitos”43.
E ainda:“4 – Lembrai-vos da Lei de Moisés,
meu servo, a qual lhe prescrevi emHorebe para todo o Israel, a saber,estatutos e juízos.
5 – Eis que eu vos enviarei o profetaElias, antes que venha o grande e terríveldia do Senhor;
6 – Ele converterá o coração dos paisaos filhos e o coração dos filhos a seuspais, para que eu não venha e fira a terracom maldição”44.
Eis a questão: obediência aos estatutos ejuízos, para a obtenção de sol dos justos e dagraça da salvação. O Senhor dos Exércitos tudopode e pode tudo, ilimitado, e não deseja, afinal,ferir com maldição a terra... Pode, entretanto!O profeta Elias, antecedendo o Dia do Senhor,reconhecido não somente como grande, mas,com efeito, como terrível, foi enviado a títulode recurso extremo, para proceder à necessáriaconversão, embargo da Terra Santa que oAltíssimo buscava evitar, com a transfiguraçãode todos, com destaque para os soberbos e osperversos. A conversão cordial recíproca, dofilho ao pai e deste ao filho, à sua maneira,está presente no princípio do li, ou seja, nasregras do confucionismo, vincadas nos deverese na submissão – sem correspondência,entretanto – nas cinco relações básicas: “ojovem ao velho, o filho ao pai, a esposa aoesposo, o amigo ao amigo, o súdito aoprincípio”45.
O Louen-Yu previa dois caminhos para adisciplina do povo: regulamentos e castigos (“opovo fugirá sem vergonha”46) e força moral eregras de conveniência (“o povo terá vergonhae voltará”47). O sentido da autoridade perpassou
diferentes sistemas jurídicos, porque já haviaestabelecido a sua supremacia na ordemreligiosa, conforme o expresso no Alcorão,soberanamente: “Deus ouve tudo, sabe tudo”48.O Direito muçulmano aspira ser, em razão dasua origem, unitário e imutável, a despeito dadiversidade dos ritos ortodoxos: hanifita,malekita, chafeíta e hanbalite. As regras girijaponesas, traindo a influência do li chinês,ambicionavam consolidar as hierarquias,punindo a desobediência com instrumentosconsuetudinários, chegando do imperador aosshôgum e aos dai-myô, depois de passar pelossenhores. A força sempre esteve presente, pois,no sistema, “o vassalo não tem nenhumdireito”49, enquanto que os shôgum e os daí-myô “foram uma casta militar dominando umahierarquia de vassalos e subvassalos”50.
Foi diferente, porventura, o direito hindu?Neste particular, não. De maneira peculiar,refletiu a constante, ora examinada, na medidaem que a regra jurídica, desentranhada doDharmasûtra de Baudhayana, proveniente doprincípio sagrado, esteve desde sempre presaàs vísceras do seu sistema de segurança. Ateoria dos quatro Varna repousa em Brama, quedistribuiu deveres e direitos: aos Brâmanes, afeitura e a recepção de oferendas; aos Ksatriyas,o emprego das armas e a proteção à vida e àriqueza; aos Vaisyas, o trabalho e os negócios;e aos Varnas, o dever serviçal de sustentaçãodas castas de superior hierarquia. A certeza foio centro referencial pretendido pelo Brama,existindo os Brâmanes “a fim de assegurarema proteção dos Vedas”51; os Ksatriyas “a fim deassegurarem o bom governo do país”52; osVaisyas “a fim de assegurarem o desen-volvimento do trabalho produtivo”53; e osSudras, enfim, para assegurarem o bem-estardos Brâmanes, Ksatriyas e Vaisyas, segundo alógica ali vigente, de estratificação do ápicepara a base da pirâmide de Pareto, nos seguintestermos: status-papel “A” (Saber e Culto);status-papel “B” (Defesa); status-papel “C”(Negócios) e status-papel “D” (Labor). Ospárias – ou Chandalas – estavam à margem dosistema hierárquico de status-papel, nacondição de excluídos da ordem das castas.
43 BÍBLIA Sagrada. MI., 4, p. 1221.44 Ibid., p. 1221.45 GILISSEN, John. op. cit., p. 111.46 Ibid., p. 115.47 Ibid.
48 Ibid., p. 124.49 Ibid., p. 117.50 Ibid.51 Ibid., p. 107.52 Ibid.53 Ibid.

Revista de Informação Legislativa290
Os aspectos ora mencionados, relativos àinterconexão entre a regra religiosa e a normajurídica, sem o esquecimento dos comandosmorais, não foram privilégio de ninguém : “NaBíblia – como de resto nos Vedas, ou no Corão– estão confundidas”54. Do Jus Divinum, àThora, isto é, do Decálogo à Lei Escrita, asegurança estava presente. Ao “Não Rou-barás”55, do Decálogo, segue-se o mandamentocomplementar:
“Não desejarás a casa do teu próximo,não desejarás a mulher do teu próximo,nem o seu servidor, nem a sua serva, nemo seu boi, nem o seu burro, nem nadaque pertença ao teu próximo”56.
Com todas as rupturas e as descontinuidadeshavidas, estes preceitos do direito hebraico nãoestão ausentes dos códigos do direito cunei-forme. A colação subseqüente, definida pordiferentes respostas à tensíssima questão dapropriedade, é reveladora – Código deHammurabi (I), Leis de Esnunna (II) e Códigode Ur-Nammu (III):
I- “Se alguém entregou um terreno a umarboricultor para aí plantar um pomar, se oarboricultor plantou o pomar, durante quatroanos, ele cultivará o pomar; no quinto ano, oproprietário e o arboricultor partilharão emigualdade os frutos, mas é o proprietário dopomar que escolhe a parte com que querficar”57;
II- “Se um barqueiro é negligente e deixaafundar o barco, ele responderá por tudo aquiloque deixou afundar”58; e
III- “Havia pastores que ficavam junto dosbois, que ficavam junto dos carneiros e queficavam junto dos burros. Neste dia, Ur-Nammu, varão forte, rei de Ur, da Suméria eda Acádia, com a força de Nanna, rei da cidade;a eqüidade no país estabeleceu a desordem e ainiqüidade (pela força?) cortou”59.
Compreenda-se que Ur-Nammu, justifi-calista, talvez pela força, estabeleceu-se aeqüidade, postulou a eliminação da desordem,a seu juízo, companheira de iniqüidade. Aordem equânime era o que buscava, certa esegura. A Esnunna interessava punir a
negligência, deixando indene o proprietário. Jáa Hammurabi, a fixação da igualdade tardia,de qüinqüênio em qüinqüênio, era básica, nalembrança de que ao proprietário da terra, enão ao arboricultor, cabia o privilégio daescolha dos frutos. Os chamados direitos daantigüidade - 1) Egito; 2) Mesopotâmia; 3)Hebreus; 4) Grécia; e 5) Roma – na ordemenunciada, foram trazendo à superfície dahistória jurídica o individualismo (1), oscódigos (2), os preceitos (3), o direito público(4) e a síntese sistêmica (5). As instruçõesrecebidas pelo Vizir Rekimara (XII Dinastia),são reveladoras da força do sistema deobediência reinante no Egito:
“Atenta, um homem mantém-se nasua função, quando ele julga as coisasconforme as instruções que lhe são dadas,e é feliz o homem que age conforme aoque lhe é prescrito. Mas não faça aquiloque desejas nas causas em que as leis aaplicar são conhecidas, pois acontece aopresunçoso que o Mestre a ele prefira otemente. Que tu possas agir conformeestas instruções que te são dadas”60.
A árvore semântica construída a partir dapalavra temente, a quanto temos, medo e terrorconduzirá? O Vizir Rekmara, sem desvio, deviaviver em extrema conformidade com asprescrições centrais do poder público, expressasem lei. Nos direitos dos povos sem escrita,todavia, o poderoso espírito de subordinação jáentremostrava uma das variáveis máscarashistóricas, com as quais a terrível busca doconsenso máximo vestiria séculos e milênios.Protodireitos em nascimento, não-escritos,religiosos e diversificados, testemunharam ainterconexão entre o grupo e a proteção, do queo banimento foi um exemplo, em um esquemaque funcionou com suporte no costume, noprecedente no provérbio e do adágio61. Proteger,isto é, conceder a certeza e a segurança, foipossível ao grupo por reunir, de maneiraincontrastável, um volume de capacidade deinstrumentalização da força, da violência e doconstrangimento, em si mesmo superior ao detoda e qualquer remota hipótese de mani-festação, sobretudo individual, de compor-tamento desviante.
No Brasil, que constitui a referênciaconcreta da tessitura abstrata aqui desenvolvida,foi obsessiva a preocupação social dominantecom a segurança. Os jagunços, os cabras, oscapangas, os bandos, as guardas, as milícias, o
54 Ibid., p. 68.55 Ibid., p. 71.56Ibid.57 Ibid., p. 65.58 Ibid., p. 66.59 Ibid.
60 Ibid., p. 57.61 Ibid., p. 35 e segs.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 291
dom, o contradom, a violência e a proteção,são retratos animados de diferentes momentosda realidade brasílica, fundada na prea, naposse, na sangria, no estupro, no arcabuz, naexclusão, no chicote, no pelourinho, na força eno esquartejamento. E também no medo e nosobressalto dos detentores do cabo do chicote,sempre temerosos quanto à volta do barco, coma cobrança dos efeitos dos açoites no cambiantedia seguinte. De onde a elite cabocla, vestida apunhos de renda, não ter deixado nunca de agirpreocupada com o máximo de segurança,havida como o contraponto da violência, estamarca registrada do seu cotidiano. Este espíritocalculado, de quem concede o coito para poderrecorrer, se e quando necessário, ao cangaço,no sentido simbólico, foi transposto da ordemprivada para a ordem pública, perpassando aordem patrimonial e desaguando no mundoconcorrencial.
Se o diabo são os outros, a indesejávelalteridade, na Colônia, estava no invasorestrangeiro, a buscar substituir o português noencontro desigual de civilizações, reclamandopara a França e para a Holanda a tutela sobre aterra e a gente pré-colombianas. Bem como noelemento autóctone, senhor da terra despojadode si mesmo, a transigir com este e com aquelepara sobreviver, lutando contra e/ou a favor deportugueses, franceses, ingleses, espanhóis eholandeses. É também nos padres, teimando,como no verbo aceso de Antônio Vieira, emfavor de alguma liberdade indígena, pois osilvícola, para muitos, não era gente e não tinhaalma. Como esquecer os nativistas, os repú-blicos, os sediciosos, os conspiradores, osavançados e os esclarecidos, os quais, entre-tanto, tinham pescoço, desde o pioneirismo deBequimão até o sacrifício de Tiradentes,passando pela asfixia de Bernardo Vieira deMelo, que já cometera o genocídio, emcompanhia de Domingos Jorge Velho, dosaltivos negros do Quilombo dos Palmares, osquais preferiram a morte a céu aberto à vidasob o baraço e sob cutelo. Na desventura,enfrentaram o gume do fado, negando asegurança (dos bichos) e buscando a liberdade(como homens).
Se o diabo são os outros, a mortíferaalteridade, no Império, residiu no desassombrodos padres em armas que não as do verbo,resistindo ao poder despotético e irresponsável,por meio da flama da liberdade confederada. Ereapareceu nas explosões regenciais tectônicas,de que a Balaiada foi exemplo, de um mundosocial a demonstrar a sua vulcânica existência,
com os excluídos, abandonados e/ou violen-tados fundando imperadores e liberdades bem-te-vis. Encontrou cortante eco nos quilombos,nas sociedades manumissoras, nos aboli-cionistas sem indenização, na pregação dademocracia rural, na propaganda republicana,no espírito de corpo militar, na prisão dosprelados se na ousadia dos imigrantes pobres,a quererem ensinar a senhores com mentalidadeescravocrata, que gente precisa ser tratada comogente. Chegando, enfim, a posições humanistasque pareceram extremas inconcebíveis, porpregarem a reorganização da sociedade segundoos parâmetros solidaristas e socialistas.
Se o diabo são os outros, a demoníacaalteridade, na República, foi manifestada noquilombo messiânico de Canudos, com osebastianismo monárquico de Antônio Conse-lheiro em busca do futuro social. Como estaria,em seguida, nas primeiras greves operárias,protestando contra a vida e a morte severinasurbanas, ausentes das relações de trabalho osdireitos sociais mínimos, que seriam objeto dedemorada conquista e de mais prolongadamanipulação estatal. Renasceria ainda nosfurores tenentistas, com fortes, levantes,colunas sublevações e golpes de Estado, pormeio de conflitantes promessas (direita,esquerda) de refundação republicana do Brasil.Chegaria à urbanização da miséria, desovandomassas excluídas na periferia das cidades,famintas, sedentas, desqualificadas, desem-pregadas e embrutecidas, no plantio da sementelançada ao chão com o abolicionismo semreforma agrária, a vincular senzala e favela, eesta, por sua vez, à violência, ao seqüestro, aoassalto, ao contrabando e ao narcotráfico, nãoobstante ali haja gente desassistida pelo Estadoe adversa ao crime organizado: são sobre-viventes da retidão. Enfim, outros diabos sãoos sem: terra, teto, trabalho, renda, dignidadee cidadania.
Elysio de Carvalho nasceu no caso doImpério e faleceu na primeira República. Devida breve, mas prestante, entre 1880 e 1925,por meio do curso serpenteante de um singularitinerária, venceu, ou foi vencido, nas refregase nos acidentes que não lhe deram trégua, soba aparência de Belle époque a circundá-lo.Penedense das Alagoas que foi estudar noSeminário de Olinda62, antecessor da Faculdade
62 Consultar a respeito as Obras Econômicas deJ.J. da Cunha Azeredo Coutinho. p. 318, bem como,de NOGUEIRA. Mons. Severino Leite. O Semináriode Olinda e seu fundador o Bispo Azeredo Coutinho.386 p.

Revista de Informação Legislativa292
de Direito do Recife, Elysio de Carvalhodesembarcou, posteriormente, no Rio deJaneiro, à procura do seu título de Bacharel emDireito. Marcado a ferro na alma peloaristocracismo tradicionalista do apenaspatriciado nordestino, o jovem alagoano, queconfessou o João do Rio ser um “intelectualeuropeu”63, perambulou de extremo a extremo,ao encontro de uma causa para a sua rebeldia.De recorte individualista, sentido heróico,valores aristocráticos e percepção esteticista daexistência, Elysio de Carvalho, antagônico, peloalto, à burguesia, visualizou, no Super-homemde Nietzsche, o detentor patrimonial da história,projetando-o no movimento anarquista, comoinstrumento de negação da vulgata concor-rencial burguesa.
Entre afetações e equívocos, Elysio deCarvalho apostou, a princípio, no cosmo-politismo... que é burguês! E acomodou o seusentimento aristocrático de repúdio à supre-macia material e mercadológica dos interessesburgueses – imperantes sobre os valores dopatriciado – no movimento anarquista, primoradical do liberalismo, por ser aquele, mais doque libertário, individualista. À margem dequalquer perspectiva de massa ou de classe, aatitude individualista extremada convinha aElysio de Carvalho, por ser compatível com asingularidade (de Stirner), o heroísmo (deCarlyle) e a superpotência humana (deNietzsche): o Único, o Herói e o Super-homem.Quanto ao escudo anarquista, servindo à suaexcentricidade aristocrática, ainda que vindodo liberalismo, tinha a função antiburguesa defuncionar como ameaça estremecedora doestabelecimento social. O perfeccionismo que,com ânimo estético, o escritor alagoano dePenedo buscou, levou-o ao pioneirismopedagógico merecedor de registro: “a Univer-sidade Popular, a primeira que se funda naAmérica do Sul, para empreender a instruçãosuperior e a educação social do proletariado”64.
Elysio de Carvalho, ser em trânsito paraquem a mudança constituía a única confi-guração da vida, feita – diria – de transigência,como condição do sucesso, foi, em certo tempo,apologeta do código anárquico:
“que o indivíduo é a medida de todas ascousas; que o homem é ingovernável, épara si sua única realidade, seu fim e seutodo; que todo poder é um absurdo; que
a propriedade é um roubo; que o Estadotem seus alicerces no crime e só émantido pela violência; em summa, queo mundo da iniquidade e do roubo, ondea desigualdade faz do soffrimento domaior número o poder dos plutocratas edos dirigentes, será fatalmente substi-tuído por um mundo novo”65.
A fatalidade a que o escritor alagoano dire-cionou o seu pensamento político, deixou,entretanto, de merecer o seu entusiasmomilitante. O seminarista de Olinda retrucou apolítica a partir dos expedientes de negaçãoda fé:
“Hoje, não vacilo em afirmar que oanarquismo é um acervo de falsas idéiasfilosóficas e morais... O anarquismo,como idéia, é uma expressão filosóficasaída do cristianismo – o maior flageloda humanidade... Não ignoro o ladoverdadeiramente trágico da existênciados pobres nem aprovo iniquidade semnome que é o regime imperante: ...hámister que uma transformação radical seproduza em nosso regime social – masessa transformação será obra de umaaristocracia esclarecida, prudente ecriadora, que tenha seus decretosrespeitados por um povo que saibaobedecer”66.
O iluminismo prudente, detentor dahierarquia e da autoridade a estabelecer decretospara o povo sábio, por ter aprendido a arte daobediência, representa a evidência da mudançade Elysio de Carvalho, o qual preservou, já nomodernismo nacionalista, sempre esteticista esempre culturalista, a crença na casta deindivíduos excepcionais, a configurarem aprimazia dos condutores da história, olímpicos,luzidios e garridos, no exercício da suaindisputável missão aristocrática. Eis como apolícia, instrumento de controle social, ou seja,da devida prudência, passou a ser objeto do seucriativo interesse, haja vista que, com a suaestrutura estamental, era, como é, um aparelhode Estado vigilante, a serviço da segurançapública, em uma ordem em que o espaçocoletivo, contra a afirmação da cidadania,resulta muitas vezes capturado, para que,segundo a lógica privatista e desigualitária, a
63 RIO, João do. O momento literário. p. 265.64 Ibid., p. 260.
65 Ibid., p. 259.66 CARVALHO Apud CHACON, Vamireh.
Elysio de Carvalho : ensaios. p. 45: Elysio deCarvalho: do individualismo anárquico ao naciona-lismo cultural.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 293
servidão popular confirme os ditames dosenhoriato pseudamente esclarecido. Destinotrágico, o de Elysio de Carvalho? Apenas maisum fato da vida. Luiz Carlos Prestes, formadona escola positivista da ordem cultuada,realizou a sua travessia ao contrário e, demilitar, tornou-se líder e militante comunistano Brasil. Já o agente da polícia do Czar, JosephStalin, prolongou a burocracia sanguinária noEstado Soviético, morto Lênine e exiladoTrotsky, para consumar na história o imperia-lismo russo. O jornal Izvestia, de Moscou,baseado em pesquisas autônomas de cientistassociais da Suécia e dos Estados Unidos, noticiourecentemente que 2/3 das vítimas fatais dosregimes tirânicos e despóticos do século XX,isto é, 110 milhões de pessoas, morreram sob osorex – socialismo realmente existente –cabendo a Joseph Stálin a execução de 42,6milhões de sentenciados pelo capitalismo deEstado que comandou, com ânimo policialesco,nacional e imperialista.
Prestes (em nível particular) e Stalin (noâmbito universal), foram antípodas de Elysiode Carvalho. Este, encontrou a sua sínteseabdicando do anarquismo e do cosmopolitismo,para ser, conservados o individualismo earistocratismo, um sociólogo culturalista enacionalista. A polícia, para o escritoralagoano, foi um instrumento de reencontrocom o Direito, que repugnara quando jovemanarquista:
“Ao entrar na academnia sublevou-me o nescio ambiente reaccionário quealli dominava, tendo, depois dalgumtempo, abandonados os estudos supe-riores por escrupulo de minha consci-ência anárquica”67.
Direito compatível com o organicismo da visãodo mundo naturalista a que chegou, buscandoa construção da “expressão esthetica dosocialismo, isto é, o Estado organisado sobrebases naturaes”68. Ou seja, direito comoinstrumento da ordem posta, necessitada,entretanto, de transfiguração social, para poderexprimir os harmônicos, superiores ideaisestéticos, ainda e sempre expressões daaristocracia do espírito. Os ritos jurídicos,nascidos dos religiosos, cercados por formas eservidos pela dialética, praticados em ambientesolene, despertaram em Elysio de Carvalho aconvicção de serem instrumentos capitais para
a conquista da estética social com que,existencialista, sonhava.
Polícia e Direito – eis o binômio moventedos esforços pioneiros de Elysio de Carvalho,situado entre Nina Rodrigues e Arthur Ramos.Dedicado ao direito penal, à criminalística e àsociologia criminal, o escritor alagoanoelaborou toda uma reflexão voltada para adefesa da adesão da prática policial aos métodoscientíficos, como estratégia inteligente decombate às condutas anti-sociais delituosas:
“Tendo escripto, por honrosa incum-bência do Exmo. Sr. Dr. Leoni Ramos,ilustre ex-chefe da polícia, a Synthese dePolícia Scientífica, onde reuni todos osconhecimentos, processos, methodos enoções scientificas indispensáveis parauma lucta mais efficaz contra o crime, eo Manual do Agente de Polícia, que éum tratado de investigação criminal parao uso dos nossos agentes, e em ambosencontrando-se observações pessoaessem conta referentes à criminalidade noRio de Janeiro, pensamos ser cabível darum balanço nos nossos serviços poli-ciaes”69.
Discutido o aparelhamento da instituição, oensaísta penedense comunicou os resultados aque chegara, com a investigação A PolíciaCarioca: a criminalidade contemporânea –“precisa ser organizada technicamente, profis-sionalmente, scientificamente, para melhordesempenhar sua missão civilizadora”70.
Conhecer as leis, os regulamentos, a técnicae a ciência criminais – eis o pré-requisitomínimo para o exercício da profissão depolicial, segundo a percepção de Elysio deCarvalho, senhor da literatura do desafianteofício, erudito em Niceforo, Gross, Bertillon,Ross, Reiss, Locard, Ottolenghi, Alongi eBoucher71. A fundação de escolas de políciapassou a ser o ideal do sociólogo alagoano.Transformar a investigação criminal em saberexperimental, coadjuvado pela medicina, pelaantropologia, pela psicologia, pela sociologiae, entre outras ciências, pela biologia, foi opropósito do esteta nordestino, que desejava vê-la, com efeitos, como “uma verdadeira sciencianatural ao serviço da Justiça e da Verdade”72.
67 RIO, op. cit., p. 263.68 Ibid., p. 271.
69 CARVALHO, A polícia carioca : a crimi-nalidade contemporânea. p. 7.
70 Ibid., p. 8.71 Ibid., p. 71 e 112.72 Ibid., p. 112 e 133.

Revista de Informação Legislativa294
Elysio de Carvalho noticiará as conquistas emquestão, em seguida, no opúsculo La PoliceScientifique au Brésil, na esteira de Lombrosoe de Ferri, entre outros, que o animaram aobom combate, inspirando-o a convergênciascomo a de Afrânio Coutinho. O elegante estudofoi ilustrado por um ensaio fotográfico,corporificando as inspirações recebidas -1)Palais de la Police; 2) Laboratoire deMicroscopie Médico-légale; 3) Salle d’Auto-psie (Service Médico-Légal); 4) Laboratoire deChimie (Service Médico-Légal); 5)Biblio-thèque du Service Médico-Légal; 6) MuséeCriminel (en installation); 7) Section d’Identi-fication Criminelle (Service d’Identification);8) Section d’Identification; 9) Section d’Infor-mations Judiciares (Service d’Identification);10) Section d’Informations Judiciares (Serviced’Identification); 11) Archives des FichesDactyloscopiques (Service d’Identification);12) Section d’ Identification Civile (Serviced’Identification); 13) Laboratoire de Photo-graphie Judiciaire (Service d’Identification);14) Appareils de Photographie Judiciare duService d’Identification; 15) Cabinet duDirecteur du Service d’Identification; 16) Sallede l’Ecole de Police; 17) Ecole de Police; e18) Une Léçon Pratique de Dactyloscopie(Ecole de Police)73.
Ainda no “Boletim Policial”, publicaçãomensal e graciosa do Gabinete de Identificaçãoe de Estatística, que funcionava como à RuaFrei Caneca, nº 293, no Rio de Janeiro, Elysiode Carvalho, também Diretor da Escola dePolícia, prosseguiu o seu labor social e jurídico.O ensaio Alphonse Bertillon, dedicado a R. A.Reiss e Edmond Locard, festejou como gênio oprimeiro, e como continuadores do seu laborcientífico, os dois últimos. Bertillon mereceu oepíteto de genial por quê? Segundo Elysio deCarvalho, com uma vida consagrada à justiçasocial, foi o pai dos métodos, das noções, dosprocessos que o tornaram incontestavelmentecriador da moderna techica policial”, desen-volvida “para facilitar o inquérito judiciário”74.Da antropometria à fotografia, passando pelaperícia gráfica, pela análise biológica, pelamedicina legal e pela estatística criminal, aidéia perseguida era a da precisão científica,sonhada por Alphonse Bertillon por intermédiode uma numerosa produção científica. Diver-gências à parte, o escritor penedense festejou,
em O Professor R. A. Reiss no Brazil, asabedoria do investimento estatal paulista noaparelho de segurança, que convidou Reiss paraconferências no Estado, por ser este – antro-pólogo, psicólogo, químico, naturalista,fotógrafo, dactiloscopista e criptógrafo – “aincarnação viva de Sherlock Holmes, umSherlock autêntico em carne e osso”75.
Em clamoroso contraste com a Inglaterra,onde 93% dos crimes são desvendados pelapolícia, restando 7% de pendências, no Rio deJaneiro da atualidade, apenas 6,8% dos delitossão equacionados, havendo o passivo de 93,2%de condutas criminosas sem solução. Esta é atendência a cercar o aparelho policial no Brasil,objeto da desconfiança da sociedade, que oencontra, de vez a vez, no centro dos assaltos,massacres, violências, seqüestros e torturas,vinculado, por infortúnio, ao crime organizado,e não, à ordem constituída, com terríveisprejuízos para a sua imagem inconstitucional.Ao tempo de Elysio de Carvalho haviadiferenças a registrar:
“Com effeito, São Paulo, mais quenenhum outro facilita e acata, como selhe deve, a difficil e ardua missão dapolícia, que, por isto mesmo, cada diamais se torna um apparellho efficaz deprevenção e de repressão. Antes de tudo,S. Paulo estabeleceu o regimen dacompetência e fez desapparecer o carátertransitório das funcções policiaes”76.
O ideal positivo da ciência era o quê a exprimiras distinções, na percepção do homem quetransitara da anarquia para a polícia:
“Nesta prática sensata reside emgrande parte o sucesso de suas inicia-tivas, pugnando pela adopção de aptidõesespeciaes, cuidando do preparo technicodas propostas ao offício, assimilando,enfim, o princípio de que a polícia é umasciencia experimental, constituída paraa defesa da collectividade”77.
Na monografia L’Organisation et leFonctionnement du Service d’Identification deRio de Janeiro , não deixou o senhor Diretor daEscola de Polícia e Diretor do Serviço deIdentificação e de Estatística Criminal, dereconhecer os méritos do fundador deste, aobuscar livrá-lo de empirismo reinante, tor-nando-o valioso nas esferas social e científica.
73 Consultar a respeito CARVALHO, La policescientifique au Brésil. p. 40.
74 Alphonse Bertillon. p. 5.
75 O Professor R. A. Reiss no Brasil. p. 10 e 17.76 Ibid., p. 8.77 Ibid.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 295
Historiando as visitas de Ferri e de Reiss em1913, antecedidas pela de Vucetich em 1903,Elysio de Carvalho terminou por proclamar queo “Service d’Identification et de StatistiqueCriminelli de Rio de Janeiro réatise une oeuvrescientifique de premier ordre”78. Cerca de trintafotografias – ambientes, personalidades e testescientíficos – e estatísticas várias, de naturezacriminal, ilustram a tese do ensaísta penedense.No opúsculo A Reforma dos Institutos dePolícia de Portugal, a preocupação máxima foireferente à manutenção da atualidade, aindaque reflexa, ou ressonante, com os avançoslegais e técnicos hauridos na experiênciauniversal. A discussão dos aspectos psiquiá-tricos da criminalidade, bem como da neces-sidade de uma avançada e disciplinadamedicina legal, foi travada em nível deexigência social e jurídica:
“Não é raro surgirem queixas eprotestos de homens eminentes naespecialidade contra esse facto alarmantee suas resultantes, verdadeiras mostruo-sidades jurídicas, levando-nos quase aconcluir que, neste particular, estamosem condições mais precárias do que aFrança antes de Peniel, do que a Ingla-terra antes de Tuke, achando-se as nossasprisões repletas de desgraçados que ajustiça dos homens não soube proteger eque a sciencia não pôde salvar, semdúvida, passíveis de reclamação”79.
Na comunicação endereçada ao VIII eCongrès International d’AnthropologieCriminelle, reunido em Budapeste, entre 14 e20 de setembro de 1914, intitulada Crimina-listique, o jurista alagoano exibiu a sua erudiçãona matéria, remetendo a Stockis, Gross, Locard,D’Ottolenghi e Reiss, ao confessar que ainfluência recolhida pelo Rio de Janeiro,visando tornar a polícia judiciária umainstituição científica, vinha da França e daItália, temperada pela Alemanha, Suíça eBélgica. Visão douta prolongada ainda nodebate das idéias de Lombroso, Garófalo, Ferri,Tarde e Maxwell, entre outros, à procura deuma explicação para o crime como fenômenoglobal, a reclamar um saber específico, masinterativo, a recolher subsídios da química, dafísica, da psicologia, da antropologia, da
biologia, da psiquiatria e da medicina legal.Sem o esquecimento de que, ao articular a suatese, o esteta nordestino não esqueceu demensionar a prosa policial de Edgard Alan Poe,demonstrando a sobrevivência dos seus vínculosconsigo mesmo80. No estudo A Identificaçãocomo fundamento da Vida Jurídica, aoconfirmar um estilo, Elysio de Carvalhoexaminou o significado civil e criminal doproblema, percorrendo a bibliografia recenteencontrada nas línguas reconhecidas comocultas e trazendo à colação numerosas exempli-ficações do cotidiano, ao abonar, com situaçõesvividas, a reclamação legal máxima da tese quedefendia: “A identificação obrigatória é umreclamo da consciência jurídica do nossotempo”81.
Na conferência A Luta Técnica Contra oCrime, Elysio de Carvalho, fundamentado noaristocratismo nietzachiano, de novo fiel a simesmo, condenou o humanismo de legisladorese de sociólogos, argumentando que ambosdesaparelharam a sociedade dos reais meca-nismos de defesa, “em nome de uma huma-nidade que não existe”82. Crua e soberanamente:“Philantropica, por de mais humana, é efeitode sintoma dessa anarquia dos instintos, tãobem descrita por Nietsche”83. A soluçãoproposta pelo policial alagoano foi objetiva, ou,como diria, sem metafísica:
“O remédio reside numa organizaçãopolicial capaz e numa justiça respeitável,severa, inflexível, porque, para reprimiros maus instintos dos malandros que nosaterrorizam com os seus crimes, é precisonão só que eles saibam que serão presoscomo ainda serão punidos devida-mente”84.
No opúsculo O Laudo da Perícia Gráficado Caso da Rua Januzzi nº 13, voltou Elysiode Carvalho a criticar o empirismo e ademonstrar os seus conhecimentos técnicos,sempre com substrato erudito85, renovado namonografia Exames Periciais, em que discutiuprocessos criminais, incêndios, grafologia,
78 CARVALHO, L’ organisation et le fonctionne-ment du service d’ identification de Rio de Janeiro.p. 6.
79 Id. A Reforma dos Institutos de Polícia dePortugal. p. 8.
80 Id. Criminalistique. p. 5, 21 e 21.81 Id. Elysio de. A Identificação como funda-
mento da vida jurídica. p. 28.82 Id. A luta técnica contra o crime. p. 17.83 Ibid., p. 17.84 Ibid., p. 18.85 Consultar a respeito CARVALHO, Elysio de.
O laudo da perícia gráfica do caso da Rua Januzzinº 13. p. 22.

Revista de Informação Legislativa296
arrombamentos, identificação de pés calçados,maternidade e explosão, com diferentesparceiros, a exemplo de Octávio MicheletOliveira, Décio Coutinho, Edgar SimõesCorrêa, Miguel Salles, Carlos de Vasconcellos,Camillo de Moura e Alfredo Faria da Silveira86.Prosseguiu o esteta penedense, na revistaSelecta, a sua pregação, publicando artigossobre crimes, armas, prisões, tatuagens,enigmas, descobertas, laboratórios, crenças,superstições, grafia e fisionomia dos delin-qüentes, de interesse para a sociologia criminal.
A ambição magna de Elysio de Carvalhofoi a de patrocinar o casamento de razão entrea polícia e a justiça. O Direito foi o Deus a queprocurou, feita a travessia da anarquia para apolícia, servir. Não há uma palavra a respeitodo pensador alagoano nas diferentes históriasjurídicas brasileiras, não obstante ele tenhaavançado debates e processos na criminologia,na medicina legal, na estatística criminal, naidentificação, na instrução judiciária e naadministração policial, vastos e pioneiroscampos em que foi tudo, menos desimportante.
86 Id. Consultar a respeito CARVALHO, Examespericiais. p. 76.
Ausente está Elysio de Carvalho, talvez muitomais amante da Segurança do que da Justiça,da coletânia Sociologia Criminal, de RobertoLyra; da História do Direito, especialmente doDireito Brasileiro, de Haroldo Valadão; daHistória das Idéias Jurídicas no Brasil, de A.L. Machado Neto; da História Resumida doDireito Brasileiro , de Milton Duarte Segurado;de O Poder Judiciário no Brasil, de LenineNaquete; da obra coletiva O Direito naRepública; e do ensaio 100 Anos de CiênciaJurídica no Brasil, de Miguel Reale, tambémsupostamente completo. Qual nada! MiguelReale, como os demais, produziu uma lacunana história jurídica do Brasil, sonegando Elysiode Carvalho, amante que não foi correspondido.
Pobre homem... a deusa Thêmis é implacávelcom os que não consideram a Justiça o valormagno e o critério de verdade de todo e qualquerDireito, terminando por colocar-se a serviço dahierarquia e da autoridade, movidos pelo terrívele defensivo medo, cujos braços siameses econflitantes são os instintos (a serem reprimidos)e a tradição (exigente da conservação).

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 297
Na fase atual do desenvolvimento capita-lista, a natureza das relações econômicas in-ternacionais tem sido radicalmente alterada,devido ao fato de que a economia mundial dei-xou de ser o produto da soma das economiasnacionais, que funcionavam conforme suas pró-prias leis, mantendo basicamente pactos comer-ciais bilaterais, para fazer parte de um únicosistema universal.
O fenômeno da globalização atual, muitasvezes, tem dado lugar a um esquema estratifi-cado de relações internacionais denominadoglobalização segmentada. O centro privilegia-do desse cenário é constituído por aquelas re-giões de maior dinamismo: EUA (enquantointegrante do Nafta), União Européia e Japão,sendo que são entre esses pólos que se desen-volvem as maiores correntes de comércio, detransferência tecnológica, de serviços e fluxosfinanceiros intermitentes, bem como de rela-ções agrícolas de grande vulto.
A integração sobre a qual tanto se fala e sealmeja parte de um conceito estrutural e se de-fine como o processo de criação de um espaçoeconômico, político e social pela inserção vo-luntária e solidária dos Estados-partes, a partirde interesses comuns, que tem como objetivofinal o desenvolvimento transnacional e cujosmecanismos e instrumentos estão definidos emtratados, pactos ou acordos instituídos.
Inúmeros são os obstáculos para a perfeitaefetivação de um Mercado Comum. A coorde-nação das políticas macroeconômicas, umaharmonização tributária coerente e relaçõessociais satisfatórias são pontos conflitantes para
A questão agrícola no Mercosul e na UniãoEuropéia (UE)
CARLOS A. MOREIRA LEITE
JAMILE B. MATA DIZ
DANIEL DE SÁ RODRIGUES
Carlos A. Moreira Leite é Professor-orientadordo Departamento de Economia Rural da Universi-dade Federal de Viçosa.
Jamile B. Mata Diz e Daniel de Sá Rodriguessão graduandos do curso de Direito da UniversidadeFederal de Viçosa e bolsistas do PIC/CNPq.

Revista de Informação Legislativa298
qualquer país que deseje participar de um co-mércio multilateral. Dentre as políticas macro-econômicas, a questão agrícola tem sido palcode intermináveis discussões, principalmentequanto aos setores governamentais. Na RodadaUruguai, por exemplo, a agricultura foi a ques-tão dominante, o que fez com que fossemadiados, sem acordo, todos os demais itensda agenda de negociações e donde se podeconcluir que é de suma importância a con-vergência das políticas agrícolas quando sepensa em consumar, com êxito, a formaçãode um mercado comum.
O desenvolvimento integracionista daUnião Européia resolveu, por meio do Tratadode Roma, criar uma política agrícola comumque viesse a provocar uma completa e eficienteunificação dos principais setores produtivosagrícolas.
Na UE, entre as décadas de 70 e 80, houveum aumento na produção agrícola de 2% aoano, havendo, em contraposição, uma reduçãodo consumo interno de 0,5%, o que provocouum excedente alimentar realmente preocupan-te, pois resultou em fortes baixas nos mercadosmundiais, trazendo prejuízos, sobretudo, paraos países tradicionalmente fornecedores de pro-dutos agroalimentares para a Europa.
Tais problemas foram devidamente solucio-nados com a adoção de um programa de sub-venções, de tarifações menores para os paísesfornecedores, e também a adoção de um pro-cesso que estipularia intercâmbios tecnológi-cos, auxiliando os países de economia eminen-temente agrícola.
Mas, se vislumbrarmos a progressão realcom que se efetivou a implantação da políticaagrícola, poderemos notar que as complicaçõespara a formação da UE se agravavam quando aagenda se voltava para a agricultura, primor-dialmente porque as dificuldades apresentadaseram geradas por uma especial sensibilidadepolítica do setor, que impedia concessões, porachar que um programa comum poderia redu-zir a já pequena renda dos miniagricultores.Foi colocado ainda que cada país perderia cer-ta margem de liberdade para que, quando ne-cessário, pudesse alterar unilateralmente suaprópria política doméstica por fatores puramen-te políticos.
Contudo, percebeu-se que todo o sucesso daintegração dependia, em parte, da questão agrí-cola, que deveria realmente ser conjugada numaposição unívoca, demonstrando que, ao invés
de negociações agrícolas isoladas, o mercadocomum para a agricultura se apresentava comoelemento crucial para a liberalização de ma-nufaturados e vice-versa. Os países com inte-resse na liberalização agrícola, por sua vez,deixavam bem claro aos de indústria mais com-petitiva, mas agricultura ineficiente, que nãoiriam admitir a exclusão ou inércia do setoronde consideravam estar suas principais van-tagens comparativas.
Antes da iniciativa de se criar uma comu-nidade européia nas proporções atuais, váriosoutros projetos de mercado comum ou comér-cio multilateral haviam sido colocados em prá-tica, como, por exemplo, o Benelux, no qual seresolveu apenas harmonizar as políticas dospaíses-membros, sem a verdadeira intenção decriação de um programa de esforços comuns,não tendo esse projeto obtido maiores êxitos, oque veio demonstrar a necessidade de uma po-lítica comum planejada e rigidamente seguida.
Em termos de competitividade, a UE é omaior mercado importador e o segundo maiorexportador de produtos agrícolas no mundo. Ea participação da UE nas exportações mundi-ais não é só de destaque; também aumentouconsideravelmente após a adoção da PolíticaAgrícola Comum (PAC).
Foi justamente no Tratado de Roma (1958)que se procurou delimitar os objetivos da PAC:aumento da produtividade dos agricultores;melhora na qualidade de vida dos produtores eestabilização dos mercados e, finalmente, mai-or segurança alimentar (food safety). Entretan-to, foi por meio de uma coesão tributária quese conseguiu, ainda que indiretamente, imple-mentar com sucesso a política agrícola comumda UE.
Em 1987, foram apresentadas as propostasrelativas ao novo sistema comunitário de im-posição ao valor agregado – IVA – com a fina-lidade de obter-se a supressão das barreiras fis-cais. Tal sistema foi estruturado em três pila-res básicos: a aproximação das alíquotas do IVAe dos impostos especiais dos Estados-membros;o programa de tributação referente ao comér-cio transnacional e um sistema de compensa-ção de impostos baseados num regime de ori-gem, que foi amplamente criticado, o que cul-minou num regime transitório, elaborado con-forme os preceitos do Informe Lemirriere, comduração prevista para o período de 1993 a 1997,segundo o estabelecido pela Diretiva 91/6880em seu artigo 28, por um “regime de tributa-

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 299
ção dos intercâmbios entre os Estados-mem-bros baseado no princípio de origem”, o queafetará incontestavelmente, mesmo que demaneira implícita, a política agrícola comumjá definida.
Toda análise de perspectivas futuras da ini-ciativa do Mercosul deve incluir também umaavaliação dos verdadeiros interesses estratégi-cos de cada país no contexto da integração, umavez que deles depende seu esforço integracio-nista. É inegável que cada país busque, antesde mais nada, seu bem-estar e crescimento etenda a antepor esses fatores a qualquer outraconsideração.
As vantagens e os benefícios potenciais daintegração para países como o Paraguai e oUruguai são evidentes, já que visam ascenderde maneira direta a mercados externos de enor-me tamanho comparativo. Além disso, estes sãoalcançados com baixo risco relativo, já que, porrazões diferentes, sua produção interna dificil-mente será afetada de forma negativa quandoda completa integração.
O Mercosul responde por apenas 10,2% dasexportações mundiais de produtos agrícolas,enquanto os países da UE têm uma participa-ção de aproximadamente 52%.
A questão agrícola, dentro da formação doMercosul, tem, como não poderia deixar de ser,suscitado calorosos debates a respeito de suaimplantação. As maiores preocupações se re-ferem ao fato de que as condições naturais, cli-máticas e do solo, bem como os avanços tecno-lógicos, têm privilegiado sobremaneira a Ar-gentina e o Uruguai, os quais apresentam me-nores custos de produção em relação a umagrande parcela de produtos primários, taiscomo: o leite, o milho e a carne. “Os custos deprodução do leite no Brasil são iguais ao dobrodos custos no Uruguai e na Argentina, em va-lores relativos. Ao se comparar as cadeias deprodução do Brasil em relação à Argentina, porexemplo, percebe-se que a imposição de im-postos e tarifas alfandegárias tem resultadonuma diminuição considerável na rentabilida-de produtiva do nosso país”1. Aliado a isso háuma tarifação compensatória (via tributaçãoindireta) de 33% em relação à exportação paraos demais países, sobretudo UE, enquanto aArgentina apresenta um percentual de apenas
16%. Ainda no caso dos produtos lácteos, avantagem uruguaia é nítida sobre a brasileira,pois seu custo de produção é inferior ao do Bra-sil. De acordo com os dados disponíveis, for-necidos pela Cooperativa Nacional de Produc-tores de Leche, as compras brasileiras de leitee derivados atingiram em 1995 o montante deUS$ 40 milhões, o que indica um incrementode aproximadamente 74% em relação ao anode 1993 (US$ 23 milhões). No setor da carne,o Uruguai, juntamente com a Argentina, pos-sui visíveis vantangens sobre o Brasil, pois seuproduto é de melhor qualidade que o brasilei-ro; todavia, caso houvesse necessidade de im-portação pelo Brasil, certamente nossos vizi-nhos não conseguiriam suprir as necessidadesdo mercado brasileiro.
Outros produtos em que o Uruguai é bemcompetitivo são a lã, a cevada e o arroz, queestão descobrindo um bom potencial no Brasil,principalmente nos mercados do Sul, como RioGrande do Sul, mas também São Paulo, MinasGerais e Rio de Janeiro. Também as vinícolasuruguaias passaram por um processo de mo-dernização, importando cepas francesas e me-lhorando a produção.
Assim, enquanto não se concretizar umaharmonização tributária consistente, não sepoderá alcançar maiores triunfos na questãoagrícola. O grande problema a ser enfrentadona análise tributária dos países-membros refe-re-se principalmente à supressão das barreirasfiscais, com implicações diretas sobre os im-postos indiretos, tais como o IVA (imposto so-bre o valor agregado, existente na Argentina eno Uruguai) e o ICMS (imposto sobre circula-ção de mercadorias e serviços, existente noBrasil).
Contudo, não é a matéria tributária o únicoponto de entrave da agricultura, pois tem-seainda a necessidade de implementação do ajustede preços ao mercado, dos subsídios e das me-didas antidumping, procurando-se evitar, emambos os casos, um protecionismo arraigado.
É um tanto complexa a discussão sobre apolítica agrícola, apesar de alguns estudiosos emais entusiastas do Mercosul afirmarem que asdificuldades encontradas pela UE para a forma-ção comum da agricultura foram mais rigídasdo que estão sendo no Mercosul. Uma das dife-renças básicas que se pode notar é que os países-partes do Mercosul acreditam na possibilidadede haver apenas uma harmonização das políti-cas nacionais, modelo esse que não obteve muitoêxito nas negociações do Tratado de Roma.
1 LOPES, M.R., JANK, M. S. O setor leiteiro, aintervenção do estado e o Mercosul: análise e pro-posta de estratégias políticas. São Paulo: Associa-ção Brasileira de Produtores de Leite B,1992.

Revista de Informação Legislativa300
Antes de se iniciar a harmonização tributá-ria propriamente dita, os integrantes do Mer-cosul deverão indubitavelmente adaptar e co-ordenar suas políticas macroeconômicas a fimde que não haja maiores distorções quandohouver a completa efetivação do mercado co-mum. A própria estrutura tributária de cada paísintegrante é um fator macroeconômico de altarelevância e que atuará de forma incisiva sobrea política agrícola, qualquer que seja o modeloa ser adotado.
No Mercosul, as diferentes legislações dosquatro países apresentam assimetrias importan-tes quanto aos sistemas e alíquotas dos impos-tos indiretos, o que dificultará sobremaneira aharmonização (já iniciada com a adoção de umatarifa externa comum) das respectivas legisla-ções. Desde logo, nota-se que a Argentina, oParaguai e o Uruguai têm como principal fon-te de arrecadação de receitas o IVA que corres-ponde, de maneira análoga, ao ICMS, no âm-bito estadual; ao IPI (imposto sobre produtosindustrializados), na esfera federal, e ao ISS(imposto sobre serviços de qualquer natureza),de competência municipal, estando estes pre-vistos na Constituição Federal do Brasil.
A adoção do IVA tem sido amplamente de-fendida, admitindo-se até mesmo que os trêsimpostos citados se transformem em um só,tentativa esta que já está sendo realizada coma implantação do Imposto Único. “Talvez asolução mais adequada seja a implantação deum IVA (Imposto sobre Valor Agregado) dealíquotas harmonizadas – entre 14% e 20%, esem taxa 0, baseado no sistema de origem”2.
A agricultura era considerada, no início doprocesso de integração, como um setor em quea Argentina dispunha de amplas e simples van-tagens comparativas em relação aos demaispaíses. A experiência dos primeiros anos deintegração e a especialização na área setorial –incluindo-se aí a consideração das cadeias pro-dutivas relacionando agricultura e indústria –têm suscitado a revisão dessa interpretação,aparentemente baseda no caso do trigo – emque são evidentes as disparidades entre a Ar-gentina e o Brasil, em termos de custo de pro-dução e competitividade.
Essa questão parece considerar elevado opotencial de conflito existente em um setoragrário submetido às pressões competitivas daintegração. Sem dúvida, a superposição da
questão agrária e da questão regional, deter-minada pelo fato de que os setores agrícolassensíveis à integração estão concentrados regi-onalmente, amplia o potencial de divergências,com efeitos bastante negativos sobre o abaste-cimento (principalmente quando se referem aprodutos como a carne).
Nos demais segmentos de produção agrí-cola e agroindustrial, evidencia-se não só a ca-pacidade competitiva dos produtores brasilei-ros, mas ainda um razoável potencial de cres-cimento do comércio intra-ramos, o que é maisimportante do ponto de vista da integração. Talé o caso dos segmentos de carne, laticínios esoja, que devem, entretanto, passar por profun-das modificações internas sob pena de se trans-formarem nos setores mais prejudicados daeconomia de integração.
A competitividade de um país é determina-da por vários fatores: estoque de recursos fixosdestinados à produção e comercialização; efi-ciência e produtividade; preços dos insumos epolítica tributária.
Uma pesquisa realizada pelo IEPE/92 cons-tatou que os custos argentinos de produçãoagropecuária são menores que os dos demaispaíses, especialmente em se tratando de Bra-sil, e em relação a muitos produtos. Os meno-res custos argentinos derivam, muitas vezes,das melhores condições climáticas lá existentes.
No setor agroindustrial brasileiro, as maio-res preocupações parecem estar relacionadascom este tipo de impacto – redução nos níveisde produção; isso porque os maiores produto-res literalmente “engolem”os pequenos – e comas receitas ao produtor, ocasionadas pelas im-portações dos produtos dos parceiros comerci-ais. Acontece que, por condições do clima e dosolo, e em muitos casos tecnológicas, a Argen-tina e o Uruguai apresentam maiores custos deprodução em relação a uma grande parcela deprodutos.
As importações de produtos agrícolas pro-venientes dos parceiros do Brasil têm aumen-tado siginificativamente nos últimos períodos,a ponto de preocupar seriamente vários setoresprodutivos. O problema latente que se liga aoMercosul são os diversos fatores que poderãolevar a distorções de competitividade no bloco,afetando os fluxos de comércio entre os paísese fazendo com que os benefícios econômicos,que seriam de se esperar, acabem não ocorren-do, ou pior, tornem-se prejudiciais. Alguns des-ses fatores são: taxa cambial, incidência tribu-
2 FIGUEIRAS, Marcos Simão. Mercosul no con-texto latino-americano. 2.ed. São Paulo : Atlas,1996.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 301
tária, ação das políticas agrícolas, restriçõesnão-tarifárias, etc. Esses têm relação direta coma sobrevivência de vários produtos agrícolasbrasileiros, particularmente os pertencentes àscadeias sensíveis.
A preocupação maior nesse momento queo Mercosul atravessa, a fase de união aduanei-ra, é de cautela e prudência, pois exige sacrífi-cios por parte dos países-membros para que oMercosul atinja o seu real objetivo: a formaçãode um Mercado Comum. Contudo, tais sacrifí-cios deverão ser feitos sem que recaia prejuízoou desvantagem sobre apenas um membro emrelação aos demais.
A política agrícola é tema de fundamentalimportância e que gera conflitos e discussõesem todos os mercados até hoje implantados.Mas não serão as dificuldades que impedirãoque os países-membros atinjam seu tão deseja-do ideal. Deve-se procurar, com muita paciên-cia e imparcialidade, encontrar o verdadeirocaminho a ser seguido pelo Mercosul, aindaque seja inicialmente e apenas a harmoniza-ção das legislações, enfaticamente a tributária.O caminho escolhido deverá promover um tra-tamento eqüitativo para todos os países, res-peitando-se o ritmo e as diferenciações básicasde cada país, que deverão ser levados em conta.
Segundo o trabalho realizado por Marcelode Paiva e Eduardo Loyo: “nas negociações doNafta, os temas agrícolas foram sempre trata-dos como os que maiores dificuldades ofereceri-am à plena integração dos mercados, o que, nãopoderia deixar de ser, acabou resultando em pra-zos de transição bastante longos e liberalizaçãoinicial bastante tímida, comparativamente aosnegociados para o comércio de manufaturas.
No caso do Mercosul, porém, as própriasestruturas produtivas e do comércio exterior dosseus integrantes de algum modo impuseram,desde a abertura das negociações, que o lequede setores abarcados pela integração incluíssetanto a indústria de transformação quanto a agri-cultura. Somente assim, dada as vantagens com-petitivas que em geral se atribuem a cada umadas partes envolvidas, haveria a possibilidade deum balanço de concessões mútuas (...)”3.
Assim, a política agrícola como um todoprecisará de várias reformulações para que seconsiga alcançar todos os própositos inseridos
no Tratado de Assunção, atingindo um estágiode evolução que prega pela total harmonia dossistemas. Coordenação é a palavra-chave paraestimular a série de transformações que as po-líticas internas de cada país deverão sofrer.Cooperação será o ponto de apoio básico queos países deverão manter em suas metas, demaneira que um auxilie mutuamente o outrosem que haja cobranças ou inimizades entre osmesmos.
No que tange especificamente à economiainterna de cada país, haverá necessidade demudanças drásticas, mas que deverão ser rapi-damente realizadas, sob pena de se colocar emrisco a perfeita sincronização das aspiraçõesfinais do Mercosul.
Quanto à harmonização tributária, dever-se-á concentrar na efetivação de um CódigoComum, que irá facilitar sobremaneira as ques-tões que tiverem sido colocadas como realmenteimportantes, fazendo com que haja um estritocumprimento das normas previstas em tal Có-digo. Os reflexos das estruturas tributárias re-caem, sem sombra de dúvida, sobre as políti-cas agrícolas internas de cada país. Urge, por-tanto, que se faça uma adequação positiva paratodos os integrantes do Mercosul, de modo aacelerar corretamente a tão sonhada integração.
Com referência ao ingresso de outros paí-ses ao Mercosul, como é o caso do Chile, Ve-nezuela e Bolívia, será de essencial necessida-de a concordância de todos os membros, evi-tando, assim, discussões ou até mesmo retira-das. A possibilidade de formação de um mer-cado comum das Américas (Alca – Acordo deLivre Comérico das Américas) não é de tudoinviável, ao inverso, já existem estudiosos queprevêem tal acontecimento.
Finalmente, para que todas as metas pos-sam ser esgotadas, deve-se estimular os seto-res descrentes ou descontentes com a integra-ção, pois nota-se um grande desinteresse porparte do setor legislativo em modificar o mo-delo normativo em geral, o que irá provocarcertamente perdas irreparáveis para os paísesque imponham demasiados obstáculos parauma perfeita integração, e é o Brasil que pos-sui maiores dificuldades para obter significati-vas mudanças em seu sistema tributário. O te-mor de que essas mudanças venham provocarperdas em alguns setores é infundado e semamparo científico, pois, como visto, há áreasde maior sensibilidade, mas que, se forem re-estruturadas, passarão a ser competitivas tantoquanto as demais.
3 ABREU, Marcelo de Paiva, LOYO,EduardoH.M.M. Estudos de política agrícola 05 : relatóri-os de pesquisa. IPEA,1994. p. 86.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 303
1. IntroduçãoO habeas data foi introduzido, no Direito
brasileiro, com a Constituição Federal de 1988.Conforme a definição constitucional, no inci-so LXXII do art. 5º da Carta Magna, trata-sede um meio posto à disposição das pessoas paraque conheçam as informações a seu respeitoconstantes de registros ou bancos de dados deentidades governamentais ou de caráter públi-co, permitindo ainda que seja feita a retifica-ção dos dados eventualmente inexatos.
Embora sem o nome específico de habeasdata, instrumentos semelhantes constaram daConstituição de Portugal de 1976 (art. 35) e daConstituição da Espanha de 1978 (art. 105, b).Nos Estados Unidos, o Freedom of Informati-on Act de 1974, alterado pelo Freedom of In-formation Reform Act de 1978, permite o acessodos particulares às informações de registros ebancos de dados públicos. Mais recentemente,o habeas data foi introduzido no Direito ar-gentino, na revisão constitucional de 1994,como uma das modalidades de acción expedi-ta y rápida de amparo 1.
O habeas data na Lei nº 9.507/97
ARNOLDO WALD
RODRIGO GARCIA DA FONSECA
Arnoldo Wald é Professor catedrático da Facul-dade de Direito da UERJ e advogado em São Pauloe no Rio de Janeiro.
Rodrigo Garcia da Fonseca é advogado.
SUMÁRIO
1. Introdução. 2. O acesso extrajudicial às in-formações. 3. O cabimento do habeas data. 4. A açãojudicial. 5. Algumas questões processuais. 6. Con-clusão.
1 Novo art. 43 da Constituição da Argentina.Sobre o habeas data no Direito argentino, destaca-mos as obras de FALCÓN, Enrique M. Habeas Data: concepto y procedimiento. Buenos Aires : Abele-do-Perrot, 1996 e EKMEDJIAM, Miguel Ángel,PIZZOLO, Calogero. Hábeas Data : el Derecho ala intimidad frente a la revolución informática. Bu-

Revista de Informação Legislativa304
No Brasil, como vinham afirmando a dou-trina e a jurisprudência, desde a criação cons-titucional do habeas data, fazia-se necessáriaa edição de uma legislação específica para adisciplina desse novo instituto2. Assim, foi apro-vada a Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997(DOU 13.11.97), sancionada pelo PresidenteFernando Henrique Cardoso com alguns pou-cos vetos, que “regula o direito de acesso a in-formações e disciplina o rito processual do ha-beas data”3.
Consagrando o princípio já consolidadopela Súmula nº 2 do Superior Tribunal de Jus-tiça, segundo a qual não será cabível a ação dehabeas data se não houver a prévia recusa deinformações por parte da autoridade adminis-trativa, a Lei nº 9.507/97 reservou os primei-ros artigos ao regramento da fase extrajudicialda postulação, deixando para uma segundaparte as regras processuais sobre a ação judicial.
2. O acesso extrajudicial às informaçõesA Constituição de 1988, ao criar o habeas
data no inciso LXXII do art. 5º, assegurou àspessoas em geral o acesso às informações so-bre elas constantes de “registros ou bancos dedados de entidades governamentais ou de ca-ráter público”. Do texto constitucional deduz-se que, em princípio, todos os registros e ban-cos de dados “oficiais” – de entidades gover-namentais – estão sujeitos à regra (ressalvadasas informações sigilosas por questão de segu-rança da sociedade e do Estado, como restringi-do pelo inciso XXXIII do mesmo art. 5 º da Cons-tituição, regulamentado pela Lei nº 8.159/91).Mas também os registros ou bancos de dadosparticulares poderão ser acessados pelos inte-ressados, desde que sejam caracterizados comode “caráter público”.
Logo no parágrafo único do art. 1º da Leinº 9.507/97, é definido como de caráter públi-co “todo o registro ou banco de dados conten-do informações que sejam ou que possam sertransmitidas a terceiros ou que não sejam douso privativo do órgão ou entidade produtoraou depositária das informações”. Com efeito,inúmeros registros tipicamente comerciais,como serviços de proteção de crédito ou lista-gens de mala-direta, estarão englobados nadefinição legal, na medida em que normalmen-te são idealizados justamente para transmissãode informações a terceiros. Como a definiçãolegal é bastante ampla, entendemos que deveser interpretada com temperamentos, verifican-do-se, caso a caso, a natureza das informaçõesregistradas e o seu potencial eventualmente le-sivo aos particulares.
Não se pode esquecer que o habeas data foiconcebido na Constituição de 1988 como uminstrumento essencialmente político. Os mem-bros da Assembléia Nacional Constituinte ti-nham em mente, sobretudo, os registros do anti-go Serviço Nacional de Informações (SNI) du-
enos Aires : Depalma, 1996. Em ambos os livros háuma boa quantidade de informações sobre o habeasdata no direito comparado.
2 A literatura jurídica brasileira não é muito ricana matéria. Além de vários artigos publicados emrevistas especializadas por Célio Borja (RevistaForense, n. 306, p. 43) Joaquim Portes de Cerquei-ra Cesar (Revista Forense, n. 310, p. 29) Pedro Hen-rique Tavora Niess (Justitia, v. 149, p. 38) CarlosAri Sunfeld (Revista da Procuradoria Geral de SãoPaulo, v. 153, p. 176) e Humberto Theodoro Junior(Revista da Faculdade de Direito de UFMG, v. 33)o habeas data tem sido tratado nos livros referentesàs garantias constitucionais entre os quais se desta-cam o Mandado de Segurança de Hely Lopes Mei-relles, atualizado por Arnoldo Wald, com a colabo-ração de Rodrigo Garcia da Fonseca, (18. ed. Ma-lheiros, 1997), Cretella Junior (Os Writs na Consti-tuição de 1988), Vicente Greco Filho (Tutela cons-titucional das liberdades) Calmon de Passos (Man-dado de Segurança Coletivo, Mandado de Injun-ção, Habeas Data) e Othon Sidou (Habeas Data,Mandado de Injunção, Habeas Corpus, Mandadode Segurança, Ação Popular) e pelos comentadoresda Constituição de 1988 em geral como os Profes-sores Ives Gandra Martins e Celso Bastos (Comen-tários à Constituição do Brasil. 1989. v. 2, p. 361-367). Existe ainda uma monografia de Tereza Bara-cho Thibau (O Habeas Data. Belo Horizonte : DelRey, 1997) e um ensaio da Juíza Diva Prestes Ma-lerbi (Perfil do Habeas Data) ambos anteriores ànova legislação. A jurisprudência, especialmente dostribunais superiores, é parca.
3 Enquanto estava sendo discutido o projeto noCongresso Nacional, foi nomeada pelo Ministro daJustiça, em virtude da Portaria nº 634 de 23/10/96,Comissão de juristas para rever a legislação sobre
argüição de inconstitucionalidade, mandado de in-junção, mandado de segurança e habeas data. Namencionada Comissão que foi presidida pelo Pro-fessor Caio Tácito, dela participando, entre outros,os Ministros Carlos Alberto Direito e Rui Rosado eos professores Ada Grinover Pelegrini e ArnoldoWald, foi elaborado um anteprojeto referente aohabeas data, regulamentando o inciso LXXII do art.5º da Constituição Federal, que pode ter influencia-do os vetos do Poder Executivo ao projeto de leiencaminhado pelo Congresso Nacional.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 305
rante o regime militar a partir de 19644, emboraa finalidade da lei ordinária seja mais ampla.
A preocupação quanto ao alcance das re-gras da Lei nº 9.507/97 foi expressamente ma-nifestada pelo Presidente da República nos ve-tos ao caput do art. 1º, ao Parágrafo Único doart. 3º e à íntegra do art. 5º. Nesses dispositi-vos, originalmente aprovados pelo CongressoNacional, mencionava-se simplesmente o di-reito irrestrito ao acesso às informações nosregistros ou bancos de dados de entidades go-vernamentais ou de caráter público, sem a res-salva quanto às informações sigilosas, garanti-da na própria Constituição Federal. Ademais,estabelecia-se a obrigação de fornecimentoimediato de cópias de documentos aos interes-sados, além da comunicação à pessoa interes-sada da prestação de informações a seu respei-to a qualquer usuário ou terceiro. Como bemsalientado nas razões de veto, tais obrigaçõesseriam inviáveis e desproporcionais, tanto doponto de vista prático quanto jurídico.
A lei disciplinou um rito extrajudicial, es-tabelecendo que o interessado apresentará o seurequerimento de fornecimento de informaçõesao órgão ou entidade depositária do registro oubanco de dados, o qual deverá ser apreciadoem 48 horas (art. 2º, caput). A decisão deveráser comunicada ao requerente em 24 horas (art.2º, parágrafo único), sendo que, em caso dedeferimento, marcar-se-á dia e hora para a di-vulgação das informações (art. 3º, caput).
Embora haja uma louvável preocupaçãocom a celeridade do procedimento, a lei nadadispôs quanto à inobservância destes prazos.Em se tratando de órgão público, o funcioná-rio em atraso estará sujeito às penalidades ad-ministrativas cabíveis em função da desobedi-ência a uma obrigação legal, mas em se tratan-do de entidades privadas (apesar do caráterpúblico), há muito pouco que o interessadopossa fazer para que os prazos sejam rigorosa-mente respeitados. É verdade que o art. 6º es-tabelecia multas para o descumprimento dasobrigações impostas às entidades depositáriasdos dados ainda na fase extrajudicial, mas afalta de especificação quanto à destinação e àgestão das verbas arrecadas, além de uma anô-mala intervenção do Ministério Público, pre-vista nos parágrafos 1º e 2º, levaram o Presi-dente da República a vetar a norma.
O art. 4º da Lei do Habeas Data disciplinaa retificação de dados inexatos. O interessadodeverá pedir a retificação em petição acompa-nhada de documentos comprobatórios da ine-xatidão (art. 4º, caput), a qual deverá ser efe-tuada e comunicada ao requerente em 10 dias(art. 4º, § 1º). Há, ainda, uma situação inter-mediária, quando não se verificar propriamen-te uma inexatidão, mas houver alguma pen-dência sobre o fato objeto do dado registrado.Nessa hipótese, o interessado poderá apresen-tar “explicação ou contestação”, que deverá seranotada no cadastro (art. 4º, § 2º).
Entendemos que, em toda a fase extrajudi-cial, quando o banco de dados ou o registro forde órgão ou entidade integrante da Adminis-tração Pública, serão cabíveis os recursos ad-ministrativos ordinários às autoridades hierar-quicamente superiores em caso de indeferimen-to de quaisquer requerimentos5. Não obstante,embora o recurso administrativo possa ser ca-bível, não se poderá exigir do interessado aprévia exaustão das vias administrativas paraque ajuíze o seu pedido de habeas data peranteo Poder Judiciário, em virtude da expressa ve-dação constitucional (CF, art. 5º, XXXV) e deacordo com a jurisprudência dos tribunais.
3. O cabimento do habeas dataO art. 7º da Lei nº 9.507/97 repete a reda-
ção do inciso LXXII do art. 5º da Constitui-ção, assegurando o cabimento do habeas datapara o conhecimento de informações sobre apessoa do impetrante e a retificação de dados.Acrescentou-se, porém, uma terceira hipótesede cabimento do habeas data, não prevista naConstituição, “para a anotação nos assentamen-tos do interessado, de contestação ou explica-ção sobre dado verdadeiro mas justificável eque esteja sob pendência judicial ou amigável”(art. 7º, III).
Quanto à retificação de dados (art. 7º, II), alei repete a Constituição Federal ao prever aopção, para o interessado, de requerimentomediante “processo sigiloso, judicial ou admi-nistrativo”. Como a própria Lei do HabeasData não disciplina este processo judicial sigi-loso, entendemos que deverá seguir o rito ordi-nário, correndo sob segredo de justiça, na for-ma do Código de Processo Civil (CPC), art.
4 LIMA, Jesus Costa. Comentários às súmulasdo Superior Tribunal de Justiça. 2. ed. Brasília Ju-rídica, 1993. v. 1, p. 38.
5 Sobre a matéria, ver MEIRELLES, Hely Lo-pes. Direito Administrativo brasileiro. 21. ed. SãoPaulo : Malheiros, 1996. p. 585.

Revista de Informação Legislativa306
155. O processo administrativo sigiloso, evi-dentemente, só será aplicável às “entidadesgovernamentais”.
O habeas data, para anotação de contesta-ção ou explicação de dado sujeito a pendência,deve ser empregado com parcimônia, pois nãopode servir para satisfação de meros caprichosdos particulares. A explicação não só deveráser devidamente instruída e justificada, comoo requerente deverá provar o seu interesseprocessual (CPC, art. 3º), consistente na ne-cessidade de fazer constar a anotação para evi-tar algum tipo de prejuízo material ou moral.Como regra geral do processo civil, o autor deuma ação deve provar a necessidade que temde recorrer ao Poder Judiciário, e, portanto, nãobastará a mera vontade do impetrante para jus-tificar o cabimento do habeas data para sim-ples anotação.
Por fim, o habeas data poderá ser impetra-do tanto pela pessoa física quanto pela pessoajurídica6. Não há motivos para excluir as pes-soas jurídicas se a Constituição não o fez. As-sim, da mesma forma como podem impetrarmandado de segurança, as pessoas jurídicastambém podem impetrar habeas data. Nesseparticular, vale lembrar que a jurisprudênciarecente do Superior Tribunal de Justiça vemaceitando a reparabilidade do dano exclusiva-mente moral causado à pessoa jurídica, a par-tir do acórdão no REsp nº 60.033-2-MG, Rela-tor Ministro Ruy Rosado, RSTJ, nº 85, p. 268;e o habeas data (especialmente para retifica-ção de dados) pode ser um importante instru-mento na defesa do patrimônio moral, evitan-do a difusão de informações inexatas ou detur-padas.
4. A ação judicialO legislador, nos arts. 8º e 9º da Lei nº
9.507/97, copiou a técnica da Lei nº 1.533/51,arts. 6º e 7º (Lei do Mandado de Segurança).Assim, a petição inicial do habeas data deveráatender os requisitos do Código de ProcessoCivil para as demais petições iniciais (CPC,arts. 282 a 285) e deverá ser apresentada em
duas vias (inclusive dos documentos). O coa-tor será notificado para prestar informações emdez dias, recebendo a segunda via da petição edocumentos. Inexistindo previsão específicaquanto à forma da notificação, entendemos quedeverá ser feita por oficial de justiça ou cor-reio, na forma da lei processual (CPC, art. 221),contando-se o prazo da juntada aos autos doofício (Lei nº 9.507/97, art. 11, c/c CPC, art.241, I e II).
Disciplinando-se a ação dessa forma, deu-se ao habeas data uma feição similar ao man-dado de segurança, no qual não há propriamen-te um réu, mas uma autoridade coatora (no caso,a Lei nº 9.507/97, nos arts. 9º, 13 e 14, falasimplesmente em “coator”). Nesse ponto, po-rém, concordamos com a opinião de Hely Lo-pes Meirelles7 no sentido de que o rito do man-dado de segurança não seria o mais adequadopara o habeas data.
Com efeito, um problema que pode surgirpara o impetrante é a identificação de quem éo responsável pelo registro das informaçõessobre a sua pessoa, dentro de uma entidadedepositária de registros ou bancos de dados (quepode ser pública ou privada). A jurisprudênciado Supremo Tribunal Federal e do SuperiorTribunal de Justiça se consolidou no sentidode que a indicação errônea da autoridade coa-tora, no mandado de segurança, leva à extin-ção do processo, sem julgamento do mérito, porcarência de ação, embora haja algumas deci-sões nas quais o relator determinou a citaçãoda autoridade que entende ser a coatora, mes-mo não sendo a apontada pelo impetrante. Paraque se facilite a impetração do habeas data, econsiderando que, no âmbito administrativo, orequerimento deve ser feito “ao órgão ou enti-dade depositária do registro ou banco de da-dos” (Lei nº 9.507/97, art. 3º), o coator deveser considerado, sempre, este órgão ou entida-de, e não uma pessoa que ocupe um determi-nado cargo. Assim, será legitimado passivo parao habeas data o próprio órgão ou entidade de-positária do registro ou banco de dados, quepoderá ter personalidade jurídica independen-te ou não, e que será representada em juízo porquem de direito, de acordo com os seus atosconstitutivos, estatutos ou regimentos. Trata-se, pois, de uma situação diferente da existenteno mandado de segurança, no qual o coator ésempre e necessariamente uma pessoa física.
6 Essa já era a opinião de Hely Lopes Meirellesdesde a criação do habeas data, como se pode verno capítulo 1 da quinta parte da 18ª ed. de seu livroMandado de Segurança, Ação Popular, Ação CivilPública, Mandado de Injunção e Habeas Data.Malheiros, 1997, atualizada por Arnoldo Wald coma colaboração de Rodrigo Garcia da Fonseca.
7 MEIRELLES. Mandado de Segurança. cap. 3,quinta parte.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 307
É indispensável, sob pena de indeferimen-to da inicial, a prova de que a entidade deposi-tária do registro ou banco de dados se recusoua prestar as informações (ou deixou de decidirsobre a matéria em dez dias) ou se recusou afazer as retificações ou as anotações cabíveis(ou deixou de decidir sobre a matéria em quin-ze dias).
Consoante o disposto no art. 10 da Lei doHabeas Data, do eventual indeferimento dainicial, por falta de qualquer dos requisitos le-gais, caberá apelação. A lei não prevê a hipó-tese de emenda da inicial, mas entendemos que,por medida de economia, o juiz poderá deter-miná-la, por aplicação do art. 284 do Códigode Processo Civil8. Da mesma forma, enquan-to não for notificado o coator, caberá o adita-mento à petição inicial (CPC, art. 294). Dequalquer maneira, a decisão denegatória dohabeas data, que não tenha apreciado o méri-to, não impede o ajuizamento de novo pedido(Lei do Habeas Data, art. 18).
As informações do coator poderão contes-tar o cabimento do habeas data, por diversosmotivos (por faltar caráter público ao banco dedados, por faltar algum documento à inicial,por serem as informações sigilosas, por não terhavido a prévia recusa administrativa, ou porqualquer outro fundamento relevante). Tambémpoderão, no caso de pedido de retificação ouanotação, contestar a correção dos dados apre-sentados pelo impetrante.
Passado o prazo para as informações, pres-tadas ou não as mesmas, o processo será enca-minhado ao representante do Ministério Públicopara o parecer (Lei do Habeas Data, art. 12).A necessidade de oitiva do parquet, em reda-ção semelhante à do art. 10 da Lei do Manda-do de Segurança, leva a crer ser aplicável aohabeas data a jurisprudência do Superior Tri-bunal de Justiça que considera nulo o writ senão houver a efetiva manifestação do Ministé-rio Público, não bastando a mera intimação9.
Voltando os autos do Ministério Público,caberá ao juiz proferir a sentença. Se julgar
procedente o pedido, marcará dia e hora paraque as informações sejam prestadas ao impe-trante ou, no caso de habeas data para retifica-ção de dados ou anotações, para que o bancode dados apresente em juízo a prova dos novosassentamentos (Lei do Habeas Data, art. 13).
Ao longo de toda a Lei nº 9.507/97, perce-be-se a grande preocupação do legislador coma celeridade do procedimento, tanto na faseextrajudicial, quanto em juízo. São estabeleci-dos os prazos de cinco dias para o parecer doMinistério Público e para a prolação da sen-tença (art. 12), e o prazo de 24 horas para con-clusão a partir da distribuição, além da priori-dade sobre os demais feitos judiciais, excetua-dos o habeas corpus e o mandado de seguran-ça (art. 19). Também determina a lei que, nostribunais, os processos de habeas data sejamlevados a julgamento na primeira sessão seguin-te à conclusão ao relator. Infelizmente, comose sabe, prazos dessa natureza raramente sãoobservados, até mesmo em função do enormeacúmulo de processos e da sistemática falta depessoal no Poder Judiciário.
Em virtude do seu caráter essencialmentecélere e preferencial, entendemos que, tal comoo mandado de segurança, o habeas data tam-bém deverá tramitar durante as férias forensescoletivas.
De qualquer maneira, o art. 14 da Lei doHabeas Data traz uma salutar inovação, aoprever a possibilidade de comunicação da sen-tença, ao coator, por meio de correio, telegra-ma, radiograma ou mesmo telefonema. A uti-lização de serviços ou tecnologias que permi-tam a celeridade da prestação jurisdicional deveser encorajada, desde que preservada a segu-rança das partes envolvidas (seria o caso de sepensar, no futuro próximo, na notificação ele-trônica, via internet). Aliás, ao permitir a co-municação por telefone, a lei nos parece terautorizado o emprego do fax. Embora a lei si-lencie a esse respeito, parece-nos evidente quea notificação da sentença também poderá serefetivada mediante diligência de oficial de jus-tiça, se assim requerer o impetrante.
A sentença do habeas data comporta re-curso de apelação (art. 15 da Lei nº 9.507/97).Na omissão quanto ao prazo, aplica-se a regrageral da lei processual, sendo o prazo de quin-ze dias (CPC, arts. 506 a 508). O recurso con-tra a sentença concessiva do habeas data teráefeito meramente devolutivo (Lei nº 9.507/97,art. 15, parágrafo único), cabendo, nesse caso,
8 A aplicação subsidiária desta regra pode serinferida pelo art. 8º da Lei nº 9.507/97, ao imporcomo requisitos da petição inicial de habeas dataos mesmos dos arts. 282 a 285 do CPC.
9 Ver, por exemplo, REsp nº 9.738-0-AM. Rela-tor Ministro José de Jesus Filho. RSTJ, n. 59, p.205, EDREsp nº 9.209-0-AM. Relator Ministro Pe-çanha Martins. RT, n. 703, p. 159 e EDREsp nº9.271-8-AM. Relator: Antônio de Pádua Ribeiro.Revista Renovar, v. 4, p. 128.

Revista de Informação Legislativa308
o pedido de suspensão da execução da senten-ça ao Presidente do Tribunal ao qual competeo conhecimento do recurso (Lei do HabeasData, art. 16). Do despacho que deferir a sus-pensão, caberá agravo para o Tribunal (o pra-zo do agravo e o respectivo órgão julgador de-penderão dos regimentos internos de cada tri-bunal).
Como a lei só previu o agravo para a hipó-tese de deferimento do pedido de suspensão,resta saber se, indeferido o pedido pelo Presi-dente do Tribunal, o apelante terá algum outroremédio para impedir a execução provisória dasentença. A questão é especialmente delicadanos habeas data em que se pedir o fornecimentodas informações. Se o coator entender que nãopode divulgá-las ao impetrante (em razão dosigilo constitucional, por exemplo), o provi-mento da apelação poderá não servir de nadase as informações já tiverem sido fornecidas eo sigilo quebrado. Em tais situações excepcio-nais, entendemos que também poderá ser cabí-vel o agravo contra o indeferimento do pedidode suspensão (até mesmo em respeito à isono-mia e ao devido processo legal – CF, art. 5º,caput, LIV e LV). Se não houver tempo hábilpara o julgamento do agravo, também enten-demos cabível o mandado de segurança paraatribuir efeito suspensivo à apelação10.
Qualquer coator – entidade governamentalou privada – terá legitimidade para requererao Presidente do Tribunal a suspensão da exe-cução da sentença, pois a lei não fez qualquerdistinção entre os coatores “oficiais” e os “pri-vados” de caráter público.
Nos casos de competência originária dostribunais, caberá ao relator a instrução do pro-cesso (Lei do Habeas Data, art. 17). Entende-mos que nesses processos, por analogia, tam-bém serão cabíveis os pedidos de suspensão deexecução do acórdão ao Presidente do Tribu-nal Superior ao qual couber o eventual recurso.
Tanto nos habeas data de competência ori-ginária dos tribunais, quanto naqueles decor-rentes de recursos, será obrigatório o parecerdo Ministério Público, tal como nos mandadosde segurança.
O art. 20 da Lei nº 9.507/97 define as com-petências para julgamento do habeas data, tan-to originariamente como em grau de recurso.A maior parte do texto se limita a reproduzir
as regras de competência da Constituição Fe-deral. Embora o inciso III se limite a mencio-nar o recurso extraordinário para o SupremoTribunal Federal, também será cabível o recursoespecial para o Superior Tribunal de Justiça,quando o acórdão for proferido por um Tribu-nal Estadual ou por um Tribunal Regional Fe-deral em apelação, conforme o permissivo doinciso III do art. 105 da Constituição.
Tanto o procedimento administrativo quan-to a ação judicial de habeas data são gratuitos(Lei do Habeas Data, art. 21). Assim, estãovedadas quaisquer cobranças de custas ou ta-xas judiciais dos litigantes. Também os recur-sos serão isentos de preparo. A gratuidade dohabeas data já fora consagrada na própriaConstituição Federal (art. 5º, LXXVII).
5. Algumas questões processuaisDe toda a exposição acima, viu-se que aca-
bou prevalecendo, na Lei nº 9.507/97, a apro-ximação do rito do habeas data com o proce-dimento do mandado de segurança. Pode nãoter sido a melhor solução, mas foi a opção dolegislador, e, portanto, legem habemus. Faze-mos abaixo algumas considerações sobre ques-tões que poderão vir a surgir na aplicação danova lei, esperando que a jurisprudência sedefina o mais rapidamente possível sobre ostemas mais delicados.
Prova pré-constituída – O procedimento dohabeas data, como se encontra disciplinado naLei nº 9.507/97, não comporta dilação proba-tória. Aplica-se o mesmo princípio da provapré-constituída do mandado de segurança. As-sim, a documentação acostada à inicial deverácomprovar, por si só e de plano, o direito doimpetrante.
A prova pré-constituída poderá ser extre-mamente difícil de produzir nas hipóteses dehabeas data para retificação de dados ou ano-tação de justificativa de informação. Como sesabe, a prova pré-constituída diz respeito aosfatos da causa e, dependendo da natureza dasinformações e do banco de dados, os fatos po-dem ser altamente complexos.
De qualquer forma, tanto as retificaçõesquanto as anotações de justificativas só pode-rão se fazer sobre fatos concretos, passíveis deprova documental prévia e incontestável.
Limites do procedimento – Um outro as-pecto decorrente da aproximação do habeas
10 Ver notas de atualização à 18ª edição da obrade Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança.cap. 6, primeira parte, p. 44-45.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 309
data ao mandado de segurança foi a impossi-bilidade de se obter, no mesmo processo, tantoo fornecimento da informação quanto, numsegundo momento, a sua eventual retificação.Se o habeas data for impetrado para forneci-mento de informações, e estas devam ser reti-ficadas, só poderão sê-lo por meio de um novoprocedimento administrativo e/ou judicial.
Sugerimos, anteriormente, que o habeasdata tivesse um rito assemelhado ao da açãode prestação de contas, desenvolvendo-se emduas fases11. Evitar-se-ia, dessa maneira, a ne-cessidade de dois processos, fazendo-se tudonos mesmos autos, num só feito. E na segundafase poderia haver a produção de provas para aconfirmação da exatidão das informações cons-tantes do banco de dados. O legislador, porém,optou pelo caminho da analogia com o manda-do de segurança.
Aplicação analógica do Código de Proces-so Civil – Embora a Lei nº 9.507/97 não deter-mine a aplicação subsidiária do Código de Pro-cesso Civil ao habeas data, esta nos parece in-dispensável, naquilo que não for contrariar oregramento específico e a natureza do institu-to. Assim, em matéria de analogia, dever-se-iarecorrer, em primeiro lugar, à legislação sobremandado de segurança e, somente não dando amesma a solução adequada, em seguida, aoCódigo de Processo Civil. Como se viu acima,há inclusive algumas lacunas importantes quedevem ser supridas pela aplicação dos princí-pios gerais do processo civil.
Assim, por exemplo, se o coator juntar do-cumentos novos com as suas informações, oimpetrante deve ter o direito de se manifestarsobre eles (CPC, art. 398), até em homenagemao devido processo legal e ao princípio do con-traditório. Não obstante, não poderá juntar no-vos documentos que devessem constar da ini-cial, pois, como se viu, a prova pré-constituídaé indispensável para o deferimento do pedido.
Questão interessante é saber se é cabível aação declaratória incidental (CPC, art. 5º) noâmbito de um habeas data. Se aplicarmos o
mesmo princípio do mandado de segurança, adeclaração incidental será incabível12, remeten-do-se a questão para as vias ordinárias. Nãoobstante, parece-nos que a declaratória inciden-tal poderá ser cabível em torno da autenticida-de ou falsidade de documento (CPC, art. 4º,II). Como se viu, a exigência da prova pré-cons-tituída pode ser um entrave a certos pedidos,sendo razoável que, neste particular, haja umpouco mais de flexibilidade no habeas data doque no mandado de segurança.
Recursos e liminar – Muito se discutiu, emmatéria de mandado de segurança, quanto àrecorribilidade das decisões interlocutórias. Éverdade que a questão sempre se colocou, nomandado de segurança, essencialmente em fun-ção dos deferimentos ou indeferimentos de li-minares, e a Lei do Habeas Data não contem-plou a concessão liminar do pedido.
A liminar e a antecipação de tutela não fa-zem muito sentido no habeas data, em razãoda extrema celeridade prevista no seu procedi-mento. Ainda assim, em casos excepcionais,se forem relevantes os fundamentos, a falta deprevisão na lei específica não deve impedir aparte de requerer uma cautelar inominada ouaté a medida liminar13, que tem sido dada emhabeas corpus.
Na realidade, nenhum obstáculo existe paraa concessão da liminar em habeas data, pois osilêncio da lei não impede que seja dada. Bastalembrar que foi reconhecida, mediante cons-trução jurisprudencial, a possibilidade de con-cessão de liminar em habeas corpus, que nãose admitia até 1964 e que passou a ser deferi-da, pelo Superior Tribunal Militar e, em segui-da, pelo Supremo Tribunal Federal, em virtu-de das circunstâncias excepcionais existentesem determinados casos14, para, em seguida, ser
11 Ibidem, p. 221. Lá sugerimos que o habeasdata seguisse um procedimento semelhante ao daação de prestação de contas, no qual haveria umaprimeira fase para a decisão acerca da obrigatorie-dade do fornecimento das informações, e uma se-gunda parte na qual a correção dos dados seria veri-ficada. No capítulo 1 da quinta parte, p. 217, vê-seque o próprio Hely Lopes Meirelles entendia serpreferível a ação em duas fases distintas.
12 MEIRELLES. Mandado de Segurança. p. 98-99.
13 Imaginamos, como exemplo, uma situação naqual a parte queira impedir que as informações ine-xatas sobre a sua pessoa sejam transmitidas a ter-ceiros na pendência do pedido de retificação, ou amenos que delas conste referência ao ajuizamentoda demanda.
14 A primeira decisão concessiva de liminar foidada, em 31.8.1964, no Habeas Corpus nº 27.200impetrado no Superior Tribunal Militar por Arnol-do Wald e a segunda oriunda do Supremo TribunalFederal data de 14.11.1964, com despacho do Mi-nistro Gonçalves de Oliveira, no Habeas Corpus nº41.296, impetrado por Sobral Pinto, reportando-seo relator, no acórdão do plenário de 16.12.1964, àdecisão castrense (RTJ, v. 33, p. 590). Tratam da

Revista de Informação Legislativa310
consagrada amplamente pelo Poder Judiciário.Embora dentro do procedimento específico
do habeas data não haja margem, em princí-pio, para decisões interlocutórias (o procedi-mento se resume ao ajuizamento, notificaçãodo coator, parecer do Ministério Público e sen-tença), entendemos que o agravo de instrumen-to deva ser cabível, pelos mesmos motivos quedeve caber no mandado de segurança.
A realidade é sempre mais criativa do queo legislador, e certamente haverá situações nasquais a falta de um recurso como o agravo po-derá causar prejuízo irreparável a uma daspartes.
Quanto ao recurso de embargos infringen-tes nas apelações julgadas por maioria de vo-tos, nos parece que a tendência da jurisprudên-cia deva ser no sentido de aplicar, analogica-mente, as Súmulas nºs 597 do Supremo Tribu-nal Federal e 169 do Superior Tribunal de Jus-tiça, fazendo prevalecer a interpretação dada àlei do mandado de segurança sobre os textosdo Código de Processo Civil. Assim, tal comonas apelações em mandado de segurança, nãoserão cabíveis os embargos infringentes nasapelações em habeas data.
Honorários de advogado – Da mesma for-ma, no silêncio da Lei nº 9.507/97, a tendên-cia dos tribunais deve ser no sentido de isentaro sucumbente de honorários advocatícios. Agratuidade a que se refere o art. 21 diz respeitoexclusivamente às custas e taxas, mas revela avontade do legislador de facilitar o máximopossível o acesso de todos a esse tipo de ação.Assim, também serão aplicáveis analogicamen-te as Súmulas nºs 512 do Supremo TribunalFederal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.
Litisconsórcio e Assistência – Como já ti-vemos a oportunidade de afirmar, entendemosque se aplicam ao habeas data as regras doCódigo de Processo Civil relativas ao litiscon-sórcio e à assistência, sempre que as informa-ções em foco disserem respeito também a inte-resses jurídicos de terceiros15.
Assim, se o juiz vislumbrar uma hipótesede litisconsórcio necessário (se uma informa-ção não puder ser retificada sem que se afete ainformação sobre um terceiro, por exemplo),deverá determinar que o impetrante providen-cie a citação deste terceiro para integrar a lide,aplicando-se, por analogia, as regras do man-dado de segurança.
Na falta de previsão legal, entendemos serinviável o ajuizamento de habeas data coleti-vo, embora seja possível a formação de litis-consórcio ativo, se as informações em questãoforem do interesse dos vários impetrantes.
Não se coadunam com o procedimento dohabeas data as modalidades de intervenção deterceiros.
Valor da causa e competência – Embora aatribuição de valor à causa seja indispensávelde acordo com o Código de Processo Civil, anatureza do pedido, a gratuidade da ação e aisenção de honorários advocatícios tornam asua fixação quase irrelevante. Caberá a atri-buição de um valor estimativo pelo autor. Se afixação do valor da causa tiver alguma influ-ência na futura competência para julgamentode recursos, deve-se evitar que o valor atribuí-do proporcione algum tipo de vantagem a umadas partes. A doutrina e a jurisprudência têmentendido que a fixação de alçada para recur-sos não se aplica ao mandado de segurança e omesmo princípio incide no habeas data. Ain-da que se atribua um valor baixo à causa, nãoserá possível o seu julgamento por JuizadosEspeciais (Lei nº 9.099/95), pois a competênciaestá enumerada no art. 20 da Lei nº 9.507/97 enão contempla esta possibilidade.
A competência federal ou estadual se defi-ne de acordo com a pessoa do coator (CF, art,109, I). Em cada Estado, a competência da pri-meira instância e dos tribunais será definidade acordo com as respectivas Constituições es-taduais e leis de organização judiciária (CF, art.125, § 1º e Lei do Habeas Data, art. 20). Porfalta de previsão legal, não será cabível o ha-beas data na Justiça do Trabalho, ainda que asinformações do registro ou banco de dados di-gam respeito a relações de emprego.
O legislador parece ter esquecido a regraconstitucional do art. 121, § 4º, V, que trata docabimento de recurso ao Tribunal Superior Elei-toral contra as decisões de Tribunais RegionaisEleitorais que denegarem habeas data. En-quanto a lei não der competência aos TREs parajulgamento de habeas data, o recurso previsto
matéria Evandro Lins e Silva, O salão dos passosperdidos. Rio de Janeiro : Fundação Getúlio Var-gas, 1997. p. 389-390 e o estudo de Jurandir Portelain: GUSMÃO, Paulo Dourado de. GLANZ, Semy.O Direito na década de 1990 : novos aspectos: es-tudos em homenagem ao Professor Arnoldo Wald.São Paulo : Revista dos Tribunais, 1992. p. 447-448).
15 Atualização à 18ª ed. de Hely Lopes Meirel-les, Mandado de Segurança. p. 222.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 311
na Constituição não existirá na prática. Nosparece de toda lógica que os habeas data rela-cionados a matérias eleitorais – relativos a ban-cos de dados governamentais utilizados em elei-ções ou bancos de dados acessados por parti-dos políticos – devam ser julgados no âmbitoda Justiça Eleitoral, o que demandaria a alte-ração do art. 20 da Lei do Habeas Data. Modi-ficação análoga poderia ser feita, de lege fe-renda, em relação à Justiça do Trabalho.
Desistência e perda de objeto – O impe-trante poderá desistir do habeas data a qual-quer momento, independentemente do consen-timento do coator.
O acolhimento voluntário do pedido antesde proferida a sentença, porém, acarretará aextinção do processo por perda de objeto. Se aparte não pode impetrar o habeas data sem aprova de que o pedido administrativo lhe foi ne-gado, não faria sentido prosseguir-se com o jul-gamento do pedido se o mesmo já foi atendido.
Se o coator corrigir um dado conforme avontade do impetrante, antes de proferida asentença, o processo deverá ser extinto. Se acorreção já feita for posteriormente canceladaou alterada, caberá, em tese, uma nova impe-tração, mas a primeira ação já estará encerrada.
Prazo para impetração – Tendo em vista ocaráter dinâmico dos bancos de dados, com oconstante registro de novas informações, o ha-beas data, em princípio, não estará sujeito aqualquer prazo decadencial ou prescricional.O pedido sempre poderá ser encaminhado. Épossível, até mesmo, que se façam pedidos pe-riódicos a um determinado banco de dados, paraverificação se as informações continuam asmesmas ou se houve a anotação de algumaalteração.
Assim, pelo princípio da actio nata, a cadapedido administrativo negado estará nascendoa possibilidade de uma nova impetração. E ospedidos administrativos poderão ser apresen-tados a qualquer momento.
Seria recomendável, porém, que se estabe-lecesse um prazo entre o requerimento admi-nistrativo e o ajuizamento da ação. Por analo-gia, poderia ser aplicado o prazo de cento evinte dias do mandado de segurança. Passadosos cento e vinte dias do requerimento adminis-trativo não atendido, a ação não mais poderiaser ajuizada antes que o pedido administrativofosse renovado. O prazo não seria fatal, namedida em que um novo pedido administrati-vo reabriria a possibilidade de impetração
do habeas data. Entretanto, a fixação doprazo parece relevante na medida em que aprolongada inércia do impetrante caracteri-za a sua momentânea falta de interesse parao pedido.
Prevenção – Em princípio não haveráprevenção entre uma impetração e outra, ain-da que entre as mesmas partes. Aplica-se amesma regra do mandado de segurança, tra-tando-se cada impetração como um feito pro-cessual autônomo.
Coisa julgada – Considerando-se a na-tureza dinâmica e mutante dos bancos dedados, já mencionada acima, os efeitos dacoisa julgada material serão limitados e ra-ros. Afinal, uma determinada informaçãopoderá ser exata num momento e incorretapouco depois, ou vice-versa.
Não obstante, caso o pedido de forneci-mento de informações seja negado com jul-gamento de mérito (com base no sigilo dainformação ou no caráter privado do regis-tro, por exemplo), a coisa julgada impediráa renovação do pedido.
A coisa julgada, no caso de procedênciado pedido para retificação de dados ou ano-tação de justificativa, não impedirá a enti-dade depositária das informações de fazernovos registros, desde que baseados em no-vas informações devidamente comprovadas.
Aliás, nos casos de procedência do pedi-do, seria recomendável a fixação de certasregras para uma nova impetração entre asmesmas partes. Se um habeas data para for-necimento de informações for deferido, nãofará sentido que poucos dias depois a parteimpetre uma nova ação, sem que haja qual-quer indício de que as informações tenhamsido alteradas. Como dissemos acima, é ne-cessária a demonstração do interesse proces-sual, e os potenciais coatores – as entidadesdepositárias de informações de caráter pú-blico – não podem ficar sujeitos aos capri-chos de particulares que impetrem uma açãoatrás de outra.
Assim, caso o primeiro habeas data te-nha sido deferido, entendemos que uma novaimpetração só se justificará na medida emque a parte demonstrar, pelo decurso de umprazo razoável, ou por algum fato concreto,que tem fundados receios de que as infor-mações anteriormente prestadas e/ou corri-gidas foram alteradas ou aditadas.

Revista de Informação Legislativa312
6. ConclusãoEssas são apenas algumas considerações
iniciais em torno da recente legislação disci-plinadora do habeas data. Procuramos, assim,levantar alguns pontos que nos pareceram re-levantes, manifestando a nossa opinião e es-forçando-nos a vislumbrar qual será a tendên-cia de nossos tribunais.
De qualquer forma, ainda há um importan-te papel a ser cumprido pela jurisprudência nainterpretação da Lei nº 9.507/97, e esperamosque haja coragem e moderação, de modo a nãose restringir e, tampouco, ampliar-se, exagera-damente, o cabimento do habeas data, para que
possa exercer o seu papel de instrumento deinformação, transparência, equilíbrio e paz so-cial, numa época em que a comunicação demassa passou a ter a maior importância. A in-formação tornou-se uma forma de poder. Devetransitar livremente para garantir a democra-cia, mas os seus abusos e desvios devem serevitados e impedidos e não apenas reprimidosa posteriori, como acontecia no passado.
Assim o habeas data se torna, ao lado dohabeas corpus e do mandado de segurança, umdos fatores do desenvolvimento cultural e polí-tico do país, pois consolida a sua estrutura ju-rídica e fortalece o Estado de direito.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 313
Está em tramitação no Congresso Nacionalproposta de emenda constitucional (PEC nº554/97) que prevê a realização de um plebiscitosimultâneo às eleições de outubro, por meio doqual o eleitorado decidiria se o CongressoNacional estaria autorizado, entre 1º de feve-reiro e 31 de dezembro de 1999, a promulgaremendas constitucionais mediante aprovação,em dois turnos de discussão e votação, pormaioria absoluta de seus membros, em sessãounicameral. De acordo com a proposta, aAssembléia Nacional Constituinte, embora qua-lificada de “livre e soberana”, estaria restritaaos capítulos dos direitos políticos, dos PartidosPolíticos e do Sistema Tributário Nacional, bemcomo a alguns aspectos das relações entre asentidades da Federação, razão pela qual vemsendo apelidada de “constituinte revisora”. Ainclusão do tema na pauta da convocação extra-ordinária do Congresso Nacional certamenteestimulará o debate em torno da constituciona-lidade desse e de outros projetos semelhantesque surgiram no Congresso nos últimos meses.
A proposta vem sendo entendida ora comoreforma ou revisão da Constituição, ora comoato de ruptura da vigente ordem constitucio-nal, alternativa conceitual que condiciona areflexão sobre a validade ou legitimidade doprojeto.
O ponto de partida da análise é o conflitoentre algumas das normas do art. 60 da Cons-tituição e a PEC nº 554/97, na medida em queesta pretende instituir a possibilidade de se vir
Observações sobre a proposta deconvocação de uma AssembléiaConstituinte em 1999
GUSTAVO JUST DA COSTA E SILVA
Gustavo Just da Costa e Silva é Mestrando emDireito pela Universidade Federal de Pernambucoe Procurador da Fazenda Nacional.

Revista de Informação Legislativa314
a ter um procedimento de produção de emen-das constitucionais significativamente maissimples do que aquele ali previsto. Os juristasque se manifestaram sobre a proposta1, inclu-sive os que a defenderam, partiram do pressu-posto de que as normas que dispõem sobre areforma da Constituição são elas mesmas imo-dificáveis, ao menos no que se possa conside-rar seu conteúdo essencial,2 constituindo assimum limite material implícito (porque não rela-cionado entre as cláusulas pétreas do § 4º doart. 60) ao poder reformador. Na verdade a teseda imodificabilidade das normas sobre refor-ma não desfruta, na teoria constitucional con-temporânea, de tamanha unanimidade e estámuito longe de ser algo que se possa conside-rar óbvio. O assunto foi objeto de famoso deba-te entre Alf Ross e Hart acerca da admissibili-dade lógica da auto-referência nas normas ju-rídicas. Para Ross a modificabilidade da nor-ma que dispõe sobre a reforma constitucionalconstituiria um absurdo lógico3, o que Hartcontestava com o argumento de que o direitonão constitui um sistema de enunciados lógi-cos (mais tarde Ross viria a flexibilizar suaprópria posição4). Na literatura propriamenteconstitucionalista, o problema surge normal-mente a propósito da contenda sobre a consti-tucionalidade da dupla revisão5. A modificabi-
lidade das normas sobre revisão é aqui susten-tada, com maior freqüência, pelos autores fran-ceses (especialmente os mais influenciados porVedel) e, entre nós, pelo mais francês dos auto-res brasileiros, Manoel Gonçalves Ferreira Fi-lho6. De todo modo, como se disse, no debateaté agora desenvolvido, não se questionou a tesede que a norma sobre revisão constitui limiteimplícito ao poder reformador, o que nos auto-riza a adiar a fundamentação de tal premissa,que aqui se assume, para momento e veículomais adequados.
Tem-se argumentado em defesa da “Cons-tituinte Revisora” que a alteração das normasque dispõem sobre a edição de emendas seriaimpossível apenas ao poder reformador daConstituição, mas não ao povo como titular dopoder constituinte. Por essa razão, acrescen-tou-se à proposta original do Deputado MiroTeixeira a previsão de um plebiscito simultâ-neo às eleições de outubro, o que legitimaria ocongresso revisor “sem gravames para a suapureza constitucional”7. O argumento assentano dogma democrático da soberania popular(art. 1º, parágrafo único da Constituição de1988). É usual, a respeito, a invocação do art.28 da Declaração dos Direitos do Homem e doCidadão da Constituição francesa de 1793: “Umpovo tem sempre o direito de rever, de refor-mar e de modificar a sua Constituição. Nenhu-ma geração pode sujeitar as gerações futurasàs suas leis”. Como titular do poder constitu-inte, não se submete o povo às limitações pró-prias do poder reformador, que lhe é subordi-nado.
O argumento revela algumas incompreen-sões quanto aos fundamentos e ao funciona-mento do Estado de direito. Não se nega que,de acordo com a filosofia política do Estadodemocrático de direito, o povo é titular do po-der constitutinte. Este porém não consiste nafaculdade de pôr normas constitucionais, in-dependentemente do momento em que issoocorre, se quando do estabelecimento da Cons-tituição ou se durante sua vigência. O poderconstituinte se define como a prerrogativa de
1 Segundo nos consta, o debate restringe-se a al-guns artigos publicados na Folha de São Paulo, edi-ções de 14 de junho e 13 de setembro de 1997, comas limitações próprias desse tipo de publicação, e aum artigo de Celso Ribeiro Bastos, publicado naRevista Literária de Direito (v. 4, n. 19, set./out.1997).
2 O conteúdo essencial da norma sobre reformaconsistiria na definição dos limites materiais expres-sos, na atribuição de competência a determinado(s)órgão(s) e no estabelecimento de um quorum e deum procedimento dificultado em relação à ativida-de legislativa. Emendas que não digam respeito aesse núcleo essencial, modificando, por exemplo,aspectos meramente procedimentais não relaciona-dos com o caráter rígido da Constituição, seriamadmissíveis.
3 ROSS. Sobre el derecho y la justicia. Tradu-ção de Genaro Carriò. Buenos Aires : Eudeba, 1963.p. 78-81.
4 Trata-se de “Sobre la autorreferencia y undifícil problema de derecho constitucional”. ROSS.El concepto de validez y otros ensayos. Traduçãode Eugenio Bulygin e E. Valdés. Buenos Aires :Centro Editor de América Latina, 1969.
5 Para um panorama geral, ver VEGA, Pedrode. La reforma constitucional y la problemática delpoder constituyente. 2. reimpr. Madrid : Tecnos,
1991. p. 274-283, e também CICCONETTI. Appuntidi diritto costituzionale : ordinamento giuridico sta-tale e fonti costituzionali. 2. ed. Torino : Giappiche-lli, 1992. p. 100-108. O próprio Cicconetti é adeptoda tese da dupla revisão.
6 Significação e alcance das ‘cláusulas pétreas’.Revista de Direito Administrativo, nº 202, p. 11-17,out./dez. 1995.
7 BASTOS, op. cit., p. 9.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 315
estabelecer uma Constituição. O que confereverdadeira especificidade ao poder constituin-te não é meramente a qualidade das normasque produz, mas a sua relação com a ordemjurídica posta, que é uma relação de desvincu-lação e independência, diferentemente do quese passa com os poderes constituídos (inclusi-ve o de reforma)8.
Fica claro portanto o seguinte: ainda que apromulgação da Constituição não retire do povoa titularidade do poder constituinte, seu exer-cício somente ocorrerá quando se trate de subs-tituir a Constituição por uma outra. Durante avigência da Constituição estabelecida, o povopode praticar atos de conteúdo jurídico-políti-co, quer diretamente, quer mediante represen-tação, mas esses atos não expressam o exercí-cio do poder constituinte. Segundo o ideáriodemocrático-liberal moderno (cuja considera-ção é essencial para a compreensão das insti-tuições de Estados de direito como o que sepretende o Brasil), o poder constituinte é sem-pre do povo, mas o poder do povo nem sempreé poder constituinte.
O poder do povo exercido no contexto daordem vigente é sempre poder constituído e,portanto, limitado. Proclama-o sabiamente oart. 1º da Constituição italiana de 1947, de acor-do com o qual “a soberania pertence ao povo,que a exerce nas formas e limites previstos naConstituição” (de acordo com a Constituiçãode 1988, “Todo o poder emana do povo que oexerce ... nos termos desta Constituição”). Éexatamente por essa razão que jamais se pre-tendeu seriamente que uma lei aprovada peloPoder Legislativo e referendada pelo eleitora-do pudesse escapar ao controle de sua consti-tucionalidade, o que todavia deveria ser admi-tido caso se reconhecesse ao povo o exercíciode poder ilimitado no contexto da ordem vi-gente, já que assim estaria o povo, segundo aconcepção aqui criticada, exercendo legitima-mente seu poder constituinte “reformador” daconstituição: a aprovação da lei inconstitucionalseria uma forma (assemelhada à Verfassungsdur-chbrechung da era weimariana, pois a normaconstitucional poderia continuar valendo para osdemais casos) de dispor sobre a Constituição.
Jorge Miranda vai ainda mais longe: nãoapenas é impossível ao poder do povo agir ili-
mitadamente no contexto da ordem vigente, deforma a modificar o procedimento de reformaconstitucional, como também a simples utili-zação do referendo como instrumento revisoré incogitável se não estiver prevista no textoda Constituição.
“Não é incorrecto subordinar o exer-cício do poder pelo povo às formas e aostermos da Constituição. Em democraciade tipo ocidental e em Estado de direito,o povo não pode deixar de exercer a suasoberania senão nessas formas e nessestermos, porque o seu poder é, tambémele – como todo o poder –, um poderjuridicamente limitado. Nem, da pers-pectiva da Constituição vigente em cadamomento, o povo está acima da Consti-tuição. Só pode estar para a substituir poroutra, não para a rever. (...) Estes osargumentos – não seriamente contes-tados – porque não pode haver hoje,com as normas constitucionais actuais,referendo de revisão, seja para modi-ficar uma norma constitucional mate-rial, seja para modificar uma normaconstitucional reguladora da própriarevisão”9.
Nada disso impede contudo que o poder dopovo se exerça, no plano da efetividade, paraalém do que permite a Constituição, nem sig-nifica que esse exercício não se possa legiti-mar no âmbito da realidade histórica do Esta-do democrático de direito. Essa legitimação épossível quando se possa identificar naqueleato o exercício do poder constituinte.
O que é importante deixar claro é que a pro-posta ora em discussão não pode ser conside-rada ato de revisão da Constituição10 (nem tam-pouco o serão as deliberações tomadas pela“constituinte revisora”), nem se lhe pode reco-nhecer validade no sentido de uma compatibi-lidade com um parâmetro jurídico-positivo devalidade. É por isso, com todo o rigor, incons-titucional. Isso vem sendo lucidamente com-preendido pelo Deputado Michel Temer, Pre-sidente da Câmara dos Deputados, para quemse estaria diante de um
“ato político que rompe com a ordemjurídica, deliberadamente. É revolucio-
8 Ver a respeito o nosso Aspectos do controle deconstitucionalidade da reforma constitucional à luzda teoria das fontes do Direito. Revista dos Procu-radores da Fazenda Nacional, Rio de Janeiro, n. 1,p. 7-27, 1997.
9 MIRANDA. Manual de Direito Constitucional.2. ed. rev. reimp. Coimbra : Coimbra Ed. 1988. p.151.
10 “E se, apesar de tudo, por hipótese, viesse aefectuar-se tal referendo? Nessa eventualidade (...)não seria revisão; seria ruptura ou revolução” (Ibi-dem).

Revista de Informação Legislativa316
nário, no sentido de transformador. Der-ruba a vontade constituinte, manifesta-da por meio da Constituição de 1988,para que outra se manifeste. Por isso, oinstrumento que o veicular não é ato de-rivado da Constituição, mas originário,inaugural, autônomo. Não é, pois, emen-da à Constituição”11.
É essencial compreender, portanto, que aproposta não pode pretender a espécie de legi-timidade que decorre do respeito à ordem cons-titucional em vigor12.
Se a proposta não encontra fundamento naConstituição, resta examinar se poderia a suaimplementação ser, inversamente, fundamen-to de uma nova ordem constitucional. Dito deoutro modo, trata-se de indagar se o fato polí-tico objetivado pela proposta apresenta condi-ções de se legitimar como exercício do poderconstituinte. Que isso não seja tarefa fácil,demonstra-o já o esforço dispendido para ca-racterizar a consulta popular prevista comoexercício de poder reformador ou revisor (ili-mitado!) da Constituição, ao arrepio da fi-losofia política do Estado de direito e medi-ante o manuseio de impropriedades concei-tuais como “poder reformador próprio daConstituinte”; esforço esse movido pela se-dução de uma legitimidade cômoda, mas(como se viu acima) infundadamente busca-da numa (inexistente) relação de validadejurídica.
Um dilema da teoria constitucional contem-porânea consiste em pretender compreender, noplano analítico, todas as alternativas institu-cionais histórico-concretas (ao menos a partirdo século XVIII), valendo-se, porém, para tan-to, de conceitos fundamentais elaborados (comoo de poder constituinte) ou reelaborados (comoo de constituição e o de democracia) pela ou nocontexto da filosofia política democrático-libe-ral. O muito difundido emprego desses concei-tos para explicar realidades jurídico-políticasdiversas ou mesmo antitéticas do Estado de-mocrático de direito se compagina com a ten-tativa de regimes autoritários ou totalitários delegitimarem-se mediante a adoção da roupa-gem retórico-conceitual do Estado constitu-
cional13. Mas significa teoricamente umacrescente incompreensão daqueles conceitos(na medida em que se fecham os olhos à suahistoricidade), freqüentemente empregados nodiscurso teorético-constitucional sem uniformi-dade de acepção (o que evidentemente prejudi-ca a racionalidade daquele discurso).
É o que ocorre com o conceito de poderconstituinte quando se pretende admitir alter-nativas de sua titularidade. Fala-se assim, porexemplo, em poder constituinte do povo, dopríncipe, da oligarquia militar, consoante seesteja diante de uma Constituição democráti-ca, monárquica (e aqui o uso a-histórico dosconceitos – o de Constituição e o de poder cons-tituinte – move-se também diacronicamente)ou autoritária de inspiração militar. A teoriado poder constituinte surgiu, de um lado (comocomponente do discurso revolucionário), parafundamentar o exercício do direito do povo defazer a Constituição mesmo diante (contra) aordem estabelecida e, de outro (enquanto con-ceito-chave da fundamentação do Estado dedireito, cuja estrutura se tratava então de le-vantar, uma vez desmontado o absolutismo),como tentativa de solução para o impasse queatingiu o dogma rousseauniano da soberaniapopular diante do modelo representativo dedemocracia que inevitavelmente se impunha.Se ao povo não seria dado, como regra, agirsenão por meio de seus representantes, que todaa existência normal do Estado estivesse, então,submetida a uma norma posta pela autoridadeque se pudesse reconhecer, o mais autentica-mente possível, como popular: o poder consti-tuinte. Ocorre que, como se sabe, o princípiorepresentativo introduziu-se já no próprio pro-cesso constituinte da Revolução Francesa, aConstituinte par excellence (o processo cons-tituinte norte-americano aproximou-se muitomais, com as suas convenções, do modelo ide-al concebido do outro lado do Atlântico). Esta-ria com isso descaracterizado o poder constitu-inte do povo francês?
A digressão histórica nos reconduz assim
11 Revisão constitucional? Constituinte? Folhade São Paulo, 2 nov. 1997.
12 Para Dalmo Dallari, propostas desse gênerorepresentam um “mero acobertamento de uma frau-de” (Fraude acobertada. Folha de São Paulo, 14 jun.1997).
13 Ver a propósito LOEWENSTEIN. Über We-sen, Technik und Grenzen der Verfassungsänderung.Berlin : Walter de Gruyter, 1961. p. 10-13, que alu-de a uma estereotipização das Constituições decor-rente da sistemática reprodução dos modelos cons-titucionais das democracias ocidentais (adoção deconstituição escrita, declaração de direitos) por re-gimes políticos que não guardavam nenhuma con-sonância com documentos constitucionais assim tor-nadas “semânticas”.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 317
ao centro de nosso problema. A resposta àque-la indagação é negativa, tanto quanto o seriacaso se questionasse, invertendo-se a perspec-tiva, se bastaria a manifestação direta da von-tade popular sobre a produção de um documentoconstitucional para que se estivesse diante doexercício do poder constituinte (ou do poderconstituinte democrático, caso se admitam asalternativas de sua titularidade).
Para compreender o que se acaba de afir-mar, é necessário ter em mente uma das maisimportantes contribuições da teoria constituci-onal contemporânea para a análise do poderconstituinte: a distinção, estabelecida por Jor-ge Miranda, entre poder constituinte materiale poder constituinte formal, ou entre o momentomaterial e o momento formal do exercício dopoder constituinte. O poder constituinte mate-rial é o “poder de autoconformação do Estadosegundo certa idéia de Direito”; o formal é o“poder de decretação de normas com a forma ea força jurídica próprias das normas constitu-cionais”14. O momento material do poder cons-tituinte é “o corte ou a contraposição frente àsituação ou ao regime até então vigente, sejapor revolução, seja por outro meio, como a tran-sição constitucional”. É nesse momento que se“toma a decisão de infletir a ordem preexisten-te e assume essa responsabilidade histórica”,determinando-se o conteúdo fundamental danova ordem. É ele o “factor determinante daabertura de cada era constitucional”15. A ela-boração e aprovação do documento onstitucio-nal, por uma Assembléia Nacional Constituin-te ou alguma outra autoridade, situam-se já nomomento formal do poder constituinte. “Hásempre dois tempos no processo constituinte,o do triunfo de certa idéia de Direito ou do nas-cimento de certo regime e o da formalizaçãodessa idéia ou desse regime.”16 “Porque a idéiade Direito precede a regra de Direito, o valorcomanda a norma, a opção política fundamen-tal a forma que elege para agir sobre os fac-tos”, é no poder constituinte material que se háde fundar, em última instância, a legitimidadeda Constituição.
Assim, para que se possa falar em poderconstituinte (democrático), não basta a existên-cia de uma entidade encarregada de elaborar aConstituição e que corresponda, em algumamedida, ao modelo de constituinte democráti-ca; é necessário, sobretudo, que se possa iden-
tificar a ocorrência do momento material dopoder constituinte do povo, expressado numadecisão política fundamental (a distinção deMiranda é de evidente inspiração schmittiana);decisão que não ocorre todos os dias, mas ape-nas quando a “comunidade política adopta umnovo sistema constitucional, fixa um sentidopara a acção do seu poder, assume um novodestino; é apenas em ‘tempo de viragem histó-rica’, em épocas de crise, em ocasiões privile-giadas irrepetíveis em que é possível ou impe-rativo escolher. E estas ocasiões não podem sercatalogadas a priori; somente podem ser apon-tados os seus resultados típicos – a formaçãode um Estado ex novo, a transformação da es-trutura de um Estado, a mudança de um regi-me político. Poder constituinte equivale à ca-pacidade de escolher um ou outro rumo, nes-sas circunstâncias”17.
O principal obstáculo à legitimidade demo-crática da Assembléia que se pretende convo-car é a ausência de manifestação do poder cons-tituinte. Se é possível forjar o momento formaldo poder constituinte, por meio de designaçãode um órgão como “Assembléia Nacional Cons-tituinte”, o mesmo não se pode dizer do seumomento material. Qual a opção política fun-damental que estaria sendo manifestada, nopresente momento, pela sociedade, qual a novaidéia de direito ou adoção de novo regime polí-tico que se poderia hoje considerar assumidaem contraste com a idéia de direito ou o regi-me político atuais e que estariam a exigir, paraconcretizá-las, a convocação de uma Assem-bléia Constituinte? É dificilmente questioná-vel que não se está vivendo um tal momento de“viragem histórica”, o que revela o verdadeirosentido da “Constituinte” que se pretende con-vocar, sob o ponto de vista do princípio demo-crático: o de ser um fim em si mesma. Se a“Constituinte” vier a se consumar, será nomáximo uma paródia de Constituinte demo-crática, ou, se se quiser falar de poder constitu-inte, não será de poder constituinte do povo,mas da oligarquia partidária, esta sim, tornadasenhora da Constituição graças a uma cartabranca que o eleitorado lhe teria outorgado semsuficiente consciência de seu ato.
Se, como antes examinado, a convocaçãodo plebiscito não é suficiente a adequar a pro-posta aos parâmetros da ordem vigente de modoa se poder interpretá-la como uma revisão oureforma da Constituição, também não consti-14 Miranda, op. cit., p. 62-63.
15 Ibidem, p. 60-61.16 Ibidem, p. 63. 17 Ibidem, p. 65.

Revista de Informação Legislativa318
tui elemento suficiente à identificação do po-der constituinte material. Que o simples recur-so a instrumentos de democracia direta não sejacritério para se aferir o caráter democrático dedeterminado regime sabe-se desde os referen-dos napoleônicos reeditados no século XX pordiversos governos autoritários, inclusive naAmérica Latina. Além disso, o ato constituinte(democrático) material deve-se revestir de ummínimo de espontaneidade e consciência. Es-pontâneo não seria o plebiscito convocado poriniciativa única e exclusiva do Congresso Na-cional, que a tanto não foi instado pela popula-ção nem pelos elementos organizados da soci-edade civil – mas ao qual deveria o eleitoradoobrigatoriamente atender em virtude da obri-gatoriedade do voto. Consciente não poderiaser a manifestação de vontade a ele imputada,quando a opção que se oferece ao eleitoradonão diz respeito a algo que ele possa razoavel-mente compreender, a algo com conteúdo pal-pável e definido, limitando-se, ao contrário, aautorizar, ou não, o Congresso Nacional a vo-tar propostas (que o eleitorado não tem, nempode ter, a mínima idéia de quais sejam) deemendas constitucionais mediante quorum demaioria absoluta. Acresce a tudo isso que o ple-biscito teria caráter nitidamente acessório, qua-se mesmo insignificante, em relação às elei-ções gerais de outubro, sempre muito persona-lizadas e muito mais catalisadoras das atençõesdo eleitorado e da mídia.
Uma estratégia que poderia ser adotada paracontornar tal obstáculo consistiria em pôr emdúvida a legitimidade democrática da atualConstituição, desqualificando-se, em nome dateoria do poder constituinte, (a) a autoridadeque a instituiu ou (b) o modo como foi elabora-da. (a) A Constituição de 5 de outubro de 1988não seria, de acordo com esse raciocínio, obrado poder constituinte e, sim, do poder refor-mador da Constituição de 1967. Como susten-ta Manoel Gonçalves Ferreira Filho, a Consti-tuinte de 1987/1988 era apenas o CongressoNacional eleito em 1986 (com os senadores elei-tos em 1982), cujos poderes especiais deriva-ram da Emenda nº 26/85 à Constituição de1967. Esta simplificou o procedimento de re-forma constitucional, permitindo ao Congres-so aprovar emendas à Constituição por maio-ria absoluta, bem como desonerando-o da ob-servância das cláusulas pétreas (Federação eRepública) então existentes – operando comisso uma autêntica dupla revisão. “A Emendanº 26/85 permitiu uma reforma constitucional
sem a limitação das cláusulas pétreas então vi-gentes, que proibiam a abolição da Federaçãoe da República”. Conclui o constitucionalistapela possibilidade de que as atuais cláusulaspétreas sejam suprimidas pela mesma via. Afi-nal, “o que poder derivado estabelece, poderderivado pode mudar”18. Segundo Ferreira Fi-lho, nem por sombra apareceria, no processopolítico-jurídico de advento da Constituição de1988, “o poder inicial de organizar a nação queé o verdadeiro poder constituinte”19. (b) Emperspectiva diversa, mas complementar, CelsoRibeiro Bastos argumenta que “o próprio po-der constituinte, de que resultou a Carta de1988, não foi fruto de uma manifestação popu-lar expressa, eis que, no fundo, cifrou-se a ele-gerem-se congressistas que resultaram investi-dos de poderes constituintes pela Emenda nº26/85, em rigor inconstitucional, à Constitui-ção de 67. Sabe-se que, à época, predominavaa vontade de uma constituinte autônoma, que,contudo, foi recusada pelos congressistas queaprovaram a dita emenda. De outra parte, nãose pode ter por desprezível a distinção entreuma constituinte e um Congresso Nacional in-vestido de poderes constituintes. Na verdade,as grandes constituições do mundo foram ela-boradas por pessoas especialmente voltadasapenas para isso. A coincidência do CongressoNacional com a Constituinte levou a um des-nível entre os poderes. O Executivo e o Judici-ário não participaram da aprovação da LeiMaior. (...) É bem de ver, pois, que a nossaConstituição é fruto do Poder Legislativo”20.
Tais formulações se sujeitam contudo a for-tes objeções. Se há um dado sem a menor rele-vância quando se pretende descobrir se um pro-cesso jurídico-político representa o surgimen-to de uma nova ordem constitucional, trata-seda forma como a ordem até então vigente defi-ne textualmente tal processo. O que importaverificar, em primeiro lugar, é se daquele pro-cesso resultam normas materialmente consti-tucionais eficazes em sua pretensão de insu-bordinação à ordem constitucional anterior. Éo princípio da efetividade21. É dificilmente ques-
18 FERREIRA FILHO, op. cit., p. 16.19 Ibidem.20 BASTOS, op. cit., p. 9.21 A lição é antiga. Na perspectiva de Schmitt, o
princípio da efetividade, fórmula de matiz um tantokelseniano, corresponde à “existência política” daConstituição: “El poder constituyente no se extin-gue por un acto de su ejercicio. Mucho menos, seapoya en nungún título jurídico. Cuando el monarca

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 319
tionável que a Constituição de 1988 correspondaa esse critério. Se a convocação da AssembléiaNacional Constituinte de 1987/1988 se operoupor meio de Emenda à Constituição de 1967, éapenas porque o surgimento da nova ordemconstitucional não se deu mediante um processorevolucionário, mas por meio de uma transiçãoconstitucional.
Como explica Jorge Miranda – e eis aquimais uma distinção da maior importância paraa teoria constitucional contemporânea que sedeve, em sua mais lúcida formulação, ao pro-fessor lisboeta, a exemplo daquela entre poderconstituinte formal e material –, os dois modosde mudança de regime são a revolução e a tran-sição constitucional. A primeira é tradicionalobjeto da Teoria do Estado. A segunda é me-nos estudada, mas de importância crescente navida dos Estados democráticos contemporâne-os. Caracteriza-se a transição por não signifi-car uma ruptura direta e instantânea com a or-dem anterior. “Na transição constitucional serespeitam as competências e os processos deagir instituídos pela Constituição em vigor: orei absoluto, por ser Rei absoluto, vem autoli-mitar-se” (Manual, cit., p.70). Nela se opera onascimento de constituição material nova nostermos do processo de revisão constitucional,que é utilizado para se alterarem princípiosfundamentais da Constituição e, portanto, tran-sitar-se para uma nova Constituição”(Manual,cit., p.193). O fato de ser utilizado – inconsti-tucionalmente – o processo reformador daConstituição em vigor não desqualifica a natu-reza constituinte do processo de transição.“Também aqui há um poder constituinte origi-nário (ainda que possa parecer encoberto poroutro poder, designadamente o de revisão). Anatureza do evento e o seu alcance negador doregime político precedente e criador de outroregime político assinalam bem uma decisãofundamental, a adopção de uma nova idéia deDireito, o erigir de um novo fundamento devalidade” (Manual, cit., p. 70). Não é da es-sência do poder constituinte o agir revolucio-nariamente, podendo, na verdade, a todo tem-
po, “apropriar-se de um poder de revisão apa-rente, transformando-o em poder constituinteoriginário” (Manual, cit., p.196). A importân-cia da transição constitucional na atualidadese deve à conveniência de que “se evitem assoluções de continuidade e os custos inerentesàs revoluções” (Manual, cit., p. 195).
Torna-se assim fácil compreender que aConstituição de 1988 não foi obra de uma ati-vidade reformadora da Constituição de 1967,mas de um processo de transição constitucio-nal22 por meio do qual o restabelecido poderconstituinte do povo, evitando os inconvenien-tes de uma já desnecessária revolução (desne-cessária porque politicamente o regime anteri-or já agonizava desde a eleição do presidentecivil oposicionista), apropriou-se do poder dereforma da Constituição em vigor ao produzira Emenda nº 26/85 e com isso propiciar a for-mação de uma Assembléia Nacional Constitu-inte “livre e soberana”. A EC nº 26/85 era niti-damente inconstitucional em face da Consti-tuição de 1967, pois possibilitava a supressãodos então estabelecidos limites da reforma esignificava a própria negação da Constituição.
A análise do poder constituinte material quelegitimou a Constituição de 1988 constitui ou-tro óbice dificilmente removível à interpreta-ção da Constituinte de 1987/1988 como pro-cesso de reforma da Constituição anterior. Aespontânea, autêntica e vigorosa campanhapopular pelas eleições diretas em 1984 – com-plementada pelo maciço apoio, quando das elei-ções indiretas que se seguiram, ao candidatode moderada, mas clara, oposição ao regime –representou uma inconfundível opção da soci-edade pela democracia e pelo Estado de direi-to, autêntica decisão fundamental de negar oregime político então vigente. A convocaçãoda Constituinte se inseriu perfeitamente nessecontexto de definição histórica, como o momen-to formal do poder constituinte necessário àrealização da viragem histórica já decidida. Epoucas constituições terão sido tão fiéis ao po-der constituinte material quanto a que resultoudaquele processo, com a mais ampla consagra-ção de direitos fundamentais de que se temnotícia e cujo rol de cláusulas pétreas se sin-
renuncia voluntariamente a su poder constituyentey reconoce el poder constituyente del pueblo, esteúltimo no descansa en el título jurídico consistenteen la renuncia del rey. Su razón de eficacia está ex-clusivamente en su existencia política” (SCHMITT.Teoría de la Constitución. Tradução de FranciscoAyala. reimpr. Madrid : Alianza, 1992. p. 108). So-bre o princípio da efetividade ver também CICCO-NETTI, op. cit., p. 34-35.
22 O próprio Jorge Miranda viria a apontar aConstituinte brasileira de 1987/1988 como um pro-cesso de transição constitucional: A transição cons-titucional brasileira e o Anteprojecto da ComissãoAfonso Arinos. Revista de Informação Legislativa,v. 24, n. 94, p. 29-44, abr./jun. 1987.

Revista de Informação Legislativa320
tetiza na consagração daqueles dois princípiosafirmados em 1984, a democracia e o Estadode direito (ao lado da forma federativa de Esta-do, que aliás também representa um fortaleci-mento da democracia).
O fato de se ter vivido uma transição, e nãouma revolução, em nada diminui o alcancenegador do regime anterior, pois não há umarelação necessária entre o modo de instaura-ção de um novo regime e a profundidade damudança que representa. Recorde-se que CarlSchmitt distinguia entre supressão e destrui-ção da Constituição como os dois possíveis re-sultados da ação do poder constituinte. Com aprimeira se mantinha inalterada a titularidadedo poder constituinte (por exemplo, mediante asubstituição de uma Constituição democrática poroutra Constituição democrática). A segunda sig-nificava a supressão do próprio poder constitu-inte em que se baseava a Constituição entãovigente. A Constituinte de 1987/1988, na medi-da em que afastou a vigência de uma Consti-tuição de origem e prática autoritárias por umaoutra democrática – o que não parece plausívelnegar –, operou uma destruição constitucional,de acordo com a terminologia schmittiana, enão uma simples supressão.
O contraste entre a ordem constitucional de1967 e aquela estabelecida em 1988 não desa-parece nem mesmo quando se focaliza a insu-ficiente eficácia material do regime democrá-tico em vigor. Munido do aparato analítico dateoria dos sistemas, demonstrou Marcelo Ne-ves como nos sistemas jurídicos da moderni-dade periférica apenas precariamente se reali-za a positividade da ordem jurídica, no sentidoda autonomia operacional do sistema jurídicoem relação aos outros sistemas sociais. As cons-tituições deveriam servir a esse fechamentooperativo do sistema jurídico por meio, sobre-tudo, dos elementos institucionais definidoresdo Estado de direito: separação de poderes, elei-ções democráticas, garantia de direitos funda-mentais23. A insuficiente (porque politicamen-te bloqueada) concretização desses elementos,nas Constituições dos Estados periféricos, jus-tifica que se qualifique de simbólico o proces-so de constitucionalização democrática que alise desenvolve. Mas a não-diferenciação opera-cional do sistema jurídico também se verifica
quando aqueles elementos são negados pelaConstituição ou por outras normas com forçaconstitucional (como os atos institucionais, emnossa experiência recente), havendo aqui umainstrumentalização do direito pela política. Aevolução político-constitucional dos Estadosperiféricos pode então ser em parte interpreta-da como uma alternância entre essas duas es-truturas constitucionais (típicas, bem entendi-do), que Neves chamou de “círculo diabólicode nominalismo e instrumentalismo constitu-cionais”24. O contraste entre o regime instau-rado em 1964 e aquele implantado em 1988 éevidente também nessa perspectiva, sobretudoquando se considera que dela não decorre umaatitude indiferentista em relação à alternativaentre nominalismo e instrumentalismo25.
Como se percebe, sob qualquer ponto devista que se examine a questão, a edição da ECnº 26/85 foi tudo menos ato de reforma consti-tucional, e a Constituição promulgada em 5 deoutubro de 1988 é, sem dúvida, obra do poderconstituinte, e não do poder reformador.
Quanto à legitimidade do modo como seelaborou a Constituição, questionada por nãose ter convocado uma Assembléia Constituinteexclusiva, é preciso não esquecer que, confor-me destaca toda a doutrina constitucionalista,os modos de atuação do poder constituinte sãoindefiníveis a priori. Aliás, sabe-se que, de ummodo geral, as formas ideais da democracia sãorealizadas apenas aproximadamente na expe-riência histórica, razão pela qual a legitimida-de democrática não é algo que se afira segundouma lógica do tudo ou nada. Não resta dúvidade que a convocação de uma Constituinte ex-clusiva poderia significar, em tese, uma maiorautenticidade da manifestação da vontade po-pular e uma maior capacidade de consenso,sobretudo se a eleição dos constituintes nãofosse simultânea à dos parlamentares. Sua re-jeição pode de fato ser interpretada como umavitória de forças políticas conservadoras e re-ceosas de uma ampla participação popular naConstituinte, que se esperava se desenvolvesseem exata consonância com a hegemonia parti-dária então estabelecida, num processo quepouco se diferenciaria da atividade legislativaordinária. Mas, se a idéia de um CongressoConstituinte já não é incompatível com a teo-ria do poder constituinte, especialmente se seus
23 Cf. Sobretudo Verfassung und Positivität desRechts in der peripheren Moderne. Berlin : Dun-cker & Humblot, 1992, e A Constitucionalizaçãosimbólica. São Paulo : Acadêmica, 1994.
24 Verfassung und Positivität... p. 109,144 etpassim.
25 Ibidem, p. 107.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 321
membros foram eleitos investidos de atribui-ções constituintes, e está longe de desqualifi-car, por si só, a legitimidade democrática daConstituição que produzir, a prática da Cons-tituinte instalada em 1987 frustrou as expecta-tivas daqueles que lutaram contra a Constitu-inte exclusiva. De fato, as atividades da Cons-tituinte se desenvolveram em clima de amplaabertura democrática, com a atenção da socie-dade civil voltada para tudo o que nela se pas-sava e com uma constante pressão da socieda-de (inclusive por meio do instituto da emendapopular). O pluralismo do debate constituinteque então se desenvolveu corresponde muitomais às concepções contemporâneas de demo-cracia como governo do cidadão do que os ex-pedientes tradicionais de legitimação popular26.É relevante também que, como já se disse, aConstituinte se apresentou como um desdobra-mento de um nítido processo histórico de con-formação do Estado brasileiro a uma nova idéia(democrática) de direito, o que é mais impor-tante para a legitimidade da Constituição – quea tal idéia permaneceu fiel – do que o caráterexclusivo ou não da Constituinte.
Portanto, a tentativa de desqualificar a le-gitimidade da Constituição vigente como es-tratégia para dispensar ou reduzir o ônus deuma legitimação democrática da sua rupturanão encontra fundamento na teoria do Estadodemocrático de direito.
É preciso, por fim, alertar para a gravidadeda proposta aqui criticada para o amadureci-mento institucional do País.
O fato político ensejador da proposta aquiem discussão não é, como se sabe, nenhumaalteração profunda da realidade política (o quepoderia justificar o rompimento com a ordemvigente), mas o insucesso do Governo em apro-var, com a amplitude e celeridade julgadas ne-cessárias, as reformas constitucionais que fa-zem parte do seu programa político, e que al-guns consideram mais vitais para a vida nacio-nal do que a continuidade da ordem constitu-cional. São esses os móveis valorativos maisimediatos presentes nas fundamentações quese têm apresentado em favor daquela proposta.Embora implicando uma passagem para um
nível de abordagem um pouco diferente do atéaqui desenvolvido, seja-nos permitido, paraenfim concluir, examiná-los brevemente.
Não seria oportuno discutir aqui a impor-tância ou a justiça de cada uma das reformaspropostas. É de todo modo profundamente ques-tionável que delas dependa a solução dos pro-blemas sociais do País, apesar de se reconhe-cer que a Constituição de 1988 está longe daperfeição. Isso por duas razões básicas.
A primeira é de ordem, por assim dizer,dogmático-constitucional. A heterogeneidadedas forças políticas representadas na Constitu-inte, entre outros fatores, conduziu à elabora-ção de um texto, como se diz hoje em dia, aber-to. A abertura semântica de certas proposições,estabelecedora de um compromisso dilatórioentre tendências que se confrontaram, combi-na-se com a coexistência de princípios confli-tantes, resultado da não-identificação da Cons-tituição com nenhuma das ideologias que aprocuraram cercar. Expressou-o, de modo con-tundente e até extremado, Manoel GonçalvesFerreira Filho, para quem “...escolhendo, cui-dadosamente, os artigos e os princípios, nóspodemos dar a esta Constituição dois ou trêssentidos diametralmente opostos”27. A Consti-tuição comporta concretizações em sentidosvariados, especialmente na ordem econômica,deixando um amplo espaço à conformação po-lítica a se desenvolver no Congresso e reser-vando um papel especial à sua interpretaçãojudicial. Não é possível atribuir à Constituiçãoa responsabilidade pela dificuldade de se reali-zar um determinado projeto político, ao menosentre aqueles de que se possa cogitar na reali-dade histórica contemporânea.
A segunda complementa a anterior. Qual-quer jurista acostumado ao enfoque jurídico-sociológico sabe que as grandes disfunções ins-titucionais do País se relacionam muito maisestreitamente com a insuficiente concretizaçãodas normas constitucionais atualmente em vi-gor do que com o seu caráter imperfeito. Aper-feiçoamentos da legislação ou da Constituiçãopouco se relacionam, no presente, com a solu-ção dos problemas nacionais, a não ser pelofato de gerarem a ilusão de que com eles algoestá sendo feito no sentido de se buscarem taissoluções.
Mas ainda que tais reformas fossem real-mente importantes, a solução proposta diante
26 Ver a respeito HÄBERLE. HermenêuticaConstitucional : a sociedade aberta dos intérpretesda Constituição : contribuição para a interpretaçãopluralista e procedimental da Constituição. Tradu-ção de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre : S.A.Fabris, 1997. p.38-39.
27 Direito Constitucional Econômico. São Paulo :Saraiva, 1990. p. 72.

Revista de Informação Legislativa322
da dificuldade de se as implementar revela umaimaturidade ainda maior da reflexão jurídico-constitucional. É uma unanimidade, na teoriaconstitucional contemporânea, ressaltar a im-portância da estabilidade da Constituição28. Atal estabilidade associou Loewenstein a forma-ção do sentimento constitucional29, e Hessedemonstrou como ela fortalece a vontade deConstituição, elemento praxiológico da forçanormativa da Constituição30. Como disse Lo-ewenstein, “é sempre mais fácil viver com umaConstituição defeituosa do que com uma trans-formada em joguete do arbítrio dos parti-dos”.31,32 Decorre daqui a inadmissibilidade dese propor uma reforma constitucional sem quese fundamente satisfatoriamente a sua necessi-dade, a ponto de justificar um sacrifício da
acostumar os homens a revogar facilmente as leis,... pois o povo não resultará tão beneficiado com umaalteração quanto prejudicado por se acostumar a de-sobedecer aos seus governantes” (Política, 1269 a).
33 Entre o fato e o limite. Folha de São Paulo,13 set. 1997.
estabilidade constitucional (que é, em últimaanálise, a estabilidade institucional do País).Que dizer então quando o que se deseja sacrifi-car em prol de alterações cuja necessidade éapenas pressuposta não é simplesmente a esta-bilidade da Constituição, mas a própria conti-nuidade da ordem constitucional (que, por si-nal, comportaria tais reformas desde que sobreelas houvesse um razoável grau de consenso)?Para saber o que isso significa, ouçamos o ci-entista político Renato Lessa:
“Se a alteração de itens constitucio-nais, ressalvadas as cláusulas pétreas,exigisse a convocação de congressosconstituintes (...), nossas taxas de bizar-ria institucional, com certeza, atingiriama estratosfera”33.
28 Para uma ampla abordagem do tema, ver BRY-DE, Brun-Otto. Verfassungsentwicklung. Stabilitätund Dynamik im Verfassungsrecht der Bundesrepu-blik Deutschland, Baden-Baden : Nomos, 1982.
29 LOEWENSTEIN. op. cit., p.27.30 HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der
Bundesrepublik Deutschland. 19. ed. C. F. Heidel-berg : Müller, 1993. p. 17.
31 LOEWENSTEIN, op. cit., p. 64.32 De um modo mais genérico, remonta, pelo
menos, a Aristóteles a percepção de que “é algo mau

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 323
1. IntroduçãoA Declaração Conjunta entre Portugal e a
China, assinada em abril de 1987, e a Lei Bá-sica da Região Administrativa Especial deMacau, promulgada em 1993, traçaram as di-retrizes do período de transição da passagemdeste território chinês sob administração dePortugal à China.
Os acordos assinados reafirmaram a cria-ção da Região Administrativa Especial de Ma-
A Região Administrativa Especial de Macaue o legado de Portugal
O diálogo Ocidente/Oriente vai por certo con-tinuar. No próximo século assistiremos ao agigan-tar do Oriente, orgulhoso das suas culturas mile-nares, pujantes na suas economias.
Poderemos todos, se soubermos gerir o presen-te, manter cativo ali o nosso lugar. Quase diria quenão há povo ribeirinho nesse grande espaço quenão os conheça: de Goa a Nagasaki, se um dia dis-tante se falou em português, hoje – sabe-o bem quemconhece essas paragens – restam as recordações, asaudade e a memória de uma cultura oriunda daspraias lusitanas e que pelo mundo se foi enrique-cendo, dando e recebendo.
Jorge Rangel
EDIVALDO MACHADO BOAVENTURA
Edivaldo Machado Boaventura é docente livree Doutor em Direito, Mestre e PhD em Administra-ção da Educação, Professor da Universidade Fede-ral da Bahia, Procurador autárquico, membro daOAB/BA, do Instituto dos Advogados da Bahia e daAcademia de Letras Jurídicas da Bahia.
SUMÁRIO
1. Introdução. 2. O legado político e jurídicode Portugal e a tradição romanístico-germânica doCivil Law. 3. A Lei Básica da Região Administrati-va Especial de Macau (RAEM). 4. O governo autô-nomo de Macau. 5. A soberania da presença. 6. Afórmula Macau. 7. Uma fórmula de convivência. 8.Macau e Hong Kong. 9. A triangulação econômi-ca. 10. O sistema educativo. 11. Uma universidadetrilíngüe. 12. Conclusão: Macau, plataforma parao Brasil.

Revista de Informação Legislativa324
cau (RAEM). Com base no princípio “um país,dois sistemas”; essa região será dotada de altograu de autonomia, mantendo-se os atuais sis-temas social e econômico e a maneira de viver.Desse documento, partiu-se para a Lei Básicada futura RAEM. Esse diploma legal assegu-rou a autonomia dos poderes Executivo, Le-gislativo e Judiciário (art. 2º) e, além da lín-gua chinesa, o uso do idioma português serátambém oficial (art. 10º). A par das relaçõesde amizade e entendimento entre estas duasnações, os fundamentos políticos e sociais sãoassentados no conjunto das relações institucio-nais entre os organismos da soberania portu-guesa e chinesa, estruturadores do governo deMacau.
Com plena autonomia judiciária, Macautem a responsabilidade de um Estado de direi-to moderno, com a peculiaridade histórica deterritório cedido a Portugal por mais de quatroséculos. A Declaração Conjunta Sino-Portugue-sa deixou evidente a autonomia do Poder Judi-ciário e a garantia de que a competência nãoultrapasse a jurisdição dos tribunais da RegiãoAdministrativa Especial de Macau. A Lei Bá-sica estabeleceu três instâncias: tribunais deprimeira instância, um de segunda e um tribu-nal de última instância. Como no Brasil, háum centro de formação de magistrados.
2. O legado político e jurídico dePortugal e a tradição romanístico-
germânica do Civil LawPelo legado cultural de Portugal, juridica-
mente, Macau pertence ao sistema do direitoescrito, da lei-código, dentro da tradição ro-mano-germânica do Civil Law com relevânciada lei sobre a jurisprudência, o oposto do siste-ma Common Law. Perfeitamente dentro dessalinha dedutiva e teórica, foram promulgadosos códigos: Civil, Comercial, Penal, Processu-al Civil e Processual Penal. Conservou Macaua herança portuguesa do direito escrito que vemdos romanos, o qual, embora sistematizado noCódigo de Napoleão e no Código Civil alemão,enriqueceu-se com o direito canônico e com aspráticas comerciais na Idade Média.
O Direito chinês, como boa parte dos paí-ses do Oriente, não possui o desenvolvimentoque atingiu o Direito português ou o francês.Em face de mais essa herança cultural de Por-tugal, Macau é, do ponto de vista do direito,uma ilha do sistema continental, do Civil Law,
no oceano do Direito chinês tal como o estadode New Orleans, nos Estados Unidos da Amé-rica, e a província do Québec, no Canadá, queconvivem com o sistema do direito de base cos-tumeira e jurisprudencial.
3. A Lei Básica da Região AdministrativaEspecial de Macau (RAEM)
Em suma, a Lei Básica da Região Admi-nistrativa Especial de Macau da República Po-pular da China, promulgada em 31 de marçode 1993 pela primeira sessão da oitava legisla-tura da Assembléia Popular Nacional, é a Cons-tituição de Macau, que entrará em vigor em 20de dezembro de 1999, quando a China assumi-rá a soberania plena do Território, por força daConstituição, cujo preâmbulo assim prescreve:
“Macau, que abrange a península deMacau e as ilhas da Taipa e de Coloane,tem sido parte do território da Chinadesde os tempos mais remotos. A partirde meados do século XVI, foi gradual-mente ocupado por Portugal. Em 13 deabril de 1987, os governos da China e dePortugal assinaram a Declaração Con-junta sobre a Questão de Macau, afir-mando que o Governo da República Po-pular da China voltará a assumir o exer-cício da soberania sobre Macau em 20de dezembro de 1999, concretizando-seassim a aspiração comum de recuperarMacau, almejada pelo povo chinês des-de longa data.
“A fim de salvaguardar a unidade na-cional e a integridade territorial, bemcomo favorecer a estabilidade social e odesenvolvimento econômico de Macau,tendo em conta o seu passado e as suasrealidades, o Estado decide que, ao vol-tar a assumir o exercício da soberaniasobre Macau, cria-se a Região Adminis-trativa Especial de Macau de acordo comas disposições do artigo 31 da Constitui-ção da República Popular da China e que,de harmonia com o princípio ‘um país,dois sistemas’, não se aplicam em Ma-cau o sistema e as políticas socialistas.As políticas fundamentais que o Estadoaplica em relação a Macau são as já ex-postas pelo Governo Chinês na Declara-ção Conjunta Sino-Portuguesa.
“De harmonia com a Constituição daRepública Popular da China, a Assem-

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 325
bléia Popular Nacional decreta a LeiBásica da Região Administrativa Espe-cial de Macau da República Popular daChina, definindo o sistema a aplicar naRegião Administrativa Especial de Ma-cau, com vista a assegurar a aplicaçãodas políticas fundamentais do Estado emrelação a Macau”.
Os seus princípios gerais assim disciplinama RAEM:
“Art. 1. A Região Administrativa Es-pecial de Macau é parte inalienável daRepública Popular da China.
“Art. 2. A Assembléia Popular Naci-onal da República Popular da China au-toriza a Região Administrativa Especialde Macau a exercer um alto grau de au-tonomia e a gozar de poderes executivo,legislativo e judicial independentes, in-cluindo o de julgamento em última ins-tância, de acordo com as disposiçõesdesta Lei.
“Art. 3. O órgão executivo e o órgãolegislativo da Região AdministrativaEspecial de Macau são ambos compos-tos por residentes permanentes da Re-gião, de harmonia com as disposiçõesaplicáveis desta Lei.
“Art. 4. A Região Administrativa Es-pecial de Macau assegura, nos termos dalei, os direitos e liberdades dos residen-tes da Região Administrativa Especialde Macau e de outras pessoas na Região.
“Art. 5. Na Região AdministrativaEspecial de Macau não se aplicam o sis-tema e as políticas socialistas, manten-do-se inalterados durante cinqüenta anoso sistema capitalista e a maneira de vi-ver anteriormente existentes.
“Art. 6. O direito à propriedade pri-vada é protegido por lei na Região Ad-ministrativa Especial de Macau.
“Art. 7. Os solos e os recursos natu-rais da Região Administrativa Especialde Macau são propriedades do Estado,salvo os terrenos que sejam reconheci-dos, de acordo com a lei, como proprie-dade privada, antes do estabelecimentoda Região Administrativa Especial deMacau que é responsável pela sua ges-tão, uso de desenvolvimento, bem comopelo seu arrendamento ou concessão apessoas singulares ou coletivas para uso
ou desenvolvimento. Os rendimentos daíresultantes ficam exclusivamente à dis-posição do Governo da Região Adminis-trativa Especial de Macau”.
4. O governo autônomo de MacauCom tal entendimento da Lei Básica, o Ter-
ritório tem governo próprio, autônomo, cons-tituindo-se do Poder Executivo, tendo à frenteo Governador; do Legislativo, exercido pelaAssembléia Legislativa; e do Poder Judiciário,representado pelos tribunais.
O Governador, auxiliado por sete secretá-rios adjuntos, representa os componentes dasoberania da República Portuguesa e é politi-camente responsável perante o presidente daRepública. Conforme texto de informação(1996):
“O Governador é nomeado, empos-sado e exonerado pelo Presidente da Re-pública, após consulta à Assembléia Le-gislativa e aos organismos representati-vos dos interesses sociais de Macau”.
Já a Assembléia Legislativa, com 23 depu-tados, é um órgão de representação mista, com-pondo-se de oito deputados eleitos pelo votodireto, oito pelo sufrágio indireto representati-vo de diversos organismos associativos e osoutros sete nomeados pelo Governador.
Os poderes Executivo e Legislativo sãoapoiados por um conselho consultivo, formadode cinco membros nomeados pelo governadore de outros cinco eleitos indiretamente.
O governo local compreende o Municípiode Macau, isto é, a península e a cidade pro-priamente dita, e o Município das Ilhas da Tai-pa e Coloane. Cada município é administradopor uma Câmara Municipal, tendo à frente,exercendo as funções executiva e legislativa,um presidente de nomeação do governador. Osdemais membros são eleitos pelo voto direto eindireto. O notório Leal Senado é a CâmaraMunicipal de Macau.
Com os típicos organismos de transição háo Grupo de Ligação e o Grupo de Terras Luso-Chinês. O primeiro, para consulta e troca deinformações entre os governos de Portugal eda República Popular da China, no que con-cerne à aplicação da Declaração Conjunta e seusanexos. Compondo-se de dez membros, cabe acada uma das partes a designação de um líder,em nível de embaixador, e mais quatro mem-

Revista de Informação Legislativa326
bros permanentes com perito de pessoal deapoio. Igualmente, como previsto, funciona oGrupo de Terras Luso-Chinês, constituído detrês membros de cada parte e incumbido doscontratos de concessão de terras em Macau eassuntos correlatos.
“Artigo 11. De acordo com o artigo31 da Constituição da República Popu-lar da China, os sistemas e políticas apli-cados na Região Administrativa Especialde Macau, incluindo os sistemas sociale comércio, o sistema de garantia dosdireitos e liberdades fundamentais dosseus residentes, os sistemas executivo,legislativo e judicial, bem como as polí-ticas com eles relacionadas, baseiam-senas disposições desta Lei”.
Nenhuma lei, decreto-lei, regulamento ad-ministrativo ou ato normativo da Região Ad-ministrativa Especial de Macau pode contrari-ar esta Lei.
5. A soberania da presençaPara o alcance do bom entendimento da
Declaração Conjunta e da Lei Básica entreChina e Portugal, desenvolveu-se muita paci-ência nas negociações.
O modo de discussão não foi o ocidental,no qual as duas partes se sentam uma defronteda outra, de cada lado da mesa. Para o secretá-rio Jorge Rangel, o efeito de encontros e maisencontros com oportunidade para comer e via-jar juntos antecede às reuniões formais. Portu-gal soube usar de muito jeito e paciência parafechar os principais pontos da Declaração Con-junta.
A própria imprensa ressaltou o sentimentode harmonia e conciliação com os portuguesesem oposição às dificuldades encontradas comos ingleses na discussão sobre o retorno de HongKong. Nas entrelinhas, percebe que as princi-pais questões da Declaração Conjunta não fo-ram acertadas na formalidade das reuniões.Chineses e portugueses realizaram encontros,apresentaram propostas; viajavam para depoisretornarem à discussão.
A paciência parece ter sido o segredo dasnegociações. Leve-se em consideração que acultura chinesa é milenar e tem fundamentoem Confúcio. E lembre-se que, historicamen-te, Macau resultou de um entreposto comercialengendrado pelos portugueses com o entendi-
mento dos chineses; por isso afirmam os ma-caenses que
“o consenso é a trave-mestra do sistemapolítico e social de Macau que, à luz daDeclaração Conjunta, entre Portugal e aChina, assinada em abril de 1987, é ter-ritório chinês sob administração portu-guesa”.
O secretário Jorge Rangel confirma as di-retrizes educacionais e, em especial, a situaçãodo ensino da língua portuguesa, conforme do-cumentos da área de comunicação social dogoverno. Fechado o ciclo de construções dainfra-estrutura, incrementam-se cada vez maisa educação, a cultura e a ação social para amelhoria do padrão de vida da população.
A situação da língua e cultura lusas mere-ceu, logicamente, um lugar especial. Tenha-seem vista o seu ensino atual, no momento detransição e, projetivamente, no futuro. Atinen-te “à última flor do Lácio plantada”, a Lei Bá-sica sentencia: “Além da língua chinesa, pode-se usar também a língua portuguesa nos ór-gãos Executivo, Legislativo e Judicial da Re-gião Administrativa Especial de Macau, sendotambém o português língua oficial” (art. 9º).Em bem lançada comunicação ao Liceu Lite-rário Português do Rio de Janeiro, Rangel ex-planou exatamente acerca de “A língua e a cul-tura portuguesa em Macau e as instituições aoseu serviço no presente e no futuro”, de cujodiscurso, merece registro o seguinte excerto:
‘Para se perceber a situação da lín-gua portuguesa em Macau, forçoso é lem-brar que, apesar de velha de mais de qua-trocentos anos, a forma de estar dos por-tugueses sempre assumiu característicasdo que poderemos designar por uma ‘so-berania de presença’. A comunidade por-tuguesa, numericamente muito pequenase comparada com a chinesa, nunca im-pôs a sua língua à população local; ascomunidades em presença, embora coe-xistindo lado a lado e respeitando-se,viveram, durante muito tempo, por im-posições das circunstâncias, como quefechadas sobre si mesmas e de acordocom as suas heranças culturais que, ape-sar de tudo, aqui e ali se foram interpe-netrando. Daqui deriva que, além da pe-quena comunidade portuguesa, ali radi-cada ou nascida, muito poucos eram osoutros habitantes que falavam e apren-diam o português, sendo também pou-

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 327
cos os portugueses que falavam e escre-viam o chinês”.
A Lei Básica assegura o uso da língua por-tuguesa e a palavra “Macau” no emblema:
“Art. 9. Além da língua chinesa, podeusar-se também a língua portuguesa nosórgãos executivos, legislativo e judiciaisda Região Administrativa Especial deMacau, sendo também o português lín-gua oficial.
Art. 10. Além da bandeira nacionale do emblema nacional da RepúblicaPopular da China, a Região Administra-tiva Especial de Macau pode tambémexibir e usar a bandeira e o emblema re-gionais”.
A bandeira regional da Região Adminis-trativa Especial de Macau é verde, tendo aocentro o desenho de cinco estrelas, flor de ló-tus, ponte e água do mar, circundado pela ins-crição “Região Administrativa Especial deMacau da República Popular da China” emchinês, e a palavra “Macau”, em português.
Em conclusão, essa “soberania de presen-ça” explica muito do entendimento e do relaci-onamento entre dois povos de raízes e culturastão diversas. Portugal sempre virado para o mar,com seus descobrimentos e novas terras a con-quistar. A China sempre muito mais virada parao interior do que para o exterior, continua LuísDurão (1995):
“(...) negligenciando por isso o seu lito-ral, cujos mares se encontravam por issomesmo infestados de piratas, e muitoembora possa consistir numa explicaçãoaceitável do fenômeno, o certo é que oschineses sempre prezaram o seu solo, ea aceitação de estrangeiros nela, mesmona periferia, é questão que ultrapassauma explicação única”.
6. A fórmula MacauSegundo Afonso Camões, diretor do gabi-
nete de Comunicação Social do governo deMacau, a Cidade do Nome de Deus de Macaununca foi conquistada. Serviu, sim, de portode abrigo para fugir de tempestades e secarmercadorias, passando a entreposto comercialentre a China e o Japão a partir da segundametade do século XVI.
Por isso, Macau é trânsito e abrigo. Não foiconquistada dos chineses, ao contrário de Hong
Kong, que séculos depois, em 1842, passou aser colônia britânica, por imposição do Trata-do de Nanquim, conseqüência da Guerra doÓpio. Ocupação de mais de um século que serefletiu nas negociações para o seu retorno àChina.
Macau teve toda uma outra história. De-pois de algumas tentativas, como a de ToméPires, a pequena península no delta do Rio dasPérolas e do Rio do Oeste foi cedida aos portu-gueses. Considere-se que a China sempre este-ve mais voltada para o interior do que para oexterior, sem negligenciar, contudo, o seu solo.E Macau permaneceu sempre lusitana, em ple-no Pacífico, junto ao Império do Meio, o cen-tro do mundo; de um lado, a Europa e do ou-tro, a América. O melhor entendimento é con-siderar o Reino do Meio colocado entre o Céue a Terra; então, não resultou de nenhuma con-quista, não teve estatuto de colônia ou de pro-tetorado. É, juridicamente, um território chi-nês administrado por Portugal, tornando-secorriqueiro ouvir-se falar, administrativamente,no “Território”.
Macau manteve sua lealdade a Portugal,mesmo quando o país e todos os seus domínioscaíram no jugo espanhol, de 1580 a 1640. Ins-tala-se a questão dinástica sucessória de Portu-gal, que conduziu Felipe II, da Espanha, ao tro-no português, em virtude de ser ele neto de domManuel I, o Venturoso. Felipe II, como filho deCarlos V e Isabel de Portugal, reivindicou eobteve, pela linha direta de parentesco com afamília real portuguesa, a primazia na suces-são régia. É a chamada União Ibérica, pela reu-nião de Portugal e Espanha sob a tutela dosHabsburgo. Macau quedou-se fiel. Pela lealda-de, a Câmara Municipal foi intitulada de LealSenado, por Dom João IV, restaurador da so-berania portuguesa.
A união ibérica trouxe conseqüências béli-cas imediatas, tanto para Macau como para oBrasil. O Leal Senado lembra o antigo Senadoda Câmara, casa de Câmara e cadeia da épocacolonial, importantíssima na efetivação da in-dependência do Brasil, na Bahia. Para CarlosMoraes José:
“Outro aspecto tem de ser tambémtido em consideração. O modo ímpar naHistória como os portugueses se fixaramem macau, sem guerra, apenas com es-porádicos sobressaltos, explanando noterreno uma política de sedução e não deconfrontação. Claro que na palavra se-

Revista de Informação Legislativa328
dução está implícita uma característicabem portuguesa: a mimesis com os ou-tros povos, na medida em que o sedutormima e se transforma nos desejos do seuobjecto. Esta é uma capacidade bem na-cional e que, no caso de Macau, nos va-leu uma presença de quatro séculos. Nãodeixa, contudo, de haver mérito da partechinesa pelo modo como souberam aco-modar os portugueses, abrindo assim, comesta experiência, um novo capítulo na his-tória das suas relações diplomáticas”.
7. Uma fórmula de convivênciaAtinente à convivência sino-portuguesa,
passados mais de quatrocentos anos de relaci-onamento, em entrevista a Francisco Belard,“Propostas para o Século XXI”, Kai CheongFok (Expresso, Lisboa, 6 maio de 1995), pro-fessor universitário e consultor para projetosculturais, em relação a Macau, opina:
“Começaria pelo que chamamos a‘fórmula Macau’ na história. Os portu-gueses foram os primeiros europeus achegar à China, pelo que os chinesescompreendem bem que os portuguesesinfluenciaram com sua atitude e com asua política os restantes países ociden-tais. Assim, este primeiro encontro en-tre Portugal e a China constitui uma ex-periência muito importante para mimcomo historiador das relações sino-oci-dentais. E nessa perspectiva, Macau de-sempenha um papel muito importante:pouco depois da chegada dos portugue-ses, estes transformaram Macau numverdadeiro centro de intercâmbio cultu-ral entre o Ocidente, particularmenterepresentado nessa época pela culturaibérica e a China. Macau transformou-se, também, num porto internacional flo-rescente. Podemos dizer que se tornourico, no século XVI e até no início doséculo XVII. O sucesso deste mini-esta-do (ou enclave português em solo chi-nês) dependeu muito do facto de ambosos lados terem tentado encontrar umafórmula de coexistência. E penso que estafórmula tem muito a ver com a posiçãode Macau e com a sua herança cultural ehistórica absolutamente singular e dis-tinta”.
Insiste o professor Fok:
“Do meu ponto de vista como histo-riador, isto é algo de grande importân-cia, pois significa quatrocentos anos decoexistência entre duas etnias. Ao longodestes quatro séculos houve algumas oca-siões em que ambos os lados tiveram al-gum atrito mútuo, mas para tanto tempotivemos muito poucas desavenças. Nãochegou a morrer uma centena de pesso-as de ambos os lados nessas ocasiões deatrito”.
Conclui, então:“Logo, é muito importante para nós
aprender com esta história da coexistên-cia humana: como é que duas etnias con-seguiram viver em tal harmonia ao lon-go de um período tão prolongado? É umaexperiência importante não só do pontode vista das relações sino-portuguesas,ou do futuro de Macau, mas enquantoexperiência geral para toda a humani-dade”.
8. Macau e Hong KongDiferindo bastante da presença inglesa em
Hong Kong, Kai Cheong Fok cita o exemplodo governador Henessy, que em finais do séculoXIX, em relatório para Londres, apontava: “Aforma como os portugueses se têm comportadoem Macau e como conseguiram ganhar a con-fiança da população chinesa durante tanto tem-po, é algo com que temos que aprender”. Emuito!
De fato, os portugueses souberam incremen-tar o comércio, trazendo impostos e benefici-ando a economia local sem constituir ameaçapara a segurança nacional da China. A fórmu-la, segundo Fok, funcionou muito bem durantequatrocentos anos sem ameaça à soberania chi-nesa e, raramente, os chineses interferiram naatividade dos portugueses. A administraçãopelo Senado da Câmara, o Leal Senado, de-sempenhava com autonomia o poder local.Dadas as circunstâncias históricas, a maneiracomo a China trata os problemas de Macau ébastante diferente de Hong Kong:
“Macau nasceu de uma fórmula bemsucedida para congregar as necessidadesde ambas as partes (...) penso que deve-ríamos capitalizar as excelentes relaçõessino-portuguesas a fim de conseguirmosmais para Macau”.
Exemplifica Fok que, nas negociações, os por-

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 329
tugueses conseguiram a aprovação imediatapara a construção do aeroporto de Macau, omesmo não sucedendo com os ingleses. É ahábil estratégia da paciência ou que outro nometenha a tolerância.
Ressalte-se a abertura de Macau para omundo exterior, principalmente durante o con-flito bélico com o Japão quando Hong Kongfoi tomada pelos nipônicos, na Segunda Gran-de Guerra. Macau funcionou como uma janelaaberta da China, traço de união entre os emi-grantes – chineses ultramarinos – e a terra na-tal. Freqüentemente, voltam a Macau, a exem-plo do congresso das comunidades macaenses.Organizações culturais tentam preservar a he-rança histórica como o Instituto de EstudosLatinos, criado pelo governador Vasco RochaVieira, e sugestões outras de estudos sino-lu-sos, ensino do idioma português e da línguachinesa que, escrita da mesma forma, é pro-nunciada de diferentes maneiras.
Há uma estratégia do desenvolvimento queconduziu ao ciclo das obras de infra-estrutura:o aeroporto internacional, a Ponte da Amiza-de, o Porto de Ká-Hó, a central de incineraçãodo lixo e a de tratamento de águas residuais.Para tanto, a República Popular da China par-ticipa financeiramente dos grandes investimen-tos tanto em Hong Kong como em Macau, con-tando com volumosa poupança pública e pri-vada. A moeda macaense, cujo nome é muitoconhecido dos brasileiros – pataca –, estável eautônoma, é cotada ao câmbio do dólar de HongKong. Recorde-se a antiga moeda portuguesade prata, do valor de 320 réis, que circulou pormuito tempo no Brasil até o Império. Pois bem,é a pataca a unidade monetária no Território,dividida em cem avos. Os brasileiros da gera-ção que nos sucede, na sua maioria, não co-nhecem a pataca. Os que nos antecederam,poucos talvez se lembrem. A sua geração (eminha) não lidou com a pataca. Ou será que jáa esqueceram no tempo?
9. A triangulação econômicaMacau tem a oferecer ao Brasil uma série
de serviços, em especial a sua experiência co-mercial. Em face das facilidades da mesma lín-gua e cultura, Macau aparece como uma pers-pectiva clara de ingresso do Brasil no promis-sor mercado chinês e efetivação da presençaativa no Pacífico. Usando as palavras dos ma-caenses, o Território pode vir a ser uma plata-forma financeira e de marketing para os inves-
timentos no Sul da China.Macau é uma península com 21km2, situa-
da no Sul da China, precisamente no delta for-mado pelo Rio das Pérolas (Zhu Yiang) e peloRio do Oeste (Xoi Yang), junto à provínciachinesa de Guangdong (Cantão província).Dista 70 quilômetros rio acima de Guanzhou(Cantão cidade).
O Território é constituído pela península deMacau, que se liga ao continente chinês porum istmo, fronteira a seco, onde se encontra oarco simbólico das Portas do Cerco. Além dapenínsula, Macau compreende as ilhas da Tai-pa e Coloane, que formam outro município. Aprimeira é bastante povoada, ligando-se à pe-nínsula por duas pontes. Na ilha da Taipa lo-calizam-se a Universidade de Macau e o Jo-ckey Club. Já a outra ilha, a de Coloane, co-munica-se com Taipa por um istmo de doisquilômetros, cujas terras estão em pleno pro-cesso de consolidação. Nela se erguem a igrejade São Francisco Xavier, com relíquias destesanto, um templo budista, parques e praias.Coloane, com proteção ecológica, mantém umacerta tranqüilidade. Em frente à ilha da Taipa,encontra-se o aeroporto internacional de Ma-cau, construído sobre um aterro e conectadopor duas vias, para cuja construção houve aparticipação financeira da China. Existe umprojeto de unir as duas ilhas por aterramento.
Macau conta com, aproximadamente, 450mil habitantes; todavia, os que vivem no exte-rior tornam este número bem maior. Do pontode vista demográfico, é preciso levar em consi-deração que boa parte dos emigrantes, chine-ses ultramarinos, estão presentes em todo o Pa-cífico – Filipinas, Indonésia, Cingapura, Ma-laca – e são eles os agentes do movimentadocomércio dessa região. Transações econômicaslideradas pelos de fala chinesa alcançam o ou-tro lado do Pacífico, notadamente na costa oestedos Estados Unidos e do Canadá e, especial-mente, na província da Columbia Britânica, emVancouver, onde se encontram euro-asiáticos(principais indicadores demográficos anexos).
Com US$ 17.000,00 de renda per capita,evidentemente que só se pode compreender odinamismo de Macau, como influenciada pelaeconomia de Hong Kong, no conjunto forma-do pela província chinesa de Guangdong (Can-tão província). A abertura da República Popu-lar da China para a economia de mercado, nãoobstante ser um país socialista, permitiu a for-mulação de políticas em três primeiras zonas

Revista de Informação Legislativa330
econômicas especiais: Zhuhai, na fronteira con-tígua a Macau, do outro lado das Portas doCerco; Shezhen, perto de Hong Kong e Shan-tou, logo depois, Xiamen.
Macau “cresceu com os vizinhos”, confor-me Ho Wai Hey (Macau, 1995, 4). Tais inicia-tivas foram inspiradas nas Export processionZones e nas Free Trade Zones. Demarcadasgeograficamente, são tidas como estufas dedesenvolvimento econômico e servem de ex-periência para a China ganhar em conhecimen-tos, maneiras e atitudes a fim de atuar no siste-ma capitalista. Enfim, são laboratórios empí-ricos que comprovam o princípio “um país, doissistemas”, segundo a fórmula cunhada pelopragmatismo de Deng Xiaoping. Os chinesesultramarinos, originários da província de Can-tão, são motivados a investirem na mãe-pátria,a China, contribuindo para a sua melhoria eobtenção de lucros: são os “capitalistas patrió-ticos”.
A principal realidade econômica da Ásia/Pacífico é a emergência do que os especialistasdesignam por “triângulos de crescimento”, zo-nas transfronteiriças ou economias de proxi-midade, que buscam vantagens em comum nacolaboração econômica e no entrelaçamentofinanceiro, comercial, tecnológico e de recur-sos humanos.
Para Jorge Nascimento Rodrigues, Macautem o privilégio de ser parte de um desses cha-mados “triângulos de crescimento”, precisa-mente do triângulo formado com Hong Kong eCantão-cidade, no delta do Rio das Pérolas, noSul da China:
“Tais minirregiões adquirem massascríticas que as afirmam na cena mundi-al como placas giratórias de mercadori-as e fluxos de informação e de pessoas, ecomo pontos de entrada privilegiadospara a economia global dos dias de hoje”(Macau, 1995, 24).
Macau, como produtora de serviços, desta-ca-se em turismo, jogo, indústria têxtil, vestu-ário, calçado, brinquedo e na construção civil.A movimentação econômica de Hong Kong,de Macau e das zonas econômicas especiaistransformaram Cantão na mais rendosa pro-víncia com salários e lucros os mais elevados.Para tanto, contando com a Universidade deMacau, o Instituto Politécnico, Macau vem-sepreparando, científica e tecnologicamente, comoutras entidades acadêmicas para o melhordesempenho em negócios com o Centro de
Produção e Transferência de Tecnologia, o Ins-tituto de Promoção do Investimento e o WorldTrade Center; para tanto, eficiente sistema edu-cacional vem desenvolvendo.
10. O Sistema educativoAmplo sistema de formação de quadros em
todos os níveis de ensino – fundamental, mé-dio e superior – foi desenvolvido. Macau temno ensino regular quase cem mil alunos que,se agregados àqueles que freqüentam os pro-gramas de educação profissional e de educa-ção de adultos, alcança-se um terço da popula-ção. São três conjuntos curriculares tendo porbase a língua correspondente: o chinês, o in-glês e o português, que, evidentemente, acom-panha o sistema de ensino luso.
Do informe Educação e ensino, pôde-seretirar alguns parágrafos atinentes ao sistemaeducativo.
“Ensino superior – O desenvolvimen-to do ensino superior, com uma ampladiversificação e uma aposta na qualida-de, a criação e consolidação de um siste-ma educativo próprio e a extensão daescolaridade gratuita ao ensino privadotêm sido as grandes prioridades da áreade educação.
“O ensino particular – O ensino pri-vado está especialmente desenvolvido emMacau, abarcando mais de 90% da po-pulação escolar, razão por que o Gover-no decidiu estender o ensino gratuito àsescolas particulares. Aderiram já, volun-tariamente, a este importante projectoeducativo, introduzido no ano lectivo de1995/96, mais de 60% das escolas parti-culares. Ao mesmo tempo, com o envol-vimento activo e participado de todos ossectores ligados ao ensino, foi-se operan-do, desde 1991, uma profunda reformaeducativa, visando dar ao Território o seupróprio sistema de ensino, agora em fasede consolidação.
“A formação docente – A formaçãodocente é outra área que tem merecidoparticular atenção, ao mesmo tempo quese desenvolve um novo programa deconstruções escolares. Presentemente,cerca de 700 docentes servem nas esco-las oficiais e 3.000 estão nas instituiçõeseducativas particulares dos ensinos bá-sico e secundário.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 331
“Recursos financeiros – Ao longo dosúltimos anos, a Administração de Ma-cau, beneficiando de contrapartidas noâmbito dos contratos de desenvolvimen-to da habitação e das concessões de ter-renos, tem estado a realizar um vastoprograma de novas construções escola-res, ao mesmo tempo que canaliza im-portantes verbas para o reapetrechamen-to das atuais escolas.
“Ensino superior – Uma atenção es-pecial tem vindo a ser dada ao ensinosuperior, com a criação, em 1991, daUniversidade de Macau e do InstitutoPolitécnico de Macau. A Universidadeministra mais de duas dezenas de cursosde licenciatura e está a desenvolver assuas acções de pós-graduação (mestradoe doutoramento) e o ensino superior po-litécnico, enquanto via profissionalizan-te, complementa a sua actividade. Nestenível, as medidas levadas à prática tra-duzem-se num significativo avanço nosentido da formação e valorização dequadros locais, muitos dos quais obtêmtambém formação superior fora do Ter-ritório, através de bolsas de estudo, cadavez em maior número.
“As outras instituições públicas deensino superior do Território são a Es-cola Superior das Forças de Segurançade Macau, que forma os oficiais para aPolícia de Segurança Pública, PolíciaMarítima e Fiscal e Corpo de Bombei-ros, e o Instituto de Formação Turística,que procura dotar Macau de quadros su-periores no âmbito desta importante ac-tividade do Território.
“Também funcionam no Território umInstituto de Estudos Europeus e o Institu-to Internacional de Tecnologia de Softwa-re da Universidades das Nações Unidas.
“A administração do Território apoiatambém duas instituições privadas deensino superior: a Universidade AbertaInternacional da Ásia (Macau), que mi-nistra cursos de ensino à distância, e oInstituto Inter-universitário de Macau epela Universidade Católica Portuguesa.
“No campo do ensino das línguas têmsido dados passos importantes, estandoas línguas oficiais do Território incluí-das nos planos curriculares das escolas.
“Além do Instituto Português do Ori-
ente e do Centro de Difusão de Línguasda Direcção dos Serviços de Educação eJuventude, com milhares de alunos aaprenderem português, a Televisão Edu-cativa emite diariamente, em horáriopós-laboral no canal chinês, aulas deportuguês. O objetivo é dotar os residen-tes de língua materna portuguesa do co-nhecimento mínimo da língua chinesa,sobretudo para os que pretendem conti-nuar no Território depois de 1999 e pos-sibilitar aos residentes de língua mater-na chinesa a aprendizagem do português,que continuará a ser língua oficial após1999.
“Declarada como área prioritária daacção governativa, mais de 10% da des-pesa pública (incluindo os planos de in-vestimentos da Administração) é assu-mido pela área educação”.
Para o pleno crescimento da oferta de ensi-no, foi instituída a Universidade de Macau.
11. Uma universidade trilíngüeA Universidade de Macau (UM) é um con-
junto de oito edifícios, situados na Ilha da Tai-pa, com seis unidades: Faculdade de Gestão deEmpresas; Faculdade de Ciências Sociais eHumanas; Faculdade de Ciências e Tecnolo-gia; Faculdade de Direito; Faculdade de Ciên-cias da Educação e o Instituto de Estudos Por-tugueses, equivalente a uma faculdade. Tem umCentro de Estudos Pré-Universitários e outrosde Extensão Educativa. Do ponto de vista ar-quitetônico, é uma construção vertical. Ofere-ce cursos de bacharelado, licenciatura, mestra-do e conta com mais de três mil alunos. Comotoda universidade moderna, investiga, mantémintercâmbio internacional com outros países,associa os estudantes e oferece serviços de com-putação. A Universidade distribui bolsas deestudos aos descendentes de chineses ultrama-rinos, incluindo brasileiros.
Um problema curioso é o ensino do Direi-to; com a linguagem técnico-jurídica derivadado latim, como transmiti-lo em língua chine-sa? Para Rufino Ramos, administrador e mem-bro do conselho de gestão da Universidade deMacau, quando é ministrado em língua chine-sa, tinha apoio de tradutores para os termosespecíficos, em face da peculiaridade da termi-nologia do sistema continental do direito. Igualesforço de adaptação do vocabulário era tam-

Revista de Informação Legislativa332
bém realizado quando o Direito é lecionado emportuguês para chineses. Em síntese, há licen-ciatura em Direito, em língua portuguesa, e li-cenciatura em Direito, em língua chinesa. Oensino jurídico tem a colaboração dos profes-sores das Universidades de Coimbra, Técnicade Lisboa e Nova de Lisboa. Em face do futurode Macau, o objetivo é “adotar quadros comformação jurídica adequada aos desafios doperíodo de transição, nomeadamente os relaci-onados com a permanência dos valores garan-tidos pela Declaração Conjunta” (Universida-de de Macau, 1996).
Como no Brasil, a origem do ensino supe-rior de Macau remonta aos jesuítas no séculoXVI, com o Colégio de São Paulo. Foi o pri-meiro estabelecimento de ensino a conferirgraus superiores, em Letras e Teologia, em todoo sudeste da Ásia. No Brasil, como em Macau,a expulsão dos padres da Companhia de Jesus,no século XVIII, provocou o fim da educaçãosuperior.
Na nota introdutória escrita pelo reitor, pro-fessor doutor Mário Nascimento Ferreira(1996), recolhi mais informações acadêmicas.Já neste século, uma empresa privada de HongKong fundou a Universidade da Ásia Oriental(UAO). Com o desenvolvimento social e eco-nômico, surgiu a idéia de se criar uma Univer-sidade para Macau. Na década de 80, o gover-no comprou a UAO, transformando-a confor-me as exigências da comunidade macaense.Criou-se a Universidade de Macau, em 1991,uma entidade pública de inspiração européiacom o objetivo de servir aos estudantes do Ter-ritório durante e após o período de transição,cuja Universidade, considerando as caracterís-ticas culturais de Macau, mantém os cursos emtrês línguas: português, chinês e inglês.
Acrescenta o reitor, na esclarecida introdu-ção:
“É primordial manter vivas as nos-sas relações com o mundo português, cujapresença em Macau durante mais de qua-trocentos anos deu a esta cidade longastradições e uma distinta herança cultural”;
justifica, assim, a promoção de cursos em lín-gua portuguesa, como o Direito, Língua e Li-teratura Portuguesa. Igualmente, integra-seMacau na China com vários programas lecio-nados em língua chinesa – Ciências da Educa-ção, Língua e Literatura Chinesas.
E, também pela sua vocação internacional,Macau, situando-se no delta do Rio das Péro-
las, vai mais além na bacia do Pacífico e, porisso, a Universidade cultiva a língua inglesa,como acontece nos cursos de Gestão de Em-presa, Economia, Engenharia e outros. Obser-ve-se a expressão lingüística conforme as ci-ências, confirmando Lavoisier:
“qu’on ne peut perfectionner le langua-ge sans perfectioner la science, ni la sci-ence sans le language, quelques certainsque fusset les faits (...)”.
Para concluir, com o reitor:“A comunidade que constitui a Uni-
versidade reflete a singular diversidadeétnica de Macau (chineses, portugueses,macaenses, americanos, ingleses e ou-tros). Essa situação contribui para que aUM seja uma instituição verdadeiramen-te internacional e multicultural. A UMpode, assim, assumir o papel tradicionalde Macau, onde se fundem civilizaçõese culturas”.
A visão do campus vertical, dos laboratóri-os de informática e da biblioteca satisfez a mi-nha curiosidade acadêmica. A biblioteca é100% informatizada e tem classificado o seuacervo de acordo com a Biblioteca do Congres-so. O diretor, Rodolfo Azedo, publicou A abe-lha da China, edição fac-similar da coleção dejornais de 1822 e 1823, uma edição do próprioCentro de Publicações da UM.
14. Conclusão: Macau, plataforma
para o BrasilRespondendo ao convite do Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, o governador deMacau, general Vasco Rocha Vieira, visitou oBrasil de 18 a 29 de abril de 1997. O objetivonão era firmar contratos. A vinda de uma co-mitiva de empresários macaenses que o acom-panhou deveria ter chamado a atenção dos bra-sileiros para as possibilidades oferecidas porMacau, principalmente a proximidade comHong Kong, Zuhai e outras zonas econômicasespeciais de comércio da China que podem pro-porcionar negócios lucrativos para os investi-dores brasileiros.
Rocha Vieira visualizou Macau na ligaçãoOcidente e Oriente, servindo de plataforma, noPacífico, para os países de cultura européia, emespecial aqueles de cultura lusófona, como oBrasil, interessados em investir ou em comer-cializar com a China. Macau sempre foi abri-

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 333
go e trânsito, alternativa e porta, em sintoniade propósitos e de intenções entre China e Por-tugal.
A Declaração Conjunta estabeleceu gran-des linhas, projetos ambiciosos a longo prazo.Além do que Macau conta com uma universi-dade trilíngüe – português, inglês e chinês – efaz parte de várias organizações internacionais:Organização Mundial de Comércio (COM);Comissão Econômica e Social das Nações Uni-das para a Ásia e Pacífico (ESCAP); Conselhode Cooperação Aduaneira (CCA); Organiza-ção das Nações Unidas para a Educação, Ciên-cia e Cultura (Unesco); Organização Mundialdo Turismo (OMT); Associação de Turismo daÁrea do Pacífico; Associação de Turismo daÁsia Oriental; Organização Mundial de Saúde– Comitê Regional para o Pacífico Ocidental(OMS-CRPO); Organização Marítima Interna-cional (IMO); Instituto Internacional de Esta-tística (ISI); Comitê Olímpico Asiático (COA);União Internacional dos Organismos Familia-res (UIOF) (Macau 2: 1995).
É evidente que o Brasil não precisa de Ma-cau para penetrar em Hong Kong e na China,mas o custo de produção e a competição sãomenores; bem assim, a mão-de-obra é maisacessível em Macau. Além do português con-
tinuar como língua oficial até 2049, um clarofacilitador nas transações comerciais de acor-do com o romanístico sistema do direito conti-nental adotado em Macau, Portugal e Brasil.
É preciso ter bem claro que todo investi-mento realizado em Hong Kong, Macau e naprovíncia de Guangdong (Cantão) integrar-se-á ao enorme mercado chinês depois de 1999.Assim, as oportunidades a partir de Macau,situada no estuário do Rio das Pérolas, têm fu-turo, são alvissareiras.
Os empresários brasileiros têm dois anos emeio para desenvolverem suas atividades den-tro de um esquema de livre mercado. Os acor-dos assinados entre Portugal e China privile-giaram a Região Administrativa Especial deMacau (RAEM) por um período de cinqüentaanos e será regida por um estatuto autônomo,permanecendo a atual estrutura política repre-sentativa com os poderes Executivos, Legisla-tivo e Judiciário.
Em síntese, em face da presença de Macau,na China e no Pacífico, é preciso que os brasi-leiros não percam as facilidades dessa partici-pação econômica no Oriente, como procedemno Canadá, nos Estados Unidos e no Chile, paíscom o qual o Brasil não tem fronteiras físicas,mas tem uma amizade sem limites.
Principais indicadores demográficos
Anexo I – Indicadores
1993 1994 1995
População em 31 de dezembro milhares 395,3 410,5 424,4Taxa de crescimento efetivo % +3,8 +3,9 +3,4Homens milhares 192,9 200,0 205,4Mulheres 202,4 210,5 219,0Com menos de 15 anos % 23,9 25,4 25,0De 15 a 64 anos 69,5 67,5 67,8Com 65 e mais anos 6,6 7,1 7,2
Estatísticas vitais
Nascimentos unidades 6.267 6.115 5.876
Óbitos 1.531 1.330 1.351
Casamentos 3.397 2.742 2.146
Divórcios 190 253 249Taxa de crescimento natural % 1,2 1,2 1,1Nascimentos por 1.000 hab. 16,2 15,2 14,1
Óbitos por 1.000 hab. 8,8 6,8 5,1Divórcios por 1.000 hab. 0,5 0,6 0,6
unidades

Revista de Informação Legislativa334
Nacionalidade
62,2% nacionalidade chinesa
26,7% nacionalidade portuguesa
4,1% outras nacionalidades
Língua
95,7% utilizam a língua chinesa
2,8% utiliza a língua portuguesa
Tempo de residência
36,5% residiram sempre em Macau
49,6% viveram em outros países
Local de nascimento
40,2% nasceram em Macau
50,4% nasceram na China9,4% nasceram em outros países
Fonte: Macau informações, Governo de Macau, Gabinete de Comunicação social, 1996, p. 5 e 6.
Alunos de língua materna chinesa que estudam português em instituições educativas de Macau
Anexo II – Informações sobre educação e ensino
Escolas luso-chinesas de educação pré-escolar ..........................................................................Escolas luso-chinesas de ensino primário ....................................................................................Escolas luso-chinesas secundárias ..............................................................................................Escolas privadas de língua veicular chinesa, com o apoio do Centro de Difusão de Línguas ....................................................................Escolas oficiais de língua veicular portuguesa ..............................................................................Total ...............................................................................................................................................
Só no ensino curricular Macau tem quase cem mil alunos nos vários graus de ensino e, selhes juntarmos os que freqüentam cursos de formação profissional e de educação de adultos,verificaremos que quase um terço da população do Território está na escola.
5322.120
627
4.890
3708.539
Além desses alunos, mais de seis mil outras pessoas de língua materna chinesa estudamportuguês em cursos de língua portuguesa, nos seus variados níveis, no Instituto Português doOriente e nas instituições de ensino superior.
Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino 94/95 95/96 96/97
Ensino pré-escolar (totais) 92.966 94.267 97.727Pré-escolar 20.467 19.620 18.945Básico 45.153 46.568 46.813Secundário 20.624 22.205 23.809Secundário técnico-profissional 1.189 1.233 1.368Superior* 5.533 5.641 6.792Educação especial 349 272 833
Educação de adultos** 38.456 44.002 43.639Total geral 131.771 139.541 142.199
* Além desses, mais de seiscentos fazem cursos superiores em Portugal, República Popular da Chinae outros países, como bolseiros do Território.
** Inclui cursos de formação e aperfeiçoamento de funcionários públicos, formação de trabalhadores ecursos de educação contínua.

Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998 335
BibliografiaA ABELHA da China, 1822-1823: Macau, 1994.
Edição do exemplar original do Instituto da Bi-blioteca Nacional e do Livro.
ARCANJO, Rafael. Fim do Império; Ásia; Macauquer ser porta de entrada no Oriente. O Estadode S. Paulo, São Paulo, 18 maio 1997.
ARCHER, Maria. Terras onde se fala português.Rio de Janeiro : Casa do Estudante do Brasil,1957.
BELARD, Francisco. Macau ; Propostas para o sé-culo XXI; Macau, como modelo de convivênciacultural, terá futuro? Gary Nakai e Kai CheongFok pensam que sim. Expresso, Lisboa, 6 maio1995 (entrevista).
BOAVENTURA, Edivaldo. A fórmula Macau. ATarde, Salvador, 24 abr. 1997. Opinião, p. 6.
__________. Macau de pedra e cal. A Tarde, Salvador,30 jul. 1997, Cad. A Tarde Turismo.
CAMÕES, Luís de. Os Lusíadas. Lisboa : ParceriaAntonio Maria Pereira, 1905.
CHACON, Vamireh. Goa e Macau: diário de umaviagem aos confins da luso-tropicalidade. Reci-fe : Fundação Joaquim Nabuco; Rio de Janeiro :Civilização Brasileira, 1995.
CHINA. Conselho Consultivo. Lei Básica da Re-gião Administrativa Especial de Macau da Re-pública Popular da China. Macau : Companhiade Tipografia San Ngai de Macau, 1993.
DURÃO, Luís António. A política da salvaguardado patrimônio em Macau. Macau, 1997. (xe-rox).
__________. De pedra e cal; Macau : a sedução da dife-rença. M.s., 1995, p. 5-15.
FERREIRA, Mário Nascimento. Universidade deMacau, Macau, 1996. Nota introdutória peloReitor.
FREYRE, Gilberto. Aventura e rotina. Rio de Ja-neiro, 1953.
__________. O mundo que o português criou. Rio deJaneiro, 1940.
HENG, Ho Wai. Macau 4: uma economia de char-neira. Macau : Direcção dos Serviços de Turis-mo, 1995. p. 5-7: Macau cresce com os vizinhos.
JOSÉ, Carlos Moraes. “O poeta no seu santuário(Camilo Pessanha)”. JL/Macau, a. 16, n. 687,p. 10-11, fev. 1997.
LIMA, Simone. Macau, um tigre asiático portugu-ês. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 27 abr.1997.
MACANESE. Culinary Delights. [s.d.].__________. Assembléia Legislativa. 20 anos da Assem-
bléia Legislativa de Macau : 1976-1996. Ma-cau : Tipografia Martinho, 1996.
MACAU 1 : um legado para o futuro. Macau : Di-recção dos Serviços de Turismo, 1995.
MACAU 2 : os desafios da transição. Macau : Di-recção dos Serviços de Turismo, 1995.
MACAU 3 : à flor da pele. Macau : Direcção dosServiços de Turismo, 1995.
MACAU 4 : uma economia de charneca. Macau :Direcção dos Serviços de Turismo, 1995.
MACAU 5 : a sedução da diferença. Macau : Direc-ção dos Serviços de Turismo, 1995.
MACAU. Textos de Wenceslau de Moraes; Prefá-cio e seleção de textos de Eugênio de Andrade ;Poesias de Camilo Pessanha, Fernando Pessoa ;Fotografias de Ana Esquível. Macau, 1995.
MACAU. informação. Macau, 1996.MACAU oferece acesso ao imenso mercado chinês.
O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 abr. 1997.
MARGOLIS, Mac. Hong Kong, China : a volta dafilha próspera. Ícaro Brasil, Rio de Janeiro, n.152, p. 29-41, 1997.
PESSANHA, Camilo. Contos, crônicas, cartas es-colhidas e textos de temática chinesa. [s.l.] : Pu-blicações Europa-América, 1988: Macau e agruta de Camões.
PINTO, Fernão Mendes. Peregrinação : aventurasextraordinárias de um português no Oriente.Adaptação de Aquilino Ribeiro ; Ilustrações deMartins Barata. 12. ed. Lisboa : Sá da Costa,1994.
PIRES, Benjamin Videira. Macau 5 : a sedução dadiferença. Macau, Direcção dos Serviços de Tu-rismo, 1995. p. 19-21: As influências mútuasportuguesas e chinesas.
QUINTO Império. Revista de cultura e literatura elíngua portuguesa, Salvador, v. 1, n. 7, 1996.
RANGEL, Jorge. A língua e a cultura portuguesaem Macau e as instituições ao seu serviço nopresente e no futuro. Confluência, revista do Ins-tituto de Língua Portuguesa. Rio de Janeiro,[s.d.]. Separata.
RODRIGUES, Jorge Nascimento. Macau 4 : umaeconomia de charneca. Macau : Direcção dosServiços de Turismo, 1995. p. 10-11: Passapor-te para a China
SPITZCOVSKY, Jaime. Pequeno Tigre : última co-lônia portuguesa, no sul da China, investe emcassinos e turismo antes de voltar ao controlechinês. Folha de S. Paulo, São Paulo, 20 abr.1997. Mundo, p. 21.
UNIVERSIDADE DE MACAU. Relatório de ativi-dades 1995.
__________. Universidade de Macau. 1996.