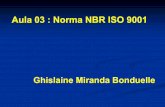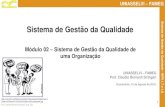UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA –...
Transcript of UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA –...
1
UNIVERSIDADE DE BRASLIA UnB
MESTRADO EM CINCIAS DA SADE
VALDEMAR MEIRA DE OLIVEIRA
QUALIDADE DE VIDA DE PROTETIZADOS DE MEMBROS INFERIORES:
ESTUDO RETROSPECTIVO
Braslia (DF), 2009.
2
UNIVERSIDADE DE BRASLIA UnB
MESTRADO EM CINCIAS DA SADE
VALDEMAR MEIRA DE OLIVEIRA
QUALIDADE DE VIDA DOS PROTETIZADOS DE MEMBROS INFERIORES:
ESTUDO RETROSPECTIVO
Dissertao apresentada como requisito parcial
para obteno do ttulo de Mestre em Cincias
da Sade pelo Programa de Ps-Graduao
Strictu Sensu em Cincias da Sade da
Universidade de Braslia.
Orientador: Prof Doutor Demstenes Moreira.
Braslia (DF), 2009
3
VALDEMAR MEIRA DE OLIVEIRA
QUALIDADE DE VIDA DOS PROTETIZADOS DE MEMBROS INFERIORES:
ESTUDO RETROSPECTIVO
Dissertao como requisito parcial para a
obteno do ttulo de Mestre em Cincias da
Sade pelo Programa de Ps-Graduao Strictu
Sensu em Cincias da Sade da Universidade
de Braslia.
Aprovado em ____/____/_____.
BANCA EXAMINADORA
Professor Doutor Demstenes Moreira UnB Universidade de Braslia
Professor Doutor Jnatas de Frana Barros UnB Universidade de Braslia
Professor Doutor Ramon Fabian Alonso Lopes UnB Universidade de Braslia
4
Dedico este trabalho minha me,
Sebastiana, que sempre est a meu lado, e
ao meu pai, Octvio, que j no est entre
ns, mas que empenhou toda sua vida para
a realizao de momentos como este.
5
AGRADECIMENTOS
A Deus, pelo simples fato de estarmos aqui.
minha famlia, pelo apoio incondicional em todos os momentos.
Aos meus pacientes, objetos de meu estudo, que se doaram sem exigir trocas.
A meu orientador, Professor Demstenes Moreira, por ter me conduzido at o final, mesmo com todas as dificuldades.
Ao Professor Jnatas de Barros Frana, mesmo sem ser meu orientador, me enriqueceu com sbios conselhos e me estimulou, quando eu mesmo j esmorecia. Obrigado.
Aos demais membros da banca, Professor Ramon Fabian Alonso Lopes e Professor Paulo Henrique Azevdo.
Aos meus amigos, verdadeiros portos seguros em horas tempestuosas, suportaram tudo comigo, calados. Obrigado a vocs.
Aos meus colegas de trabalho na Faculdade Unio de Goyazes, me deram suporte necessrio para que eu conseguisse chegar ate aqui.
Aos meus colegas da ps-graduao, pelo privilgio do convvio. queles que conseguiram e mesmo os que ainda no conseguiram, obrigado.
Ao meu amigo, Carlos Augusto de Oliveira Botelho, juntamente com minha irm, Cida, pelo incentivo, sempre com uma palavra de apoio.
As minhas amigas Katescia Verssimo e Ana Lcia Rosiak, que nunca mediram esforos para que eu tivesse acesso aos dados alimentadores da pesquisa.
6
A meus amigos Ali Kalil, Joo Luiz e Jos dos Reis, j mestres, sempre tentando minimizar os meus esforos, um grande obrigado.
A meu amigo Wilson de Paiva, sempre me auxiliando nas tradues e aconselhamentos.
A minha sobrinha Flvia, pelas aulas de estatstica e suporte na anlise dos dados.
Aos amigos Carolina, rsula, Benigno e Hlio, sempre me ajudando em fases complicadas da pesquisa.
minha amiga Dris de Ftima, pelo apoio, conselhos e pela correo ortogrfica, to necessria.
Aos funcionrios e Diretoria da Vila So Cottolengo, pelo apoio sempre que precisei.
Aos meus alunos, que me auxiliaram quando foi necessrio e souberam pacientemente suportar minhas falhas nestes ltimos meses, que no foram fceis.
7
Enquanto tu e eu tivermos lbios ou vozes que
Servem para beijar e cantar
Que importa que qualquer filho da me
Invente um instrumento para medir a primavera.
E. E. Cummings.
8
Resumo:
O presente estudo tem por objetivo delinear um perfil da qualidade de vida em
protetizados de membros inferiores, por meio de questionrio validado, atendidos no
ambulatrio do Hospital da Vila So Jos Bento Cottolengo em um perodo
retrospectivo de 02 (dois) anos. A pontuao dos escores da aplicao do
questionrio foi realizada com o programa estatstico SPSS (Statistical Package os
the Social Sciences). Trata-se de estudo com caractersticas do tipo coorte
retrospectivo qualitativo. Uma vez contatados, foram submetidos a um questionrio
especfico para pesquisa de qualidade de vida, o WHOQOL bref. Em um contexto
geral, os paciente pesquisados apresentam uma Qualidade de Vida de mediana a
boa, pois se consideram amparados por situao civil estvel, relaes interpessoais
seguras, possuem renda, advinda de aposentadoria ou trabalho, apreciam seu
domicilio e locomovem-se bem. Como pontos negativos, temos a no aceitao de
seu aspecto fsico, pouca satisfao com seu desempenho profissional, com servio
de sade pblico, transportes e presena freqente de sentimentos negativos. Com
o estudo destes pacientes, em todas as suas variveis, temos subsdios para
implementar programas educativos em sade pblica e privada, utilizando centros
de difuso de idias como Universidades, Escolas, Hospitais, Postos de Sade,
Creches, Instituies Asilares objetivando a preveno de agravos importantes,
que podero ultimar em seqelas irreversveis como as amputaes.
Palavras-chave: Qualidade de vida; membros inferiores; protetizados;
amputaes.
9
Abstract
The studying present main objective is to evaluate the quality of life of lower
limb amputees, through specified interviews (with questionnaires) among patients
under treatment at Vila So Jos Bento Cottolengo hospital, in Trindade/Go (Brazil), in
a retrospective time of 02 (two) years. The study type is the qualitative and
retrospective cohort. Once contacted, the patients were submitted to a questionnaire
to survey the quality of life, in a general context, the people surveyed have a Quality of
Life from median to good. They consider themselves backed by stable civil situation,
secure interpersonal relationships, income from retirement or job, they enjoy their
home and move around without difficulties. As negative aspects, we may mention the
frustration and rejection of their physical appearance, poor satisfaction with their
professional performance, with the public health service and transport, as well as
frequent negative feelings. By studying these patients, in all its variations, we achier
way to implement education programs on public and private health, using ideological
institutions - such as universities, schools, hospitals, health centers, kindergartens,
nursing homes, etc. The focus of this action is the prevention of most hazardous
injuries, which may ultimately lead to irreversible damage, as amputations.
Key words: Quality of life; low limb; amputee; amputations.
10
LISTA DE ILUSTRAES
Figura 01 - Nveis mais utilizados para amputaes em pacientes portadores de
insuficincia arterial ............................................................................ 30
Figura 02. A e B - Demonstrao do uso da tcnica de paraquedas para evitar retraes de pele ................................................................................ 37
Figura 03 - Espcula ssea .................................................................................... 38
Figura 04 - Paciente com quadro neuroptico importante. Indicao eletiva
visando funcionalidade .......................................................................................... 42
Figura 05 - Sarcoma de Ewing. Exemplo de urgncia .......................................... 42
Figura 06 - Desarticulao interfalangeana ........................................................... 44
Figura 07 - Amputao do hlux com manuteno da falange proximal e desarticulao do 2, 3 e 4 dedos ....................................................................... 44
Figura 08 - Desarticulao metatarsofalangeana .................................................. 45
Figura 09 - lcera plantar causada por hiperpresso ........................................... 45
Figura 10 - Amputao transmetatarsiana ............................................................ 46
Figura 11 - Amputao de Lisfranc ....................................................................... 46
Figura 12 - Paciente com amputao de Lisfranc ................................................ 46
Figura 13 Desarticulao naviculocuneiforme e transcubide .......................... 47
Figura 14 Amputao de chopart ....................................................................... 48
Figura 15 Chopart: vista lateral .......................................................................... 48
Figura 16 Amputao de syme ........................................................................... 49
Figura 17 Viso radiogrfica mostrando superfcie ssea plana, ideal para descarga distal ...................................................................................................... 49
Figura 18 - Amputao de Pirogoff ........................................................................ 50
Figura 19 - Amputao transtibial longa ................................................................ 51
Figura 20 - Amputao transtibial tero mdio ...................................................... 51
Figura 21 - Amputao transtibial curta ................................................................. 51
Figura 22 Viso radiogrfica em incidncia ntero-posterior e perfil .................. 51
Figura 23 e 24 Desarticulaes de joelho .......................................................... 54
Figura 25 - Amputao transfemoral cicatrizao distal ..................................... 56
11
Figura 26 - Amputao transfemoral viso radiogrfica ..................................... 56
Figura 27 Coto transfemoral curto ...................................................................... 56
Figura 28 - Coto transfemoral longo ...................................................................... 56
Figura 29 Desarticulao do quadril ................................................................... 58
Figura 30 Desarticulao sacroilaca (hemipelvectomia) vista radiogrfica ....... 58
Figura 31 A, B e C - Falha da formao anomalia transversal ........................... 61
Figura 32 A, B e C Falha da formao anomalia longitudinal .......................... 62
Figura 33 Prtese exoesqueltica ...................................................................... 63
Figura 34 Prtese endoesqueltica .................................................................... 64
Figura 35 Encaixe .............................................................................................. 65
Figura 36 e 37 Joelhos ........................................................................................ 66
Figura 38 e 39 Ps articulado e no articulado (sach) ........................................ 67
Figura 40 Articulao do quadril ......................................................................... 68
12
LISTA DE TABELAS
Tabela 01 - Avaliao do membro com obstruo arterial aguda quanto capacidade de recuperao com a revascularizao do membro ...... 29
Tabela 02 - Preveno para complicaes em ps neuropticos ......................... 34
Tabela 03 - Classificao das anomalias congnitas ............................................ 60
Tabela 04 - Profisso ............................................................................................ 77
Tabela 05 - Tipo de prteses utilizadas ................................................................. 82
13
LISTA DE GRFICOS
Grfico 01 Faixa etria ....................................................................................... 76
Grfico 02 - Escolaridade ...................................................................................... 78
Grfico 03 - Situao civil ...................................................................................... 79
Grfico 04 - Nvel de amputao ........................................................................... 80
Grfico 05 Etiologia ............................................................................................ 81
Grfico 06 - Avaliao da qualidade de vida ......................................................... 83
Grfico 07 Avaliao com sade geral............................................................. .. 84
Grfico 08 Aceitao com a aparncia fsica ..................................................... 86
Grfico 09 Avaliao sobre atividades de lazer.............................................. .... 87
Grfico 10 Avaliao de sua locomoo............................................................. 88
Grfico 11 Avaliao quanto capacidade de trabalho...................................... 89
Grfico 12 - Avaliao quanto ao apoio dos amigos.............................................. 90
Grfico 13 Avaliao de satisfao com os servios de sade.......................... 91
Grfico 14 Avaliao quanto freqncia dos sentimentos negativos............... 92
14
SUMRIO
1. - INTRODUO ................................................................................................ 16
2. OBJETIVO ..................................................................................................... 18
2.1. HIPTESES DO ESTUDO .......................................................................... 18
2.4. RELEVNCIA DO ESTUDO ....................................................................... 18
3 REVISES DA LITERATURA ........................................................................ 20
3.1 - ETIOLOGIAS ................................................................................................ 26
3.1.1 Vasculares ............................................................................................... 26
3.1.2 Neuropticas ............................................................................................ 32
3.1.3 Traumticas ............................................................................................. 35
3.1.4 Neoplsicas ............................................................................................. 38
3.1.5 Infecciosas........................................................................................... ..... 40
3.1.6 Congnitas ............................................................................................... 41
3.1.7 Iatrognicas ............................................................................................. 41
3.2 INDICAES ............................................................................................... 41
3.3 NVEIS DE AMPUTAO ............................................................................ 42
3.3.1 Desarticulao interfalangeana ............................................................. 44
3.3.2 Desarticulao metatarsofalangeana .................................................... 45
3.3.3. - Amputao transmetatarsiana ............................................................... 46
3.3.4 Amputao de Lisfranc ........................................................................... 46
3.3.5 Desarticulao naviculocuneiforme e transcubide ............................ 47
3.3.6. Amputao de Chopart .......................................................................... 48
3.3.7 Amputao de Syme ............................................................................... 49
3.3.8. Amputao de Pirogoff .......................................................................... 50
3.3.9. Amputao de Boyd ............................................................................... 50
3.3.10 Amputao transtibial ........................................................................... 51
3.3.11 Desarticulao do joelho ...................................................................... 54
3.3.12 Amputao transfemoral ...................................................................... 56
15
3.3.13 Desarticulao do Quadril .................................................................... 58
3.3.14 Desarticulao Sacroilaca (hemipelvectomia) ................................... 58
3.3.15 Anomalias Congnitas ......................................................................... 59
3.3.15.1 Anomalias Transversais ....................................................................... 61
3.3.15.2 Anomalias Longitudinais ....................................................................... 61
3.4 PRTESES PARA MEMBROS INFERIORES ............................................. 62
3.4.1 - Tipos de Prteses .................................................................................... 62
3.4.1.1 Prteses Exoesquelticas ...................................................................... 63
3.4.1.2 Prteses Endoesquelticas .................................................................... 64
3.4.2 Componentes Protticos ........................................................................ 65
3.4.2.1 Encaixes ................................................................................................. 65
3.4.2.2 Joelhos ................................................................................................... 66
3.4.2.3 Ps ......................................................................................................... 67
3.4.2.4 Quadril .................................................................................................... 68
3.4.3 Indicaes ................................................................................................ 68
4 MATERIAIS E MTODOS .............................................................................. 72
4.1 DELINEAMENTO DO MTODO .................................................................. 72
4.2 POPULAO E AMOSTRA ......................................................................... 72
4.3 CRITRIOS DE SELEO .......................................................................... 72
4.3.1 Critrios de Incluso ............................................................................... 72
4.3.2 Critrios de Excluso .............................................................................. 73
4.4 PROCEDIMENTOS DIDTICOS ................................................................. 73
4.5 COMIT DE TICA ...................................................................................... 74
4.6 TRATAMENTO ESTATSTICO ................................................................... 75
4.6.1 Caractersticas dos Indivduos .............................................................. 75
5 RESULTADOS E DISCUSSO ...................................................................... 83
6 CONCLUSO ................................................................................................. 93
7 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ............................................................... 95
8 ANEXOS ....................................................................................................... 102
16
1 INTRODUO
A perspectiva de aumento da mdia de vida do homem moderno traz em
contrapartida questes importantes para se ponderar. A populao mundial est
envelhecendo. Com esse ganho de sobrevida temos tambm uma maior exposio,
tanto s consequncias do envelhecimento como as agresses prprias do meio.
O cotidiano nos traz a urgncia de sua rotina, a necessidade de velocidade
para resolver questes corriqueiras, onde vamos utilizar para o transporte mquinas
cada vez mais eficientes em sua funo, como motocicletas e automveis, e que,
mal utilizados, podem levar a traumas com conseqncias s vezes irreversveis
como as amputaes. O processo de envelhecimento outra faceta que, apesar do
aumento de vida mdia do homem, muito mal conhecido fora dos meios
acadmicos, essa falta de conhecimento aliada ausncia de medidas preventivas
bsicas em seu dia-a-dia deixa o homem merc de alteraes metablicas, que se
no controladas, podem evoluir para patologias de espectro sinistro como as
vasculopatias e o diabetes mellitus.
Enfim, tudo o que se buscou foi proporcionar ao ser humano, com os ganhos
conseguidos com os avanos tecnolgicos, melhoria em sua qualidade de vida e
menos esforos em suas atividades cotidianas. Mas por autoconfiana ou ausncia
de conhecimento de sua prpria fisiologia, o homem caminha para agravos como as
amputaes, que vo alterar a rotina de todos que participam de suas relaes
interpessoais, impondo a elas um modus vivendi especial para contornar os novos
acontecimentos.
O paciente que sofre uma perda irremedivel de segmentos corporais devido
multicausalidades, passa pelo processo de protetizao buscando funcionalidade,
fim de dores insuportveis, esttica, enfim, solues definitivas para um quadro
aflitivo.
Quando se entra no estudo da qualidade de vida de pessoas que foram
profundamente marcadas pela perda, necessria ou imprevista de membros,
surpresas podero acontecer, pois ao mesmo tempo em que o indivduo sofre com o
que ele considera mutilao, acontece o ressurgimento de uma srie de conceitos,
17
como a valorizao da famlia, a superao das dificuldades, a alternncia de
sentimentos negativos e positivos a sua prpria aceitao com a nova situao, pois
agora est com srias limitaes se comparadas com sua vida antes do agravo.
Era um indivduo ativo, produtivo, inserido num contexto scio-econmico
importante. Fica a indagao: como est a qualidade de vida da pessoa que sofreu
amputao e consegue uma prtese? Essa protetizao trouxe melhoria em sua
qualidade de vida?
necessrio conhecer todos os constructos objetivos e subjetivos presentes
no processo da protetizao para que se possa pensar em reinsero definitiva do
indivduo.
Assim, diante das questes levantadas, visando possibilitar aos profissionais
e acadmicos envolvidos no processo de protetizao, suscitar reflexes e servir de
subsdios para a melhora da qualidade de vida desses indivduos, estabelecemos
como objetivo:
18
2 OBJETIVO
Delinear um perfil da qualidade de vida em protetizados de membros
inferiores, atendidos no ambulatrio do Hospital da Vila So Jos Bento Cottolengo
em um perodo retrospectivo de 02 (dois) anos.
2.1 HIPTESES DO ESTUDO
Ho. A protetizao trouxe melhoria da qualidade de vida aos amputados de
membros inferiores?
Segundo Cianciarullo et al. (1998) A qualidade de vida um espelho que
reflete os resultados dos servios de sade prestados ao cliente, principalmente por
serem determinantes pelo processo da doena ou agravos, como pelos
procedimentos vinculados para o seu tratamento, cuidados e cura.
2.2 RELEVNCIA DO ESTUDO
A pesquisa realizada possui relevncia social, pois o pblico alvo o atendido
pela rede SIA-SUS e trata-se de indivduos outrora ativos, produtivos, agora
inseridos em um contexto marginal. Resende et al. (2007) concordam que a
reinsero social fundamental. Relevncia cientfica, pois o processo de
dispensao1 ainda no totalmente monitorado e deve ser acompanhado de um
controle de qualidade por meio da avaliao da qualidade de vida e satisfao.
(SEIDL et al. 2004). Relevncia financeira, os custos das internaes e o nus social
constituem um grave problema de sade. So responsveis por internaes
prolongadas e de custo elevado, o que no compatvel com o sistema pblico de
sade do nosso pas (MILMAN et al. 2001).
Assim, o problema tem trs vertentes, uma que se refere ao delineamento de
um perfil sociocultural do paciente, a correta destinao da prtese em sua
1 Processo que envolve desde a triagem at a entrega do aparelho.
19
finalidade de promover a melhoria da qualidade de vida do paciente, com plena
satisfao com sua situao atual, e o montante financeiro investido numa ao que
pode acarretar em resultados ineficazes.
20
3 REVISO DA LITERATURA
O conceito de qualidade de vida foi introduzido na medicina em uma poca em
que os desfechos mdicos tradicionais, como mortalidade e morbidade, estavam
sendo criticados por terem um foco muito restrito e, por isso, no conseguir
representar um grande nmero de outros desfechos potenciais, que, tambm so
relevantes tanto para a medicina quanto para outras reas. (FLECK, 2008).
O ponto de partida para vrias definies da qualidade de vida relacionada
sade foi a conhecida definio da Organizao Mundial de Sade (1958) em que
sade um estado de completo bem estar fsico, mental e social, e no
simplesmente a ausncia de doena ou enfermidade.
J Gill e Feinstein (1994) fazem o diferencial de qualidade de vida e status de
sade ao afirmarem que qualidade de vida, ao invs de ser uma descrio do status
de sade, um reflexo da maneira como o paciente reage ao seu status de sade e
a outros aspectos no mdicos de sua vida.
A definio proposta pela Organizao Mundial de Sade a que melhor
traduz a abrangncia do constructo qualidade de vida como a percepo do
indivduo de sua posio na vida, no contexto de sua cultura e no sistema de valores
em que vive e em relao a suas expectativas, seus padres e suas preocupaes.
Considerando o conceito de qualidade de vida como um conceito bastante
amplo, que incorpora de forma complexa a sade fsica, o estado psicolgico, o nvel
de independncia, as relaes sociais, as crenas pessoais e a relao com os
aspectos significativos do meio ambiente (The WHOQOL Group, 1995).
Fleck (2008) conclui em sua avaliao para a qualidade de vida que a
introduo do conceito da qualidade de vida foi uma importante contribuio para as
medidas de desfecho em sade. Por sua natureza abrangente e por estar
intrinsecamente ligado quilo que o prprio indivduo sente e percebe, tem um valor
intrnseco e intuitivo. Est intimamente relacionado a um dos anseios bsicos do ser
humano, que o de viver e de sentir-se bem.
21
Na rea da sade, o interesse pelo conceito qualidade de vida relativamente
recente e decorre, em parte, dos novos paradigmas que tm influenciado as polticas
e as prticas do setor nas ltimas dcadas. Os determinantes e condicionantes do
processo sade-doena so multifatoriais e complexos. Assim, sade e doena
configuram processos compreendidos como um continuum, relacionados aos
aspectos econmicos, socioculturais, experincia pessoal e estilos de vida.
Consoante essa mudana de paradigma, a melhoria da qualidade de vida
passou a ser um dos resultados esperados, tanto das prticas assistenciais quanto
das polticas pblicas para o setor nos campos da promoo da sade e da
preveno de doenas (SEIDL et al. 2004).
Quando se prope discutir qualidade de vida, inevitavelmente vamos esbarrar
em dois grandes modelos tericos, o modelo da satisfao, ou seja, desenvolvido a
partir da satisfao e do bem estar e o modelo funcionalista em que para se ter uma
boa qualidade de vida tudo precisa estar funcionando bem. Ainda se discute
bastante a respeito. Existe ainda uma srie de constructos afins bastante difceis de
serem claramente definidos, como status de sade, deficincia, incapacidade,
desvantagem, felicidade, satisfao, bem estar, cujos limites muitas vezes se
mesclam Fleck (2008).
Diogo (2003) contribui alegando que condies subjetivas, dizem respeito ao
bem-estar psicolgico, ou seja, s experincias pessoais, aos estados internos que
podem ser manifestados por meio de sentimentos, s reaes afetivas e aos
construtos psicolgicos como felicidade, satisfao, sade mental, senso de
controle, competncia social, estresse e sade percebida.
O suporte social e a rede de relaes sociais favorecem o bem-estar de
pessoas, com ou sem deficincia, os relacionamentos so particularmente benficos
para a manuteno da sade mental, pois atendem as necessidades afetivas e
emocionais dos envolvidos. O apoio social um fator que contribui na perspectiva
de um futuro prspero, pois a partir do apoio recebido seja de amigos, familiares e
outros grupos de apoio, as pessoas tm a possibilidade de contornarem as
situaes estressantes, visando valorizao da satisfao com a vida e
promovendo um novo olhar sobre a reabilitao de pessoas com amputao de
membros (RESENDE et al. 2007).
22
Matheus et al. (2006), em seu ensaio buscando mobilizar-se para a vida
apesar da dor ou da amputao representa e demonstra a ao do paciente para
viver e sentir-se vivo tanto em nvel concreto como simblico, mesmo sentindo a dor
intensa decorrente da doena arterial obstrutiva crnica ou tendo seu membro
amputado. Tambm esclarece que este um movimento contnuo e incessante, ou
seja, de busca, pois, suas estratgias nem sempre alcanam o sucesso desejado,
assim como, explica que a sua mobilizao pode ser maior ou menor, dependendo
da disposio interna que tem e encontra, para ultrapassar os inmeros desafios e
conseqncias de conviver com a doena/agravo.
O pensamento dos autores clarifica a idia da busca de uma qualidade de
vida do paciente amputado, qualquer que seja a etiologia, quando menciona em
suas citaes fenomenolgicas: procurando transcender a dor revela a ao e a
fora que o paciente faz para reger sua vida e no permitir ser condicionado pela
dor (MATHEUS, et al. 2006).
Nas pesquisas sobre o desenvolvimento dos protetizados, existe consenso
sobre a influncia direta que as condies objetivas e subjetivas exercem sobre a
qualidade de vida dos protetizados. A qualidade de vida um evento determinado
por mltiplos fatores, os quais nem sempre so fceis de serem cientificamente
avaliados. Um importante indicador da qualidade de vida a capacidade funcional,
que pode ser mais preditiva do estado de sade do que os prprios diagnsticos
mdicos. Entre os fatores objetivos, destacam-se condies de sade, relaes
sociais, grau de escolaridade, realizao de trabalho, obteno de renda, atividades
esportivas, como a natao. Pesquisas mostram que o bem-estar fsico objetivo
est diretamente relacionado ausncia de doena ou de comprometimento,
mesmo que leve, da capacidade funcional e do conforto; portanto, uma boa sade
fsica seria um forte indicativo de bem-estar psicolgico satisfatrio. Entre os fatores
subjetivos esto a espiritualidade, sentimentos, auto-estima, imagem corporal
(CHAMLIAN, 2007).
A amputao o procedimento cirrgico mais antigo e significa retirada,
geralmente cirrgica, total ou parcial de um membro. A amputao no deve ser
considerada como um fim, e sim como o incio de uma nova fase, que tem como
23
maior objetivo manter e/ou devolver a dignidade e funcionalidade do paciente
(CARVALHO, 2003).
Quando o tratamento clnico ou os procedimentos conservadores no
impedem a progresso da patologia, o paciente se v numa situao arrasadora.
O ato operatrio da amputao sempre foi visto negativamente como um
estigma, tanto pelo paciente como por seus familiares e at mesmo por toda a
equipe de sade. Esta cirurgia, no entanto somente dever ser realizada em
ocasies extremas, em que a vida ou a qualidade de vida do paciente esto em jogo
(CARVALHO, 2003).
A mutilao torna-se real quando o mdico comunica que a amputao
inevitvel e, inclusive corre risco de vida se no aceitar este tratamento. Neste novo
contexto, pelo menos do ponto de vista de uma realidade que no pode ser negada,
o paciente comea a ponderar suas alternativas apesar do mdico ter sido definitivo
na soluo de seu tratamento. Como nenhuma das opes, segundo o paciente ,
ao menos, satisfatria, ele se sente condenado (MATHEUS et al. 2006).
Carvalho (2003) acredita que de todas as amputaes, as de membros
inferiores ocorrem em 80% dos casos, sendo suas causas mais comuns so a
insuficincia vascular perifrica como conseqncia de diabetes, aterosclerose,
embolias, tromboses arteriais, traumatismos e tumores malignos, opinio
compartilhada por Agne34567 et al. (2004), que em seu estudo junto ao Hospital
Universitrio de Santa Maria-Rs, comprovam que as amputaes realizadas em sua
maioria apresentavam causas vasculares e metablicas, sendo a incidncia maior
no sexo masculino. Chamlian et al. (2003) corroboram das mesmas afirmaes em
seus estudos junto a amputados no Lar Escola So Francisco, e ainda que a
amputao transfemoral seja predominante no grupo. Saidel et al. (2008) em seu
trabalho no Hospital Universitrio de Maring-Pr. infere que a incidncia de
amputao de membros inferiores foi maior no sexo masculino e teve como principal
causa a doena aterosclertica. J Nunes et al. (2006), afirmam que um dos fatores
predisponentes para a amputao de membros inferiores a presena de diabetes
melittus. Afirma mais que a gravidade da leso pode ser considerada um fator
significativo para a determinao da possibilidade da amputao. Gamba (2004)
24
associa a amputao e o hbito de fumar. Alerta que nos grupos de preveno
controle e tratamento do diabetes mellitus pouco se tem realizado para os
dependentes do fumo e lcool.
Cosson et al. (2006), em seus estudos com ps diabticos comprovam que a
populao desconhece as medidas preventivas do p diabtico e do controle
glicmico. A utilizao de programas de educao, facilmente reprodutveis nos
centros de sade, pode, segundo o autor, colaborar na reduo das taxas de
amputao de membros inferiores em pacientes com diabetes mellitus. Rocha et al.
(2009) concordam, afirmando que as pessoas diabticas no reconhecem a
dimenso do risco real com relao aos ps. O conhecimento referido nem sempre
se traduz na adoo de aes de autocuidado para a preveno de problemas
relacionados aos ps. Esta realidade aponta para a necessidade de considerarmos
as particularidades de cada sujeito e sua interao com o ambiente, para
delineamento das intervenes educativas. Milman et al. (2001) em sua avaliao
quanto ao custo hospitalar mostram que os pacientes com complicaes do diabetes
mellitus (ps diabticos) so causa freqente de internaes hospitalares. Os custos
destas internaes e o nus social constituem um grave problema de sade. Os
pacientes portadores de leses nos ps so responsveis por internaes
prolongadas e de custo elevado, o que no compatvel com o sistema pblico de
sade do nosso pas. Assim, a preveno um dos pontos fundamentais para
melhorar o prognstico desta patologia.
A deficincia fsica (amputao) e sua marca corporal evidenciam a diferena
entre o inteiro e o fragmentado, o perfeito e o imperfeito, e est carregada de
estigmas e valores preconceituosos, o que coloca o deficiente fsico (amputado) s
margens da sociedade. H receios velados quanto s provveis conseqncias da
vinculao ou convvio com o deficiente. Para muitos, a aproximao com o
deficiente fsico traz a dor de um possvel futuro que ningum quer para si, traz
ameaa tranqilidade, ao bem-estar, ao sentido de esttica e segurana pessoal
e familiar (DE BENEDETTO, 2002).
Chini et al. (2007), em seu estudo sobre a percepo de quem vivencia a
amputao diz que a mesma dotada de sentimentos ambguos que interagem
entre si e permanecem unidos, permeando a existncia, no pr-operatrio, durante a
25
hospitalizao e, possivelmente, aps a alta. Perder parte do corpo doloroso e
impe um novo modo de viver, de estar-no-mundo e se relacionar com ele, exigindo
um redimensionar, pois o corpo foi afetado e, conseqentemente, a percepo do
mundo e das coisas. Por mais que seja difcil ou doloroso ser uma pessoa
amputada, o paciente se rende situao limite/limitante em que se encontra, na
doena crnica, e opta pela realizao da cirurgia, com esperana de acabar com a
dor fsica ou de se manter no mundo, afastando a idia de morte prxima. Diz ainda
que na relao com o mundo, ao se questionar uma parte do corpo que no mais
existe, haver uma resposta real e no mais ideal ou habitual. Essa nova realidade
gera medo, dor, angstia, pois ter que se readaptar a um novo modo de existir e
transpor barreiras em direo s possibilidades reais , num primeiro momento, algo
complexo e difcil.
Cavalcanti (1991), em sua tese de doutorado diz que a adaptao
psicossocial da pessoa amputada encontra-se fortemente determinada pelo seu
modo de reagir a doena e defrontar-se com a cirurgia. Na ausncia de um
planejamento de reabilitao fsica e de chances de reintegrao social, as
conseqncias esperadas da perda do membro so, para a maioria, a manuteno
das limitaes j vivenciadas em relao doena. A comunicao estabelecida
com a equipe mdica foi sentida insuficiente para esclarecimento de dvidas e
tranquilizao dos temores.
Segundo Katz et al. (2008), a populao idosa aumenta gradativamente no
Brasil; em 1980 os idosos compunham 6,1% da populao brasileira, no senso de
1991 correspondiam a 7,3% do contingente populacional, representando aumento
de 21,3% em perodo de dez anos. A projeo para 2010 de 10% da populao
nacional. Por volta de 2050, a populao de indivduos idosos em pases
desenvolvidos dever dobrar, e triplicar em pases em desenvolvimento.
Ainda Katz et al. (2008), afirmam que os fatores preditivos - idade, doenas
pr-existentes, fisiologia de resposta ao trauma, complicaes ps-operatrias, tipo
de trauma - e a epidemiologia do trauma no idoso tm apresentado modificaes
significativas na literatura, indicando claramente mudanas de padro quanto ao
tempo e quanto regio analisada.
26
Diogo (2003), diz que no basta somente a indicao de uma prtese, mas
investimentos sejam de naturezas assistenciais, sociais e educativas, direcionados
reabilitao de idosos, tambm sofrem a influncia do agesmo, perpetuando o mito
de que pessoas idosas tm menor potencial para a reabilitao. No podemos
generalizar, pois os idosos constituem grupo heterogneo, cujas caractersticas
individuais devem ser consideradas na reabilitao. E segundo Moraes et al (2004),
o uso da prtese por pacientes geritricos pode promover maior independncia e
aumento da expectativa de vida.
Lapa et al. (2006), nos mostra que o projeto brasileiro de eliminao da
hansenase, outra causustica importante para amputaes de membros inferiores,
do ponto de vista da infra-estrutura dos servios, tem se fundamentado basicamente
em uma proposta de ampliao da rede de diagnstico e ateno ao paciente,
mediante a descentralizao das atividades para os servios de ateno bsica
sade. Paralelo a isto, a divulgao dos sinais e sintomas da doena para a
populao em geral constitui-se um instrumento para a eliminao da endemia.
3.1 ETIOLOGIAS
3.1.1 Vasculares
As amputaes em pacientes com obstruo arterial representam a maior
porcentagem das amputaes realizadas nos membros inferiores (RAMACIOTTI et
al. 1995).
Segundo Scholz (2002), entre os autores ainda no h consenso sobre a
denominao dessa doena. Desse modo, podemos encontr-la com as seguintes
designaes: doena arterial oclusiva crnica, doena arterial perifrica crnica,
insuficincia arterial dos membros, sndrome isqumica crnica, arteriosclerose
obliterante, insuficincia arterial crnica, doena oclusiva arterosclertica crnica e
arterosclerose obliterante perifrica.
As amputaes de membros inferiores causadas por doenas vasculares
perifricas atingem principalmente pacientes com uma faixa etria mais avanada,
27
os quais esto mais susceptveis a doenas degenerativas como a arteriosclerose.
As inovaes do mundo moderno aumentaram a longevidade da populao,
aumentando consequentemente o nmero de amputaes (CARVALHO, 2003),
(LICHTENFELS et al. 2007).
Matheus et al. (2006) dizem que o paciente da doena arterial oclusiva
crnica convive com as conseqncias mrbidas da doena e requerem da pessoa,
conviver com tratamentos longos e rigorosos, sucessivas internaes hospitalares,
medicamentos, dietas especiais, consultas e exames freqentes, dor devido
isquemia, gangrena e amputaes, principalmente, dos membros inferiores, que
afetam a sua vida e de seus familiares. A doena arterial oclusiva crnica uma das
complicaes crnicas decorrente, principalmente do diabetes mellitus sendo que
esta doena responsvel por metade das amputaes no traumticas no mundo.
Couth et al. (1977) afirmam que alta morbimortalidade e baixos ndices de
reabilitao acompanhados por perda do membro contra-lateral esto presentes
neste tipo de etiologia.
Estes pacientes tm como caracterstica menor capacidade de cicatrizao
por terem menor irrigao sangnea, o que isoladamente j um grande problema
para os cirurgies e toda a equipe de reabilitao.
Segundo Lastoria et al. (2006), a profilaxia com heparina de baixo peso
molecular (enoxaparina) e heparina no fracionada (HNF) foram igualmente
eficientes e seguras para a profilaxia da trombose venosa profunda em pacientes
submetidos amputao de membros inferiores, o que diminuiu a incidncia de
neoamputaes.
A claudicao intermitente e perda dos pulsos distais so sintomas clssicos
de insuficincia arterial. Entre os fatores predisponentes, encontramos a
hipertenso, altos nveis de colesterol, triglicrides e tabagismo (CARVALHO, 2003),
(GAMBA, 2004).
Dentre as patologias vasculares, poderemos citar: doenas arteriais, venosas
ou linfticas. As doenas arteriais so as mais comuns, como por exemplo, a
28
arteriosclerose obliterante perifrica e a tromboangete obliterante (CARVALHO,
2003).
Considera-se indicao para amputao em membros inferiores em pacientes
com doena vascular perifrica:
Necroses teciduais Podem ser representadas desde necroses de falanges
distais at extensas necroses de p ou perna por quadro misto
isqumico/infeccioso.
Dor intratvel Quando no possvel eliminar a causa da dor (isquemia) por
no haver tcnica de revascular o membro. A dor no pode se controlada por
outros medicamentos, simpatectomia, bloqueios nervosos, etc.
Grande destruio tecidual por processo infeccioso Normalmente
associados a micrbios anaerbios. Esse tipo de infeco exige a exrese de
todo o tecido desvitalizado, mantendo-se de maneira geral a ferida operatria
aberta e,
Quando existe necrose ou dor intensa, o risco de morte decorrente de uma
cirurgia de revascularizao muito alto, em virtude de um paciente
debilitado, com flexo articular importante ou acamado h muitos anos, com
pouca chance de voltar a andar aps a revascularizao.
Henry Haimovici (1989), cirurgio vascular norte-americano cita que a
primeira amputao deve ser a ltima.
Esta afirmao nos leva a alguma reflexes:
No se deve tentar realizar uma amputao em um nvel que est
visivelmente comprometido, sob risco de amputao em nveis mais altos.
No se autoriza, outrossim, que o cirurgio v sempre para amputaes
proximais, cujas chances de cicatrizao so mais seguras, mas sempre
indicar o nvel mais correto, com maiores chances de reabilitao.
Procurar realizar a cirurgia com o maior cuidado para no traumatizar os
tecidos e realizar a tcnica cirrgica com o maior acuro possvel.
29
Frente ao paciente com obstruo arterial aguda, o cirurgio deve avaliar se o
tecido do membro isqumico j est irremediavelmente comprometido ou ainda ser
possvel a sua recuperao, revascularizando-o por vias anatmicas ou extra-
anatmicas, nos casos em que a limitao de ordem clnica ou de natureza local
torna difcil ou impede a revascularizao por via anatmica (FRANKINI et al. 2007).
A revascularizao de um membro cuja musculatura j est morta acarretar
num grave transtorno metablico no ps-operatrio imediato, devido liberao de
mioglobina, potssio, cidos e fatores depressivos do miocrdio e geradores da
inflamao, podendo levar o paciente morte (CARVALHO, 2003).
Avaliao do membro com obstruo arterial aguda quanto capacidade de
recuperao ou revascularizao do membro, conforme tabela 1:
Tabela 1: Avaliao do membro com obstruo arterial aguda quanto capacidade de recuperao com a revascularizao do membro.
Parmetro Isqumico vivel Isqumico com morte tecidual
Pulsos Ausentes Ausentes
Enchimento capilar Lento ou ausente Ausente
Temperatura Diminuda Muito diminuda
Cor da pele Cianose mvel com compresso, palidez intensa.
Cianose fixa, reas de infarto de pele.
Capacidade de mover os artelhos
Diminuda ou ausente Ausente
Capacidade de mover o tornozelo
Diminuda Ausente
Sensibilidade Diminuda Ausente
Som arterial com Doppler Ausente Ausente
Som venoso com Doppler Presente com a compresso do p
Ausente
Resposta ao uso de vasodilatadores e enfaixamento
Melhora do dor e do enchimento capilar, pode aparecer som arterial com o membro em prclive.
No h mudana do quadro
Fonte: Carvalho (2003).
30
Finalmente, a escolha do nvel de
amputao deve levar em considerao
quatro aspectos que devem ser avaliados em
conjunto para que se possa tomar a melhor
deciso possvel:
As condies clnicas do paciente
A capacidade de reabilitao com o
uso de prteses
A capacidade circulatria do tecido no
nvel proposto
A presena de infeco
Devemos lembrar que o esforo para a
deambulao com prteses aumenta quanto
mais alto for o nvel de amputao. Gonzles et
al (1974) demonstraram que para um paciente
amputado no nvel transfemoral deambular de
muletas gasta 59% mais que um indivduo
normal. Para a deambulao com prtese, ir
gastar at 65% mais energia. J o paciente
amputado no nvel transtibial ir gastar de 10 a
40% mais energia para deambular. O paciente
amputado transmetatarsiamente praticamente
no iro gastar mais energia para sua
deambulao, portanto, para o paciente que tem
boas chances de reabilitao, deve-se tentar
preservar o maior comprimento do membro.
Dentre os nveis/tcnicas de amputao
que esto na figura 1, devemos lembrar alguns
detalhes tcnicos para o sucesso da amputao.
So eles:
Figura 01: Nveis mais utilizados para para amputaes em pacientes portadores de insuficincia arterial. Fonte: Carvalho, 2003.
31
O retalho demarcado na pele antes de iniciar o processo o sucesso da
amputao. A causa mais comum de falha na amputao o retalho muito curto
que foi suturado sob tenso para fechar o coto levando isquemia e necrose.
Os tecidos isqumicos so muito susceptveis necrose por trauma. Assim
manipula-se o mnimo possvel a pele e partes moles que sero mantidas.
A ligadura dos vasos tronculares feita sempre se separando a artria da veia que
ligada independente. Os nervos, principalmente os superficiais devem ser
seccionados alto em relao ao nvel da seco da pele para evitar que o neuroma
fique em contato com a rea cicatricial.
Todo coto antes de ser suturado lavado abundantemente com soro
fisiolgico. O soro frio superior pelo fato de auxiliar na hemostasia. A
hemostasia deve ser rigorosa uma vez que as colees hemticas so fontes
de infeco no ps-operatrio.
A mioplastia do coto imprescindvel. A mioplastia corresponde sutura da
musculatura seccionada recobrindo as extremidades sseas e ancorando os
grupos flexores e extensores uns aos outros, como se fossem novas
inseres. Essa manobra permite que os msculos trabalhem garantindo ao
paciente um melhor controle dos movimentos do coto, reduzindo o edema e
acolchoando as extremidades sseas.
O fechamento da pele feito com pontos aplicados prximos de maneira a
no deixar espaos abertos que resultam na formao de crostas que
retardam a cicatrizao.
O curativo final feito estril e trocado apenas no segundo ps-operatrio.
Embora o curativo com gesso seja uma alternativa muito utilizada nas
amputaes traumticas e tumorais, existe certo receio em manter o coto
ocludo e sob carga nas trs a quatro semanas.
Visando a reabilitao do paciente com prtese, a amputao transtibial o
nvel mais realizado entre as amputaes maiores.
32
Cotos mais longos permitem maior controle e maior firmeza da prtese, por
outro lado so mais difceis de realizar devido pobreza da musculatura distal da
perna.
De maneira geral, considera-se que o coto ideal deveria ter o comprimento da
tbia em torno de 9 a 10 cm abaixo da tuberosidade da tbia. A fbula sempre
seccionada 1,5 a 2 cm mais curta do que a tbia.
Aos pacientes com flexo de joelho, temos a alternativa da desarticulao do
joelho. Muito til apesar de pouco utilizado, mantm o comprimento total do fmur,
oferecendo um coto muito resistente a traumas e que permite um apoio terminal.
As amputaes transfemorais so as que oferecem a melhor chance de
cicatrizao primria. No entanto so as que apresentam a maior dificuldade para a
reabilitao do paciente. So normalmente utilizadas quando a isquemia ou infeco
do membro muito grande ou nos casos com seqelas neurolgicas motoras
(CARVALHO, 2003).
As amputaes em pacientes com patologias vasculares apresentam alta taxa
de morbimortalidade. Como apresentam aterosclerose avanada, freqente a
ocorrncia de infarto agudo do miocrdio e arritmias cardacas. Muitos so
pneumopatas, tabagistas por muitos anos, e associado imobilidade imposta pela
amputao apresentam, infeco pulmonar. O tromboembolismo tambm pode
ocorrer devido imobilidade, e a manuteno do coto pendente favorece a trombose
venosa profunda do coto (COUTH et al. 1977).
3.1.2 Neuropticas
Inmeras doenas ou processos podem levar neuropatia perifrica, tais
como doenas sistmicas (diabetes mellitus), distrbios nutricionais (alcoolismo),
doenas infecciosas (Hansen e poliomielite), alteraes medulares (espinha bfida e
o trauma medular).
Dentre elas, a neuropatia diabtica, com manifestaes clnicas que incluem
alteraes do sistema autnomo, alteraes motoras e sensoriais, tem levado a
altos nveis de amputao (CARVALHO, 2003).
33
Os sintomas apresentados so a diminuio ou perda da sensibilidade
vibratria, trmica, ttil e dolorosa, aumentado os riscos de ulceraes em ps
diabticos. Porcincula et al. (2007), afirma que a neuropatia perifrica o principal
fator de risco para ulcerao em p de indivduos diabticos.
A alterao motora nos pacientes com polineuropatia acomete os nervos,
causando fraqueza dos msculos e deformidades articulares.
Ochoa-Vigo et al. (2005) em seus estudos sobre a preveno dos ps
diabticos colocam a avaliao dos dos mesmos como medida preventiva
fundamental, para identificar, precocemente, as alteraes neurolgica e vascular
perifricas e disfunes biomecnicas. Destaca-se a avaliao dos calados como
fator externo.
As disfunes do sistema nervoso autnomo podem reduzir a hidratao dos
tecidos deixando a pele mais seca e vulnervel s fissuras e afetar a regulao
vasomotora, resultando em hiperemia dos tecidos moles e sseos (CARVALHO,
2003).
Santos (2006) relaciona Idade, tempo de diagnstico do diabetes, infeco
por Gram-positivos, linfangite ascendente, leses de calcneo e insuficincia arterial
como fatores de risco para amputaes maiores em pacientes diabticos.
Jorge et al. (1999) Collado et al. (2001), Gamba et al. (2004), Nunes et al. (2006)
e outros concordam que o diabetes mellitus a causa mais freqente de internaes
hospitalares e suas complicaes, como o p diabtico ulcerado, vai evoluir para
amputaes dos membros inferiores, nos mais variados nveis.
Algumas orientaes devem ser dadas aos pacientes e familiares, a fim de se
prevenir possveis complicaes, tais como ulcerao, infeco e amputao, conforme
tabela 2.
34
Tabela 2: Preveno para complicaes em ps neuropticos.
Informaes preventivas
Aps o banho seque bem os ps, principalmente entre os dedos;
Cuidado com gua muito quente. Verifique a temperatura com as mos;
Cuidado com as unhas. prefervel lix-las;
No corte os calos. prefervel ir a um podlogo especializado;
Use hidratante nos ps;
Use meias nos dias frios;
No caminhe descalo e no use chinelo de dedo;
Inspecione os ps diariamente;
Exercite os ps (dedos e tornozelos);
Use calado e palmilhas apropriados;
Fonte: Carvalho (2003).
A existncia de uma matriz neuronal determinada geneticamente e modulada
durante toda a vida por impulsos nervosos (nociceptivos), criaria uma memria
somato-sensorial que seria responsvel pela apario da dor do membro fantasma
(OLARRA et al. 2007).
Na fase aguda, a dor no coto decorre do traumatismo operatrio e de suas
complicaes. A sensao fantasma comum aps amputaes. O fenmeno
fantasma caracteriza-se pela sensao de imagem distorcida quanto a dimenses e
conformaes (macrossomia, microssomia, telescopagem) do rgo amputado.
Pode ser esttico ou dinmico (cintico, cinestsico). A dor no membro
fantasma manifesta-se em menos de 5% dos casos. Caracteriza-se pelo
acoplamento das sensaes de queimor, formigamento e/ou latejamento e choques
na imagem do rgo amputado. Sensaes similares ocorrem em doentes que
35
apresentam neuropatias plexulares braquiais ou lombossacrais. Pode instalar-se
imediatamente ou anos aps a amputao. A durao, a intensidade da dor pr-
operatria e os eventos emocionais e ambientais adversos que precederam ou
foram concomitantes com os procedimentos operatrios podem concorrer para
aumentar sua ocorrncia. A freqncia dos episdios tende a reduzir-se durante os
dois primeiros anos aps a amputao (CAMPONERO, 2004).
O fato de a dor-fantasma ser um fenmeno no puramente fsico, social ou
psquico, mas a integrao destes trs fatores nos remete importncia de um
tratamento multidisciplinar, em que mdico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,
nutricionista, psiclogo, assistente social, professor de educao fsica e tcnico
protesista devem trabalhar em equipe visando o desenvolvimento e a participao
ativa do paciente em seu tratamento (DE BENEDETTO, 2002).
3.1.3 Traumticas
Vo acometer principalmente pacientes adolescentes e adultos jovens, os
quais esto mais expostos aos acidentes de trabalho e por meios de transporte.
Batalhas e minas ainda so causas importantes de amputaes em alguns pases.
Encontramos ainda amputaes ocasionadas por arma de fogo, queimaduras
severas e descarga eltrica. Com o advento de tcnicas como fixadores externos e
tcnicas cirrgicas mais aprimoradas, o ndice de amputaes por leses
traumticas tem diminudo bastante (CARVALHO, 2003).
Os acidentes envolvendo motocicletas aumentam exponencialmente tanto
quanto aumentam a quantidade deste meio de transporte que, por sua caracterstica
gil, rpido, desenvolvendo bem no trnsito das grandes cidades, preo e
manuteno extremamente baratos, acessveis a maior parte da populao,
segundo Sado et al. (2009), Pinto et al. (2008) e Santos et al. (2008), verificam que a
predominncia de jovens do sexo masculino e que os acidentes ocorreram mais
no trajeto de lazer ou passeio, regio mais afetada est nos membros inferiores e
concluem que o trauma provocado pelos acidentes envolvendo motocicletas merece
ateno, especialmente pela sua agressividade e em relao ao planejamento de
aes preventivas, assim como controle de sua ocorrncia.
36
Calil et al. (2009) em seu mapeamento de leses em vtimas de acidentes de
trnsito mostraram que a regio corprea mais comumente atingida em acidentados
de transporte a de membros inferiores/superiores, seguida pela regio da
cabea/pescoo. Em relao qualidade da vtima, no houve homogeneidade
entre os estudos, variando de acordo com a localidade do evento (pas) e poca
analisada. No Brasil, as ocorrncias e a mortalidade envolvendo motociclistas
tiveram aumento significativo a partir de 1999, embora a literatura aponte os
pedestres como as vtimas mais vulnerveis. Investigaes futuras de maior
abrangncia (multicntricas) devero ser estimuladas.
Katz et al. (2008), afirma o mecanismo de trauma mais prevalente nos idosos
o atropelamento, resultando principalmente, em fraturas dos membros inferiores.
Os pacientes desta faixa etria que sofrem traumatismos de alta energia
permanecem internados por longos perodos de tempo, normalmente mais do que
10 dias.
A maioria dos pacientes apresenta alguma comorbidade previamente ao
acidente, sendo a mais comum, hipertenso arterial sistmica. E a grande maioria
(quase 90%), cursa com algum tipo de complicao clinica aps, dentre elas:
Infeco do trato urinrio, parada cardiorrespiratria, trombose venosa profunda,
alteraes do trato gastrintestinal, delirium, confuso mental, sepse, edema agudo
de pulmo, insuficincia renal aguda e broncopneumonia, no sendo observada uma
ntida predileo por alguma das complicaes especificamente.
Os resultados do ndice da Sndrome da Extremidade Esmagada em estudo
realizado em 64 fraturas abertas mostram que os resultados com pontuao at 20
determinaram amputao primria e que a preservao do membro esmagado
neste nvel do escore se mostrou um erro (SGARBI et al. 2006).
As observaes decorrentes aos nveis e tcnicas para uma melhor
amputao seguem, sempre que possvel, o observado nas amputaes de
etiologia vascular, lembrando-se que quando se tem um trauma, nem sempre
possvel planejar um retalho perfeito e que as leses trmicas podem destruir uma
quantidade suficiente de tecido para indicar uma amputao. Inicialmente devem ser
tratadas conservadoramente at que a extenso da leso possa ser mais bem
37
avaliada e a amputao feita no nvel mais distal condizente para uma boa
cicatrizao. A determinao do nvel para a amputao pode ser extremamente
difcil de ser definido, porque a necrose dos tecidos moles pode estender-se mais
proximalmente do que aparenta ser, apenas observando-se aspecto externo do
membro. Nas crianas, deve-se tentar, sempre que possvel, preservar as placas de
crescimento, pois sua contribuio para o comprimento da extremidade ou do coto
de amputao muito importante, minimizando as desigualdades dos membros
(BELANGERO, 2004),
Nas cirurgias potencialmente contaminadas ou infectadas, optamos por deixar
o coto aberto, e somente fech-lo quando no houver algum sinal de infeco local,
em geral aps vrias limpezas cirrgicas. Em amputaes transfemorais e
transtibiais pode-se utilizar a tcnica de paraquedas, conforme fig. 2 A e B, como
tcnica de manuteno do comprimento da pele, evitando sua retrao, o que
poderia ocasionar a elevao do nvel de amputao. (PEDRINELLI, 1998),
(CARVALHO, 2003).
Figura 2 A e B: Demonstrao do uso da tcnica de paraquedas para evitar retraes de pele. Fonte: Carvalho, 2003.
Como nem sempre se pode planejar uma cirurgia de amputao de etiologia
traumtica e sim trabalhar com o que se tem. Muito importante cuidar de se evitar
arestas ou salincias sseas, eliminando-as com limas ou grosas e intensa lavagem
local com soro fisiolgico para impedir implantao ssea posteriori e formao de
espculas sseas ou calcificaes heterotpicas, conforme mostra a fig. 3.
38
Figura 3: Viso radiogrfica de uma espcula ssea. Fonte: Carvalho, 2003.
3.1.4 Neoplsicas
Segundo Mendona et al. (2008), at a dcada de 70, o tratamento dos
sarcomas sseos era baseado na amputao. Cerca de 80% dos casos evoluam
para bito no perodo mximo de dois anos. As tcnicas cirrgicas consistiam
fundamentalmente nas cirurgias de resseco, cujo principal objetivo era a
erradicao do tumor, na tentativa de controle local da doena. Os tumores sseos
primrios de alto grau de malignidade consistem aproximadamente 7% dos tumores
em indivduos menores de 20 anos de idade. O Osteossarcoma o tumor mais
freqente nesta faixa etria, ocorrendo em 8,7 casos/ milho, seguido do Sarcoma
de Ewing com predileo para extremidade da regio distal do fmur.
Stolagli et al. (2008) salientam que de fundamental importncia o
diagnstico precoce dos tumores sseos primrios, sobretudo com relao aos
malignos, em que se fazem necessrios o controle local e tambm a conduta
teraputica no sentido de aumentar a taxa de sobrevida dos pacientes.
Segundo Enneking, (1980), houve reduo considervel das amputaes por
etiogia neoplsica, graas aos bons resultados obtidos com o diagnstico precoce, a
radioterapia, a quimioterapia, a utilizao de endoprteses, os enxertos e algumas
outras cirurgias conservadoras. E quando necessrio partir para uma cirurgia de
amputao, a presena de um sistema de estadiamento cirrgico para sarcomas
msculos-esquelticos que estrafica ossos e leses de tecidos moles de qualquer
histognese pelo grau de agressividade biolgica, atravs da definio anatmica, e
pela presena de metstase. Estas novas abordagens permitem uma sobrevida
global em torno de 75%.
39
Carvalho (2003) relaciona as principais indicaes para amputaes em
tumores sseos e de partes moles:
Crianas menores de seis anos de idade com tumores localizados ao redor
do joelho que acometem as placas epifisrias, devido a inaceitvel
expectativa da discrepncia de comprimento dos membros inferiores alm de
10 cm, independente do mtodo reconstrutivo. A amputao com uso de
prtese permite uma funo muito melhor.
Comprometimento do plexo neurovascular vital ao membro acometido.
Tumores infectados e ulcerados ou ainda aqueles abordados
inadequadamente com bipsias mal planejadas. Isso impede uma resseco
com margem inadequada e por vezes uma indicao higinica.
Tumores muito grandes ao diagnstico com comprometimento extensor em
partes moles, tecido celular subcutneo e pele, impedindo a resseco ampla
adequada e a cobertura do mtodo reconstrutivo utilizado.
Tumores cuja alternativa reconstrutiva evolui com uma funo do membro
muito inferior aquela obtida pela amputao com uso de prtese,
considerando o prognstico de sobrevida do paciente e as complicaes dos
mtodos reconstrutivos a curto, mdio e longo prazo.
Fratura patolgica uma indicao relativa. A maioria destes pacientes so
amputados devido a extenso e disseminao do hematoma da fratura
contaminando pela neoplasia nos tecidos, comprometendo a margem na
resseco.
Infeco ps-resseco e reconstruo em pacientes em tratamento
quimioterpico.
Recidiva local, dependendo do prognstico de sobrevida do paciente.
As tcnicas cirrgicas de amputao em tumores msculo-esquelticos no
diferem muito daquelas convencionais. Devemos lembrar que pacientes em
tratamento quimioterpico so imunudeprimidos, apresentando um risco maior de
infeco.
40
Segundo Stolagli et al. (2008), quando o paciente enfrenta o diagnstico de
cncer, existe envolvimento familiar, sentimento de perda, ansiedade e depresso.
Por isto os vnculos familiares so importantes para auxiliar o paciente a enfrentar a
doena.
O adoecimento ocasiona crises e momentos de desorganizao para o
paciente e sua famlia, pois o primeiro grupo de relaes em que o indivduo est
inserido, na maioria das vezes, so os familiares s pessoas mais prximas do
convvio do paciente. Muitas transformaes ocorrem na vida do doente e da famlia,
levando-os a se depararem com limitaes, frustraes e perdas. Essas mudanas
sero estabelecidas pelo tipo de doena
3.1.5 Infecciosas
Tem sido menos frequentes em virtude dos grandes avanos laboratoriais e
do desenvolvimento de medicamentos mais especficos.
Segundo Santos et al. (2006), a idade, infeco por Gram-positivos, linfangite
ascendente, leses de calcneo, associao com diabetes mellitus insuficincia
arterial constituem fatores de risco para amputaes.
A meningite meningoccica a causa de uma amputao infecciosa clssica,
caracterizada por leses cutneas importantes que podem causar necroses nas
extremidades. As infeces podem ainda estar associadas a processos traumticos
e vasculares (CARVALHO, 2003).
Gangrena est correlacionada freqentemente com causa infecciosa
(Mycoplasma spp, vrus Epstein-Barr, citomegalovrus, vrus Influenza A, adenovrus,
Legionella spp), linfoproliferativas B e idiopticas. sendo observada apenas em
pacientes com altos ttulos persistentes. Suspeita clnica de crioaglutininemia deve
confirmada e tratada prontamente em funo de risco de possveis complicaes
graves (VICARI et al. 2004).
41
3.1.6 Congnitas
Os portadores de anomalia congnita que apresentam deformidades
importantes, as quais podem impossibilitar a protetizao ou dificultar a funo do
membro residual, geralmente so encaminhados para procedimentos cirrgicos,
estando, entre eles, a amputao. So exemplos as agenesias. Com a utilizao de
fixadores externos, tais indicaes diminuram. Esse tipo de amputao deve ser
preferencialmente realizado nos primeiros anos de vida, obtendo-se dessa forma,
uma reabilitao precoce e maior aceitao por parte do paciente (CARVALHO,
2003).
Belangero et al. (2001), quando avalia malformaes congnitas em crianas
discute as complicaes, vantagens e desvantagens de cada nvel de amputao e
conclui que a amputao na criana continua sendo uma opo a ser considerada,
principalmente por propiciar rpida recuperao funcional e social do paciente.
3.1.7 Iatrognicas
Amputaes iatrognicas esto associadas a complicaes adquiridas pelo
paciente durante o curso do tratamento (CARVALHO, 2003). Segundo Karakousis
(1989) pacientes com leso de medula espinhal evoluiram para hemipelvectomias
aps lceras graves de decbito. Azulay (2006) estudou o caso de uma mulher com
25 anos de idade que tinha leses eritmato-purpricas com discretas ulceraes e
dor intensa, o que levou amputao de dois dedos; a histopatologia revelou as
alteraes de acroangiodermatite.
3.2 INDICAES
As amputaes geralmente ocorrem por indicao eletiva ou de urgncia
conforme figuras 4 e 5. As amputaes eletivas, indicadas para pacientes portadores
de seqelas ou processos mrbidos, visam, entre outros, melhorarem a qualidade
de vida do paciente. J as amputaes de urgncia so indicadas para casos
graves, como por exemplo, os grandes traumas, neoplasias em estgio avanado ou
sepses, os quais trazem risco vida do paciente.
42
Figura 4: Paciente com quadro neuroptico importante. Indicao eletiva visando funcionalidade. Fonte: Carvalho, 2003.
Figura 5: Sarcoma de Ewing. Exemplo de urgncia.
Fonte: Carvalho, 2003.
3.3 NVEIS DE AMPUTAO
O membro residual da amputao denominado coto. o responsvel pelo
controle da prtese durante o ortostatismo e a deambulao. Para que isso seja
possvel, ele deve apresentar algumas caractersticas como as descritas por
Carvalho (2003):
43
Nvel adequado Nem sempre o melhor coto o longo. Para alguns nveis de
amputao, como na de Chopart, poderemos obter resultados menos satisfatrios
com a protetizao e a reabilitao.
Coto estvel A presena de deformidades nas articulaes proximais ao coto pode
dificultar a deambulao e a protetizao.
Presena de um bom coxim com mioplastia e miodese.
Bom estado da pele Coto com boa sensibilidade, sem lceras e enxertos cutneos
facilita a reabilitao.
Ausncia de neuromas terminais e espculas sseas Para certos nveis, a
presena de neuromas ou espculas impede o contato e/ou a descarga distal.
Boa circulao arterial e venosa Evitando isquemia e estase venosa.
Boa cicatrizao As suturas devem ser realizadas em locais adequados conforme
o nvel da amputao. As cicatrizaes no devem ser irregulares, hipertrficas ou
apresentar aderncias, retraes, deiscncias e supuraes.
Ausncia de edema importante.
Bowker (1991) define como o nvel ideal de amputao o mais distal possvel
com potencial de cicatrizao, assegurando que este distribui melhor as foras do
coto, diminuindo as reas de hiperpresso e tornando as deformidades articulares
menos freqentes. Pinzur (1998) afirma, em seu estudo sobre o consumo de
oxignio, que as amputaes mais longas consomem menos energia para a
deambulao. Nomeou o nvel mais distal com possibilidade de cicatrizao como
nvel biolgico. Gonzales et al. (1974), dizem que o esforo fsico para o paciente
amputado andar com auxlio de prteses aumenta quanto mais alto for o nvel de
amputao.
Os proveitos de uma amputao econmica (distais) podem propiciar o
equilbrio satisfatrio do corpo em vrias circunstncias em que este exigido, como
na movimentao do leito, cadeira de rodas, manuseio de muletas ou mesmo
quando usa alguma forma de prtese mecnica. Assim, o amputado pode adquirir
44
autoconfiana, que produzir como conseqncia uma reduo das demandas
externas e mais facilidade para sua reintegrao social (THOMAZ, 2000).
A obteno de bons resultados em protetizao vai variar ento do nvel de
amputao, ou seja, quanto mais proximal, pior o prognstico.
So os nveis de amputao:
3.3.1 Desarticulao interfalangeana
Figura 6: Figura 7: Desarticulao interfalangeana Amputao do hlux com manuteno da falange Fonte: Carvalho (2003). falange proximal e desarticulao do 2, 3 e 4 dedos. Fonte: Carvalho (2003).
Geralmente no apresenta problemas funcionais e estticos ao paciente.
(figs. 6 e 7). causada geralmente por processos traumticos e vasculares, os quais
podem levar at as amputaes espontneas, como nos casos de gangrena seca
onde se observa morte tecidual por obstruo arterial, sem obstruo venosa ou
infeco. Como medida preventiva, a obrigao do uso de sapatos de segurana
nas indstrias metalrgicas e a indicao de calados especiais para pacientes com
doenas vasculares e neuropticas tem sido cada vez mais adotadas. Muitas vezes
prefervel realizar uma amputao a permanecer com os prprios dedos no
funcionantes, rgidos, deformados e dolorosos. Essas amputaes no alteram o
equilbrio e a deambulao dos pacientes. Nas amputaes do hlux, procura-se
45
manter a base da falange proximal, pois nela encontra-se a insero dos tendes
extensor e flexor curto (CARVALHO, 2003).
3.3.2 Desarticulao metatarsofalangeana
Figura 8: Desarticulao metatarsofalangeana. Fonte: Carvalho, 2003.
As causas que levam a uma amputao nesse nvel (fig. 8) so as mesmas
citadas anteriormente, ou seja, alteraes vasculares, neuropticas e traumticas.
Quanto nas amputaes interfalangeanas no for possvel suturar a pele sem
tenso, pode-se optar por esse nvel de amputao. As amputaes isoladas do 2
ao 5 podlico no causam alteraes significativas na marcha. Uma ressalva deve
ser feita na amputao isolada do 2 e do 3 podlico, pois provoca uma
deformidade permanente em hlux-valgo. A amputao dos podlicos mdios
acarreta desvios dos podlicos laterais. A do hlux a mais comprometedora, pois
dificulta a marcha especialmente durante a fase de impulso, porm, em uma marcha
mais lenta, no se observam alteraes significativas. A amputao dos artelhos
geralmente sobrecarrega a cabea dos metatarsos, elevando a presso local. Esse
aumento perigoso e pode provocar lceras plantares (fig. 9) principalmente nos
pacientes com alteraes vasculares e perda da
sensibilidade protetora (CARVALHO, 2003).
Figura 9: lcera plantar causada por hiperpresso. Fonte: Carvalho, 2003.
46
3.3.3 Amputao transmetatarsiana
Figura 10: Amputao transmetatarsiana. Fonte: Carvalho, 2003.
Esse nvel de amputao tambm causado, na sua maioria, por processos
vasculares e traumticos. Nos casos de processos infecciosos, pode-se optar pela
inciso somente de um raio deixando o p funcional, porm assimtrico. As incises
so feitas com o flap plantar maior que o dorsal, visando um coxim mais resistente
com tecido plantar. Nessas amputaes, a seco ssea deve ser realizada prxima
cabea ou base dos metatarsos (fig. 10), pois sua difise cortical, longa e fina,
pode ser reabsorvida ou ento provocar desconforto no coxim ou at perfur-los. A
descarga continua sendo realizada distalmente, porm a marcha fica prejudicada
principalmente na fase de desprendimento do p (CARVALHO, 2003).
3.3.4 Amputao de Lisfranc
Figura 11: Figura 12: Amputao de Lisfranc. Paciente com amputao de Lisfranc Fonte: Carvalho, 2003. realizando descarga distal total. Fonte: Carvalho, 2003.
47
A amputao de Lisfranc diz respeito desarticulao dos metatarsos com os
ossos cubide e cuneiformes (figs. 11 e 12) As indicaes continuam sendo
predominantemente vasculares. Esse nvel de amputao apresenta como
desvantagem as deformidades em flexo plantar, devido a retirada dos pontos
insersores dos msculos dorsiflexores dificulta a protetizao, limitam a carga distal
total e podem levar as revises cirrgicas. No ato cirrgico realizada apenas uma
simples desarticulao. Pode-se tambm preservar, se possvel, a base do 4 e 5
metatarsiano para evitar a perda natural do msculo fibular curto. A sutura, como
nos nveis anteriores, continua sendo realizada no dorso do p, preservando o
retalho plantar que apresenta tecido subcutneo e fina camada muscular formada
pelos flexores curtos dos dedos. Os nervos devem receber leve tenso e serem
seccionado o mais proximal possvel, evitando, desse modo, a formao de
neuromas distais superficiais (CARVALHO, 2003).
3.3.5 Desarticulao naviculocuneiforme e transcubide
Figura 13: Desarticulao naviculocuneiforme e transcubide.
Fonte: Carvalho, 2003.
Esta amputao encontra-se entre os nveis de Lisfranc e Chopart, com a
manuteno de todo o osso navicular e seco parcial do cubide ao nvel da
articulao naviloculocuneiforme (fig. 13). Neste nvel a articulao tlusnavicular
mantida, ajudando a manter o posicionamento do tlus, o que no ocorre na
amputao de Chopart (CARVALHO 2003).
48
3.3.6 Amputao de Chopart
Figura 14: Figura 15: Amputao de Chopart. Chopart: vista lateral. Fonte: Carvalho, 2003. Fonte: Carvalho, 2003.
A amputao de Chopart tambm uma desarticulao realizada entre os
ossos navicular e cubide com o tlus e calcneo, respectivamente. Conhecida
como amputao do retrop, o coto na amputao de Chopart apresenta um
predomnio dos msculos flexores plantares inseridos na tuberosidade posterior do
calcneo sobre a musculatura dorsoflexora (figs. 14 e 15). Em virtude do brao curto
de alavanca, quase sempre evolui para um eqino importante, diminuindo, dessa
maneira, a rea de apoio. normalmente um nvel de articulao no funcional. Os
cuidados com os nervos e as suturas seguem os mesmos padres da amputao de
Lisfranc. A descarga de peso pode ser realizada distalmente, caso o paciente tolere.
As amputaes so, em geral, indicadas por patologias vasculares seguidas por
patologias infecciosas, traumticas e, em menor nmero, tumorais (CARVALHO,
2003).
49
3.3.7 Amputao de Syme
Figura 16: Figura 17: Amputao de Syme. Viso radiogrfica mostrando superfcie Fonte: Carvalho, 2003. ssea plana, ideal para descarga distal. Fonte: Carvalho, 2003.
A amputao de Syme geralmente causada por patologias vasculares,
processos traumticos, anomalias congnitas, deformidades adquiridas ou quando
as amputaes transmetatarsianas, de Lisfranc ou de Chopart no so possveis. A
amputao de Syme permite descarga distal sobre o coto, e a presena de espao
entre o coto e o solo possibilita uma protetizao futura com p mecnico. O ponto
desfavorvel dessa amputao refere-se cosmtica, em virtude do grande volume
encontrado na regio distal. A marcha sem prtese possvel, porm, por causa da
dismetria dos membros, h claudicao. Essa amputao realizada com a
desarticulao tibiotrsica e posteriormente com uma seco ssea logo abaixo dos
malolos lateral e medial, conservando a sindesmose tbiofibular (figs. 16 e 17). O
plano de seco de tbia e fbula deve estar paralelo ao solo quando o paciente se
encontrar em p. Os nervos so tracionados e seccionados buscando uma retrao
proximal. Quanto sutura dos msculos plantares, do tecido subcutneo e da pele,
ela deve estar anteriormente ao nvel distal da tbia, formando o coxim do calcneo.
As causas mais comuns de um coto inadequado so a migrao do coxim do
calcneo e a deiscncia de suturas por manipulao excessiva das bordas.
Este nvel bastante indicado por:
Ser considerado um procedimento tecnicamente fcil;
Apresentar um coto bastante longo e durvel com possibilidade de descarga
distal e
50
Permitir uma reabilitao e protetizao precoce (CARVALHO, 2003).
3.3.8 Amputao de Pirogoff
Figura 18: Amputao de Pirogoff. Fonte: Carvalho, 2003.
A amputao de Pirogoff similar de Syme, porm tecnicamente mais
difcil e mais demorada. Nesse tipo de amputao, ocorre uma artrodese entre tbia
e calcneo, tendo em vista que o calcneo seccionado verticalmente, eliminando
sua parte anterior e realizando com a parte posterior uma rotao superior a 90
graus at ocorrer um encontro entre as superfcies do calcneo e a tbia (fig. 18). s
vezes, a utilizao de osteossntese faz-se necessria para tal fixao. Como
resultado, observamos um espao menor entre o coto e o solo, quando comparado
com a amputao de Syme (CARVALHO, 2003).
3.3.9 Amputao de Boyd
A amputao de Boyd bastante similar amputao de Pirogoff com uma
artrodese do calcneo seccionado com a superfcie distal tbiofibular. No entanto a
osteotomia realizada no calcneo horizontal e sua fixao com a tbia/fbula
realizada aps um pequeno deslocamento anterior. Neste nvel tambm indicada a
descarga de peso sobre o coto de amputao e a discrepncia no comprimento dos
membros continua presente (CARVALHO, 2003)
51
3.3.10 Amputao transtibial
Figura 19: Figura 20: Amputao transtibial longa. Amputao transtibial tero mdio. Fonte: Carvalho, 2003. Fonte: Carvalho, 2003.
Figura 21: Figura 22: Amputao transtibial curta. Viso radiogrfica em incidncia ntero-posterior e perfil. Fonte: Carvalho, 2003. Fonte: Carvalho, 2003.
A amputao transtibial realizada entre a articulao tibiotrsica e a
articulao do joelho (fis. 19, 20, 21 e 22). Podemos dividi-la em trs nveis, ou seja,
amputao transtibial em tero proximal, medial e distal. Para esses nveis de
amputao, devemos considerar a importncia funcional do joelho na reabilitao e
na deambulao dos pacientes amputados. As amputaes podem ser causadas
por patologias vasculares, processos traumticos, infecciosos e neoplsicos ou
anomalias congnitas.
52
Sabemos que as amputaes por patologias vasculares acometem
principalmente pacientes idosos enquanto as traumticas atingem na sua maioria,
pacientes mais jovens.
A descarga de peso, nas amputaes transtibiais, independentemente do
nvel de amputao, dever ser realizada no tendo patelar, entre a borda inferior da
patela e a tuberosidade da tbia, e nas regies com tecidos moles localizadas nas
faces lateral, medial e posterior do coto. Nos casos em que no for possvel realizar
tais presses, realizaremos apoio em musculatura da coxa ou tuberosidade
isquitica. Entretanto a descarga de peso distal ser sempre contra-indicada em
razo da transeco ssea e dos tecidos moles ali encontrados. Os cotos transtibiais
apresentam uma tendncia deformidade em flexo do joelho tanto maior quanto
mais proximal for o nvel da amputao (CARVALHO 2003).
A fisioterapia deve ser realizada logo aps a amputao, atuando no
posicionamento correto no leito, visando evitar deformidades. H evidente
predisposio s restries de movimentao neste caso, podendo resultar em
deposio de colgeno nas regies estticas, favorecendo a restrio do
deslizamento entre as fscias reduzindo a efetividade motora e proporcionando
alteraes na postura. Ainda se deve utilizar a dessensibilizao do coto, exerccios
ativo-assistidos, ativo-livres e isomtricos, uso de bandagens, exerccios de
propriocepo, trabalho do membro contralateral e membros superiores e treino de
marcha. Tendo como objetivo a manuteno da amplitude de movimento, aumento
de fora muscular, equilbrio e adaptaes da marcha de acordo com a possibilidade
do paciente, envolvendo orientao e condutas de preveno e reabilitao. Pastre
et al. (2005).
Pastre et al. (2005) cita mais que o coto denominado membro residual,
sendo considerado um novo membro, responsvel pelo controle da prtese durante
o ortostatismo e deambulao. comum ocorrer algumas complicaes aps
amputao, como deformidade em flexo, irregularidades sseas, excesso de partes
moles, cicatrizao inadequada, neuromas dolorosos, complicaes cutneas ou
comprometimento vascular, o que pode levar incapacidade e reduo nos nveis
de qualidade de vida.
53
Deve ser realizada a mioplastia, na qual os msculos antagonistas se fixam
aos agonistas e tambm a miodese, em que a musculatura ser reinserida ao tecido
sseo. Esses procedimentos melhoram o controle do coto, a propriocepo e a
circulao local, alm de diminuir incmodo como dor fantasma. Os nervos so
seccionados aps leve trao para se alojarem entre os grupos musculares
(CARVALHO, 2003).
A amputao transtibial distal apresenta um coto bastante longo, resultando
em grande brao de alavanca e bom controle sobre a prtese. Entretanto, a regio
distal da perna no apresenta um bom suprimento sanguneo e os tecidos
subcutneos e musculares da regio resultam em um coxim escasso. Nesse nvel
podemos encontrar problemas como escoriaes e lceras, o que muito perigoso
em pacientes com problemas vasculares (CARVALHO, 2003).
Okamoto et al. (2000) descreve que em mdios e longos nveis de
amputao, se deve utilizar ponte ssea unindo tbia e fbula, evitando uma
migrao posterior da fbula e at o aparecimento de lceras resultantes de
impactaes sseas.
A amputao transtibial medial localizada na transio musculotendnea do
msculo trceps sural considerada ideal para esse nvel. Com bom coxim terminal
e bom comprimento do coto, os pacientes no encontram grandes dificuldades na
reabilitao.
Na amputao transtibial proximal, o nvel proximal mais aceito para esse tipo
de amputao logo abaixo do tubrculo tibial com preservao do tendo do
quadrceps para a extenso.
A Qualidade de Vida tem sido a principal preocupao em pacientes com
disfuno permanente onde os amputados transtibiais apresentaram os melhores
resultados na reabilitao psicossocial (SILVA et al. 2008).
Carvalho (2003) descreve as vantagens das amputaes transtibiais, que so
as seguintes:
Manuteno articular do joelho;
Menor gasto energtico;
54
Facilidade para colocao/remoo da prtese;
Marcha mais fisiolgica.
3.3.11 Desarticulao do joelho
Figuras 23 e 24: Desarticulaes de joelho. Fonte: Carvalho, 2003.
A desarticulao de joelho foi durante muito tempo evitada e substituda pela
amputao transfemoral, pois era considerada pelos cirurgies e reabilitadores como
um nvel de amputao ruim, principalmente pela dificuldade e pela esttica das
protetizaes (figs. 23 e 24). Atualmente sabemos que esse nvel tem inmeras
vantagens diante da amputao transfemoral. Essa amputao bastante indicada
a pacientes com traumatismos ortopdicos irreversveis, para casos de anomalias
congnitas de tbia e/ou fbula e para alguns tumores distais.
Na desarticulao de joelho, preconiza-se a preservao da patela. No
procedimento cirrgico, os nervos devem ser sepultados em planos profundos e os
msculos reinseridos. A cicatrizao localiza-se geralmente na regio pstero-
inferior do coto. Para esse nvel indicada a descarga distal, proporcionando maior
propriocepo ao paciente amputado. Em virtude do comprimento