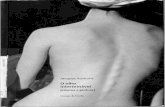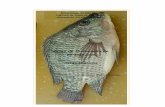UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA ESCOLA DE MEDICINA ... · Teixeira e Jaqueline Xavier pela ajuda na...
Transcript of UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA ESCOLA DE MEDICINA ... · Teixeira e Jaqueline Xavier pela ajuda na...
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL
NOS TRÓPICOS
SALVADOR-BAHIA FEVEREIRO - 2013
TORTA DE AMENDOIM EM DIETA PARA CORDEIROS
Maria Leonor Garcia Melo Lopes de Araújo
Maria Leonor Garcia Melo Lopes de Araújo
MARIA LEONOR GARCIA MELO LOPES DE ARAÚJO
TORTA DE AMENDOIM EM DIETA PARA CORDEIROS
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciência Animal nos Trópicos,
da Universidade Federal da Bahia, como
requisito parcial para obtenção do título de
Mestre em Ciência Animal nos Trópicos.
Orientador: Prof. Dr. Gleidson Giordano Pinto de Carvalho
Co-Orientador: Dr. André Gustavo Leão
SALVADOR – BAHIA
FEVEREIRO, 2013
i
ii
Sistema de Bibliotecas da UFBA
Araújo, Maria Leonor Garcia Melo Lopes de.
Torta de amendoim em dieta para cordeiros / Maria Leonor Garcia Melo Lopes de Araújo. -
2013. 97 f.: il.
Orientador: Prof. Dr. Gleidson Giordano Pinto de Carvalho. Co-orientador: Prof. Dr. André Gustavo Leão. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal da Bahia, Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia, Salvador, 2013.
1. Cordeiro. 2. Carne. 3. Carcaça. 4. Digestão. 5. Dieta. 6. Metabolismo. I. Carvalho,
Gleidson Giordano Pinto de. II. Leão, André Gustavo. III. Universidade Federal da Bahia. Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia. IV. Título.
CDD - 636.3
CDU - 636.32/.38
iii
AGRADECIMENTOS
Aos meus pais, pelo amor, dedicação em todas as etapas da minha vida, e pela forma
exemplar de criação.
Aos meus irmãos, pelo apoio e companheirismo.
À Universidade Federal Bahia e ao Laboratório de Nutrição Animal, por permitirem a
execução deste projeto, e à Fundação de Amparo á Pesquisa do estado da Bahia
(FAPESB), pelo apoio financeiro.
Ao meu orientador prof. Dr. Gleidson Giordano Pinto de Carvalho pela preocupação e
companheirismo e por sempre ter acreditado em meu potencial.
Ao meu co-orientador André Gustavo Leão pelo apoio no abate dos animais,
disponibilidade durante às analises laboratoriais e pela convivência agradável.
Ao professor Jair de Araújo Marques (in memorian), e seu orientado Carlos Eiras pelo
auxílio nas análises conduzidas no Frigoalas.
Ao Frigorífico Frigoalas de Alagoinhas e toda sua equipe, pelo apoio e colaboração.
Ao Professor Ossival L. Ribeiro e aos pós-doutorando Antônio Eustáquio, pela ajuda,
atenção sempre dispostos a me auxiliar quando necessário.
A Professora Adriana Jucá e aos bolsistas Lucas Bulcão, Calil Lopes, Tâmara
Damasceno e Camila Oliveira pelo auxílio nas análises instrumentais de carne
conduzidas no Laboratório de Nutrição Animal.
A professora Consuêlo Caribé e a sua bolsista Juliana pelo auxílio na condução das
análises no Laboratório de Parasitoses da UFBA.
Ao residente da Patologia, Carlos Humberto Filho pela condução das análises
laboratoriais.
A Neide e Arinalva pela ajuda na realização das análises laboratoriais. Sem sombra de
dúvidas, foram fundamentais para que a conclusão do trabalho de dissertação.
Aos estagiários João Batista, Tárcia Carielle, Tayana Nery, Camila Moraes, Catarine
Teixeira e Jaqueline Xavier pela ajuda na cansativa e interminável dissecação dos
pernis.
Aos Estagiários do LANA e em especial os amigos Camila Moraes, Catarine Teixeira,
Maurício Xavier, Victor Guimarães e que desde o início do experimento estiveram
presentes tantos nos momentos mais difíceis, como também na descontração.
iv
À minha equipe de trabalho Lais Santana, Jéssica Caribé, Rodolpho Rebouças e
Luciana Rodrigues pela amizade e companheirismo, antes, durante e após o
experimento. Só nós sabemos o quanto foi cansativo, desgastante os meses que
passamos na Fazenda de São Gonçalo. Obrigado por tudo e por terem me feito crescer
mesmo nessa época de grande dificuldade !!
A Lais Santana, Luciana Rodrigues, Luana Pereira, Amanda Santos e Aline Santos
pelos momentos de diversão, pelas palavras de conforto e companhia nos momentos
difíceis.
Aos funcionários da Fazenda Experimental da Escola de Medicina Veterinária da
UFBA, em especial, Sr. Geovani e D. Joana, que direta e indiretamente colaboraram na
realização dos experimentos.
Aos amigos e colegas de mestrado, doutorado e pós-doutorado: Cláudia Horne, Renata
Oliveira, Ana Alice Gouvêa, Alexandre Perazzo, Nivaldo Santana, Iuran Nunes, Rebeca
Ribeiro, Rosani Matoso, Thadeu Mariniello pelo companheirismo e auxílio nos
momentos de sufoco.
A todos que direta ou indiretamente contribuíram para a realização deste trabalho.
Muito obrigado !!!
v
LISTA DE TABELAS
Capítulo 1. Desempenho produtivo e digestibilidade de nutrientes em
cordeiros submetidos a dietas com torta de amendoim
Página
Tabela 1. Composição bromatológica dos ingredientes utilizados nas
dietas experimentais
9
Tabela 2. Composição percentual dos ingredientes e bromatológica
das dietas experimentais
9
Tabela 3. Consumo diário dos componentes nutricionais em kg, g/kg
PC0,75
e em g/kg de PC em cordeiros mestiços Dorper x
Santa Inês submetidos a dietas com torta de amendoim em
substituição ao farelo de soja no concentrado
15
Tabela 4. Digestibilidade das frações nutricionais (%) de dietas com
de torta de amendoim em substituição ao farelo de soja
para cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês
19
Tabela 5. Balanço de nitrogênio, expresso em g/animal/dia, em
cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês submetidos a dietas
com torta de amendoim em substituição ao farelo de soja
no concentrado
20
Tabela 6. Desempenho em cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês
submetidos a dietas com torta de amendoim em
substituição ao farelo de soja no concentrado
21
Tabela 7. Custos com alimentação, em valores absolutos, do
confinamento de cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês
submetidos a dietas com torta de amendoim em
substituição ao farelo de soja no concentrado
22
Tabela 8. Custos com alimentação, em valores percentuais, do
confinamento de cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês
submetidos a dietas com torta de amendoim em
substituição ao farelo de soja no concentrado
23
Tabela 9. Custos com alimentação e retorno financeiro em relação à
produção de carne de cordeiros mestiços Dorper x Santa
Inês submetidos a dietas com torta de amendoim em
substituição ao farelo de soja no concentrado
24
vi
Capítulo 2. Características quantitativas in vivo e da carcaça de cordeiros
alimentados com dietas contendo torta de amendoim
Página
Tabela 1. Composição bromatológica dos ingredientes utilizados nas
dietas experimentais
37
Tabela 2. Composição percentual dos ingredientes e bromatológica
das dietas experimentais
38
Tabela 3. Escala de avaliação subjetiva da conformação e estado de
engorduramento das carcaças
41
Tabela 4. Medidas biométricas de cordeiros submetidos a dietas com
torta de amendoim em substituição ao farelo de soja no
concentrado
44
Tabela 5. Peso corporal ao abate (PCA), peso de carcaça quente
(PCQ) e rendimento de carcaça quente (RCQ) de cordeiros
submetidos a dietas com torta de amendoim em
substituição ao farelo de soja no concentrado
45
Tabela 6. Medidas morfométricas de cordeiros submetidos a dietas
com torta de amendoim em substituição ao farelo de soja
no concentrado
46
Tabela 7. Pesos (kg) e rendimentos (%) dos cortes comerciais da ½
carcaça esquerda de cordeiros submetidos a dietas com
torta de amendoim em substituição ao farelo de soja no
concentrado
47
Tabela 8. Área de olho de lombo e espessura de gordura subcutânea
do músculo Longissimus thoracis e L. lumborum de
cordeiros submetidos a dietas com torta de amendoim em
substituição ao farelo de soja no concentrado
48
Tabela 9. Composição tecidual e índice de musculosidade da perna
de cordeiros submetidos a dietas com torta de amendoim
em substituição ao farelo de soja no concentrado
49
vii
Capítulo 3. Avaliação do perfil metabólico, proteico, energético e hepático de
cordeiros terminados em confinamento com dietas contendo torta de amendoim
Página
Tabela 1. Composição bromatológica dos ingredientes utilizados nas
dietas experimentais
62
Tabela 2. Composição percentual dos ingredientes e bromatológica
das dietas experimentais
63
Tabela 3. Níveis séricos de ureia, proteínas totais (PT), albumina,
globulina e relação albumina:globulina (A:G) de cordeiros
submetidos a dietas com torta de amendoim em
substituição ao farelo de soja no concentrado
67
Tabela 4. Perfil energético de cordeiros submetidos a dietas com
torta de amendoim em substituição ao farelo de soja no
concentrado 69
Tabela 5. Atividades enzimáticas da gama-glutamiltransferase
(GGT), alanina-aminotransferase (ALT) e aspartato-
aminotransferase (AST) em cordeiros submetidos a dietas
com torta de amendoim em substituição ao farelo de soja
no concentrado
70
Tabela 6. Principais achados do exame histopatológico do fígado de
cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês submetidos a dietas
com torta de amendoim em substituição ao farelo de soja
no concentrado
72
Tabela 7. Principais achados do exame histopatológico do rim de
cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês submetidos a dietas
com torta de amendoim em substituição ao farelo de soja
no concentrado
73
viii
LISTA DE FIGURAS
Capítulo 1. Substituição total do farelo de soja pela torta de amendoim sobre o
desempenho produtivo e renda bruta em cordeiros confinados
Página
Figura 1. Percentual de participação do volumoso e concentrado, em
reais, sobre os custos com alimentação na dieta de
cordeiros Dorper x Santa Inês submetidos a dietas com
torta de amendoim em substituição ao farelo de soja no
concentrado
24
Figura 2. Custos com alimentação total/animal e lucratividade (R$)
de cordeiros Dorper x Santa Inês submetidos a dietas com
torta de amendoim em substituição ao farelo de soja no
concentrado
25
Capítulo 3. Avaliação do perfil metabólico, proteico, energético e hepático de
cordeiros terminados em confinamento com dietas contendo torta de amendoim
Página
Figura 1. Concentrações séricas de gama-glutamiltransferase
(GGT)(UI/L) em cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês
submetidos a dietas com torta de amendoim em
substituição ao farelo de soja no concentrado
71
ix
LISTA DE ABREVIATURAS
ALT – Alanina-aminotransferase
AOAC - Association of analytical chemists
AOL - Área de olho de lombo
AST – Aspartato-aminotransferase
CA - Conversão alimentar
CIN - Cinzas
CF - Comprimento do fêmur
cm - Centímetros
CMS - Consumo de matéria seca
CMO - Consumo de matéria orgânica
CPB - Consumo de proteína bruta
CEE - Consumo de extrato etéreo
CFDN - Consumo de fibra detergente neutro
CCNF - Consumo de carboidratos não-fibrosos
CNF - Carboidratos não-fibrosos
CPB - Consumo de proteína bruta
CT - Carboidratos totais
CZ - Cinzas
dL - Decilitro
EE - Extrato etéreo
EED - Extrato etéreo digestível
EG - Espessura de gordura
EPM - Erro padrão da média
FDA - Fibra em detergente ácido
FDN - Fibra em detergente neutro
g - Gramas
GGT - Gama-glutamiltransferase
GMD - Ganho médio diário
GPT - Ganho de peso total
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IMP - Índice de musculosidade da perna
Kg - Quilograma
L - Litro
mg - Miligrama
MM - Matéria mineral
mm- Milímetro
mmol - Milimol
MN - Matéria natural
MO - Matéria orgânica
MS - Matéria seca
N – Normal
NDT - Nutrientes digestíveis totais
NRC - Nutrient Research Council
x
PCA - Peso corporal ao abate
PB - Proteína bruta
PBD - Proteína bruta digestível
PC - Peso corporal
PCQ - Peso da carcaça quente
PCA - Peso corporal ao abate
PDR - Proteína degradável no rúmen
PIDA - Proteína indigestível em detergente ácido
PIDN - Proteína indigestível em detergente neutro
PMCFR - Peso de meia-carcaça fria reconstituída
PT - Proteína total
PV - Peso vivo
PV 0,75
- Peso metabólico
PVF - Peso vivo final
RCQ - Rendimento da carcaça quente
R2 - Coeficiente de determinação
SPRD - Sem Padrão Racial Definido
UI - Unidade internacional
μg - micrograma
xi
SUMÁRIO
CAPITULO 02
Características quantitativas in vivo e da carcaça de cordeiros alimentados
com dietas contendo torta de amendoim
RESUMO 33
ABSTRACT 34
Introdução 35
Material e métodos 36
Resultados e discussão 44
Torta de amendoim em dietas para cordeiros Página
1. INTRODUÇÃO GERAL 1
CAPÍTULO 01
Desempenho produtivo e digestibilidade de nutrientes em cordeiros
submetidos a dietas com torta de amendoim
RESUMO 5
ABSTRACT 6
Introdução 7
Material e métodos 8
Resultados e discussão 15
Conclusões 27
Referências Bibliográficas 28
Conclusões 51
Referências Bibliográficas 52
CAPÍTULO 03
Avaliação do perfil metabólico, proteico, energético e hepático de cordeiros
terminados em confinamento com dietas contendo torta de amendoim
RESUMO 58
ABSTRACT 59
Introdução 60
Material e métodos 61
Resultados e discussão 63
Conclusões 75
Referências Bibliográficas 76
Considerações Finais e Implicações 82
Referências Bibliográficas 83
xii
1
INTRODUÇÃO GERAL
A ovinocultura é uma atividade desenvolvida em diversas partes do mundo,
estando 1,08 bilhões de ovinos distribuídos em diferentes condições climáticas, relevos
e tipos de vegetação (FAO, 2011), pelo fato de se tratarem de animais rústicos e de fácil
adaptação. Como destacado por Guerra et al. (2012), a criação de ovinos representa uma
fonte de renda para os produtores rurais, através da obtenção de carne, leite, pele e
derivados.
De acordo com dados disponibilizados pelo IBGE (2012), o efetivo do rebanho
ovino brasileiro no ano de 2011 foi de cerca de 17,7 milhões de cabeças, sendo liderado
pela região nordeste com 10,11 milhões de cabeças concentrados principalmente nos
municípios de Casa Nova, Juazeiro, Uauá, Monte Santo e Curaçá. Embora grande parte
do rebanho brasileiro esteja concentrado na região nordeste (56,7%), o estado do Rio
Grande do Sul apresenta 22,89% do rebanho ovino brasileiro com 4,95 milhões de
ovinos. Ainda segundo o IBGE (2012), além da Bahia que detém 17,98% do rebanho
região nordeste, destacam-se também os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, que
apresentam 17,98%, 12,08% e 9,34% do rebanho brasileiro, respectivamente, sendo
constituído em grande parte por animais deslanados e semilanados, Sem Padrão Racial
Definido (SPRD) e das raças Santa Inês, Morada Nova e Somalis (SILVA e ARAÚJO,
2000).
Apesar da rusticidade da espécie ovina, são verificados baixos índices
produtivos na ovinocultura pelo fato de ser comumente desenvolvida de forma
extensiva no Brasil, afetando de forma significativa a qualidade das carcaças desses
animais (SANDERS et al., 2011). Diante dessa realidade e da crescente demanda de
carne ovina com qualidade satisfatória, a ovinocultura tem sofrido modificações a fim
de disponibilizar ao consumidor um produto final que consiga atender as suas
exigências. A crescente demanda global por carne ovina, associada ao aumento da
exigência do mercado consumidor por carnes com qualidade superior e baixo conteúdo
lipídeos e de colesterol, tem estimulado o interesse dos produtores rurais e indústrias
pela produção de um produto com qualidade final satisfatória e de forma padronizada
(SCHÖNFELDT e GIBSON, 2008).
2
A criação de cordeiros em sistema de confinamento tem se tornado uma
alternativa para regularizar a oferta de animais aos frigoríficos, auxiliando no
incremento da comercialização da carne de ovinos. Técnicas de manejo nutricional
adequadas podem promover intensificação da produção de carne de qualidade,
viabilizar a regularização da oferta do produto no mercado, além disso possibilita
elevação da lucratividade dos produtores (CARDOSO et al., 2006). Embora esse
sistema de criação proporcione aumento da produtividade e incremento do desempenho
dos ovinos (Barros et al., 2001), apresenta elevados custos de produção devido ao uso
de concentrados na alimentação animal.
Segundo Goes et al. (2010), o milho e o farelo de soja são os dois principais
alimentos utilizados na elaboração da ração como fonte energética e proteica, em
virtude de não apresentarem fatores nutricionais que possam impedir consumo pelos
animais. Entretanto, os custos desses insumos são elevados sendo necessário para
viabilizar economicamente o confinamento, a formulação de rações com alimentos
alternativos disponíveis em cada região e que apresentem boa qualidade nutricional
(PEREIRA et al., 2008). No Brasil, isso pode ser feito através do aproveitamento de
coprodutos provenientes da produção do biodiesel sob a forma de tortas e farelos de
baixos custos de produção, que atendem as exigências de mantença dos ruminantes, por
serem animais que conseguem converter alimentos que não são uteis para os seres
humanos, em proteínas de alto valor biológico (BRINGEL et al., 2011; CARRERA et
al., 2012).
Dentre as sementes oleaginosas utilizadas para a produção do biodiesel no
Brasil, merece destaque o amendoim (Arachis hypogaea L.) devido ao conteúdo
proteico praticamente semelhante ao do farelo de soja (ABDALLA et al., 2008).
Segundo dados disponibilizados pelo IBGE (2012), estima-se que a produção de
amendoim entre os anos de 2011 e 2012 apresentou uma expansão em termos de
produção passando de 256,05 mil toneladas no ano de 2011 para 318,12 mil toneladas
em 2012, estando 80% da produção concentrada no estado de São Paulo, seguido pela
Bahia (3,6%) e Mato Grosso (2,8%). Acompanhando a tendência de aumento da
produção, houve aumento da área cultivada de 92,54 para 103,5 mil hectares entre os
anos de 2011 e 2012 no Brasil.
3
Do ponto de vista econômico, a cultura do amendoim torna-se relevante devido à
qualidade nutricional, sendo constituído com cerca de 20 a 30% de proteína e
aproximadamente 50% de óleo (SANTOS et al., 2006). Dessa forma, a torta de
amendoim obtida a partir da cadeia de produção do biodiesel dado o alto teor proteico,
em torno de 45%, é comumente destinada à alimentação animal (CARNEIRO, 2006).
Palmieri et al. (2012) enfatizaram que para um adequado desempenho animal e
rendimento de carcaça é necessário que seja levado em consideração não somente o uso
de fontes alimentares de adequado valor nutritivo na produção animal, como também os
custos de produção desses alimentos. Ainda segundo estes autores, o estudo de fontes
alimentares com preços mais acessíveis em relação aos os usualmente utilizados, têm
sido cada vez mais consideradas por pesquisadores pelo fato de não competirem com a
alimentação humana.
A avaliação da viabilidade econômica, do desempenho produtivo, perfil
metabólico são fundamentais para o conhecimento do potencial da torta de amendoim
na dieta de ruminantes. Assim como demais alimentos alternativos, é relevante o estudo
da influencia da nutrição e desse coproduto na qualidade da carne e da carcaça ovina, de
modo que possa ser utilizada como uma nova fonte proteica na formulação de rações.
Diante do exposto, objetivou-se avaliar o efeito da substituição do farelo de soja
pela torta de amendoim na alimentação de cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês, com
base no consumo, digestibilidade, desempenho produtivo e econômico, balanço
nitrogenado e parâmetros sanguíneos.
4
CAPÍTULO 01
Desempenho produtivo e digestibilidade de nutrientes em cordeiros
submetidos a dietas com torta de amendoim
5
CAPÍTULO 1
Desempenho produtivo e digestibilidade de nutrientes em cordeiros
submetidos a dietas com torta de amendoim
RESUMO
Objetivou-se avaliar o efeito da substituição do farelo de soja pela torta de amendoim na
dieta de cordeiros por intermédio do consumo, desempenho, digestibilidade e balanço
de nitrogênio e avaliação econômica. Utilizou-se quarenta e cinco cordeiros mestiços
Dorper x Santa Inês, não-castrados, com peso corporal médio inicial de 24,49 ± 5,27 kg,
entre quatro e seis meses de idade, distribuídos em um delineamento experimental
inteiramente casualizado com cinco tratamentos e nove repetições. O experimento teve
duração de 84 dias, e os cordeiros foram alimentados com feno de Tifton-85 e
concentrado composto de grão de milho moído, farelo de soja, premix mineral e torta de
amendoim em substituição ao farelo de soja nos níveis 0,0; 25,0; 50,0; 75,0 e 100% de
substituição. Durante o período experimental foram quantificadas e coletadas amostras
dos alimentos, sobras e fezes dos animais, para avaliação do consumo e digestibilidade.
Para avaliação do balanço de nitrogênio foi feita coleta de urina spot. Os dados foram
submetidos à análise estatística de variância e regressão. Apesar do consumo de extrato
etéreo não ter sido afetado pelas dietas, os consumos de matéria seca, matéria orgânica,
proteína bruta, carboidratos não-fibrosos e nutrientes digestíveis totais apresentaram
comportamento linear decrescente à medida que o farelo de soja foi substituído pela
torta de amendoim. Os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes não foram
influenciados pelos níveis de torta de amendoim nas dietas, com exceção da
digestibilidade da proteína bruta em que foi verificado efeito linear crescente. Houve
efeito para os ganhos de peso médio diário e total, verificando-se diminuição. A
conversão alimentar apresentou efeito linear crescente em função dos níveis de torta de
amendoim. Embora a quantidade de nitrogênio ingerido tenha sido afetada pelo
consumo de proteína bruta, a excreção urinária e fecal de nitrogênio não foi influenciada
pela substituição da fonte proteica. A quantidade de nitrogênio retido e ingerido foi
afetada negativamente pelos níveis de torta. A torta de amendoim utilizada em
substituição ao farelo de soja no concentrado diminui o desempenho produtivo de
cordeiros, porém reduz os custos com alimentação na criação de cordeiros.
Palavras-chave: alimento alternativo, biodiesel, confinamento, ganho de peso, ovinos
6
Performance and nutrient digestibility of lambs submitted to diets with
groundnut cake
ABSTRACT
This study was conducted to assess the effect of replacing soybean meal by groundnut
cake in the diet of lambs by feed intake, performance, nutrient digestibility and nitrogen
balance and economic evaluation. There were used forty five crossbred Dorper x Santa
Inês lambs, non-castrated, with initial body weight of 24.49 ± 5,27 kg, between four and
six months, allocated in a completely randomized design with five treatments and nine
replicates. The experiment lasted 84 dias and the lambs were fed with Tifton-85 hay and
concentrated mix with ground corn, soybean meal, mineral premix and groundnut cake
in 0,0; 25,0; 50,0; 75,0 and 100% in replacement of soybean meal. During the
experimental period samples of food, orts and feces of the animals were quantified and
collected to evaluate the intake and digestibility. The nitrogen balance was assessed
with spot urine sample. Data were subjected to statistical analysis of variance and
regression. Although the ether extract intake has not shown a significant effect in terms
of levels of groundnut cake in the experimental diets, the dry matter, organic matter,
crude protein, total carbohydrate, total digestible nutrient intake showed linear decrease
behavior as the soybean meal was replaced by groundnut cake. The apparent
digestibilities coefficients of nutrients were not influenced by the levels of groundnut
cake in the diets, except the crude protein digestibility which increases linearly. There
were observed effects for average daily weight gain and total gain of the lambs,
verifying decrease. The feed conversion increased linearly as a function of the levels of
groundnut cake. Although the amount of nitrogen intake has been affected by the crude
protein intake, the urinary and fecal excretion of nitrogen were not influenced by the
substitution of the protein source. The amount of nitrogen retained and ingested were
negatively affected by the levels of the cake. The groundnut cake used to replace
soybean meal in the concentrate decreases the productive performance of lambs, but
decreases feed costs.
Keywords: alternative food, biodiesel, feedlot, sheep, weight gain
7
INTRODUÇÃO
A ovinocultura é uma atividade econômica que se encontra difundida a nível
mundial, servindo como fonte de subsistência dos produtores rurais e de proteínas de
alto valor biológico, como carne e leite. Segundo dados disponibilizados pela FAO
(2012) os maiores rebanhos ovinos no ano de 2010, estavam concentrados na China,
Índia, Austrália, Irã, Sudão totalizando aproximadamente 35,4% do rebanho mundial.
No Brasil e no mundo, comumente esta atividade é desenvolvida em regiões semiáridas
sendo possível pela capacidade de adaptação dos ovinos a ambientes com condições
edafoclimáticas adversas. Apesar disso, são verificados baixos índices de desempenho
produtivo desses animais devido aos longos períodos de estiagens e oferta irregular de
nutrientes e de forragem de boa qualidade.
Uma alternativa para contornar esse entrave, é a busca por alimentos alternativos
que apresentem qualidade nutricional satisfatória, e que possam vir a serem utilizados
como fonte proteica, permitindo a manutenção do desempenho e produtividade da
espécie ovina nos períodos de escassez de alimentos.
Oliveira et al. (2012) destacaram a possibilidade do uso de coprodutos
provenientes da produção do biodiesel na nutrição de ruminantes, com o intuito de
aumentar os índices produtivos e lucratividade das atividade agrárias em bovinos,
caprinos e ovinos. As tortas e farelos provenientes dessa cadeia produtiva apresentam
grande potencial como fontes alimentares alternativas, principalmente de ruminantes,
uma vez que possuem consideráveis concentrações de proteína e extrato etéreo,
caracterizando-as como alimentos proteicos e/ou energéticos (SANTOS et al., 2012).
De acordo com Okello et al. (2010), o amendoim é uma excelente fonte de óleo
sendo a torta proveniente desta oleaginosa utilizada na nutrição animal. Segundo
Abdalla et al. (2008), o conteúdo proteico desta torta pode variar de 41 a 45% e o teor
de lipídios entre 8 a 9%. Ainda de acordo com estes autores, embora as exigências
nutricionais de proteína e energia possam ser atendidas com o uso deste coproduto,
devido à composição bromatológica química similar ao farelo de soja, é de fundamental
importância o conhecimento da forma que pode interferir sobre o consumo,
digestibilidade e desempenho produtivo desses animais. Logo, a inclusão da torta de
amendoim nas rações, por se tratar de uma fonte alimentar alternativa deve ser feito
8
criteriosamente, a fim de verificar o seu potencial em substituição ao farelo de soja,
alimento tradicionalmente utilizado em dietas de ruminantes.
Dessa forma, objetivou-se avaliar a utilização da torta de amendoim em
substituição ao farelo de soja, na dieta de cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês por
meio da avaliação do consumo, desempenho, digestibilidade de nutrientes, balanço de
nitrogênio e custos com alimentação.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Escola de Medicina
Veterinária e Zootecnia pertencente à Universidade Federal da Bahia, localizada no
município de São Gonçalo dos Campos – Bahia, durante o período de janeiro a abril de
2011.
Foram utilizados 45 cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês, não-castrados,
vacinados e everminados, com 4 a 6 meses de idade e peso corporal inicial de 24,49 ±
5,27 kg, foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado com cinco
tratamentos e nove repetições. Os tratamentos corresponderam aos cinco níveis de torta
de amendoim (0,0; 25,0; 50,0; 75,0 e 100%) em substituição ao farelo de soja (Tabela
2). Os animais foram alojados em baias individuais, cobertas, com piso ripado e
suspenso, equipadas com bebedouros e cochos de alimentação, de modo que houvesse
acesso irrestrito à água e às dietas durante todo o período experimental.
Os cordeiros foram mantidos em regime de confinamento durante 63 dias,
precedidos de 21 dias destinados à adaptação às instalações, às dietas e ao manejo
diário, e nesta fase receberam volumoso de feno de Tifton-85 ad libitum, e proporções
crescentes das rações experimentais. Após esse período, os animais foram submetidos à
fase experimental, composta por três períodos consecutivos de 21 dias, destinados para
a coleta de amostras e dados para a avaliação do consumo, digestibilidade dos
nutrientes, desempenho e balanço de nitrogênio.
Os cordeiros foram alimentados duas vezes ao dia, às 09:00 e metade às 16:00
horas, na forma de mistura completa em uma relação volumoso:concentrado de 50:50, a
fim de minimizar a seleção pelos animais. Utilizou-se como fonte volumosa o feno de
9
capim Tifton-85 (Cynodon sp.) moído em partícula de aproximadamente 5 cm. O
concentrado foi constituído de grão de milho moído, farelo de soja, ureia, sulfato de
amônio, suplemento mineral específico para ovinos e torta de amendoim (Tabela 1).
As dietas foram formuladas para serem isonitrogenadas (14% de PB) segundo as
recomendações do National Research Council (NRC, 1985), de modo a atender as
exigências nutricionais para cordeiros com ganhos de peso estimados de 200g/dia.
Durante todo o experimento foram coletadas amostras dos ingredientes e das dietas para
análise de sua composição bromatológica (Tabelas 1 e 2).
Tabela 1. Composição bromatológica dos ingredientes utilizados nas dietas
experimentais
Item
Ingrediente
Feno de
Tifton-85
Grão de milho
moído
Farelo de
soja
Torta de
amendoim
Matéria seca 85,70 92,91 89,25 89,07
Matéria orgânica¹ 93,11 98,55 93,53 94,95
Matéria mineral¹ 6,89 1,45 6,47 5,05
Proteína bruta¹ 3,89 5,94 40,62 38,69
Extrato etéreo¹ 1,07 4,06 1,91 9,95
PIDN¹ (% da PB) 67,90 16,90 6,19 5,42
PIDA² (% da PB) 14,20 8,90 3,19 1,94
Fibra em detergente neutro¹ 73,87 15,33 13,19 14,03
Fibra em detergente ácido¹ 40,51 3,46 8,00 8,58
Lignina¹ 5,00 2,37 1,63 4,30
Celulose¹ 35,51 1,09 6,37 4,28
Hemicelulose¹ 33,36 11,87 5,19 5,45
Carboidratos não fibrosos¹ 14,28 73,22 37,81 32,28 1Valor expresso em % da matéria seca. PIDN¹= proteína indigestível em detergente neutro, PIDA² =
proteína indigestível em detergente ácido.
Tabela 2. Composição percentual dos ingredientes e bromatológica das dietas
experimentais
Ingrediente (% MS)
Nível de torta de amendoim (%)
0 25 50 75 100
Grão de milho moído 28,10 28,10 28,10 28,10 28,10
Farelo de soja 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
Torta de amendoim 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00
Suplemento minerala
1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
10
Ureia 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Sulfato de amônio 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Feno de Tifton-85 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Composição bromatológica
Matéria seca 87,12 88,82 88,99 88,90 89,74
Matéria orgânica¹ 94,10 93,71 94,08 94,07 94,18
Matéria mineral¹ 6,40 6,29 6,41 6,40 6,36
Proteína bruta¹ 12,60 12,40 12,49 12,44 11,87
Extrato etéreo¹ 1,99 2,73 3,60 4,40 5,55
PIDN² (% da PB) 27,73 27,67 27,54 27,51 27,44
PIDA³ (% da PB) 8,17 7,92 7,89 7,86 7,64
Fibra em detergente neutro¹ 44,50 44,19 44,17 42,84 42,62
Fibra em detergente ácido¹ 23,87 23,78 23,70 22,77 23,29
Lignina¹ 3,64 3,78 3,81 3,11 3,73
Celulose¹ 20,23 20,00 19,89 19,66 19,56
Hemicelulose¹ 20,63 20,41 20,47 20,07 19,33
Carboidratos não-fibrosos¹ 34,51 34,39 33,33 33,92 33,60
Nutrientes digestíveis totais4
67,15 67,19 67,24 67,30 67,61 aNíveis de garantia (por kg em elementos ativos): cálcio - 120 g; fósforo - 87g; sódio - 147g; enxofre -
18g; cobre – 590 mg; cobalto - 40mg; cromo – 20 mg; ferro - 1.800 mg; iodo – 80 mg; manganês - 1.300
mg; selênio – 15 mg; zinco - 3.800 mg; molibdênio – 300 mg; flúor máximo – 870 mg; solubilidade do
fósforo (P) em ácido cítrico a 2% mínimo - 95%. ¹Valor expresso em % da matéria seca. PIDN¹= proteína
indigestível em detergente neutro; PIDA² = proteína indigestível em detergente ácido, 4 Nutrientes
digestíveis totais estimados pelas equações de Detmann et al. (2006a, 2006b, 2006c, 2007). *Análises
realizadas no Laboratório de Nutrição Animal (LANA) da UFBA.
Durante os três períodos experimentais foram coletadas semanalmente amostras
do fornecido e das sobras, as quais foram acondicionadas em sacos plásticos
devidamente identificados e armazenados em freezer a -20ºC. Após o descongelamento,
amostras de volumoso, concentrado e as sobras foram submetidas à pré-secagem em
estufa de ventilação forçada a 55°C durante 72 horas. Em seguida, trituradas em
moinhos de faca tipo Willey com peneira de 1 mm, armazenadas em frascos plásticos
com tampa, etiquetados prontas para as análises laboratoriais.
Dessa forma, conforme as metodologias descritas na AOAC (1990) foram
realizadas as determinações dos teores de matéria seca, matéria mineral, proteína bruta e
extrato etéreo de todas as amostras de alimentos e sobras. Em todas as amostras, os
teores de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente acido (FDA) foram
obtidos conforme Van Soest et al. (1991) e os teores de proteína insolúvel em
11
detergente neutro (PIDN) e acido (PIDA) segundo Licitra et al. (1996). A lignina foi
determinada por meio do tratamento do resíduo de fibra em detergente ácido com ácido
sulfúrico a 72%, de acordo com Silva e Queiroz (2002).
A porcentagem de carboidratos totais (CHT) foi calculada segundo a equação de
Sniffen et al. (1992) e os carboidratos não-estruturais (CNE), por meio da diferença
entre os carboidratos totais e a fibra em detergente neutro (MERTENS et al., 1997). O
teor de nutrientes digestíveis totais (NDT) foi estimado através da fórmula proposta por
Weiss et al. (1999): NDT = PBD + 2,25 X EED + CNFD + FDND, sendo PBD, EED,
CNFD e FDND as frações digestíveis da proteína bruta, extrato etéreo, carboidratos
não-fibrosos e fibra em detergente neutro, respectivamente.
O ensaio de digestibilidade, realizado entre o 30° e 37° dia do confinamento, foi
procedido com 20 cordeiros (quatro cordeiros de cada tratamento), adotando-se o
método de coleta total de fezes. Assim, os três primeiros dias foram destinados à
adaptação dos cordeiros às bolsas coletoras seguido de cinco dias subsequentes de
coleta total de fezes. Entre o 33° e 37° dia do confinamento, realizou-se a coleta de
fezes diretamente das bolsas coletoras, duas vezes ao dia (08:00 e 15:00 horas). Em
seguida, após ter sido registrada a produção total de fezes de cada animal foram
retiradas alíquotas de aproximadamente 10% do total coletado, as quais foram
acondicionadas em sacos plásticos individuais identificados e armazenadas em freezer.
Durante o ensaio de digestibilidade foram coletadas amostras dos alimentos
fornecidos que também foram acondicionados em sacos plásticos, que foram
submetidas à pré-secagem em estufa com circulação forçada a 65°C por 72 horas. Em
seguida, realizou-se a moagem em moinho tipo Willey com peneira de 1 mm e foram
elaboradas amostras compostas por animal, devidamente acondicionadas em frascos
plásticos identificados para posteriores análises laboratoriais.
Os coeficientes de digestibilidade da matéria, proteína bruta, extrato etéreo, fibra
em detergente neutro, carboidratos não-fibrosos foram calculados a partir da seguinte
equação:
CD= [(kg da fração ingerida – kg da fração excretada)] / (kg da fração ingerida) X 100
12
Foi estimado o consumo dos nutrientes (MS, MO, FDN, EE, PB, CNF, NDT),
subtraindo-se o total de cada nutriente contido nos alimentos ofertados e o total de cada
nutriente contido nas sobras.
O desempenho dos cordeiros foi calculado por meio da pesagem individual dos
animais, as quais foram realizadas no início do experimento e a cada 21 dias para a
obtenção do ganho médio diário (GMD). As pesagens foram realizadas sempre pela
manhã, após o período de jejum de sólidos de aproximadamente 10 horas.
Diariamente, às 07:00 horas da manhã, antes do fornecimento da refeição
matutina, as sobras foram recolhidas e pesadas em balança digital para determinação do
consumo de matéria seca. Dessa forma, o consumo de matéria seca foi obtido através do
ajuste da quantidade de ração ofertada aos cordeiros de modo a permitir entre 10 e 20%
de sobras.
A conversão alimentar foi obtida utilizando-se a média do consumo de matéria
seca dos cordeiros alimentados com os diferentes níveis de substituição do farelo de
soja (0,0%; 25,0%; 50,0%; 75,0 e 100,0%), dividido pelo ganho médio diário, o qual foi
calculado pela diferença de peso corporal final e inicial dos animais divido pelo número
de dias do período experimental (63 dias), sendo expresso em kg/dia.
No 18°, 20° e 22° dia do terceiro período experimental, foram coletadas
amostras de urina dos animais, cerca de quatro horas após o fornecimento matinal da
alimentação. Por meio de micção espontânea, a urina foi coletada com auxílio de copos
plásticos, e ao final de cada coleta as amostras foram filtradas com auxílio de gaze,
retirando-se uma alíquota de 10 mL de urina. Posteriormente, as amostras foram
diluídas em 40 mL de solução de ácido sulfúrico a 0,036N (VALADARES et al., 1999).
Em seguida, foram acondicionadas em frascos plásticos identificados e armazenadas a -
20°C destinadas à quantificação das concentrações urinárias de creatinina.
A excreção diária de creatinina (mg/kg de PC) foi determinada pela
multiplicação da concentração de creatinina pelo peso corporal médio de cada cordeiro
dividido pela concentração de creatinina (mg/L), como demonstrado a seguir:
EDC = CCT (mg/L) X VU (L) / PC (kg)
Onde: EDC = excreção diária de creatinina (mg/L) (coleta total); VU = o volume
urinário; PC = peso corporal do animal (kg).
13
Foi considerado que cada animal excreta 17,05 mg de creatinina por kg de peso
corporal (Pereira, 2012), e a partir da concentração de creatinina na amostra spot na
urina, calculou-se o volume diário excretado como demonstrado a seguir:
VU (L) = EDC
CCspot
As concentrações de creatinina na urina foram estimadas utilizando-se kits
comerciais (Bioclin®), sendo estes valores utilizados para estimativa do volume
urinário dos animais.
A avaliação do teor de nitrogênio nas amostras do material consumido, das fezes
e da urina foi realizada segundo metodologia descrita pela AOAC (1990). A retenção de
nitrogênio (N-retido, g/dia) foi realizado por meio da seguinte fórmula:
N-retido = N ingerido (g) – N nas fezes (g) – N na urina (g)
Todos os preços utilizados nos cálculos dos custos de alimentação (CA) foram
os praticados no mês de maio de 2011, sendo obtidos na cidade de Salvador por meio da
seguinte fórmula:
CA = [(CMSi x Período de confinamento) x CDex]
Em que: CMSi = consumo de matéria seca individual; Período de confinamento = 63
dias; e CDex = custo da dieta experimental em R$/Kg.
As receitas foram calculadas multiplicando-se os rendimentos de carcaça de
cada animal (Kg) pelo preço de mercado pago por quilograma de carcaça de R$ 8,30. A
avaliação da lucratividade foi avaliada através da diferença entre os valores de receita
com a venda dos animais e os valores das despesas provenientes dos custos com
alimentação.
A relação benefício/custo foi utilizada com o intuito de comparar os valores do
peso de carcaça multiplicado pelo preço da carcaça em quilos em relação à quantidade
gasta na alimentação. O ponto de nivelamento foi calculado pela divisão do custo com
alimentação pelo preço do quilograma da carne. As variáveis relacionadas com o custo
econômico do experimento foram analisadas segundo Nogueira (2007).
14
Os resultados do desempenho produtivo foram analisados por meio do comando
PROC GLM (do programa estatístico SAS 9.1®). Contrastes polinomiais foram
utilizados para obter os efeitos linear e quadrático dos tratamentos. O peso inicial foi
utilizado no modelo estatístico como covariável. Os resultados da avaliação econômica
foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e de regressão a 5% de
probabilidade, utilizando-se o programa SAEG (Sistema de Análises Estatísticas e
Genéticas), versão 9.1 (SAEG, 2007).
15
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A substituição do farelo de soja pela torta de amendoim proporcionou redução
no consumo de matéria seca (Tabela 3) pelos cordeiros. Esse efeito pode ser associado
ao aumento dos teores de extrato etéreo das dietas, uma vez que o consumo de matéria
seca pode ter sido limitado pelo teor lipídico das dietas e não devido à repleção física
ruminal, pois o conteúdo de fibra das dietas foi semelhante (Tabela 2).
Tabela 3. Consumo diário dos componentes nutricionais em kg, g/kg PC0,75
e em g/kg
de PC em cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês submetidos a dietas com
torta de amendoim em substituição ao farelo de soja no concentrado
¹EPM = erro padrão da média. L² = Significância para efeito linear. Q³ = Significância para efeito
quadrático. Valor-P* = probabilidade significativa ao nível de 5%. Matéria seca (MS), Matéria orgânica
(MO), Proteína bruta (PB), Extrato etéreo (EE), Fibra em detergente neutro (FDN), Carboidratos não-
fibrosos (CNF), Nutrientes digestíveis totais (NDT).
Item
Nível de substituição (%)
EPM¹
Valor-P*
0 25 50 75 100 L² Q³
Consumo em kg/dia
MS 1,096 1,077 0,965 0,872 0,785 0,1044 < 0,0001 0,3401
MO 1,117 1,110 0,879 0,894 0,805 0,1701 < 0,0001 0,8020
PB 0,170 0,166 0,150 0,137 0,120 0,0159 < 0,0001 0,4568
EE 0,026 0,027 0,025 0,024 0,023 0,0033 0,1574 0,2932
FDN 0,451 0,438 0,394 0,352 0,320 0,0433 < 0,0001 0,4352
CNF 0,298 0,276 0,147 0,126 0,097 0,0425 < 0,0001 0,9224
NDT 0,701 0,715 0,644 0,538 0,568 0,0627 < 0,0001 0,6325
Consumo em g/kg PC0,75
MS 35,25 34,07 30,79 29,04 26,40 6,8692 < 0,0001 0,6056
FDN 85,59 83,69 76,05 71,76 64,68 2,8592 < 0,0001 0,7647
Consumo em g/kg de PC
MS 3,67 3,59 3,28 3,13 2,82 0,2830 < 0,0001 0,7233
FDN 1,51 1,46 1,33 1,27 1,15 0,1185 < 0,0001 0,0895
Equações de regressão
MS (kg/dia) Ŷ= 1,1247 - 0,0033X (R² = 0,96)
MS (kg/kg PC0,75
) Ŷ= 87,105 - 0,215X (R² = 0,97)
MS (kg/kg de PC) Ŷ= 3,7288 - 0,0086X (R² = 0,97)
MO (kg/dia) Ŷ= 1,1288 - 0,0034X (R² = 0,85)
PB (kg/dia) Ŷ= 0,1743 - 0,0005X (R² = 0,96)
FDN(kg/dia) Ŷ= 0,4602 - 0,0014X (R² = 0,97)
FDN (kg/kg PC0,75
) Ŷ= 35,653 - 0,0909X (R² = 0,98)
FDN (kg/kg de PC) Ŷ= 1,5624 - 0,0036X (R² = 0,98)
CNF (kg/dia) Ŷ= 0,2933 - 0,0022X (R² = 0,90)
NDT (kg/dia) Ŷ= 0,7216 - 0,0018X (R² = 0,93)
16
Neste estudo, os resultados para o consumo de matéria seca estão de acordo com
o descrito pelo autor supracitado, pois a substituição do farelo de soja pela torta de
amendoim elevou o teor lipídico das dietas (Tabela 2), o que pode ter limitado o
consumo dos cordeiros. Como mencionado por Bassi et al. (2012), os efeitos inibitórios
dos lipídeos sobre a fermentação ruminal e o consumo comumente são embasados em
duas teorias, as quais estão relacionadas ao impedimento físico e o efeito tóxico que
causam nos microrganismos do rúmen. De acordo com Palmquist e Jenkins (1980), para
o bom funcionamento do ecossistema ruminal o teor de extrato etéreo na dieta dos
ruminantes é aceitável até 7%. Teor superior a este acarreta problemas relacionados ao
decréscimo na degradação da fibra da dieta, pois há formação de uma camada
hidrofóbica pelos lipídeos impedindo o metabolismo e a perfeita aderência das bactérias
à fibra. Consequentemente, isto compromete a proximidade das enzimas fibrolíticas ao
material fibroso, possuindo ação tóxica sobre os microrganismos ruminais gram-
positivos (CANT et al., 1997). A outra teoria tem sido atribuída aos efeitos tóxicos dos
ácidos graxos insaturados sobre os microrganismos, que segundo Palmquist (1991),
Jenkins (1993) e Harfoot e Hazlewood (1997) acontecem devido à alteração na fluidez e
permeabilidade da membrana citoplasmática.
O consumo de proteína bruta expressou efeito linear decrescente (P<0,05) que
pode ser explicado pela diminuição do consumo de matéria seca, uma vez que as dietas
foram isonitrogenadas (Tabela 3). De forma similar, o consumo de matéria orgânica
acompanhou a queda do consumo de matéria seca, o qual resultou em menor consumo
de nutrientes, pois as rações continham teores semelhantes de matéria orgânica (Tabela
2). O efeito observado encontra-se condizente com o exposto no NRC (2001), pois o
consumo de matéria seca é considerado o fator mais importante dentro da nutrição pelo
fato de estabelecer as quantidades de nutrientes para a produção e saúde dos animais.
À medida que o farelo de soja foi substituído pela torta de amendoim houve
aumento dos teores de extrato etéreo nas dietas, contudo não interferiu (P>0,05) no
consumo dessa fração (Tabela 2). Como o consumo de matéria seca ficou reduzido nos
níveis mais elevados de substituição, e pelo fato do extrato etéreo estar contido na
matéria seca, os animais que apresentaram menor consumo de matéria seca, foram os
que tiveram o maior consumo de extrato etéreo não permitiu alteração no consumo de
extrato etéreo.
17
Apesar de ter sido mencionado por Palmquist (1989) que o uso de lipídeos
exerce efeito benéfico por proporcionar melhoria no aporte e densidade calórica das
dietas, evidencia-se nesse estudo que a substituição das fontes alimentares influenciou
de forma negativa o consumo de matéria seca. Este resultado corrobora o que foi
mencionado por Van Soest (1994), de que a demanda energética do animal define o
consumo de dietas com alta densidade calórica, ao passo que a capacidade física do
trato gastrintestinal determina a ingestão de dietas com baixo aporte energético.
Segundo Mertens (1994), quando o aporte energético da dieta é elevado e há baixa
concentração de FDN em relação às exigências do animal, o consumo pode ser limitado
pela demanda energética, não ocorrendo repleção ruminal. Tendo em vista que os
cordeiros foram alimentados com a torta de amendoim que apresentou um teor de
extrato etéreo variando de 1,99 a 5,55% (Tabela 2), e estavam dentro dos limites
considerados máximos (entre 5 e 7% de EE na MS) para dietas de animais ruminantes
(PALMQUIST e JENKINS, 1980). Sendo assim, o efeito depressor do consumo de
lipídeos sobre o consumo de matéria seca pode ser causado pela deflagração de outros
mecanismos fisiológicos de saciedade, os quais não estão associados a redução na
degradação ruminal da fibra (ALLEN, 2000). Segundo a teoria de Nicholson e Omer
(1983), a presença de ácidos graxos no trato digestório é capaz de promover a liberação
de colecistoquinina, o qual tem capacidade de limitar o consumo pela redução da
motilidade do rúmen, retículo e intestino delgado. Ainda segundo estes autores, há
redução não só no consumo de alimentos, como também na ingestão de matéria seca.
O consumo de fibra em detergente neutro (CFDN), nas diferentes formas de
expressão diminuiu linearmente (P<0,05) entre as dietas (Tabela 3). De forma similar ao
consumo de matéria seca, o comportamento verificado para o CFDN pode ser explicado
pelos valores mais altos de extrato etéreo nas rações contendo torta de amendoim
proporcionando redução no consumo desta fração (Tabela 2), devido a fatores
metabólicos.
O consumo de carboidratos não-fibrosos (CNF), quando estimado em Kg/dia
decresceu linearmente (P<0,05) em função dos níveis da torta de amendoim (Tabela 3).
Este resultado pode ter ocorrido, pelo decréscimo do teor de CNF nas dietas (Tabela 2),
e estão de acordo com Oliveira (2012), que ao avaliar o melhor nível de substituição do
18
farelo de soja por torta de amendoim na dieta de novilhos Holandês x Zebu verificou
diminuição linear no consumo de carboidratos não-fibrosos.
O estudo de regressão mostrou efeito linear decrescente (P<0,05) sobre o
consumo de nutrientes digestíveis totais (CNDT) com o aumento dos níveis de torta de
amendoim (Tabela 3). O comportamento verificado possivelmente está relacionado com
a redução do consumo das frações digestíveis que compõem os nutrientes digestíveis
totais, pois com exceção do extrato etéreo que não foi influenciado (P>0,05) pelas dietas
houve redução do consumo de proteína bruta, carboidratos não-fibrosos e fibra em
detergente neutro resultando no decréscimo do CNDT.
Não foi verificado efeito (P>0,05) das dietas sobre os coeficientes de
digestibilidade das frações nutricionais (Tabela 4). Tendo em vista que a relação de
volumoso e concentrado (50:50) foi semelhante para todas as dietas (Tabela 2) e que
realizou-se a moagem prévia tanto do volumoso quando do concentrado antes do
fornecimento aos animais, é possível inferir que em todas as dietas o controle da
ingestão foi realizado pela demanda energética do animal e não pelo tamanho da
partícula. De acordo com Conrad et al. (1964) e Van Soest (1994), dietas com
digestibilidade aparente da matéria seca superior a 66%, o consumo desta fração é
controlado por fatores fisiológicos e não pela repleção ruminal. Logo, é possível
constatar o efeito do teor de extrato etéreo sobre o consumo de matéria seca dos
cordeiros (Tabela 3).
Não foi observado efeito (P>0,05) das dietas sobre o coeficiente de
digestibilidade aparente da matéria seca (Tabela 4), indicando que houve semelhante
degradação da matéria seca entre as dietas. O coeficiente de digestibilidade da matéria
orgânica apresentou comportamento semelhante (P>0,05) ao coeficiente de
digestibilidade da matéria seca, que não foi afetado pelas dietas (Tabela 3). Este
resultado encontra-se de acordo com o que foi averiguado por Rocha Jr. et al. (2003) ao
analisarem o valor energético de vários alimentos para ruminantes e verificarem a alta
correlação nos coeficientes de digestibilidade da MS e MO. Além disso, o
comportamento verificado pode também ser atribuído pela ausência de efeito das dietas
sobre a digestibilidade dos carboidratos não-fibrosos.
Houve influência (P<0,05) da substituição do farelo de soja pela torta de
amendoim sobre o coeficiente de digestibilidade da proteína bruta (Tabela 4),
19
possivelmente maior solubilidade apresentada pelo nitrogênio presente na torta de
amendoim em comparação ao farelo de soja.
Tabela 4. Digestibilidade das frações nutricionais (%) de dietas com de torta de
amendoim em substituição ao farelo de soja para cordeiros mestiços Dorper x
Santa Inês
¹EPM = erro padrão da média. L² = Significância para efeito linear. Q³ = Significância para efeito
quadrático. Valor-P* = probabilidade significativa ao nível de 5%. Matéria seca (MS), Matéria orgânica
(MO), Proteína bruta (PB), Extrato etéreo (EE), Fibra em detergente neutro (FDN), Carboidratos não-fibrosos (CNF), Nutrientes digestíveis totais (NDT).
Os níveis de torta de amendoim não afetaram (P>0,05) o coeficiente de
digestibilidade do extrato etéreo das dietas (Tabela 1). A ausência de efeito significativo
sobre a digestibilidade de EE pode ser justificada pela semelhança (P>0,05) no consumo
de extrato etéreo para essas dietas (Tabela 3).
Embora o consumo de matéria seca pelos animais tenha sido limitado pelo
aumento dos níveis de extrato etéreo das dietas (Tabela 2), o aporte lipídico não exerceu
efeito (P>0,05) sobre a digestibilidade da fibra em detergente neutro. Tal resultado
demonstra a ausência de efeito deletério da torta de amendoim sobre a degradação da
fibra nas dietas.
O coeficiente de digestibilidade dos carboidratos não-fibrosos não diferiu
(P>0,05) entre as dietas (Tabela 4). Apesar do decréscimo desse componente (Tabela 2),
a ausência de efeito sobre a digestibilidade dos CNF pode estar associada ao fato das
dietas não terem influenciado na disponibilidade de nitrogênio no rúmen permitindo que
houvesse sincronismo entre a fonte de proteína e energia, uma vez que as dietas foram
formuladas para serem isonitrogenadas, havendo concomitante redução do consumo de
CNF e de proteína bruta.
Item
Nível de substituição (%)
EPM¹
Valor-P*
0 25 50 75 100 L² Q³
MS 72,75 73,24 75,90 76,09 77,98 3,8241 0,1587 0,9370
MO 78,79 79,72 81,14 81,55 82,95 2,9569 0,1643 0,8638
EE 86,95 87,74 89,93 89,55 89,54 2,5094 0,0982 0,6730
PB 78,89 80,65 83,97 84,93 85,57 3,7568 0,0221 0,8332
FDN 56,02 57,04 60,25 60,94 64,60 6,0509 0,2038 0,9572
CNF 79,84 85,88 87,48 86,66 84,17 5,9726 0,1195 0,2682
NDT 72,70 76,18 70,91 72,83 75,06 9,0210 0,8113 0,8644
Equação de regressão
PB Ŷ= 79,274 +0,0706X (R² = 0,92)
20
Houve efeito das dietas (P<0,05) sobre o nitrogênio ingerido (Tabela 5). Esse
resultado pode ser explicado pela diferente ingestão de proteína bruta, uma vez que foi
verificada redução do consumo de matéria seca total pelos cordeiros (Tabela 3),
resultando em menor consumo da fração proteica e ingestão de nitrogênio pelos animais
que consumiram a dieta contendo o maior nível de torta de amendoim.
Tabela 5. Balanço de nitrogênio, expresso em g/animal/dia, em cordeiros mestiços
Dorper x Santa Inês submetidos a dietas com torta de amendoim em
substituição ao farelo de soja no concentrado
Item
Nível de substituição (%)
EPM¹
Valor-P*
0 25 50 75 100 L¹ Q³
Nitrogênio (g/dia)
Ingerido 26,80 28,16 24,76 22,80 21,08 0,5639 0,0149 0,5238
Fecal 3,96 3,22 4,56 3,79 4,90 0,1427 0,1269 0,3855
Urinário 4,96 9,15 5,53 6,06 10,70 0,4067 0,0707 0,3374
Retido 19,07 15,78 14,66 12,94 5,49 0,5275 <0,0001 0,1985
Equações de regressão
Ingerido Ŷ= 28,0800 - 0,0672000X (R² = 0,85)
Retido Ŷ= 19,5925 - 0,12009X (R² = 0,88) ¹EPM = erro padrão da média; L² = Significância para efeito linear. Q³ = Significância para efeito
quadrático. Valor-P* = probabilidade significativa ao nível de 5%.
As perdas de nitrogênio urinária e fecal não foram afetadas (P>0,05) pelos níveis
de torta de amendoim (Tabela 5), possivelmente devido à semelhança do teor proteico
do farelo de soja e da torta de amendoim (Tabela 2), resultando em igual taxa de
excreção pelas fezes e urina nos animais.
De acordo com Van Soest (1994), níveis de degradação proteica superiores à
fermentação de carboidratos resultam em maior excreção de nitrogênio pela urina.
Ainda segundo o autor, no momento em que são fornecidas dietas contendo níveis
proteicos adequados, grande parte do nitrogênio sofre metabolização nos animais, sendo
reciclado para o rúmen, saliva ou então sofre difusão por meio da parede ruminal. Dessa
forma, apenas uma pequena quantidade de nitrogênio é convertida em ureia e excretada
na urina.
O balanço de nitrogênio foi positivo em todas as cinco dietas, porém houve
efeito (P>0,05) para a quantidade de nitrogênio retido (Tabela 5). Os cordeiros
alimentados com as dietas que não continha torta de amendoim como fonte proteica
apresentaram maior nível de nitrogênio retido, pois apresentaram maior consumo de
21
proteína bruta (Tabela 3). Dessa forma, apresentaram maior ganho de peso total e diário
devido à uma maior retenção de nitrogênio, o qual foi destinado para o desenvolvimento
corporal dos animais (Tabela 6).
Tabela 6. Desempenho em cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês submetidos a dietas
com torta de amendoim em substituição ao farelo de soja no concentrado
Item
Nível de substituição (%)
EPM¹
Valor-P*
0 25 50 75 100 L¹ Q³
GPT 12,86 12,66 12,03 8,85 7,40 0,3382 < 0,0001 0,0975
GMD 204 201 191 140 117 0,0053 < 0,0001 0,0975
CA 5,64 5,50 5,41 6,54 7,18 0,1727 0,0128 0,0725
Equações de regressão
GPT Ŷ= 13,6406 - 0,0561556X (R² = 0,84)
GMD Ŷ= 0,216517 - 0,000891358X (R² = 0,95)
CA Ŷ= 5,2895 + 0,0144598X (R² = 0,61) ¹EPM = erro padrão da média. L² = Significância para efeito linear. Q³ = Significância para efeito
quadrático. Valor-P* = probabilidade significativa ao nível de 5%. PVI = peso vivo inicial, PVF = peso
vivo final, GPT = ganho de peso total (kg), GMD = Ganho médio diário (g/dia), CA = conversão
alimentar (kg de MS consumida/ kg PV ganho).
Houve redução linear (P<0,05) do ganho médio diário (GMD), com decréscimos
estimados de 0,0008 g/dia à medida que o farelo de soja foi substituído pela torta de
amendoim (Tabela 6). Portanto, a diminuição no ganho de peso pode ser justificada pela
redução do consumo de matéria seca (Tabela 3) devido ao aumento do teor lipídico das
dietas, resultando em menor ingestão da fração proteica e de demais nutrientes pelos
animais e, portanto, comprometimento no desempenho produtivo dos animais.
A conversão alimentar foi afetada (P<0,05) pelos níveis de torta de amendoim da
dieta (Tabela 5). Sendo assim, para cada 1% da torta de amendoim acrescida ao
concentrado, foi verificado um aumento de 0,014g de matéria seca consumida para cada
grama de aumento no ganho de peso. A possível explicação para a piora na conversão
alimentar seria a redução do ganho médio diário devido ao aumento dos teores lipídico
das dietas, o qual limitou o consumo de matéria seca e dos nutrientes pelos animais
(Tabela 2).
De acordo com Packer e Haddad (1995) e Silveira e Domingues (1995) os
índices de conversão e eficiência alimentar são referentes à quantidade de alimento
consumido que será convertido em carne, leite ou outro produto. Ainda segundo estes
autores, o tipo de alimento, as condições do ambiente, o peso vivo durante o período
22
avaliado, bem como a composição do ganho e estado de saúde do animal, são fatores
que podem interferir nestas variáveis. Neste estudo, todos os cordeiros apresentavam
idade e condições ambientais similares. Portanto, os resultados desses índices foram
influenciados pelo menor consumo voluntario de matéria seca e de nutrientes como
proteína bruta e NDT, devido ao aumento do aporte energético e efeito de saciedade das
dietas.
A participação do concentrado nos custos com alimentação foi diminuindo
(P<0,05) à medida que o farelo de soja foi substituído pela torta de amendoim na dieta
dos ovinos (Tabela 7), promovendo redução nos custos com formulação da dietas e do
valor gasto com alimentação/animal/dia. Esse efeito pode ser fundamentado pelo menor
custo de aquisição da torta de amendoim (R$ 0,66) em comparação ao farelo de soja,
cujo preço por kg foi cerca de R$ 1,04.
Tabela 7. Custos com alimentação, em valores absolutos, do confinamento de cordeiros
mestiços Dorper x Santa Inês submetidos a dietas com torta de amendoim em
substituição ao farelo de soja no concentrado
¹ Custo R$/kg de matéria natural
Embora a relação volumoso:concentrado (50:50) não tenha variado entre as
dietas, houve influência dos custos de aquisição do feno e de cada ingrediente do
concentrado sobre os custos com alimentação (Tabela 8). Sendo assim, em valores
percentuais, houve aumento da contribuição do grão de milho moído representando
cerca de 23,80 a 26,40% dos custos das dietas, à medida que o farelo de soja foi
substituído pela torta de amendoim.
Ingrediente
Custo
(R$/Kg
de MN¹)
Nível de substituição (%)
0 25 50 75 100
Grão de milho moído 0,66 18,83 18,83 18,83 18,83 18,83
Farelo de soja 1,04 20,80 15,60 10,40 5,20 0,00
Torta de amendoim 0,66 0,00 3,30 6,60 9,90 13,20
Suplemento mineral 3,00 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20
Ureia 0,76 0,04 0,04 0,04 0,34 0,34
Sulfato de amônio 1,30 0,59 0,59 0,59 0,07 0,07
Feno de Tifton-85 0,69 34,55 34,55 34,55 34,55 34,55
Custo total com valor
de concentrado 79,00 77,10 75,20 73,08 71,18
23
Tabela 8. Custos com alimentação, em valores percentuais, do confinamento de
cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês submetidos a dietas com torta de
amendoim em substituição ao farelo de soja no concentrado
Ainda conforme a Tabela 8, a torta de amendoim resultou na redução de
aproximadamente 8% no custo das dietas, quando comparado ao farelo de soja,
demonstrando a viabilidade econômica do seu uso e possibilidade da sua inclusão no
balanceamento de rações. Dessa forma, comprova-se que embora a proteína seja
imprescindível para o adequado desenvolvimento dos animais, é um dos principais
fatores responsáveis pelos maiores custos da alimentação na fase de terminação, pelo
fato de se tratar do nutriente mais oneroso (TACON e FORSTERS, 2003). Isso
corrobora com o que foi destacado por Torres et al. (2003), de que um dos principais
entraves para o uso do farelo de soja como alimento proteico na alimentação de
ruminantes é o seu alto preço, ocasionando aumento nos custos de produção.
Apesar disso, vale ressaltar que embora o custo do feno de capim Tifton-85 não
tenha diferido entre os tratamentos, em termos percentuais, o volumoso foi responsável
por cerca de 50% dos custos das dietas, com valores um pouco inferiores aos
verificados no concentrado (Figura 2). Portanto, esse comportamento vai de encontro ao
que é comumente relatado na literatura, de que cerca de 70 a 80% dos custos com
alimentação no confinamento são decorrentes do uso de farelo de soja e milho no
concentrado. A partir disso, é relevante destacar que o volumoso pode ter grande
impacto na dieta dos animais, podendo juntamente com o concentrado ser o fator
responsável no comprometimento da viabilidade econômica desse sistema de produção.
Ingrediente Nível de substituição (%)
0 25 50 75 100
Grão de milho moído 23,8 24,40 25,00 25,80 26,40
Farelo de soja 26,30 20,20 13,80 7,10 0,00
Torta de amendoim 0,00 4,30 8,80 13,50 18,50
Suplemento mineral 5,30 5,40 5,60 5,70 5,90
Ureia 0,00 0,00 0,10 0,50 0,50
Sulfato de amônio 0,70 0,80 0,80 0,10 0,10
Feno de Tifton-85 43,7 44,8 45,90 47,30 48,50
Custo total com valor
de concentrado 56,3 55,20 54,10 52,70 51,50
24
Figura 1. Percentual de participação do volumoso e concentrado, em reais, sobre os
custos com alimentação na dieta de cordeiros Dorper x Santa Inês submetidos a dietas
com torta de amendoim em substituição ao farelo de soja no concentrado.
Houve efeito das dietas (P<0,05) sobre o custo com alimentação total/animal e
lucratividade (Tabela 9), sendo verificado maior retorno financeiro quando o farelo de
soja foi completamente substituído pela torta de amendoim.
Tabela 9. Custos com alimentação e retorno financeiro em relação à produção de carne
de cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês submetidos a dietas com torta de
amendoim em substituição ao farelo de soja no concentrado
Custos Nível de substituição (%)
EPM Valor-P*
0 25 50 75 100 L Q
Dias de
confinamento 63 63 63 63 63 -- -- --
Custo com
alimentação
total/animal¹
59,47
57,31
49,96
44,03
38,63
1,3052
<0,0001
0,6620
Lucratividade² 55,10 57,00 60,45 61,68 63,92 0,5156 <0,0001 0,7214
Benefício/custo³ 1,23 1,33 1,53 1,63 1,81 0,0350 <0,0001 0,8911
Preço de carne/
kg (R$)¹ 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 -- -- --
Ponto de
nivelamento
(kg)4
7,19 6,93 6,04 5,33 4,68 0,1651 <0,0001 0,6620
Equações de regressão
Custo com
alimentação total/
animal¹
Ŷ= 60,8772 - 0,219878X (R² = 0,98)
25
Lucratividade Ŷ= 55,1708 + 0,0892572X (R² = 0,98)
Benefício/custo³ Ŷ= 1,221116 + 0,00579893X (R² = 0,99)
Ponto de
nivelamento(kg)4
Ŷ= 7,36249 - 0,0264913X (R² = 0,98)
EPM = erro padrão da média; L= efeito linear; Q = efeito quadrático. Valor-P* = probabilidade significativa
ao nível de 5%. ¹Refere-se ao valor médio por animal ( Preços praticados na região de Salvador-BA durante
o mês de Maio de 2011); ²Total da receita (R$) – Total do custo (R$); ³Total de receita (R$) ÷ Total de custo
(R$); 4 Total de custo (R$) ÷ Preço de carne/kg (R$); NS = não significativo; R² = coeficiente de determinação.
De forma similar, também foi verificado efeito das dietas (P<0,05) sobre a
relação benefício:custo (Tabela 9). Dessa forma, para cada 1,00 do custo total das
dietas, obteve-se R$ 1,81 de retorno na dieta com o maior nível de substituição do farelo
de soja no concentrado.
Figura 2. Custos com alimentação total/animal e lucratividade (R$) de cordeiros Dorper x
Santa Inês submetidos a dietas com torta de amendoim em substituição ao farelo de soja
no concentrado.
A rentabilidade da dieta pode ser comprovada por meio do cálculo do ponto de
nivelamento, o qual é um indicador financeiro que relaciona a quantidade de venda do
produto permitindo o completo pagamento dos custos totais (AGY et al., 2012). Como é
possível visualizar na Tabela 8, na dieta com maior nível de substituição da torta de
amendoim a produtividade mínima exigida foi de 4,68 kg para que existisse igualdade
entre a receita e os custos, não ocorrendo, portanto prejuízos. Por outro lado, seria
necessário um maior peso de carcaça por animal (7,19 kg) de modo que houvesse
26
viabilidade econômica da criação de cordeiros alimentados com a dieta utilizando
somente como fonte proteica o farelo de soja.
Oliveira et al. (2012) ressaltaram vantagem para o produtor rural do uso das
tortas oriundas da produção de biodiesel para a alimentação de ruminantes,
principalmente devido à redução nos custos de produção e, de forma geral, manutenção
da produtividade e a qualidade do produto final gerado, apenas quando seja procedido o
adequado balanceamento das dietas de modo a atender as exigências nutricionais dos
animais. Como visto anteriormente, neste estudo houve redução nos custos com a
alimentação, porém foi acompanhada pela piora na conversão alimentar e nos ganhos de
peso total e médio diário.
Avaliando a viabilidade da substituição do farelo de soja pela torta de amendoim
na dieta de cabritos ½ Boer, Silva (2012) verificou efeito negativo da dieta estudada
sobre o ganho médio diário e ausência de comprometimento sobre a conversão
alimentar. De acordo com o autor, mesmo assim a torta de amendoim pode ser
recomentada para caprinos, pois nos animais que apresentaram menor ganho de peso
houve também menor consumo, fazendo com que houvesse redução no custo com
alimentação.
27
CONCLUSÕES
A substituição total do farelo de soja pela torta de amendoim reduz o consumo, o ganho
de peso e os custos com alimentação de cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês.
28
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABDALLA, A. L.; SILVA FILHO, J. C.; GODOI, A. R. et al. Utilização de
subprodutos da indústria de biodiesel na alimentação de ruminantes. Revista Brasileira
de Zootecnia, v. 37, p. 258-260, 2008. (suplemento especial).
AGY, M. S. F. A.; OLIVEIRA, R. L.; RIBEIRO, C. V. D. M. et al. Sunflower cake
from biodiesel production fed to crossbred Boer kids. Revista Brasileira de Zootecnia,
v. 41, n. 1, p. 123-130, 2012.
ALLEN, M.S. Effects of Diet on Short-Term Regulation of Feed Intake by Lactating
Dairy Cattle. Jounal of Dairy Science 83:1598–1624, 2000.
AOAC.ASSOCIATION OF OFFICAL ANALYTICAL CHEMISTS. Official methods
of analysis of the Association of official Analyical chemists. 15. ed., Arlington, 1990,
1018 p.
BASSI, M. S.; LADEIRA, M. M.; CHIZZOTTI, M. L. et al. Grãos de oleaginosas na
alimentação de novilhos zebuínos: consumo, digestibilidade e desempenho. Revista
Brasileira de Zootecnia, v. 41, n. 2, p. 353- 359, 2012.
CANT, J. P.; FREDEEN, A. H.; MACINTYRE, T. et al. Effect of fish oil and monensin
on milk composition in dairy cows. Canadian Journal of Animal Science, v. 77, n. 1,
p. 125-131, 1997.
CONRAD, H. R.; PRATT, A. D.; HIBBS, J. W. Regulation of feed intake in dairy
cows. I. Change in importance of physical and physiological factors with increasing
digestibility. Journal of Dairy Science, v. 47, n. 1, p. 54-62, 1964.
DETMANN, E.; PINA, D. S.; VALADARES FILHO, S. C. et al. Estimação da fração
digestível da proteína bruta em dietas para bovinos em condições brasileiras. Revista
Brasileira de Zootecnia, v.35, n.5, p.2101-2109, 2006a.
DETMANN, E.; VALADARES FILHO, S. C.; PINA, D. S. et al. Estimação da
digestibilidade do extrato etéreo em ruminantes a partir dos teores dietéticos:
desenvolvimento de um modelo para condições brasileiras. Revista Brasileira de
Zootecnia, v.35, n.4, p.1469-1478, 2006b.
DETMANN, E.; VALADARES FILHO, S. C.; HENRIQUES, L. T. et al. Estimação da
digestibilidade dos carboidratos não-fibrosos em bovinos utilizando-se o conceito de
entidade nutricional em condições brasileiras. Revista Brasileira de Zootecnia, v.35,
n.4, p.1479-1486, 2006c.
DETMANN, E.; VALADARES FILHO, S. C.; HENRIQUES, L. T. et al.
Reparametrização do modelo baseado na lei de superfície para predição da fração
29
digestível da fibra em detergente neutro em condições brasileiras. Revista Brasileira de
Zootecnia, v.36, n.1, p.155-164, 2007.
FAO. Food and agriculture organization of the United States. FAOSTAT, disponível
em: <http://faostat.fao.org/site/569/DesktopDefault.aspx?PageID=569#ancor>, acesso
em: 30/01/2012 às 14:50.
HARFOOT, C. G.; HAZLEWOOD, G. P. Lipid metabolism in the rumen. In:
HOBSON, P.N.; STWART, C.S. (Eds.). The rumen microbial ecosystem. Glasgow:
Blackie Academic & Professional,1997. p. 382-426.
HOOVER, W. H., STOKES, S. R. Balancing carbohydrate and proteins for optimum
rumen microbial yield. Journal Dairy Science, v. 74, n. 10, p. 3630-3644, 1991.
JENKINS, T. C. Lipid metabolism in the rumen. Journal of Dairy Science, v. 76, n.
12, p. 3851-3863, 1993.
LICITRA, G.; HERNANDEZ, T. M.; VAN SOEST, P. J. Standartization of procedures
for nitrogen fractionation of ruminants feeds. Animal Feed Science and Technology,
v. 57, n. 4, p. 347 358, 1996.
MERTENS, D. R. Creating a system for meeting the fiber requirements of dairy cows.
Journal of Dairy Science, v. 80, n. 7, p. 1463-1481, 1997.
MERTENS, D. R. 1994. Regulation of forage intake. In: FAHEY JR., G.C. (Ed.).
Forage quality, evaluation and utilization. Madison: American Society of Agronomy.
1994. p.450-493.
MERTENS, D. R. Análise da fibra e sua utilização na avaliação de alimentos e
formulação de rações. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE RUMINANTES, 1992,
Lavras. Anais... Lavras: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 1992. p.188-219.
NRC - NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient requirements of dairy cattle.
7.ed.rev. Washington: National Academy of Science, 2001, 381p.
NATIONAL RESEARCH COUNCIL – NRC. Nutrient requirements of beef cattle.
7.ed. Washington, D.C.: National Academy,1996. 242p.
NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient requirements of sheep. 6. e
d.Washington: National Academy Press, 1985. 99p.
NICHOLSON, T.; OMER, S. A. The inhibitory effect of intestinal infusions of
unsaturated long-chain fatty acids on forstomach motility of sheep. British Journal of
Nutrition, v. 50, n. 1, p. 141-149, 1983.
NOGUEIRA, M. P. Gestão de custos e avaliação de resultados: agricultura e
pecuária. 2. ed. Bebedouro: Scot Consultoria, 2007. 244p.
30
OKELLO, D. K.; BIRUMA, M.; DEOM, C. M. Overview of groundnuts research in
Uganda: Past,present and future. African Journal of Biotechnology, v. 9, n. 39, p.
6448-6459, 2010.
OLIVEIRA, R. L.; LEÃO, A. G.; RIBEIRO, O. L. et al. Biodiesel industry by-produtcs
used for ruminant feed. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, v. 25, p. 625-638,
2012.
OLIVEIRA, P. A. Torta de amendoim (Arachis hypogaea), oriunda do biodiesel, na
alimentação de novilhos Holandês x Zebu. 2012. 81f. Dissertação (Mestrado em
Ciência Animal) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2012.
PALMQUIST, D. L. Influence of source and amount of dietary fat on digestibility in
lactating cows. Journal of Dairy Science, v.74, n. 4, p. 1354-1360, 1991.
PALMQUIST, D. L., JENKINS, T. C. Fat in lactation rations: review. Journal of
Dairy Science, v. 63, n.1, p. 1-14, 1980.
PALMQUIST, D. L. Suplementação de lipídeos para vacas em lactação. In: SIMPÓSIO
SOBRE NUTRIÇÃO DE RUMINANTES, 6. ed, 1989, Piracicaba. Anais...Piracicaba:
FEALQ, 1989. p.11-25.
PACKER, I. U.; HADDAD, C. M. Interrelações entre genética e nutrição de bovinos.
In: PEIXOTO, A.M.; MOURA, J.C.; FARIA, V.P. et al. (Eds.) Nutrição de bovinos:
conceitos básicos e aplicados. Piracicaba: Fundação de Estudos Agrários Luiz de
Queiroz, 1995. p.515-526.
PEREIRA, T. C. J. Substituição do milho pelo farelo de algaroba em dietas peletizadas
para cordeiros. 2012. 72 fl. Dissertação (Mestrado em Produção de Ruminantes) - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Itapetinga, 2012.
ROCHA JR., V. R.; VALADARES FILHO, S. C.; BORGES, A. M. et al. Determinação
do valor energético de alimentos para ruminantes pelo sistema de equações. Revista
Brasileira de Zootecnia, v. 32, n. 2, p. 473-479, 2003.
SAEG-Sistema para Análises Estatísticas, versão 9.1. Viçosa: Fundação Arthur
Bernardes - UFV, 2007. 1 CD ROM.
SANTOS, V. C.; EZEQUIEL, J. M. B.; MORGADO, E. S. et al. Influência de
subprodutos de oleaginosas sobre parâmetros ruminais e a degradação da matéria seca e
da proteína bruta. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 64, n.
5, p. 1284-1291, 2012.
SILVA, T. M. Substituição do farelo de soja pela torta de amendoim, oriunda da
produção do biodiesel na alimentação de caprinos de corte. 2012, 74f. Tese
(Doutoramento em Zootecnia) – Universidade Federal da Paraíba, 2012.
31
SILVA, D. J.; QUEIROZ, A. C. Análise de alimentos : métodos químicos e biológicos.
Viçosa, MG: UFV, 2002. 235p.
SILVEIRA, A. C.; DOMINGUES, C. A. C. Alimentação e conversão de bovinos puros
e cruzados. In: PEIXOTO, A.M.; MOURA,J.C.; FARIA, V.P. et al. (Eds.) Nutrição de
bovinos: conceitos básicos e aplicados. Piracicaba: Fundação de Estudos Agrários Luiz
de Queiroz, 1995. p. 291-320.
SNIFFEN, C. J.; O´CONNOR, J. D.; VAN SOEST, P. J. et al. A net carbohydrate and
protein system for evaluating cattle diets: II. Carbohydrate and protein
availability. Journal of Animal Science, v. 70, n. 11, p. 3562-3577, 1992.
TACON, A. G. J.; FORSTERS, I. P. Aquafeeds and the environment: policy
implications. Aquaculture, v. 226, n. 1, p. 181-189, 2003.
TORRES, L. B.; FERREIRA, M. A.; VÉRAS, A. S. C. et al. Níveis de bagaço de cana e
ureia como substituto ao farelo de soja em dietas para bovinos leiteiros em crescimento.
Revista brasileira de Zootecnia, v. 32, n. 3, p. 760-767, 2003.
VALADARES, R. F. D.; BRODERICK, G. A.; VALADARES FILHO, S. C. et al.
Effect of replacing alfalfa with high moisture corn on ruminal protein synthesis
estimated from excretion of total purine derivatives. Journal of Dairy Science, v. 82, n.
12, p. 2686-2696, 1999.
VAN SOEST, P. J. Nutritional ecology of the ruminant. 2. ed. Ithaca: Cornell
University Press, 1994. 476p.
VAN SOEST, P. J., ROBERTSON, J. B., LEWIS, B. A. Methods for dietary fiber,
neutral detergent fiber, and nonstarch polyssacharides in relation to animal nutrition.
Journal of Dairy Science, v. 74, n. 10, p. 3583-3597, 1991.
WEISS, W. P. Energy prediction equations for ruminant feeds. In: Cornell nutrition
conference for feed manufacturers, 61, 1999, Proceedings... Ithaca: Cornell University,
1999. p. 176-185.
32
CAPÍTULO 02
Características quantitativas in vivo e da carcaça de cordeiros
alimentados com dietas contendo torta de amendoim
33
CAPÍTULO 02
Características quantitativas in vivo e da carcaça de cordeiros
alimentados com dietas contendo torta de amendoim
RESUMO
Objetivou-se avaliar o efeito da substituição do farelo de soja pela torta de amendoim
nas características quantitativas in vivo e da carcaça de cordeiros confinados. Foram
utilizados 45 cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês, não-castrados, com peso vivo
médio de 24,49 ± 5,27 kg, com idade inicial entre 4 e 6 meses alojados em baias
individuais por um período de 84 dias. Os cordeiros foram alimentados com feno de
Tifton-85 e concentrado à base de grão de milho moído, farelo de soja, premix mineral e
torta de amendoim nos níveis de 0,0; 25,0; 50,0; 75,0 e 100% de substituição ao farelo
de soja, com base na matéria seca. No 81° dia do confinamento, realizou-se a avaliação
in vivo dos animais, sendo determinadas as medidas biométricas e avaliação do lombo
através de ultrassonografia. Ao final do confinamento os animais foram submetidos a
jejum, sendo abatidos e foram avaliadas as características quantitativas e qualitativas.
Não houve efeito das dietas sobre as medidas biométricas, porém reduziram
negativamente a área de olho-de-lombo mensurada por ultrassonografia. O peso
corporal ao abate e o peso de carcaça quente não sofreram influencia da torta de
amendoim, contudo verificou-se comportamento quadrático do rendimento de carcaça
quente. As características qualitativas de acabamento e conformação das carcaças de
cordeiros não foram afetadas pela substituição proteica. Houve efeito linear das dietas
sobre a profundidade de perna dos cordeiros. Para as demais medidas morfométricas de
carcaça, não foram observadas diferenças significativas entre as dietas. Salvo o
rendimento do pescoço, que apresentou efeito linear crescente, os pesos e rendimentos
dos cortes comerciais não foram afetados pelos níveis crescentes da torta de amendoim.
Houve efeito linear decrescente sobre a área de olho de lombo determinada por
ultrassom e, efeito quadrático na profundidade máxima do lombo. A substituição do
farelo de soja não afetou a composição tecidual do pernil dos cordeiros, mas houve
efeito linear crescente do índice de musculosidade da perna, em função dos níveis de
inclusão da torta de amendoim nas dietas. A substituição do farelo de soja pela torta de
amendoim não compromete as características quali-quantitativas in vivo e na carcaça de
cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês terminados em confinamento.
Palavras-chave: área de olho de lombo, composição tecidual, cortes comerciais,
espessura de gordura, nutrição, ovinos
34
In vivo and carcass quantitative traits of lambs fed diets containing
groundnut cake
ABSTRACT
This study aimed to evaluate the effect of replacing soybean meal by groundnut on
quantitative in vivo and carcass traits of feedlot lambs. There were used 45 crossbred
Dorper x Santa Inez lambs, with an average weight of 24,49 ± 5,27 kg, with initial age
between 4 and 6 months, which were allotted in individual pens for a period of 84 days
(21 days adaptation and 63 days trial period). The lambs were fed a total mixed ration
containing 50% roughage (Tifton-85 hay) and 50% concentrate based on ground corn,
soybean meal, and mineral premix groundnut cake in levels of 0,0; 25,0; 50,0; 75,0 and
100% replacing soybean meal, in dry matter basis. It was used a completely randomized
design with five treatments (levels of soybean meal replacing groundnut cake) and nine
repetitions. On the 81 th day of feedlot, took place in vivo assessment of the animals,
being evaluated the biometric measurements and by ultrasound the determinations of
ribeye area, width, length and subcutaneous fat thickness. At the end of the experiment
the animals were fasted, being slaughtered and evaluated the quantitative and qualitative
characteristics. There was no effect of experimental diets on the biometric
measurements, but negatively reduced ribeye area, and loin measured by
ultrasonography. Body weight at slaughter and hot carcass weight did not suffer
influence of groundnut cake, however there was a quadratic behavior of the hot carcass
yield. The quality characteristics of finishing and carcass conformation of lambs were
not affected by protein replacement. Linear effects of diets was notices on the depth of
the leg of lamb. For the remaining carcass morphometric measurements, no significant
differences were observed between the diets. Unless the neck yield, which showed
increasing linear effect, weights and yields of retail cuts were not affected by increasing
levels of groundnut cake. There was a decreased linear effect over the loin eye area
determined by ultrasound and quadratic effect on the maximum depth of the loin. The
replacement of soybean meal did not affect the tissue composition of the lambs´ leg, but
there was linear increasing of the leg muscularity, according to the level of inclusion of
groundnut cake in the experimental diets. The replacement of soybean meal by
groundnut cake does not compromise the in vivo and carcasses qualitative and
quantitative characteristics in crossbreed Dorper x Santa Inez feedlot lambs.
Keywords: fat thickness, retail cuts, ribeye area, sheep, nutrition, tissue composition
35
INTRODUÇÃO
A ovinocultura é uma atividade praticada por grande parte dos produtores rurais
no semiárido da região Nordeste, sendo importante pelo fato de servir como fonte de
renda e de desenvolvimento socioeconômico da população.
Sales et al. (2013) ressaltaram a importância da produção de cordeiros na
ovinocultura de corte, pelo fato desta categoria animal apresentar altas taxas de
crescimento e por estar comumente associada ao confinamento. Todavia, ainda segundo
este autores, esse sistema apresenta altos custos com alimentação, sendo imprescindível
a busca por fontes alimentares mais baratas que possam ser utilizadas na dieta dos
animais sem que comprometam o desempenho produtivo e qualidade do produto final.
As características quantitativas e qualitativas da carcaça exercem papel
importante no sistema de produção de carne, visto que se encontram intimamente
associadas ao produto final, a carne (SILVA et al., 2008). Conforme Silva Sobrinho e
Silva (2000) vários fatores afetam estas características, tais como o genótipo, peso ao
abate, idade e a nutrição dos animais. De acordo com Alves et al. (2003), a nutrição
pode interferir não apenas na qualidade da carne, como também no peso e rendimento
de carcaça e nos cortes comerciais, os quais são fatores de extrema relevância na
mensuração da capacidade do animal para a produção de carne.
Com o aumento da demanda global por carne ovina, é necessário o aumento da
produtividade dos animais e melhoria da qualidade da carne ofertada ao mercado
consumidor. O confinamento é o regime de criação que mais se adequa às exigências
desse mercado, uma vez que por meio do fornecimento de dietas balanceadas com
concentrados energéticos/proteicos é possível o abate mais precoce dos animais,
originando consequentemente carcaças e carne ovina de melhor qualidade e com
padronização satisfatória dos cortes (VIEIRA et al., 2010).
Mas apesar das diversas vantagens existentes na criação intensiva, em virtude
dos altos custos de produção é relevante destacar a importância na busca por fontes
alimentares alternativas com menores custos e que possam substituir parte do
concentrado fornecido, sem que haja comprometimento do desempenho produtivo dos
animais (LAGE et al., 2012).
36
Como destacado por Palmieri et al. (2012), devido a sua diversidade climática e
diferentes ecossistemas, várias espécies de oleaginosas apresentam potencial para a
produção do biodiesel no Brasil, e consequentemente, serem utilizadas como fontes
alternativas de alimento na alimentação dos animais. Dentre os coprodutos, a torta de
amendoim, devido à sua composição bromatológica semelhante ao farelo de soja, pode
ser considerada uma fonte proteica alternativa (ABDALLA et al., 2008; OLIVEIRA et
al., 2012), que pode permitir a redução nos custos de produção.
Carrera et al. (2012) destacaram que os coprodutos oriundos da produção do
biodiesel podem apresentar composições bromatológicas diferentes que podem variar de
acordo com os tipos de espécies, cultivo e extração das sementes de oleaginosas. Assim,
ao se utilizar este tipo de alimento como fonte alimentar alternativa na dieta de
ruminantes é fundamental que se avalie seu efeito sobre as características de carcaça,
uma vez que o valor nutricional de um alimento e/ou dieta pode comprometer na
quantidade e qualidade do produto cárneo (BATISTA et al., 2010).
Neste contexto, objetivou-se avaliar o efeito da substituição do farelo de soja
pela torta de amendoim sobre as características quantitativas in vivo e da carcaça de
cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Escola de Medicina
Veterinária e Zootecnia pertencente à Universidade Federal da Bahia, localizada no
município de São Gonçalo dos Campos – Bahia, durante o período de janeiro a abril de
2011. Os animais foram alojados em baias individuais, cobertas, com piso ripado e
suspenso, equipadas com bebedouros e cochos de alimentação, de modo que houvesse
acesso irrestrito à água e às dietas durante todo o período experimental.
O experimento teve duração de 84 dias, constituído de três períodos
experimentais, constituídos de 21 dias cada, sendo os 21 primeiros dias destinados à
adaptação às instalações, às dietas e ao manejo diário.
Foram utilizados 45 cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês, não-castrados,
vacinados e everminados, com média de 5 meses e peso corporal inicial de 24,49 ± 5,27
kg, que foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado com cinco
37
tratamentos e nove repetições. Os tratamentos corresponderam aos cinco níveis de torta
de amendoim (0,0; 25,0; 50,0; 75,0 e 100%) em substituição ao farelo de soja na
matéria seca total (Tabela 2).
Os cordeiros foram alimentados duas vezes ao dia, às 09:00 e metade às 16:00
horas, na forma de mistura completa em uma relação volumoso:concentrado de 50:50, a
fim de minimizar a seleção pelos animais. Utilizou-se como fonte volumosa o feno de
capim Tifton-85 (Cynodon sp.) moído em partícula de aproximadamente 5 cm. O
concentrado foi constituído de grão de milho moído, farelo de soja, ureia, sulfato de
amônio, suplemento mineral específico para ovinos e torta de amendoim (Tabela 1).
As dietas foram formuladas para serem isonitrogenadas (14% de PB) segundo as
recomendações do National Research Council (NRC, 1985), de modo a atender as
exigências nutricionais para cordeiros com ganhos de peso estimados de 200g/dia.
Durante todo o experimento foram coletadas amostras dos ingredientes e das dietas para
análise de sua composição bromatológica (Tabelas 1 e 2).
Tabela 1. Composição bromatológica dos ingredientes utilizados nas dietas
experimentais
Item
Ingrediente
Feno de
Tifton-85
Grão de milho
moído
Farelo de
soja
Torta de
amendoim
Matéria seca 85,70 92,91 89,25 89,07
Matéria orgânica¹ 93,11 98,55 93,53 94,95
Matéria mineral¹ 6,89 1,45 6,47 5,05
Proteína bruta¹ 3,89 5,94 40,62 38,69
Extrato etéreo¹ 1,07 4,06 1,91 9,95
PIDN¹ (% da PB) 67,90 16,90 6,19 5,42
PIDA² (% da PB) 14,20 8,90 3,19 1,94
Fibra em detergente neutro¹ 73,87 15,33 13,19 14,03
Fibra em detergente ácido¹ 40,51 3,46 8,00 8,58
Lignina¹ 5,00 2,37 1,63 4,30
Celulose¹ 35,51 1,09 6,37 4,28
Hemicelulose¹ 33,36 11,87 5,19 5,45
Carboidratos não fibrosos¹ 14,28 73,22 37,81 32,28 1Valor expresso em % da matéria seca. PIDN¹= proteína indigestível em detergente neutro, PIDA² =
proteína indigestível em detergente ácido.
38
Tabela 2. Composição percentual dos ingredientes e bromatológica das dietas
experimentais
Ingrediente (% MS)
Nível de torta de amendoim (%)
0 25 50 75 100
Grão de milho moído 28,10 28,10 28,10 28,10 28,10
Farelo de soja 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
Torta de amendoim 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00
Suplemento minerala
1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Ureia 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Sulfato de amônio 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Feno de Tifton-85 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Composição bromatológica
Matéria seca 87,12 88,82 88,99 88,90 89,74
Matéria orgânica¹ 94,10 93,71 94,08 94,07 94,18
Matéria mineral¹ 6,40 6,29 6,41 6,40 6,36
Proteína bruta¹ 12,60 12,40 12,49 12,44 11,87
Extrato etéreo¹ 1,99 2,73 3,60 4,40 5,55
PIDN² (% da PB) 27,73 27,67 27,54 27,51 27,44
PIDA³ (% da PB) 8,17 7,92 7,89 7,86 7,64
Fibra em detergente neutro¹ 44,50 44,19 44,17 42,84 42,62
Fibra em detergente ácido¹ 23,87 23,78 23,70 22,77 23,29
Lignina¹ 3,64 3,78 3,81 3,11 3,73
Celulose¹ 20,23 20,00 19,89 19,66 19,56
Hemicelulose¹ 20,63 20,41 20,47 20,07 19,33
Carboidratos não-fibrosos¹ 34,51 34,39 33,33 33,92 33,60
Nutrientes digestíveis totais4
67,15 67,19 67,24 67,30 67,61 aNíveis de garantia (por kg em elementos ativos): cálcio - 120 g; fósforo - 87g; sódio - 147g; enxofre -
18g; cobre – 590 mg; cobalto - 40mg; cromo – 20 mg; ferro - 1.800 mg; iodo – 80 mg; manganês - 1.300
mg; selênio – 15 mg; zinco - 3.800 mg; molibdênio – 300 mg; flúor máximo – 870 mg; solubilidade do
fósforo (P) em ácido cítrico a 2% mínimo - 95%. ¹Valor expresso em % da matéria seca. PIDN¹= proteína
indigestível em detergente neutro; PIDA² = proteína indigestível em detergente ácido, 4 Nutrientes
digestíveis totais estimados pelas equações de Detmann et al. (2006a, 2006b, 2006c, 2007). *Análises
realizadas no Laboratório de Nutrição Animal (LANA) da UFBA.
Diariamente, às 07:00 horas da manhã, antes do fornecimento da refeição
matutina, as sobras foram recolhidas e pesadas em balança digital para determinação do
consumo diário. Dessa forma, o consumo foi obtido através do ajuste da quantidade de
ração ofertada aos cordeiros de modo a permitir entre 10 e 20% de sobras. Amostras
dos ingredientes das dietas e das sobras foram coletadas, acondicionadas em sacos
plásticos identificados e armazenadas a -20º C para posteriores análises.
39
Ao final do período experimental, as amostras de volumoso, concentrado e as
sobras foram submetidas à pré-secagem em estufa de ventilação forçada a 55°C durante
72 horas. Em seguida, trituradas em moinhos de faca tipo Willey com peneira de 1 mm,
armazenadas em frascos plásticos com tampa, etiquetados prontas para as análises
laboratoriais.
A composição bromatológica dos ingredientes e sobras foi feita para a
determinação dos teores de matéria seca, matéria mineral, proteína bruta e extrato
etéreo, conforme as metodologias descritas na AOAC (1990). A determinação dos
teores de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente acido (FDA) foi
realizada segundo Van Soest et al. (1991) e os teores de proteína insolúvel em
detergente neutro (PIDN) e acido (PIDA) segundo Licitra et al. (1996). A lignina foi
determinada por meio do tratamento do resíduo de fibra em detergente ácido com ácido
sulfúrico a 72%, de acordo com Silva e Queiroz (2002).
A porcentagem de carboidratos totais (CHT) foi calculada segundo a equação de
Sniffen et al. (1992) e os carboidratos não-estruturais (CNE), por meio da diferença
entre os carboidratos totais e a fibra em detergente neutro (MERTENS et al., 1997). O
teor de nutrientes digestíveis totais (NDT) foi estimado através da fórmula proposta por
Weiss et al. (1999): NDT = PBD + 2,25 X EED + CNFD + FDND, sendo PBD, EED,
CNFD e FDND as frações digestíveis da proteína bruta, extrato etéreo, carboidratos
não-fibrosos e fibra em detergente neutro, respectivamente.
No 81° dia do experimento, conforme metodologia de Osório et al. (1998),
foram realizadas as avaliações biométricas, com auxílio de fita métrica e hipômetro
ambos graduados em centímetros, a altura do anterior (distância do ponto mais alto da
vértebra torácica ao solo); altura do posterior (distância da tuberosidade coxal ao solo);
largura da garupa (distância entre as tuberosidades coxais); comprimento da garupa
(distância entre a tuberosidade coxal e a tuberosidade isquiática); profundidade do tórax
(distância das vértebras torácicas ao esterno); perímetro torácico (leitura do contorno da
cavidade torácica, realizada posteriormente as escápulas); largura da perna (distância
entre os bordos internos e externos da parte superior da perna em sua parte mais larga) e
perímetro de coxa (leitura do contorno da coxa, obtida no ponto médio da coxa).
40
Com o objetivo de minimizar erros de análise, todas as medidas foram tomadas
por um mesmo avaliador, o qual deixou os animais em posição adequada sobre uma
superfície plana e horizontal.
Para a mensuração in vivo da área de olho-de-lombo e espessura de gordura
subcutânea, foi utilizado o equipamento de ultrassom em tempo real, com transdutor
linear e guia acústico para acoplamento em ovinos. Antes da captação das imagens por
ultrassom, procedeu-se à limpeza da região entre a 12ª e 13ª vértebras torácicas sempre
do lado esquerdo do animal, por meio de tosquia e tricotomia. Em seguida, o local foi
recoberto com uma camada delgada de óleo vegetal propiciando melhor condutividade e
máxima resolução e qualidade das imagens. Sendo assim, o transdutor equipado com
guia acústica foi posicionado perpendicularmente ao comprimento do
músculo Longissimus thoracis.
A melhor imagem observada foi captada pelo técnico, gravadas no equipamento
de ultrassonografia, sendo em seguida mensurado o comprimento (A) e a profundidade
máxima (B) do músculo para a avaliação da área de olho de lombo pela fórmula (A/2 x
B/2) x π proposta por Silva Sobrinho (1999), em que: A= distância maior do músculo
Longissimus thoracis no sentido médiolateral; B = distância máxima no sentido dorso-
ventral perpendicular à medida A; π = 3,1416, expressa em centímetros. Em seguida foi
determinada a espessura mínima de gordura de cobertura sobre o músculo, em
milímetros, a qual foi mensurada ¾ de distância a partir do lado medial do músculo L.
thoracis, para o seu lado lateral da linha dorso-lombar.
Ao completarem 84 dias de confinamento, os animais foram submetidos a jejum
de dieta sólida por 16 horas e pesados para determinação do peso corporal final. No dia
seguinte, os animais foram transferidos para frigorífico comercial, localizado no
município de Alagoinhas – Bahia, passando por novo período de jejum e descanso de 16
horas, sendo novamente pesados para a obtenção do peso corporal ao abate e abatidos
de acordo com as normas vigentes preconizadas pela Instrução Normativa do Ministério
da Agricultura e Abastecimento - Secretaria de Defesa Agropecuária (BRASIL, 2000).
O abate foi realizado após a insensibilização dos animais por eletronarcose,
seguida de sangria através da secção das veias jugulares e as artérias carótidas.
Posteriormente, foi procedida a esfola, evisceração, toilet e pesagem das carcaças para a
determinação do peso da carcaça quente. Com o peso da carcaça quente (PCQ) foi
41
calculado seu respectivo rendimento (RCQ), (RCQ = PCQ/PCA x 100), em que PCQ =
peso da carcaça quente; e PCA = peso corporal ao abate. Sequencialmente, as carcaças
foram transferidas para câmara frigorífica à temperatura de ± 5°C onde permaneceram
sob refrigeração por 24 horas, onde permaneceram penduradas com auxílio de ganchos
apropriados de modo que fosse mantido um distanciamento de 17 cm entre as
articulações tarso-metatarsianas.
Após esse período, avaliou-se de acordo com Cézar e Souza (2007) as seguintes
medidas morfológicas das carcaças: comprimento de carcaça (distância máxima entre o
bordo anterior da sínfise ísquio pubiana e o bordo anterior da primeira costela em seu
ponto médio); comprimento da perna (distância entre o períneo e o bordo anterior da
superfície articular tarso-metatarsiana); profundidade da perna (maior distância entre o
bordo proximal e distal da perna); largura do peito (realizado com paquímetro e
mensurado na meia-carcaça sobre a ponta do externo e�as�vértebras�dorsais);
profundidade do peito (distância máxima entre o�esterno�e�o�dorso�da�carcaça ao
nível da sexta vértebra torácica).
Todas as medidas de comprimento, altura e perímetro foram tomadas utilizando-
se fita métrica, e as de largura e profundidade, com auxílio de compasso, cuja abertura
registrada foi mensurada com régua. Em seguida, foi realizada na carcaça a avaliação
subjetiva da conformação e do estado de engorduramento (Tabela 3), segundo
metodologia descrita por Osório e Osório (2005).
Tabela 3. Escala de avaliação subjetiva da conformação e estado de engorduramento das
carcaças
Descrição
Índice Conformação¹ Estado de engorduramento²
1,0 a 1,5 Muito pobre Excessivamente magra
2,0 a 2,5 Regular Magra
3,0 a 3,5 Boa Normal
4,0 a 4,5 Muito boa Gorda
4,5 a 5,0 Excelente Excessivamente gorda ¹ Avaliação visual da distribuição dos planos musculares. ² Avaliação visual da distribuição harmônica do
tecido adiposo. Fonte: Osório e Osório (2005)
Após a pesagem das carcaças frias realizou-se a divisão longitudinal das
carcaças conforme a metodologia de Silva Sobrinho et al. (2008) sendo as meias
42
carcaças esquerdas seccionadas e realizados os seguintes cortes comerciais: pescoço
(separado da carcaça por meio corte obliquo em sua extremidade inferior entre a última
vértebra cervical e primeira torácica, compreendendo assim as sete vértebras cervicais);
paleta (obtida pela desarticulação dos tecidos que unem a escápula e o úmero à região
torácica formada pelas seis primeiras vértebras torácicas e a porção superior das seis
primeiras costelas); costelas (corte comercial que compreende as 13 vértebras torácicas,
com as costelas correspondentes e o esterno); lombo (obtido perpendicularmente à
coluna, entre a 13ª vértebra dorsal-primeira lombar e última lombar-primeira sacral);
perna (separada da carcaça através da sua extremidade superior entre a sétima vértebra
lombar e a primeira vértebra sacral, por meio da secção do flanco).
A perna esquerda de cada animal foi pesada, identificada e individualmente
acondicionada em sacos plásticos sendo congeladas em freezer a -18°C, para posteriores
analises da composição tecidual. À proporção que foram realizados os cortes comerciais
e que estes foram retirados da carcaça, realizou-se a pesagem individual de cada um
deles. Em seguida, o peso dos cinco cortes comerciais foi somado a fim de se
determinar o peso da meia-carcaça fria reconstituída (PMCFR), segundo proposto por
Cézar e Souza (2007).
A avaliação da área de olho de lombo e espessura de gordura subcutânea foi
realizada através de um corte transversal entre a 13ª vértebra torácica e a 1ª vértebra
lombar, permitindo assim a exposição da secção transversal do lombo da meia carcaça
direita. Dessa forma, a aferição da área de olho de lombo foi procedida com auxílio de
transparência com gabarito padrão transparente quadriculado, em que cada quadrado
representava um centímetro quadrado (CUNHA et al., 2001). A espessura da gordura de
cobertura foi obtida por meio de paquímetro a 3/4 de distância a partir do lado medial
do músculo Longissimus lumborum, para o seu lado lateral da linha dorso lombar.
A determinação da composição tecidual foi procedida através do prévio
descongelamento das pernas, as quais foram mantidas sob refrigeração em geladeira
durante um período de 12 horas. A princípio realizou-se a toillet e a retirada de
quaisquer tecidos extras, gorduras e tecidos moles presentes na região pélvica, para a
obtenção do peso da perna reconstituído, conforme Brown e Willians (1979). Após a
pesagem das pernas foi feita a separação individual do tecido muscular, ósseo, adiposo e
43
demais tecidos, os quais foram pesados separadamente em balança analítica, conforme
Silva Sobrinho (1999).
Foram avaliados individualmente os pesos dos músculos que recobrem o fêmur
(Bíceps femoris, Semitendinosus, Adductor, Semimembranosus e Quadríceps femoris) e,
de modo conjunto, o peso dos demais músculos que não envolviam diretamente este
osso, para o cálculo da porcentagem de músculo total da perna. Além disso, avaliou-se
por meio da mensuração do comprimento do fêmur o índice de musculosidade da perna
(IMP) utilizando-se a fórmula proposta por Purchas et al. (1991): IMP=
[(P5M/CF)/CF]0,5
, em que o P5M equivale ao somatório do peso (em gramas) dos cinco
músculos que recobrem o fêmur, e CF o comprimento do fêmur, em centímetros. Ainda
segundo Purchas et al. (1991), foi determinada a razão músculo:gordura, levando em
consideração os pesos dos tecidos muscular e adiposo. Para tanto, foi necessário realizar
a pesagem individual e de forma conjunta das gorduras subcutânea e intermuscular para
a determinação não só desta relação, como também dos seus respectivos pesos em
gramas, para o cálculo do valor percentual do peso de gordura total da perna.
Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e de regressão a
5% de probabilidade, utilizando-se o programa SAEG (Sistema de Análises Estatísticas
e Genéticas), versão 9.1 (SAEG, 2007).
44
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As medidas biométricas não foram afetadas (P>0,05) pelos níveis de torta de
amendoim. Sendo assim, as dietas promoveram similaridade no desenvolvimento
corporal dos animais, não sendo verificada alteração no peso corporal ao abate (Tabela
4 e 5). A ausência de efeito corrobora com a Lei da harmonia anatômica descrita por
Boccard e Drumond (1960), uma vez que carcaças de pesos e quantidades de gordura
similares, praticamente apresentam em todas as regiões corporais proporções
semelhantes.
Tabela 4. Medidas biométricas de cordeiros submetidos a dietas com torta de amendoim
em substituição ao farelo de soja no concentrado
¹EPM = erro padrão da média. L² = Significância para efeito linear. Q³ = Significância para efeito
quadrático. Valor-P* = probabilidade significativa ao nível de 5%.
O peso corporal ao abate dos animais bem como o peso da carcaça quente não
foi influenciado pelas dietas (Tabela 5). A ausência de efeito no peso da carcaça quente
dos cordeiros pode ser explicada pelo fato dos animais terem sido abatidos com peso
corporal semelhante.
Variável
(cm)
Nível de substituição (%)
EPM¹
Valor-P*
0 25 50 75 100 L² Q³
Altura do
anterior 59,25 59,85 59,37 60,93 60,12 0,631 0,5856 0,9001
Altura do
posterior 57,68 60,28 59,18 61,37 60,25 0,788 0,2932 0,5689
Largura da
garupa 17,87 16,42 16,75 15,5 16,75 0,500 0,3960 0,4024
Comprimento
da garupa 14,75 13,00 14,75 14,37 14,37 0,229 0,7872 0,5514
Profundidade
do tórax 28,37 28,42 28,25 28,00 28,87 0,322 0,8127 0,5825
Perímetro do
tórax 74,37 75,42 72,75 72,12 73,00 0,858 0,3684 0,8064
Largura da
perna 18,75 19,00 19,37 18,50 19,00 0,344 1,0000 0,8095
Perímetro da
coxa 33,12 34,28 35,12 34,50 33,12 0,672 0,9646 0,2781
45
Tabela 5. Peso corporal ao abate (PCA), peso de carcaça quente (PCQ) e rendimento de
carcaça quente (RCQ) de cordeiros submetidos a dietas com torta de
amendoim em substituição ao farelo de soja no concentrado
¹EPM = erro padrão da média. L² = Significância para efeito linear. Q³ = Significância para efeito
quadrático. Valor-P* = probabilidade significativa ao nível de 5%.
O rendimento de carcaça quente expressou efeito quadrático (P<0,05) (Tabela
5), sendo estimado um valor máximo de 42,53% no nível de 26,60% de substituição do
farelo de soja pela torta de amendoim no concentrado da dieta.
O rendimento de carcaça pode ser influenciado por fatores como genética
(Galvão et al., 1991; Siqueira, 2000), nutrição (Figueiró, 1986), peso de abate (Preston e
Willis,1974; Pires et al., 2000), idade (Cézar & Souza, 2007) e sexo (Kemp et al.,
1981). Levando-se em consideração que neste estudo os animais eram pertencentes à
mesma categoria animal e aos mesmos genótipos e, terem apresentado peso corporal ao
abate semelhante (P>0,05), o efeito verificado para o rendimento de carcaça quente
pode ser atribuído à dieta experimental utilizada.
Em virtude dos níveis de torta de amendoim terem resultado aumento dos teores
de extrato etéreo nas dietas (Tabela 2), o consumo de matéria seca total dos animais foi
limitado pelo mecanismo quimiostático (Tabela 3, Capítulo1). Consequentemente, após
ter sido atendida as necessidades energéticas, os animais consumiram menos nutrientes
e isso teve influência negativa sobre o rendimento de carcaça.
É possível observar que os níveis de torta de amendoim não influenciaram
(P>0,05) as características de conformação e acabamento das carcaças (Tabela 6).
Portanto, a conformação não foi afetada pelo fato de terem sido fornecidas dietas
isonitrogenadas e, pelo fato da torta de amendoim apresentar teores proteicos próximos
ao do farelo de soja, permitindo igual desenvolvimento muscular. O acabamento não foi
influenciado, pois apesar da redução do consumo de matéria seca, não houve diferença
no consumo de extrato etéreo (Capítulo 1), justificando, portanto a ausência de efeito na
deposição de gordura nas carcaças dos cordeiros.
Variável
Nível de substituição (%) EPM¹
Valor-P*
0 25 50 75 100 L² Q³
PCA (kg) 32,53 31,71 32,66 32,51 30,22 0,690 0,5845 0,5839
PCQ (kg) 13,65 13,52 13,24 13,33 11,68 0,355 0,2388 0,4859
RCQ (%) 41,52 42,26 41,4 40,66 38,32 0,295 0,0008 0,0270
Equações de regressão
RCQ (%) Ŷ= 41,5797 + 0,0365256X - 0,000686434X² (R² = 0,98)
46
Segundo a classificação descrita por Osório e Osório (2005) as carcaças dos
cordeiros neste estudo podem ser classificadas como boas e com acabamento variando
de magra a normal, uma vez que foram observados valores médios para estas variáveis
de 2,9 e 2,73 pontos, respectivamente.
Com exceção da profundidade da perna, as medidas morfométricas da carcaça
não diferiram (P>0,05) entre os tratamentos (Tabela 6), uma vez que não houve
diferença no peso corporal ao abate e de carcaça quente (Tabela 5).
A profundidade de perna sofreu influência (P<0,05) das dietas, revelando a
equação de regressão Ŷ= 15,6490 - 0,0137500X (R² = 0,84), sendo estimada uma queda
de 0,013 cm, para cada unidade percentual de torta de amendoim adicionada ao
concentrado (Tabela 6). Esse decréscimo indica que houve redução do volume da
porção comestível da perna, considerada o principal e mais representativo corte da
carcaça.
Tabela 6. Medidas morfométricas de cordeiros submetidos a dietas com torta de
amendoim em substituição ao farelo de soja no concentrado
Variável
Nível de torta de amendoim (%)
EPM¹
Valor-P*
0 25 50 75 100 L² Q³
Conformação
(1 a 5) 3,07 3,10 3,25 2,58 2,50 0,114 0,1113 0,4532
Acabamento
(1 a 5) 2,71 2,70 3,37 2,50 2,40 0,094 0,3557 0,1542
Comprimento
da carcaça (cm) 60,64 54,8 61,75 58,83 60,00 0,769 0,8492 0,4622
Comprimento
da perna (cm) 34,42 34,40 35,37 34,83 35,80 0,477 0,4793 0,8861
Profundidade
da perna (cm) 15,64 15,80 15,50 14,66 14,10 0,152 0,0057 0,2498
Largura do
peito (cm) 9,21 8,90 8,87 9,41 9,30 0,131 0,6118 0,5439
Profundidade
do peito (cm) 25,00 24,30 24,37 24,50 24,80 0,206 0,8088 0,3638
Equações de regressão
Profundidade
da perna Ŷ= 15,6490 - 0,0137500X (R² = 0,84)
¹EPM = erro padrão da média. L² = Significância para efeito linear. Q³ = Significância para efeito quadrático. Valor-P* = probabilidade significativa ao nível de 5%.
Os pesos e os rendimentos dos cortes comerciais em relação ao peso da meia
carcaça fria não variaram (P>0,05) em função das dietas, havendo diferença apenas no
47
rendimento de pescoço (Tabela 7). O resultado obtido foi biologicamente esperado, pois
corrobora com a lei da harmonia anatômica mencionada por Boccard e Drumond (1960)
os quais afirmaram que, em carcaças que apresentam pesos e quantidades de gordura
similares, quase todas as regiões corporais encontram-se em proporções semelhantes,
independentemente da conformação do genótipo considerado.
Tabela 7. Pesos e rendimentos dos cortes comerciais de cordeiros submetidos a dietas
com torta de amendoim em substituição ao farelo de soja no concentrado
¹EPM = erro padrão da média. L² = Significância para efeito linear. Q³ = Significância para efeito
quadrático. Valor-P* = probabilidade significativa ao nível de 5%.
Diferentemente dos demais cortes comerciais, observou-se aumento no
rendimento do pescoço (Tabela 7). Apesar do resultado significativo (P<0,05) esse
efeito não pode ser justificado pela influência das dietas experimentais, uma vez que
não foi constatada diferença no rendimento dos demais cortes comerciais. O resultado
pode ser então atribuído aos diferentes níveis de desenvolvimento dessa região
anatômica entre os animais utilizados nessa pesquisa, que foram animais jovens e que
comumente apresentam essa região desenvolvida.
Os rendimentos da paleta e perna em todos os tratamentos perfizeram mais do
que 50% da carcaça (Tabela 7), sendo estes cortes passíveis de serem utilizados como
forma de predição do conteúdo total dos tecidos da carcaça (MAIA et al., 2010;
MORGADO et al., 2010).
Variável Nível de substituição (%)
EPM¹
Valor-P*
0 25 50 75 100 L² Q³
Peso (kg)
Paleta 1,45 1,35 1,34 1,39 1,30 0,029 0,3989 0,9070
Pescoço 0,47 0,45 0,45 0,52 0,54 0,015 0,1528 0,4217
Costelas 2,28 2,23 2,16 2,14 1,83 0,062 0,1145 0,4916
Lombo 0,91 1,04 0,87 0,96 0,81 0,032 0,3439 0,4021
Perna 2,54 2,47 2,43 2,46 2,18 0,054 0,1830 0,5358
Rendimento (%)
Paleta 19,1 18,09 18,55 18,61 19,44 0,187 0,4571 0,1583
Pescoço 6,12 5,94 6,28 6,97 8,13 0,133 0,0011 0,0771
Costelas 29,72 29,58 29,52 28,64 27,32 0,285 0,4560 0,3307
Lombo 11,89 13,54 12,13 12,85 12,28 0,232 0,9502 0,4207
Perna 33,14 32,82 33,5 32,9 32,81 0,174 0,7253 0,6802
Equações de regressão
Pescoço (%) Ŷ= 5,58262 + 0,0205312X (R² = 0,80)
48
A área de olho de lombo mensurada por meio da ultrassonografia in vivo
diminuiu linearmente (P<0,05), demonstrando a influência negativa da dieta sobre esta
variável (Tabela 8).
Não houve efeito da dieta (P>0,05) sobre a espessura mínima de gordura
subcutânea do músculo L. thoracis obtida in vivo por ultrassonografia e do L. lumborum
mensurado na carcaça pós-abate (Tabela 8). Todavia, os valores médios obtidos de 1,96
e 1,68 mm, respectivamente por ultrassonografia e após o abate ficaram abaixo que 3,0
mm, que seria o valor mínimo de gordura necessária para prevenir o encurtamento das
fibras causada pelo frio durante o período de armazenamento em câmara frigorífica
(Boggs et al., 1998), entretanto comum para ovinos deslanados. Segundo Cezar e Sousa
(2006), o tecido adiposo subcutâneo nos ovinos deslanados tropicais não é bem
desenvolvido, sendo quase que completamente depositado nas cavidades corporais na
forma de gordura pélvica. Outra possível causa para não ter ocorrido uma boa deposição
de gordura se deve ao fato dos animais utilizados serem cordeiros, que de acordo com
Fernandes et al. (2011), são animais jovens em plena fase de crescimento, em que há
maior deposição de tecido muscular em comparação ao tecido adiposo.
Tabela 8. Área de olho de lombo e espessura de gordura subcutânea do músculo
Longissimus thoracis e L. lumborum de cordeiros submetidos a dietas com
torta de amendoim em substituição ao farelo de soja no concentrado
¹EPM = erro padrão da média. L² = Significância para efeito linear. Q³ = Significância para efeito
quadrático. Valor-P* = probabilidade significativa ao nível de 5%. EGSa = espessura de gordura subcutânea
mesurada por ultrassonografia; EGSb= espessura de gordura subcutânea mensurada na carcaça; AOL* =
área de olho de lombo mensurada conforme Silva Sobrinho (1999); AOL** = área de olho de lombo
mensurada na carcaça;
Macedo (2003) mencionou que fatores como nutrição, sexo, genótipo, idade e
peso ao abate podem afetar a largura, profundidade, espessura de gordura e área de olho
do lombo do músculo L. lumborum. Deste modo, é possível inferir que a nutrição foi o
Variável
Nível de substituição (%)
EPM¹ Valor-P*
0 25 50 75 100 L² Q³
EGSa (mm) 2,10 1,90 2,00 1,90 1,90 0,037 0,0347 0,0889
EGSb (mm) 1,40 2,20 2,00 1,60 1,20 0,102 0,4138 0,0163
AOL (cm²)* 9,57 9,91 10,06 8,94 8,08 0,236 0,8427 0,1178
AOL(cm2)** 14,00 15,00 13,50 13,16 11,20 0,347 0,0302 0,1760
Equações de regressão
AOL** (cm²) Ŷ=10,0920 - 0,0156497X (R² = 0,58)
49
causador dos efeitos acima descritos, por ter sido o único que sofreu variação entre as
dietas avaliadas.
De forma geral, a substituição do farelo de soja não modificou a composição
tecidual da perna dos cordeiros, provavelmente porque os animais foram abatidos com o
mesmo peso corporal ao abate e devido à ausência de efeito sobre o peso de carcaça
quente dos cordeiros (Tabela 5). Entretanto, o índice de musculosidade da perna dos
cordeiros sofreu aumento linear (Tabela 9), devido aos diferentes comprimentos do
fêmur dos cordeiros, que assim, como o rendimento do pescoço pode ser decorrente de
uma variação individual no tecido ósseo dos animais.
Tabela 9. Composição tecidual e índice de musculosidade da perna de cordeiros
submetidos a dietas com torta de amendoim em substituição ao farelo de soja
no concentrado
¹EPM = erro padrão da média. L² = Significância para efeito linear. Q³ = Significância para efeito quadrático.
Valor-P* = probabilidade significativa ao nível de 5%. Subcut. = subcutânea, Interm. = intermuscular. IMP=
índice de musculosidade da perna, CP = comprimento do fêmur. PM5 = constituído pelos cinco músculos que
circundam o fêmur.
Não foi verificado efeito das dietas (P>0,05) sobre a deposição de gordura
subcutânea (Tabela 9), possivelmente pelo fato de terem sido utilizados somente
cordeiros não-castrados nessa pesquisa. Como descrito por Natel et al. (2012), a
castração pode ser utilizada, aliada ao confinamento, e tema capacidade de influenciar
Variável
Nível de substituição (%) EPM¹
Valor-P*
0 25 50 75 100 L² Q³ Peso da
perna (g) 2400,66 2285,00 2256,88 2313,00 2457,44 68,306 0,5128 0,1808
Músculo total (g)
1567,90 1588,34 1539,60 1542,68 1767,03 43,416 0,2577 0,2132
PM5 (g) 904,05 931,66 892,22 921,88 1028,27 25,579 0,1947 0,2961
Outros músculos (g)
626,22 615,00 608,05 580,77 698,22 20,416 0,4516 0,1730
Gordura (g)
Subcut. 139,44 131,66 131,88 157,05 161,77 13,251 0,2664 0,5011
Interm. 85,22 96,66 93,11 79,38 82,44 8,789 0,5648 0,5660 CF (cm) 17,26 16,37 16,98 16,31 16,76 0,126 0,3008 0,2506
IMP (g/cm) 0,41 0,45 0,42 0,45 0,46 0,005 0,0072 0,8727
Razão músculo:
gordura 6,97 7,75 7,30 6,96 7,79 0,281
0,8680
0,7511
Equações de regressão
IMP (g/cm) Ŷ= 0,425999 + 0,000393831X (R² = 0,45)
50
as características qualitativas da carcaça, principalmente ao que diz respeito ao
engorduramento. Segundo Jacobs et al. (1972), cordeiros não castrados apresentam um
desenvolvimento mais rápido que castrados, e uma menor deposição de gordura em
comparação a castrados e fêmeas sendo esta resposta novamente atribuída à ação dos
hormônios testiculares, em especial a testosterona.
51
CONCLUSÕES
O farelo de soja pode ser substituído pela torta de amendoim na dieta de
cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês em até 26,60% da matéria seca de modo que não
haja comprometimento de forma significativa sobre as características quantitativas na
carcaça de cordeiros, uma vez que houve efeito quadrático das dietas sobre o
rendimento de carcaça quente.
52
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABDALLA, A. L.; SILVA FILHO, J. C.; GODOI, A. R. et al. Utilização de
subprodutos da indústria de biodiesel na alimentação de ruminantes. Revista Brasileira
de Zootecnia, v. 37, p. 258-260, 2008. (suplemento especial).
ALVES, K. S.; CARVALHO, F. F. R.; FERREIRA, M. A. et al. Níveis de energia em
dietas para ovinos Santa Inês: características de carcaça e constituintes corporais.
Revista Brasileira Zootecnia, v. 32, n. 6, p. 1927-1936, 2003.
AOAC.ASSOCIATION OF OFFICAL ANALYTICAL CHEMISTS. Official methods
of analysis of the Association of official Analyical chemists. 15. ed., Arlington, 1990,
1018 p.
BATISTA, A. S. M.; COSTA, R. G.; GARRUTI, D. S. et al. Effect of energy
concentration in the diets on sensorial and chemical parameters of Morada Nova, Santa
Inez and Santa Inez × Dorper lamb meat. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 39, n. 9,
p. 2017-2023, 2010.
BOCCARD, R.; DRUMOND, B. L. Estude de la production de la viande chez le ovins
and variation de l'importance relative de differents régions corporelles de l'agneaus de
boucgerie. Annales de Zootechine, v. 9, n. 4, p. 355-365, 1960.
BOGGS, D. L.; MERKEL, R. A.; DOUMIT, M. E. Livestock and carcasses. An
integrated approach to evaluation, grading and selection. Kendall/Hunt publishing
company. 1998. 259p.
BRASIL, Ministério Pecuária e Abastecimento. Instrução normativa n. 3, de 17 de
Janeiro de 2000. Aprova o Regulamento técnico de métodos de insensibilização para o
abate humanitário de animais de açougue. 2000.
BROWN, A. J.; WILLIANS, D. R. Sheep carcass evaluation: measurement of
composition using a standardized butchery method. Langford: Agricultural
Research Council, Meat Research Council, 1979. 16p.(Memorandum,38).
CARRERA, R. A. B.; VELOSO, C. M.; KNUPP, L. S. et al. Protein co-products and
by-products of the biodiesel industry for ruminants feeding. Revista Brasileira de
Zootecnia, v. 41, n. 5, p. 1202-1211, 2012.
CEZAR, M. F. SOUSA, W. H. Carcaças ovinas e caprinas: obtenção-avaliação-
classificação. Uberaba: Ed. Agropecuária Tropical, 2007.147p.CEZAR, M. F.; SOUSA,
W. H. Avaliação e utilização da condição corporal como ferramenta de melhoria da
reprodução e produção de ovinos e caprinos de corte. Revista Brasileira de Zootecnia,
v.35, p.541-565, 2006. (supl. especial).
53
CUNHA, M. G. G.; CARVALHO, F. F. R.; GONZAGA NETO, S. et al. Características
quantitativas de carcaça de ovinos Santa Inês confinados alimentados com rações
contendo diferentes níveis de caroço de algodão integral. Revista Brasileira de
Zootecnia, v. 37, n. 6, p. 1112-1120, 2008.
DETMANN, E.; PINA, D. S.; VALADARES FILHO, S. C. et al. Estimação da fração
digestível da proteína bruta em dietas para bovinos em condições brasileiras. Revista
Brasileira de Zootecnia, v.35, n.5, p.2101-2109, 2006a.
DETMANN, E.; VALADARES FILHO, S. C.; PINA, D. S. et al. Estimação da
digestibilidade do extrato etéreo em ruminantes a partir dos teores dietéticos:
desenvolvimento de um modelo para condições brasileiras. Revista Brasileira de
Zootecnia, v.35, n.4, p.1469-1478, 2006b.
DETMANN, E.; VALADARES FILHO, S. C.; HENRIQUES, L. T. et al. Estimação da
digestibilidade dos carboidratos não-fibrosos em bovinos utilizando-se o conceito de
entidade nutricional em condições brasileiras. Revista Brasileira de Zootecnia, v.35,
n.4, p.1479-1486, 2006c.
DETMANN, E.; VALADARES FILHO, S. C.; HENRIQUES, L. T. et al.
Reparametrização do modelo baseado na lei de superfície para predição da fração
digestível da fibra em detergente neutro em condições brasileiras. Revista Brasileira de
Zootecnia, v.36, n.1, p.155-164, 2007.
FERNANDES, A. R. M.; ORRICO JUNIOR, M. A. P.; ORRICO, A. C. A. et al.
Desempenho e características qualitativas da carcaça e da carne de cordeiros terminados
em confinamento alimentados com dietas contendo soja grão ou gordura protegida.
Revista Brasileira de Zootecnia, v. 40, n. 8, p. 1822-1829, 2011.
FIGUEIRÓ, P. R. P. Manejo nutricional para produção de ovinos tipo lã e tipo carne.
In: SIMPÓSIO PARANAENSE DE OVINOCULTURA, 3., 1986, Guarapuava.
Anais... Guarapuava: 1986. p. 37-45.
GALVÃO, J. G. C.; FONTES, C. A. A.; PIRES, C. C. et al. Características e
composição física de carcaça de bovinos não-castrados, abatidos em três estágios de
maturidade de três grupos raciais. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 20, n. 5, p. 502-
512, 1991.
JACOBS, J. A.; FIELD, R. A.; BOTKIN, M. P. et al. Effects of testosterone enanthate
on lamb carcass composition and quality. Journal of Animal Science, Champaign, v.
34, n.1, p.30-36, 1972.
KEMP, J. D.; MAHYUDDIN, M.; ELY, D. G. et al. Effect of feeding systems,
slaughter weight and sex on organoleptic properties, and fatty acid composition of lamb.
Journal of Animal Science, v. 51, n. 2, p. 321-330, 1981.
54
LAGE, J. F.; PAULINO, P. V. R.; PEREIRA, L. G. R.et al. Glicerina bruta na dieta de
cordeiros terminados em confinamento. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 45, n. 9,
p. 1012-1020, 2012.
LICITRA, G.; HERNANDEZ, T. M.; VAN SOEST, P. J. Standartization of procedures
for nitrogen fractionation of ruminants feeds. Animal Feed Science and Technology,
v. 57, n. 4, p. 347 358, 1996.
MAIA, M. O.; SUSIN. I.; FERREIRA, E. M. et al. Características de carcaça de
cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês alimentados com dietas contendo óleos vegetais.
In: 47ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, 47. Salvador, Anais...
Salvador, BA- UFBA, 2010.
MACEDO, V. P. Semente de Girassol (Helianthus annuus L.) , na terminação de
cordeiros no sistema superprecoce. Botucatu, SP: UNESP, 2003. 80f. Dissertação
(Doutorado em Zootecnia) - Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia/Universidade Estadual Paulista, 2003.
MERTENS, D. R. Creating a system for meeting the fiber requirements of dairy cows.
Journal of Dairy Science, v. 80, n. 7, p. 1463-1481, 1997.
MORGADO, E. S.; EZEQUIEL, J. M. B.; LEANDRO, G. et al. Características
quantitativas e cortes comerciais da carcaça de cordeiros alimentados com diferentes
fontes de carboidratos solúveis em detergente neutro associados ao óleo de girassol. In:
47ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, Anais... Salvador, 2010.
NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient requirements of sheep. 6. e
d.Washington: National Academy Press, 1985. 99p.
OLIVEIRA, R. L.; LEÃO, A. G.; RIBEIRO, O. L. et al. Biodiesel industry by-produtcs
used for ruminant feed. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, v. 25, p. 625-638,
2012.
OSÓRIO, J. C. S.; OSÓRIO, M. T. M. Zootecnia de Ovinos. Raças, Lã, Morfologia,
Avaliação da carcaça, Comportamento em pastejo, Programa Cordeiro Herval
Premium. 1ª Edição. Pelotas: Editora Universitária. UFPEL. 2005a. 243p.
OSÓRIO, J. C.; OSÓRIO, M. T.; JARDIM, P. O. et al. Métodos para avaliação da
produção da carne ovina: in vivo, na carcaça e na carne. Pelotas. Editora e
Gráfica Universitária,Universidade Federal de Pelotas, 1998. 107p.
PALMIERI, A. D.; OLIVEIRA, R. L.; RIBEIRO, C. V. M. et al. Effects of substituting
soybean meal for sunflower cake in the diet on the growth and carcass
traits of crossbred Boer goat kids. Asian Australasian Journal of Animal Science, v.
25, n. 1, p. 59-65, 2012.
PIRES, C. C.; SILVA, L. F.; SCHLICK, F. E. et al. Cria e terminação de cordeiros
confinados. Revista do Centro de Ciências Rurais, v. 30, n. 5, p. 875-880, 2000.
55
PRESTON, T. R.; WILLIS, M. B. Intensive beef production. 2.ed. Oxford: Pergamon
Press, 1974. 546p.
PURCHAS, R. W.; DAVIES, A. S.; ABDULLAH, A. Y. An objective measure of
muscularity: changes with animal growth and differences between genetic lines of
southdown sheep. Meat Science, v. 30, n. 1, p. 81-94, 1991.
SAEG-Sistema para Análises Estatísticas, versão 9.1. Viçosa: Fundação Arthur
Bernardes - UFV, 2007. 1 CD ROM.
SALES, R. O.; SILVA SOBRINHO, A. G.; ZEOLA, N. M. B. L. et al. Fresh and
matured lamb meat quality fed with sunflower seeds and vitamin E. Ciência Rural, v.
43, n. 1, p. 151-157, 2013.
SILVA, N. V.; SILVA, J. H. V.; COELHO, M. S. et al. Características de carcaça e
carne ovina: uma abordagem das variáveis metodológicas e fatores de influência. Acta
Veterinaria Brasilica, v. 2, n. 4, p.103-110, 2008.
SILVA, D. J.; QUEIROZ, A. C. Análise de alimentos : métodos químicos e biológicos.
Viçosa, MG: UFV, 2002. 235p.
SILVA SOBRINHO, A.G. & OSÓRIO, J. C. S. Aspectos quantitativos da produção
de carne ovina. 1ª ed. Jaboticabal:Funep, 2008. 228 p.
SILVA SOBRINHO, A. G.; SILVA, A. M. A. Produção de carne ovina. Revista
Nacional da Carne, n. 285, p. 32-44, 2000.
SILVA SOBRINHO, A.G. Body composition and characteristics of carcass from
lambs of different genotypes and ages at slaughter, 1999. 54f. Report (Post Doctorate
in Sheep Meat Production) - Massey University, Palmerston North, New Zealand.
SIQUEIRA, E. R.; FERNANDES, S. Efeito do genótipo sobre as medidas objetivas e
subjetivas da carcaça de cordeiros terminados em confinamento. Revista Brasileira de
Zootecnia, v. 29, n. 1, p. 306-311, 2000.
SNIFFEN, C. J.; O´CONNOR, J. D.; VAN SOEST, P. J. et al. A net carbohydrate and
protein system for evaluating cattle diets: II. Carbohydrate and protein
availability. Journal of Animal Science, v. 70, n. 11, p. 3562-3577, 1992.
VAN SOEST, P. J., ROBERTSON, J. B., LEWIS, B. A. Methods for dietary fiber,
neutral detergent fiber, and nonstarch polyssacharides in relation to animal nutrition.
Journal of Dairy Science, v. 74, n. 10, p. 3583-3597, 1991.
VIEIRA, M. M. M.; CÂNDIDO, M. J. D.; BONFIM, M. A. D. et al. Características da
carcaça e dos componentes não-carcaça em ovinos alimentados com rações à base de
farelo de mamona. Revista Brasileira Saúde Produção Animal, v. 11, n. 1, p. 140-
149, 2010.
56
WEISS, W. P. Energy prediction equations for ruminant feeds. In: Cornell nutrition
conference for feed manufacturers, 61, 1999, Proceedings... Ithaca: Cornell University,
1999. p.176-185.
57
CAPÍTULO 3
Avaliação do perfil metabólico, proteico, energético e hepático de
cordeiros terminados em confinamento com dietas contendo torta de
amendoim
58
CAPÍTULO 3
Avaliação do perfil metabólico, proteico, energético e hepático de
cordeiros terminados em confinamento com dietas contendo torta de
amendoim
RESUMO
Objetivou-se avaliar o efeito da substituição do farelo de soja pela torta de amendoim
através dos perfis proteico e energético, do metabolismo hepático e avaliação
histopatológica do tecido hepático e renal de ovinos terminados em confinamento.
Quarenta e cinco cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês, não-castrados, com peso vivo
inicial de 24,49 ± 5,27 kg, foram distribuídos em um delineamento inteiramente
casualizado com cinco tratamentos e nove repetições. Os animais foram confinados em
baias individuais dotadas de comedouros e bebedouros e alimentados com dietas
contendo níveis crescentes de torta de amendoim (zero; 25; 50 75 e 100%) em
substituição ao farelo de soja, com base na matéria seca. A dieta basal foi composta por
farelo de soja, milho em grão, torta de amendoim e sal mineral, no concentrado e feno
de Tifton-85 como fonte de volumoso. Amostras de sangue foram coletadas da veia
jugular dos cordeiros de cada animal em tubos vacutainer sem anticoagulante para a
obtenção do soro e posterior realização dos exames para a avaliação dos perfis proteico,
energético e atividade de enzimas do metabolismo hepático, onde foram analisados os
seguintes parâmetros: concentrações séricas da ureia, albumina, globulina, proteínas
totais, colesterol e teores de triglicerídeos, bem como as atividades enzimáticas da
alanina-aminotransferase, aspartato-aminotransferase e gama-glutamiltransferase.
Quanto ao perfil proteico, não houve efeito das dietas sobre os parâmetros analisados os
quais se mantiveram dentro dos parâmetros fisiológicos de normalidade para a espécie
ovina. Quanto ao perfil energético, os níveis crescentes da torta de amendoim não
influenciaram (P>0,05) as concentrações séricas de triglicerídeos e colesterol, cujos
valores médios foram 45,74 e 40,58 mg/dL, respectivamente. Com relação às atividades
das enzimas avaliadoras da função hepática, a alanina-aminotransferase e aspartato-
aminotransferase mantiveram-se dentro dos parâmetros fisiológicos para a espécie. Não
foram verificados efeitos deletérios da torta de amendoim no tecido hepático e renal, e
através do exame histopatológico, constatando a viabilidade do seu uso na dieta de
cordeiros em confinamento devido à ausência de comprometimento das dietas
experimentais sobre o organismo dos ovinos.
Palavras-chave: coproduto, fígado, histopatologia, rim, ovinos
59
Evaluation of metabolic, proteic and energetic profile and liver of
feedlot lambs fed diets containing groundnut cake
ABSTRACT
This study aimed to evaluate the effect of replacing soybean meal by groundnut cake
through the metabolic, proteic, energetic profiles, hepatic metabolism and
histopathological evaluation of kidney and liver tissue of feedlot sheeps. Forty-five
crossbred Dorper x Santa Inez lambs, with initial body weight of 24,49 ± 5,27 kg, were
distributed in a completely randomized design with five treatments and nine repetitions.
The animals were housed in individual pens equipped with feeders and drinkers and fed
diets with increasing levels of groundnut cake (zero, 25, 50 75 and 100%) in
replacement of soybean meal, on dry matter basis. The basal diet was composed of
soybean meal, corn, groundnut cake and mineral in the concentrate, and Tifton-85 hay
as forage source. Blood samples were collected from the jugular vein of each animal
lambs in vacutainer tubes without anticoagulant to obtain serum and later examinations
to assess the protein, energy and enzymatic profile where the following parameters were
analyzed: serum concentrations of urea, albumin, globulin, total protein, cholesterol and
triglycerides levels, as well as the enzymatic activities of alanine aminotransferase,
aspartate aminotransferase and gamma-glutamyltransferase. There was no effect of diet
on the protein profile, which remained within the normal physiological parameters for
the sheep. As for the energy profile, the increasing levels of groundnut cake did not
affect (P>0.05) serum concentrations of triglycerides and cholesterol, with mean values
of 45,74 and 40,58 mg/dL, respectively. Regarding liver function enzymes evaluators,
serum concentrations of alanine-aminotransferase and aspartate-aminotransferase
remained within the normal physiological parameters. No deleterious effects were
observed by the use of groundnut cake on the kidney and liver tissue, and by
histopathology analysis, confirming the feasibility of its use in the diet of feedlot lambs
due to the lack of commitment of the experimental diets on the bodies of the sheeps.
Keywords: coproduct, histopathology, kidneys, liver, sheep
60
INTRODUÇÃO
A ovinocultura é uma atividade difundida mundialmente, pelo fato da espécie
ovina apresentar características de rusticidade e adaptação às mais diversas condições
climáticas. Apesar desse potencial, o desempenho produtivo dos animais acaba sendo
comprometido pela irregular oferta de alimentos, decorrente de longos períodos de
estiagem ao longo do ano, situações características de ambientes semiáridos.
Neste contexto, o confinamento pode ser adotado como estratégia visando
reduzir ou minimizar essa realidade. Entretanto, a viabilidade econômica desse regime
de criação é comprometida devido ao uso de concentrados como milho e soja, que
apresentam altos custos de aquisição para o produtor rural.
De acordo com Oliveira et al. (2012), o uso das tortas oriundas da produção de
biodiesel como fontes de alimentos alternativos na dieta de ruminantes é vantajoso para
o produtor rural, pois além de reduzir os custos com a alimentação, geralmente mantém
a produtividade e a qualidade dos produtos, desde que as dietas sejam bem balanceadas
para atender as exigências nutricionais dos animais.
Dietas ricas em concentrado ou fibras causam alterações na fisiologia ruminal, e
dependendo do tipo do alimento ocorrem: modificação da população de
microrganismos, da taxa de passagem do alimento, bem como da motilidade e
velocidade de absorção dos nutrientes. Estes fatores podem causar uma série de
distúrbios metabólicos, os quais podem acarretar em perda de eficiência e produção dos
animais e, sobretudo, prejuízos a nível econômico para os produtores rurais (VAN
CLEEF et al., 2009). Todavia, como destacado por Alves et al. (2003), a adição
excessiva destes alimentos aumenta não só a susceptibilidade de desenvolvimento de
distúrbios metabólicos pelos animais, como também alterações no pH ruminal
(SANTRA et al., 2003).
Resultados relevantes têm sido obtidos no Brasil através da avaliação do perfil
metabólico e status nutricional de ovinos submetidos a distintos sistemas alimentares,
por meio da bioquímica clínica, tais como: determinação das concentrações séricas de
albumina e creatinina, e de algumas enzimas relacionadas à atividade hepática a
exemplo da alanina-aminotransferase, aspartato-aminotransferase e gama-
glutamiltransferase (Tabeleão et al., 2007), uma vez que estas auxiliam no
61
estabelecimento do diagnóstico de alguns distúrbios metabólicos e outras
enfermidades.
Oliveira (2012), avaliando o efeito da substituição do farelo de soja pela torta de
amendoim sobre a concentração de ureia e glicose, no plasma sanguíneo de bovinos ½
Holandês x ½ Zebu, não constataram influência das dietas testadas sobre os níveis
séricos dos parâmetros analisados. Todavia, é imprescindível a realização de pesquisas
que disponibilizem dados acerca do efeito desta torta sobre os parâmetros sanguíneos e
perfil metabólico e o seu efeito no tecido hepático e renal em pequenos ruminantes,
tendo em vista a ausência de estudos específicos para a espécie ovina.
Em face disso, objetivou-se verificar o efeito da substituição do farelo de soja
pela torta de amendoim sobre o perfil metabólico, proteico, energético, bem como a
avaliação histopatológica do tecido renal e hepático de cordeiros terminados em
confinamento.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no aprisco da Fazenda Experimental da Escola de
Medicina Veterinária e Zootecnia pertencente à Universidade Federal da Bahia,
localizada no município de São Gonçalo dos Campos – Bahia, entre os meses de janeiro
a abril de 2011.
Quarenta e cinco cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês, não-castrados, com
idade média de 5 meses e peso corporal inicial de 24,49 ± 5,27 kg, os quais foram
distribuídos em um delineamento inteiramente causalizado com cinco tratamentos e
nove repetições contendo torta de amendoim nos níveis zero; 25,0; 50,0; 75,0 e 100%,
em substituição ao farelo de soja (Tabela 2). Os animais foram alojados em baias
individuais de piso ripado e suspenso, providas com bebedouros e comedouros
dispostos em área totalmente coberta.
Durante o período de adaptação, o qual teve duração de 21 dias, os animais
foram identificados, pesados, vermifugados e vacinados contra Clostridioses. Dessa
forma, a fase pré-experimental foi destinada não só a adaptação dos animais às
62
instalações, como também às dietas e ao manejo diário. Decorrido este período, os
animais foram submetidos à fase experimental, constituída de três períodos
consecutivos de 21 dias para a coleta de dados.
Os cordeiros foram alimentados na forma de mistura completa, às 09:00 e 16:00
horas, em uma razão volumoso:concentrado de 50:50. Utilizou-se como fonte de
volumoso feno de capim Tifton-85 (Cynodon sp) moído em partícula de
aproximadamente 5 cm. O concentrado foi composto de milho moído, farelo de soja,
ureia, sulfato de amônio, suplemento mineral específico para ovinos e torta de
amendoim (Tabela 1).
As dietas foram formuladas para serem isonitrogenadas (14% de PB) segundo as
recomendações do National Research Council (NRC, 1985), de modo a atender as
exigências nutricionais para cordeiros com ganhos de peso estimados de 200g/dia.
Durante todo o experimento foram coletadas amostras dos ingredientes e das dietas para
análise de sua composição bromatológica (Tabelas 1 e 2).
Tabela 1. Composição bromatológica dos ingredientes utilizados nas dietas
experimentais
Item
Ingrediente
Feno de
Tifton-85
Grão de milho
moído
Farelo de
soja
Torta de
amendoim
Matéria seca 85,70 92,91 89,25 89,07
Matéria orgânica¹ 93,11 98,55 93,53 94,95
Matéria mineral¹ 6,89 1,45 6,47 5,05
Proteína bruta¹ 3,89 5,94 40,62 38,69
Extrato etéreo¹ 1,07 4,06 1,91 9,95
PIDN¹ (% da PB) 67,90 16,90 6,19 5,42
PIDA² (% da PB) 14,20 8,90 3,19 1,94
Fibra em detergente neutro¹ 73,87 15,33 13,19 14,03
Fibra em detergente ácido¹ 40,51 3,46 8,00 8,58
Lignina¹ 5,00 2,37 1,63 4,30
Celulose¹ 35,51 1,09 6,37 4,28
Hemicelulose¹ 33,36 11,87 5,19 5,45
Carboidratos não fibrosos¹ 14,28 73,22 37,81 32,28 1Valor expresso em % da matéria seca. PIDN¹= proteína indigestível em detergente neutro, PIDA² =
proteína indigestível em detergente ácido.
63
Tabela 2. Composição percentual dos ingredientes e bromatológica das dietas
experimentais
Ingrediente (% MS)
Nível de torta de amendoim (%)
0 25 50 75 100
Grão de milho moído 28,10 28,10 28,10 28,10 28,10
Farelo de soja 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
Torta de amendoim 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00
Suplemento minerala
1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Ureia 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Sulfato de amônio 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Feno de Tifton-85 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Composição bromatológica
Matéria seca 87,12 88,82 88,99 88,90 89,74
Matéria orgânica¹ 94,10 93,71 94,08 94,07 94,18
Matéria mineral¹ 6,40 6,29 6,41 6,40 6,36
Proteína bruta¹ 12,60 12,40 12,49 12,44 11,87
Extrato etéreo¹ 1,99 2,73 3,60 4,40 5,55
PIDN² (% da PB) 27,73 27,67 27,54 27,51 27,44
PIDA³ (% da PB) 8,17 7,92 7,89 7,86 7,64
Fibra em detergente neutro¹ 44,50 44,19 44,17 42,84 42,62
Fibra em detergente ácido¹ 23,87 23,78 23,70 22,77 23,29
Lignina¹ 3,64 3,78 3,81 3,11 3,73
Celulose¹ 20,23 20,00 19,89 19,66 19,56
Hemicelulose¹ 20,63 20,41 20,47 20,07 19,33
Carboidratos não-fibrosos¹ 34,51 34,39 33,33 33,92 33,60
Nutrientes digestíveis totais4
67,15 67,19 67,24 67,30 67,61 aNíveis de garantia (por kg em elementos ativos): cálcio - 120 g; fósforo - 87g; sódio - 147g; enxofre -
18g; cobre – 590 mg; cobalto - 40mg; cromo – 20 mg; ferro - 1.800 mg; iodo – 80 mg; manganês - 1.300
mg; selênio – 15 mg; zinco - 3.800 mg; molibdênio – 300 mg; flúor máximo – 870 mg; solubilidade do
fósforo (P) em ácido cítrico a 2% mínimo - 95%. ¹Valor expresso em % da matéria seca. PIDN¹= proteína
indigestível em detergente neutro; PIDA² = proteína indigestível em detergente ácido, 4 Nutrientes
digestíveis totais estimados pelas equações de Detmann et al. (2006a, 2006b, 2006c, 2007). *Análises
realizadas no Laboratório de Nutrição Animal (LANA) da UFBA.
Diariamente, às 07:00 horas da manhã, antes do fornecimento da refeição
matutina, as sobras foram recolhidas e pesadas em balança digital para determinação do
consumo de matéria seca diário. Dessa forma, a quantidade de ração ofertada aos
cordeiros foi reajustada para estimar o consumo e permitir entre 10 a 20% de sobras.
64
Cada animal teve livre acesso à agua, em tempo integral, de modo que os bebedouros
foram monitorados todos os dias evitando assim, o déficit hídrico nos recipientes.
Durante os três períodos experimentais, foram coletadas semanalmente amostras
do fornecido e das sobras, as quais foram acondicionadas em sacos plásticos
devidamente identificados e armazenados em freezer -20ºC. Após o descongelamento,
amostras do volumoso, concentrado e sobras submetidas à pré-secagem em estufa de
ventilação forçada a 55°C durante 72 horas. Em seguida, trituradas em moinhos de faca
tipo Willey com peneira de 1 mm, e armazenadas em frascos plásticos com tampa
etiquetados prontas para às análises laboratoriais.
Dessa forma, conforme as metodologias descritas na AOAC (1990) foram
realizadas as determinações dos teores de matéria seca, matéria mineral, proteína bruta e
extrato etéreo de todas as amostras de alimentos e sobras. Em todas as amostras, os
teores de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente acido (FDA) foram
obtidos conforme Van Soest et al. (1991) e os teores de proteína insolúvel em
detergente neutro (PIDN) e acido (PIDA) segundo Licitra et al. (1996). A lignina foi
determinada por meio do tratamento do resíduo de fibra em detergente ácido com ácido
sulfúrico a 72%, de acordo com Silva e Queiroz (2002).
A porcentagem de carboidratos totais (CHT) foi calculada segundo a equação de
Sniffen et al. (1992) e os carboidratos não-estruturais (CNE), por meio da diferença
entre os carboidratos totais e a fibra em detergente neutro (MERTENS et al., 1997). O
teor de nutrientes digestíveis totais (NDT) foi estimado através da fórmula proposta por
Weiss et al. (1999): NDT = PBD + 2,25 X EED + CNFD + FDND, sendo PBD, EED,
CNFD e FDND as frações digestíveis da proteína bruta, extrato etéreo, carboidratos
não-fibrosos e fibra em detergente neutro, respectivamente.
Para a avaliação da influência dos níveis da torta de amendoim, sobre o perfil
metabólico, proteico, energético e hepático foram colhidas de todos os animais amostras
de sangue, por punção da veia jugular, no último dia do experimento. Para tal, após
antissepsia local foram coletados 10 mL de amostra de sangue em tubos vacutainer sem
anticoagulante, as quais foram mantidas à temperatura ambiente até a retração do
coágulo. Em seguida, realizou-se a centrifugação a 3.500 rpm por 15 minutos para a
obtenção do soro sanguíneo, sendo este então armazenado em mini-tubos eppendorf®
devidamente identificados e conservados em freezer a -20°C para posteriores análises.
65
As concentrações séricas de proteína total, determinada pelo método do biureto,
e de albumina pelo método do verde de bromocresol, foram realizadas utilizando-se kits
comerciais e leitura em espectrofotômetro com comprimentos de onda de 550 e 630 nm,
respectivamente. O teor de globulinas foi calculado pela diferença matemática entre o
teor de proteína total e albumina sérica, sendo os valores expressos em g/dL. A relação
albumina:globulina foi obtida a partir da divisão do valor da fração albumina pelo
valor total da fração globulina.
Os níveis séricos de ureia foram determinados por sistema enzimático,
utilizando-se kits comerciais e a leitura em espectrofotômetro com comprimento de
onda de 600 nm, levando-se em consideração que 47% desta é composta por nitrogênio.
As concentrações séricas de colesterol total e de triglicerídeos, utilizados para
avaliação do perfil energético foram analisadas utilizando-se kits comerciais através da
técnica enzimática colorimétrica, sendo a leitura feita em analisador bioquímico semi-
automático.
As atividades das enzimas para avaliação do metabolismo hepático, alanina-
aminotransferase (ALT), aspartato-aminotransferase (AST) e gama-glutamiltransferase
(GGT) foram mensuradas por meio de análise colorimétrica utilizando kits comerciais e
leitura da atividade catalisadora foi efetuada em espectrofotômetro, com temperatura
entre 20 e 30°C, e os valores foram expressos em UI/L.
A determinação de micotoxinas nos ingredientes das dietas experimentais foi
realizada utilizando a metodologia de extração, purificação e derivação 100%
automatizada através de cromatografia líquida de alta eficiência no Laboratório de
Análises Micotoxicológicas da Universidade Federal de Santa Maria.
No último dia do período experimental, os animais permaneceram em jejum de
sólidos. Desse modo, os animais foram transferidos para frigorífico comercial,
localizado no município de Alagoinhas – Bahia, onde foram abatidos de acordo com as
normas vigentes preconizadas pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento -
Secretaria de Defesa Agropecuária (BRASIL, 2000). O abate foi realizado após a
insensibilização dos animais por eletronarcose, seguida de sangria através da secção das
veias jugulares e as artérias carótidas. Ainda durante o abate, após a realização da esfola
e evisceração, foram colhidos fragmentos de rim e fígado de todos os cordeiros, os
66
quais foram acondicionados em frascos e fixados com solução de formol neutro e
tamponado a 10%.
As amostras foram conduzidas para o Laboratório de Anatomia Patológica da
Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFBA, onde foram inicialmente
processadas pela técnica rotineira de inclusão em parafina. As secções histológicas
tiveram sua área para análise padronizada em 0,4 cm² e foram posteriormente coradas
com hematoxilina e eosina (HE) para subsequente exame histopatológico e avaliação do
efeito da torta de amendoim no tecido hepático e renal, segundo Prophet et al. (1992).
Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e de regressão
a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa SAEG (Sistema de Análises
Estatísticas e Genéticas), versão 9.1 (SAEG, 2007).
67
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não foi efeito das dietas (P>0,05) sobre os valores séricos de ureia (Tabela 3),
que se apresentaram dentro dos limites de normalidade descritos para a espécie ovina
(DUNCAN, 1986).
Tabela 3. Níveis séricos de ureia, proteínas totais (PT), albumina, globulina e relação
albumina:globulina (A:G) de cordeiros submetidos a dietas com torta de
amendoim em substituição ao farelo de soja no concentrado
Item
Nível de substituição (%)
EPM¹
Valor-P*
0 25 50 75 100 Lin² Quad³
Ureia (mg/dL) 58,21 62,70 64,08 64,91 70,14 1,773 0,1454 0,9646
PT (g/dL) 5,90 6,00 6,46 5,38 6,00 0,123 0,5764 0,4768
Albumina (g/dL) 19,80 22,80 26,00 21,30 30,10 0,081 0,0467 0,9646
Globulina (g/dL) 3,92 3,71 3,85 3,25 2,98 0,123 0,0760 0,5036
A:G 0,53 0,66 0,75 0,69 1,01 0,044 0,0408 0,7992
Equações de regressão
Albumina (g/dL) Ŷ= 2,1856 + 0,0023X (R² = 0,70)
A:G Ŷ= 0,592 + 0,0014X (R² = 0,39) ¹EPM = erro padrão da média. ²Significância para efeito linear. ³Significância para efeito quadrático. mg/dL =
miligrama por decilitro. g/dL = grama por decilitro. Valor-P* = probabilidade significativa ao nível de 5%.
Segundo Andrade-Montemayor et al. (2009), os valores séricos de ureia acima
da faixa de normalidade são ocasionados em situações em que há excessivo consumo
proteico, baixa ingestão energética ou ainda degradação de forma não sincronizada da
energia e proteína. Santos e Greco (2007) ressaltaram que o fornecimento de dietas com
teor de proteína degradável resulta em excessiva produção de ureia no rúmen, sendo
necessário gasto energético para processo de detoxificação desta no tecido hepático pelo
do ciclo da ureia.
As concentrações séricas das proteínas totais dos cordeiros nas diferentes dietas
não foram afetadas (P>0,05) pelas dietas avaliadas (Tabela 3). O valor médio da
proteína total sérica neste estudo, cujo valor foi de 5,94 g/dL assemelhou-se ao
verificado por Meira Jr. et al (2009) ao também avaliarem ovinos Santa Inês em
crescimento com idade inferior a seis meses de idade. De acordo com Kerr (2003),
redução nos níveis proteicos pode estar associada a perdas sanguíneas ou deficiências
nutricionais que promovessem debilitação orgânica.
68
Os teores séricos de albumina foram afetados (P>0,05) pelas dietas, entretanto os
teores médios obtidos encontram-se dentro dos valores de normalidade preconizados
para a espécie ovina (RIBEIRO et al., 2004, BRITO et al., 2006; BALIKCI et al., 2007;
MEIRA JR. et al., 2009). Tendo em vista que os cordeiros foram confinados por um
período de 84 dias, caso os animais apresentassem um quadro de subnutrição seria
verificado baixo nível sérico de albumina, pois conforme Payne e Payne (1987) é
necessário um período de cerca de um mês para uma diminuição significativa da
concentração sérica de albumina, haja vista que apresenta baixa velocidade de síntese e
degradação, sendo indicativo do conteúdo proteico na alimentação de ruminantes
(BEZERRA et al., 2008).
O regime de confinamento pode ter sido outro fator que influenciou na ausência
de resultados significativos, pois durante o período experimental houve oferta irrestrita
de água para os animais de modo que não sofressem desidratação, pois o déficit hídrico,
segundo Caldeira (2005) exerce influência direta sobre a concentração de albumina.
Ainda segundo este autor, a importância da albumina no organismo se deve ao fato de
ser responsável pelo transporte de diversos metabólitos, e principalmente realizar o
carreamento de hormônios e de ácidos graxos não esterificados servindo como fonte de
energia para os tecidos periféricos.
A substituição do farelo de soja pela torta de amendoim não influenciou
(P>0,05) os níveis de globulina sérica dos cordeiros (Tabela 3). Assim como a
albumina, a globulina também pode ser considerada um indicador com sensibilidade na
determinação do status proteico dos animais (CONTRERAS et al., 2000).
González e Silva (2006) ressaltaram que os níveis de globulina podem avaliar a
adaptação dos animais ao stress, de modo que não são observadas alterações nos níveis
dessa variável caso os animais estiverem bem adaptados. Dessa forma, uma vez que
todos os cordeiros foram submetidos ao mesmo manejo, confinados em baias
individuais, com oferta de dieta solida e hídrica ad libitum, a ausência de variações na
globulina possivelmente foi devido ao fato de terem sido manejados de forma
semelhante, pois não foram submetidos à stress severo ao longo do período
experimental.
Embora tenha sido evidenciada diferença (P<0,05) na relação
albumina/globulina (Tabela 3), os resultados em geral estão dentro da variação para a
69
espécie ovina que varia de 0,60 a 1,3 g/dL (KANEKO et al., 1997). Conforme descrito
por Bacila (2003), a relação albumina/globulina pode ser utilizada como indicativo da
baixa susceptibilidade dos cordeiros à infecções, pois valores inferiores são comumente
vistos devido à uma resposta humoral a estimulo de antígenos nocivos ao organismo e
produção exacerbada de globulinas (TIZARD, 2000). Diante dos resultados desta
pesquisa, constata-se que os cordeiros não foram acometidos por enfermidade que
provocasse excesso da produção de anticorpos pela produção de gamaglobulinas.
Nunes et al. (2010) ao avaliarem o efeito da torta de dendê oriunda da produção do
biodiesel na dieta de cordeiros não verificaram influencia das dietas sobre a relação
albumina:globulina. Assim como os resultados deste estudo, os autores inferiram que o
aumento da torta de dendê na dieta não ocasionou anormalidade da fração proteica do
sangue e, principalmente, ausência de distúrbios no tecido hepático.
As concentrações séricas de colesterol e triglicerídeos plasmáticos não foram
influenciadas (P>0,05) pelas dietas, e mantiveram-se dentro da faixa de normalidade
quando comparados a outros trabalhos conduzidos com a espécie ovina no Brasil
(BRITO et al., 2006; PEIXOTO et al., 2009; RABASSA et al., 2010; SANTOS et al.,
2011).
Tabela 4. Perfil energético de cordeiros submetidos a dietas com torta de amendoim em
substituição ao farelo de soja no concentrado
Metabólitos
(mg/dL)
Nível de substituição (%)
EPM¹
Valor-P*
0 25 50 75 100 Lin² Quad³
Colesterol 48,45 49,07 46,37 43,24 41,60 1,682 0,2384 0,7485
Triglicerídeos 44,92 37,94 46,82 40,33 32,53 1,642 0,3083 0,4374 ¹EPM = erro padrão da média. ²Significância para efeito linear. ³Significância para efeito quadrático.
mg/dL= miligrama por decilitro. Valor-P* = probabilidade significativa ao nível de 5%.
Apesar de ter ocorrido aumento do teor lipídico com a torta de amendoim
(Tabela 2), não foi verificado efeito no status energético dos cordeiros, possivelmente
em virtude do consumo de extrato etéreo, que neste estudo não foi influenciado pela
substituição do farelo de soja pela torta de amendoim.
Como descrito por Homem Jr. et al. (2010), o estado nutricional em energia de
ruminantes pode ser avaliado por meio de indicadores sanguíneos como colesterol e
triglicerídeos, sendo os níveis séricos de colesterol um indicativo da capacidade do
animal de metabolizar suas reservas corporais. Rodrigues et al. (2010) enfatizaram a
70
importância da avaliação dos níveis de colesterol, lipídeos totais e triglicerídeos. Dessa
forma, é imprescindível a participação destes parâmetros na bateria de testes
bioquímicos, por permitirem não só a avaliação de uma possível existência de déficit
energético, como também a presença de lesões no tecido hepático devido ao excesso de
mobilização de reservas adiposas corporais.
Não foi verificado efeito (P>0,05) das dietas sobre a atividade sérica da alanina-
aminotransferase (ALT) e do aspartato aminotransferase (AST) (Tabela 5), que se
mantiveram dentro dos valores de normalidade para a espécie ovina, segundo Pugh e
Dum (2005), indicando a ausência de comprometimento da função hepática dos
cordeiros. Esse resultado condiz com o mencionado por Duncan e Prasse (1982), de que
o aumento das taxas séricas enzimáticas provenientes do tecido hepático está
relacionada à doença hepatocelular, pois o grau de aumento é diretamente proporcional
ao número de hepatócitos afetados.
Tabela 5. Atividades enzimáticas da gama-glutamiltransferase (GGT), alanina-
aminotransferase (ALT) e aspartato-aminotransferase (AST) em cordeiros
submetidos a dietas com torta de amendoim em substituição ao farelo de
soja no concentrado
Variável
(UI/L)
Nível de substituição (%)
EPM¹
Valor-P*
0 25 50 75 100 Lin² Quad³
AST 28,53 30,78 29,53 29,42 31,98 0,336 0,1968 0,9034
ALT 43,23 43,08 43,38 43,18 44,88 0,272 0,3801 0,3617
GGT 47,85 48,98 50,00 52,77 58,95 0,784 0,0042 0,2016
Equação de regressão
GGT Ŷ= 46,8736 + 0,0897388X (R² = 0,83) ¹EPM = erro padrão da média. ²Significância para efeito linear. ³Significância para efeito quadrático.
R²= coeficiente de determinação. UI/L = unidade internacional por litro. Valor-P* = probabilidade
significativa ao nível de 5%.
Diante da ausência de efeitos da torta de amendoim sobre o perfil enzimático,
permite-se inferir que as dietas não ocasionaram degeneração das células hepáticas, haja
vista estas enzimas serem comumente liberadas no sangue no momento em que há
alguma lesão celular ou comprometimento da integridade da membrana dos hepatócitos
(KANEKO et al., 2008).
Houve efeito linear crescente da substituição do farelo de soja pela torta de
amendoim (P>0,05) sobre atividade sérica da gama glutamiltransferase (Figura 1).
Tendo em vista que os ruminantes apresentam estreita amplitude sérica de gama-
71
glutamiltransferase, o que a torna uma enzima específica com maior sensibilidade no
diagnóstico de bilestase (STOCKHAM e SCOTT, 2008), pode-se considerar que os
níveis de torta de amendoim ocasionaram alguma injúria nos túbulos biliares.
Figura 1. Concentrações séricas de gama-glutamiltransferase (GGT)(UI/L) em cordeiros
mestiços Dorper x Santa Inês submetidos a dietas com torta de amendoim em
substituição ao farelo de soja no concentrado
Por se tratar de uma de enzima de indução o aumento da produção de gama-
glutamiltransferase geralmente está associado a um estímulo que promova seu o
extravasamento pelas células ou pela liberação de fragmentos de membranas que
contêm esta enzima (THRALL et al., 2006) ou colestase (SANTOS JÚNIOR et al.,
2008). Todavia, mesmo com o aumento, os níveis séricos dessa enzima estavam dentro
da normalidade para ovinos (DUNCAN, 1986), indicando que o agente causador não
afetou o tecido hepático dos cordeiros de forma acentuada.
De forma similar, Santana et al. (2009) ao compararem o perfil bioquímico
sérico de ovinos abatidos, com os valores normais para a espécie, não observaram
alteração na atividade sérica da enzima GGT. Segundo os autores, é imprescindível o
conhecimento de valores de constituintes hematológicos e bioquímicos de animais em
idade de abate, uma vez que auxilia na detecção de sinais de doença assegurando a
qualidade aos produtos que serão destinados ao mercado consumidor.
Após a realização do exame macroscópico post mortem no abatedouro, não
foram verificadas anormalidades ou alterações na análise macroscópica do tecido
hepático e renal e em demais órgãos dos animais. Portanto, as dietas utilizadas durante o
72
período de confinamento não comprometeram ou ocasionaram condenação das
carcaças, e, principalmente, qualquer efeito deletério que impossibilitasse a
comercialização da carne dos cordeiros ao mercado consumidor.
Kellerman et al. (2005) relataram que o fígado é o órgão alvo de intoxicação
animal por aflatoxinas. Conforme, Keyl e Booth (1970), Pedugsorn et al. (1980) e
D´Angelo et al. (2007), as lesões macroscópicas visualizadas são comumente
caracterizadas por modificações de cor e tamanho do fígado, em virtude da substituição
do parênquima hepático. Ainda segundo estes autores, esse efeito acontece
principalmente devido à proliferação dos ductos biliares e degeneração citoplasmática
vacuolar consistente com acúmulo hepatocelular de lipídeos, que de forma associada ao
edema, comumente provocam leve aumento de volume do fígado.
A tumefação celular aguda ou degeneração hidrópica foi a alteração
microscópica mais observada em todos as animais, tanto do tecido hepático como do
renal (Tabela 6). Este resultado pode estar associado à hipóxia ocasionado pela sangria
devido à secção da artéria carótida e veia jugular. Esse procedimento realizado no abate
dos animais resulta na menor perfusão e oferta de oxigênio aos órgãos, sendo
imprescindível para a conversão satisfatória do músculo em carne. Além disso, a
congestão e hemorragia observadas podem ter sido decorrente da hipóxia determinada
pela demora durante o procedimento de sangria ou inadequada realização durante o
abate dos animais.
Tabela 6. Principais achados do exame histopatológico do fígado de cordeiros mestiços
Dorper x Santa Inês submetidos a dietas com torta de amendoim em
substituição ao farelo de soja no concentrado
Achados do exame histopatológico Nível de substituição (%)
0 25 50 75 100
Congestão + + + + +
Tumefação celular aguda discreta e
difusa + + + + +
Discreta desorganização estrutural do
parênquima + + + + +
Infiltrado inflamatório mononuclear + + + + +
Esteatose microvacuolar centrolobular
discreta - + + - -
(+) = presente; (-) = ausente
73
Além da congestão e tumefação celular observou-se através da avaliação
histológica do fígado que os cordeiros das cinco dietas apresentaram desorganização
estrutural do parênquima hepático e esteatose microvacuolar periportal, os quais podem
não estar associados às dietas (Tabela 6). As respostas diferenciadas dos organismos dos
animais quanto a esteatose comprovam a ausência de sobrecarga hepática, pois seria
esperado que apenas os cordeiros alimentados com os maiores níveis de torta de
amendoim apresentassem esse achado, fato este não verificado (Tabela 6).
Lesões crônicas de aflatoxicose no tecido hepático são relatadas como contendo
graus variáveis de proliferação do epitélio dos ductos biliares, fibrose, endoflebite
obliterante (lesão venooclusiva) da veia centrolobular (veia hepática terminal), variação
considerável no tamanho e forma dos hepatócitos e diferentes graus de esteatose
hepática (LOOSMORE e MARKSON, 1961; CLEGG e BRYSON, 1962; HILL, 1963).
Além dos achados similares visualizados no tecido hepático, verificou-se
também ao exame histopatológico do tecido renal hemorragias focais e áreas de atrofia
tubular (Tabela 7). Em ambos os tecidos, os sinais descritos podem estar relacionados à
hipóxia e alterações na perfusão do tecido hepático devido à sangria, que é um
procedimento exigido e encontra-se de acordo com as normas vigentes de abate de
ovinos (BRASIL, 2000).
Tabela 7. Principais achados do exame histopatológico do rim de cordeiros mestiços
Dorper x Santa Inês submetidos a dietas com torta de amendoim em
substituição ao farelo de soja no concentrado
Achados do exame histopatológico Nível de torta de substituição (%)
0 25 50 75 100
Congestão + + + + +
Hemorragias focais + + + + +
Tumefação celular aguda discreta e
difusa dos túbulos + + + + +
Infiltrado inflamatório mononuclear + + + + +
Áreas de atrofia tubular - - - - -
(+) = presente; (-) = ausente
Embora não tenha sido verificado efeito das dietas sobre o perfil metabólico,
proteico, energético, que se mantiveram dentro dos limites de normalidade para a
espécie ovina, e dos achados inespecíficos no exame histopatológico do tecido renal e
74
hepático, é possível inferir a ausência de comprometimento das dietas no organismo dos
cordeiros. Entretanto, é importante destacar que após a análise de micotoxinas das dietas
experimentais constatou-se que as dietas contendo 75 e 100% de torta de amendoim no
concentrado apresentaram teor de aflatoxina B1 superior ao recomendado pelo MAPA
(2006) para ração de ruminantes, que é de 50 μg/kg. Entretanto, como descrito
previamente, os achados verificados no exame histopatológico do tecido renal e
hepático não condizem com o que é descrito na literatura para animais acometidos por
aflatoxicose. Portanto, durante o período avaliado e nos níveis de torta de amendoim
estudados, é possível recomendar o uso dessa torta como fonte proteica aos cordeiros,
visto que não foram verificados efeitos deletérios nos animais.
Como descrito por Upadhaya et al. (2010) o consumo de micotoxinas pelos
animais através da ingestão de rações contaminadas conduz a efeitos adversos mais
severos na saúde de animais não-ruminantes, sendo que a gravidade varia com a espécie
acometida e da susceptibilidade a toxinas dentro de espécies.
É sabido que ruminantes são considerados de forma geral são mais resistentes
aos efeitos adversos das micotoxinas (Fink-Gremmels, 2008) possivelmente devido à
flora ruminal, a qual tem a capacidade de realizar a biotransformação de micotoxinas a
menos tóxicos ou atóxicos. Assim, é possível que mesmo as dietas apresentando nível
de aflatoxina B1 superior ao recomendado, os cordeiros conseguiram tornar esse
composto em um metabólito menos nocivo, e esses níveis não foram capazes de causar
efeito deletério a ponto de comprometer o funcionamento hepático dos animais nesta
pesquisa.
75
CONCLUSÕES
A substituição do farelo de soja pela torta de amendoim não afeta os perfis metabólico,
proteico, energético e funcionamento hepático e renal de ovinos de corte em
crescimento.
76
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALVES, K.S.; CARVALHO, F. F. R.; VÉRAS, A. S. C. et al. Níveis de energia em
dietas para ovinos Santa Inês: Digestibilidade Aparente. Revista Brasileira de
Zootecnia, v. 32, n. 6, p. 1962-1968, 2003 (supl. 2).
ASSOCIATION OF ANALYTICAL CHEMISTS - AOAC. Official methods of
analysis. 12. ed. Washington, D.C., 1990. 1094p.
BACILA, M. Bioquímica Veterinária. São Paulo, Robe, 2003. 583p.
BALIKCI, E.; YILDIZ, A.; GÜRDOGAN, F. Blood metabolite concentrations during
pregnancy and postpartum in Akkaraman ewes. Small Ruminants Research, v. 67, n.
2/3, p. 247-251, 2007.
BAUMGARTNER, W.; PERTHANER, A. Influence of age, season, and pregnancy
upon blood parameters in Austrian Karakul sheep. Small Ruminants Research, v. 13,
n. 2, p. 147-151, 1993.
BEZERRA, L. R.; FERREIRA, A. F.; CAMBOIM, E. K. A. et al. Perfil hematológico
de cabras clinicamente sadias criadas no Cariri paraibano. Ciência e Agrotecnologia, v.
32, n. 3, p. 950-960, 2008.
BRASIL, Ministério Pecuária e Abastecimento. Instrução normativa n. 3, de 17 de
Janeiro de 2000. Aprova o Regulamento técnico de métodos de insensibilização para o
abate humanitário de animais de açougue. 2000.
BRITO, M. A.; GONZALES, F. D.; RIBEIRO, L. A. O. et al. Composição do sangue e
do leite em ovinos leiteiros do sul do Brasil: variações na gestação e lactação. Ciência
Rural, v. 36, n. 3, p. 942-948, 2006.
CALDEIRA, R. M. Monitorização da adequação do plano alimentar e do estado
nutricional em ovelhas. Revista Portuguesa de Ciências Veterinária, v. 100, n. 555-
556, p. 125-139, 2005.
CARROLL, E. J.; KANEKO, J. J. The clinical significance of serum protein
fractionation by electrophoresis. The California Veterinarian, v. 21, n. 1, p. 22-35,
1967.
CLEGG, F. G.; BRYSON, H. An outbreak of poisoning in store cattle attributed to
Brazilian groundnut meal. Veterinary Record. v. 74, n. 37, p. 992-994, 1962.
CONTRERAS, P. Indicadores do metabolismo proteico utilizado nos perfis
metabólicos de rebanhos. In: GONZÁLEZ, H.D.; BARCELLOS, J.; PATINÕ, H. O.;
RIBEIRO, L.A.O (Eds.) Perfil metabólico em ruminantes: seu uso em nutrição e
doenças nutricionais. Porto Alegre: Gráfica da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, 2000. p.23-30.
77
D´ANGELO, A.; BELLINO, C.; ALBORALI G. L. et al. Neurological signs associated
with aflatoxicosis in Piedmontese calves. Veterinary Record, v.160, n.20, p. 698-700,
2007.
DETMANN, E.; PINA, D. S.; VALADARES FILHO, S. C. et al. Estimação da fração
digestível da proteína bruta em dietas para bovinos em condições brasileiras. Revista
Brasileira de Zootecnia, v.35, n.5, p.2101-2109, 2006a.
DETMANN, E.; VALADARES FILHO, S. C.; PINA, D. S. et al. Estimação da
digestibilidade do extrato etéreo em ruminantes a partir dos teores dietéticos:
desenvolvimento de um modelo para condições brasileiras. Revista Brasileira de
Zootecnia, v. 35, n. 4, p. 1469-1478, 2006b.
DETMANN, E.; VALADARES FILHO, S. C.; HENRIQUES, L. T. et al. Estimação da
digestibilidade dos carboidratos não-fibrosos em bovinos utilizando-se o conceito de
entidade nutricional em condições brasileiras. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 35,
n. 4, p. 1479-1486, 2006c.
DETMANN, E.; VALADARES FILHO, S. C.; HENRIQUES, L. T. et al.
Reparametrização do modelo baseado na lei de superfície para predição da fração
digestível da fibra em detergente neutro em condições brasileiras. Revista Brasileira de
Zootecnia, v. 36, n. 1, p. 155-164, 2007.
DUNCAN, J. R.; PRASSE, K. W. Veterinary laboratory medicine – clinical
pathology. 2.ed. Ames: Iowa State University Press, 1986. 285p.
DUNCAN, J. R.; PRASE, K. W. Patologia Clínica Veterinária. Rio de Janeiro,
Guanabara Koogan, 1982.
FINK-GREMMELS, J. The role of mycotoxins in the health and performance of dairy
cows. The Veterinary Journal, v. 176, p. 84-92, 2008.
HILL K. R. Comment on the histological appearances in serial liver biopsies and post-
mortem specimens. Veterinary Research, v. 75, n.19, p. 493-494, 1963.
GONZÁLEZ, F. H. D.; SILVA, S. C. Introdução à bioquímica clínica veterinária.
Porto Alegre: Gráfica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2006, 357p.
HOMEM JR, A.C.; EZEQUIEL, J.M.B.; GALATI, R.L. et al. Grãos de girassol ou
gordura protegida em dietas com alto concentrado e ganho compensatório de cordeiros
em confinamento. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 39, n. 3, p. 563-571, 2010.
KANEKO, J. J.; HARVEY, J. W.; BRUSS, M. L. Clinical Biochemistry of Domestic
Animals. 6. ed. San Diego: Academic Press. 2008. 904p.
KANEKO,J. J.; HARVEY, J.; BRUSS M. Clinical biochemistry of domestic animals. 5
ed. San Diego: Academic Press, 1997. 932p.
78
KELLERMAN, T. S.; COETZER, J. A.W.; NAUDÉ, T. W.. Plant Poisonings and
Mycotoxicoses of Livestock in Southern Africa. 2 ed. Oxford University Press, Cape
Town, 2005, p.3-6.
KERR M.G. Exames Laboratoriais em Medicina Veterinária: bioquímica clínica e
hematologia. 2ª ed. Roca, São Paulo. 2003. 436p.
KEIL A. C.; BOOTH A. N. Aflatoxin Effects in Livestock. Journal of the American
Oil Chemists’ Society, v. 48, n. 10, p. 559-604, 1971.
LICITRA, G.; HERNANDEZ, T. M.; VAN SOEST, P.J. Standartization of procedures
for nitrogen fractionation of ruminants feeds. Animal Feed Science and Technology,
Amsterdam, v. 57, n. 4, p. 347 358, 1996.
LOOSMORE, R. M.; MARKSON, L. M. Poisoning of cattle by Brazilian groundnut
meal. Veterinary Record. v. 73, p. 813-814, 1961.
MAPA – Ministério da agricultura, pecuária e abastecimento – Proposta do Grupo
de trabalho designado pelo MAPA (conforme publicação no DOU de 25 de maio de
2006 – Seção 2, pág.5) referente a Limites Máximos de Tolerância (LMT) para rações
destinadas a alimentação animal. Disponível em: <
http://www.lamic.ufsm.br/MAPA.pdf>. Acesso em: 26 Set. 2012.
MEIRA JR, E. B. S.; RIZZO, H.; BENESI, F. J. Influência dos fatores sexuais e etários
sobre a proteína total, fração albumina e atividade sérica de aspartato-aminotransferase
e gama-glutamiltransferase de ovinos da raça Santa Inês. Brazilian Journal of
Veterinary Research and Animal Science, v. 46, n. 6, p. 448-454, 2009.
MERTENS, D. R. Creating a system for meeting the fiber requirements of dairy cows.
Journal of Dairy Science, v. 80, n. 7, p. 1463-1481, 1997.
MONTEMAYOR, H. A.; GASCA, T. G.; KAWAS, J. Ruminal fermentation
modification of protein and carbohydrate by means of roasted and estimation of
microbial protein synthesis. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 38, p. 277-291, 2009.
(suplemento especial).
NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient requirements of sheep.6.
ed.Washington: National Academy Press, 1985.p.99.
NUNES, A. S.; OLIVEIRA, R. L.; AYRES, M. C. C.; BAGALDO, A. R.; GARCEZ
NETO, A. F.; BARBOSA, L. P. Condição hepática de cordeiros mantidos com dietas
contendo torta de dendê proveniente da produção de biodiesel. Revista Brasileira de
Zootecnia, v. 39, n. 8, p. 1825-1831, 2010.
OLIVEIRA, R. L.; LEÃO, A. G.; RIBEIRO, O. L. et al. Biodiesel industry by-produtcs
used for ruminant feed. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, v. 25, p. 625-638,
2012.
79
OLIVEIRA, P. A. Torta de amendoim (Arachis hypogaea), oriunda do biodiesel, na
alimentação de novilhos Holandês x Zebu. 2012. 81f. Dissertação (Mestrado em
Ciência Animal) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2012.
PAYNE, J. M.; DEW, S. M.; MANSTON, R. et al. The use of metabolic profile test in
dairy herds. Veterinary Record, London, v.87, p. 150-158, 1970, J. M.; PAYNE, S.
The metabolic profile test. New York : Oxford University, 1987. 179 p.
PEDUGSORN, C.; PROMMA, S.; RATANACCHOT, P. et al. Chronic aflatoxicosis in
cattle on an animal breeding station in North Thailand. Animal Research and
Development, v.11, p.106-111, 1980.
PEIXOTO, L. A. O.; OSÓRIO, M. T. M.; OSÓRIO, J. C. S. et al. Perfil Metabólico de
Ovelhas Ile de France Suplementadas com Sal Orgânico ou Comum Durante a Estação
de Monta. IN: 49ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, 49., 2009,
Maringá. Anais ... Maringá: SBZ, 2009. 1 CD-ROM.
PROPHET, E. M.; MILLIS, B.; ARRINGTON, J. B; SOBIN, H. L. Laboratory
methods is histotecnology. Washington D. C. Editora: American Registry of
Pathology, 1992. 265 p.
PUGH, D. C.; DUM, M. S. Clínica de ovinos e caprinos. São Paulo: Edições Roca,
2005. 1150p.
RABASSA, V. R.; SCHWEGLER, E.; GOULART, M. A. et al. Parâmetros
metabólicos de ovelhas submetidas a dietas contendo aflatoxina e zearalenona com
adição de glucomanano modificado. Brazilian Journal of Veterinary Research and
Animal Science, v. 47, n. 1, p. 67-73, 2010.
RIBEIRO, L. A. O.; MATTOS, R. C.; GONZALES, F. H. D. et al. Perfil metabólico de
ovelhas Border Leicester x Texel durante a gestação e a lactação. Revista Portuguesa
de Ciências Veterinárias, v. 99, n. 551, p. 155-159, 2004.
RODRIGUES, M. R. C.; RONDINA, D.; ARAÚJO, A. A.; ARRUDA, I. J.; SILVA, L.
M.; NUNES-PINHEIRO, D. C.; FERNANDES, A. A. Oriá. Utilização do bagaço de
caju (Anacardium occidentale) na alimentação de Cordeiros do desmame à puberdade:
respostas metabólicas,hormonais e sexuais. Ciência Animal. v. 20, n. 1, p. 17-26, 2010.
SAEG-Sistema para Análises Estatísticas, versão 9.1. Fundação Arthur Bernardes -
UFV-Viçosa, 2007.
SANTANA, A. M.; SILVA, D. G.; BERNARDES, P. A. et al. Hemograma e perfil
bioquímico sérico de ovinos em idade de abate. Ciência Animal Brasileira, n. 1, p.
289-296,2009. Disponível em:
<http://www.revistas.ufg.br/index.php/vet/article/view/7766/5565>. Acesso em: 30
Dez. 2012.
80
SANTOS, F. C. O.; MENDONÇA, C. L.; SILVA FILHO, A. P. et al. Indicadores
bioquímicos e hormonais de casos naturais de toxemia da prenhez em ovelhas. Pesquisa
Veterinária Brasileira, v. 31, n. 11, p. 974-980, 2011.
SANTOS, F. A. P.; GRECO, L. F. Digestão pós-ruminal de proteínas e exigências de
aminoácidos para ruminantes. In: RENNÓ, F.P.; SILVA, L.F.P. (Eds.) In: SIMPÓSIO
INTERNACIONAL AVANÇOS EM TÉCNICAS DE PESQUISA EM NUTRIÇÃO
DE RUMINANTES, 2007, Pirassununga. Anais... Pirassununga: USP - Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia, 2007. p.90-120.
SANTOS JUNIOR, H. L.; MOSCARINI A. R. C.; PALUDO G. et al. Toxicidade de
diferentes estágios de crescimento da Brachiaria decumbens a ovinos. Campo Grande,
2008, Campo Grande. Anais… Endivet, Campo Grande, MS, 2008.
SANTRA, A.; CHATURVEDI, O. H.; TRIPATHI, M. K. et al. Effect of dietary sodium
bicarbonate supplementation on fermentation characteristics and ciliate protozoal
populations in rumen of lambs. Small Ruminant Research, v. 47, n. 3, p. 203-212,
2003.
SILVA, D. J.; QUEIROZ, A. C. Análise de alimentos : métodos químicos e biológicos.
Viçosa, MG: UFV, 2002. 235p.
SNIFFEN, C. J.; O´CONNOR, J. D.; VAN SOEST, P. J. et al. A net carbohydrate and
protein system for evaluating cattle diets: II. Carbohydrate and protein
availability. Journal of Animal Science, v. 70, n. 11, p. 3562-3577, 1992.
STOCKHAM S. L., SCOTT M.A. 2008. Fundamentals of Veterinary Clininical
Pathology. 2nd ed. Blackwell Publishing, Iowa, p.639-674.
TABELEÃO, V. C.; DEL PINO, F. A. B.; GOULART, M. A. et al. Caracterização dos
parâmetros ruminais e metabólicos de cordeiros mantidos em pastagem nativa. Ciência
Animal Brasileira, v. 8, n. 4, p. 639-646, 2007.
TIZARD, I. R. Veterinary Immunology: an introduction. 6. ed. London: Saunders
Company, 2000. 482p.
THRALL, M. A.; BAKER D. C.; CAMPBELL T. W. et al. Hematologia e Bioquímica
Clínica Veterinária, Roca, São Paulo, 2006, p. 335-354.
UPADHAYA, S. D.; PARK, M. A.; HA, J. K. Mycotoxins and their biotransformation
in the rumen: A review. Asian-Australasian Journal Animal Science, v. 23, n. 9, p.
1250-1260, 2010.
VAN CLEEF, H. E. M. S. C.; RENÉ, P. P.; NEIVA JR, P. A. et al. Distúrbios
metabólicos por manejo alimentar inadequado em ruminantes: novos conceitos, Revista
Colombiana Ciência Animal, v. 1, n. 2, p. 319-341, 2009.
81
VAN SOEST, P. J., ROBERTSON, J. B., LEWIS, B. A. Methods for dietary fiber,
neutral detergent fiber, and nonstarch polyssacharides in relation to animal nutrition.
Journal of Dairy Science, v. 74, n. 10, p. 3583-3597, 1991.
WEAVER, A. D. Haematological and plasma biochemical parameters in adult male
sheep. Zentralblatt für Veterinärmedizin. Reibe A, v. 21, n. 21, p. 1-7, 1974.
WEISS, W.P. Energy prediction equations for ruminant feeds. In: Cornell nutrition
conference for feed manufacturers, 61., 1999, Proceedings... Ithaca: Cornell University,
1999. p.176-185.
82
CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES
Diante da preocupação atual com o impacto ao meio ambiente, fontes energéticas
alternativas tem sido estudadas com o intuito de promover sustentabilidade do ponto de
vista econômico, social e ambiental. A partir da extensão territorial brasileira e
condições edafo-climáticas satisfatórias ressalta-se o potencial de produção de matérias-
primas para a produção do biodiesel.
A torta de amendoim, proveniente da produção do biodiesel, por apresentar uma
composição bromatológica equivalente ao farelo de soja pode ser utilizada como fonte
alimentar de bom valor nutritivo na formulação de dietas para ovinos terminados em
confinamento, permitindo a redução dos custos com alimentação.
Embora tenha sido constatada a viabilidade econômica da torta de amendoim como
fonte proteica alternativa na dieta de cordeiros confinados, houve piora no desempenho
produtivo dos animais, sendo possível recomendar seu uso somente nos períodos em
que o farelo de soja apresentar preços elevados resultando em altos custos de produção.
A substituição do farelo de soja pela torta de amendoim embora diminua o desempenho
produtivo dos ovinos, não afeta as características qualiquantitativas de carcaça e a
qualidade da carne dos cordeiros, podendo ser utilizada como fonte proteica na dieta de
cordeiros confinados sem comprometer a qualidade do produto final.
A partir dos resultados obtidos no metabolismo dos cordeiros, e a ausência de achados
no exame histopatológico do tecido hepático e renal, constata-se que a torta de
amendoim não exerce efeitos deletérios no organismo dos animais nos níveis estudados.
Dessa forma, permite a sustentabilidade através do aproveitamento adequado de
matérias-primas que seriam lançadas no meio ambiente e causariam impacto ambiental.
Além disso, permite a redução dos custos com alimentação uma vez que a proteína é o
nutriente responsável pelos maiores para os produtores rurais.
83
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABDALLA, A. L.; SILVA FILHO, J. C.; GODOI, A. R. et al. Utilização de
subprodutos da indústria de biodiesel na alimentação de ruminantes. Revista Brasileira
de Zootecnia, v. 37, p. 258-260, 2008. (suplemento especial).
BARROS, N. N.; DIAS, R. P.; RIBEIRO, V. Q. et al. Produção intensiva de borregos
para abate no Nordeste do Brasil. Sobral: Embrapa Caprinos, 2001. 4p.
BRINGEL, L. M. L.; NEIVA, J. N. M.; ARAÚJO, V. L. et al. Consumo, digestibilidade
e balanço de nitrogênio em borregos alimentados com torta de dendê em substituição à
silagem de capim-elefante. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 40, n. 9, p. 1975-1983,
2011.
CARDOSO, A.R.; PIRES, C.C.; CARVALHO, S. et al. Consumo de nutrientes e
desempenho de cordeiros alimentados com dietas que contêm diferentes níveis de fibra
em detergente neutro. Ciência Rural, v.36, n.1, p.215-221, 2006.
CARNEIRO, M. S. Influência do espaçamento no desenvolvimento do amendoim,
cultivar Runner IAC 886. 2006. 56f. Monografia (Graduação em Agronomia).
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista,
Jaboticabal, 2006.
CARRERA, R. A. B.; VELOSO, C. M.; KNUPP, L. S. et al. Protein co-products and
by-products of the biodiesel industry for ruminants feeding. Revista Brasileira de
Zootecnia, v. 41, n. 5, p. 1202-1211, 2012.
FAOSTAT – Food and Agricultural Organization of United Nations: Production.
2011. Disponível em: <http://faostat.fao.org>. Acesso em 27 Out. 2012.
GOES, R. H. T. B.; SOUZA, K. A.; PATUSSI, R. A. et al. Degradabilidade in situ dos
grãos de crambe, girassol e soja, e de seus coprodutos em ovinos. Acta Scientiarum
Animal Sciences, v. 32, n. 3, p. 271-277, 2010.
GUERRA, I. C. D.; MEIRELES, B. R. L. A.; FÉLEX, S. S. S. et al. Carne de ovinos de
descarte na elaboração de mortadelas com diferentes teores de gordura suína. Ciência
Rural, v. 42, n. 12, p. 2288-2294, 2012.
IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS. Sistema
IBGE de recuperação automática – SIDRA. Disponível em:<
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=1618&z=t&o=3&i=P.
Acesso em: 01 dez 2012.
PALMIERI, A. D.; OLIVEIRA, R. L.; RIBEIRO, C. V. D. M. et al. Effects of
substituting soybean meal for sunflower cake in the diet on the growth and carcass traits
of crossbred Boer goat kids. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, v. 25, n.
1, p. 59-65, 2012.
84
PEREIRA, M. S.; RIBEIRO, E. L. A.; MIZUBUTI, I. Y. et al. Consumo de nutrientes e
desempenho de cordeiros em confinamento alimentados com dietas com polpa cítrica
úmida prensada em substituição à silagem de milho, Revista Brasileira de Zootecnia,
v. 37, n. 1, p. 134-139, 2008.
SANDERS, D. M.; OLIVEIRA, R.L.; MOREIRA, E. L. T. et al. Morfometria da
mucosa ruminal de cordeiros Santa Inês alimentados com níveis de torta de dendê
(Elaeis guineensis), oriunda da produção do biodiesel. Semina Ciências Agrárias, v.
32, n. 3, p. 1169-1178, 2011.
SANTOS, R. C.; GONDIM, T. M. S.; FREIRE, R. M. M. Cultivo do amendoim.
Sistemas de Produção, n. 3, 2006. Disponível em:
<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Amendoim/CultivodoAme
ndoim/tabelasmercado.html#tab1>. Acesso em: 01 jan 2013.
SILVA, F. L. R.; ARAÚJO, A. M. Características de reprodução e de crescimento de
ovinos mestiços Santa Inês, no Ceará. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 29, n. 6, p.
1712-1720, 2000.
SCHÖNFELDT, H.C.; GIBSON, N. Changes in the nutrient quality of meat in an
obesity context. Meat Science, v. 80, n. 1, p.20-27, 2008.