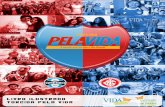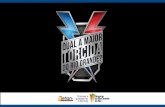UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS RAFAELA SILVA … · de realizar meu sonho que é ser uma brilhante...
Transcript of UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS RAFAELA SILVA … · de realizar meu sonho que é ser uma brilhante...
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
RAFAELA SILVA DOS SANTOS
INVESTIGAO DA PARTICIPAO DO SISTEMA ENDOCANABINIDE E
CLULAS DA GLIA NA DOR MUSCULAR CONTROLADA PELO EXERCCIO
FSICO
Alfenas/MG 2016
RAFAELA SILVA DOS SANTOS
INVESTIGAO DA PARTICIPAO DO SISTEMA ENDOCANABINIDE E
CLULAS DA GLIA NA DOR MUSCULAR CONTROLADA PELO EXERCCIO
FSICO
Alfenas/MG
2016
Dissertao apresentada como parte dos requisitos para obteno do ttulo de Mestre em Cincias Fisiolgicas pelo Programa Multicntrico em Cincias Fisiolgicas da Sociedade Brasileira de Fisiologia da Universidade Federal de Alfenas-UNIFAL-MG. rea de concentrao: Farmacologia e Fisiologia da dor. Orientador: Prof. Dr. Giovane Galdino de Souza
Aos meus pais Ftima e Luiz Carlos e a minha Voa, com todo meu amor.
AGRADECIMENTOS
Primeiramente, agradeo Deus, o Senhor Soberano da minha vida, pelo
dom da sabedoria, pacincia nos momentos difceis, por estar sempre presente nos
meus caminhos.
minha Nossa Senhora, por nunca me desamparar, por sempre ter me
colocado debaixo do seu manto sagrado, mesmo nos momentos de desespero.
Ao meu orientador Prof. Dr. Giovane Galdino de Souza, pela brilhante
orientao, pacincia, pelos conhecimentos infinitos, por ter me dado a oportunidade
de realizar meu sonho que ser uma brilhante cientista. Por ter me ensinado que
ainda possvel acreditar no SER HUMANO. Ele meu exemplo de carter,
profissional, cientista e acima de tudo um SER HUMANO excepcional.
Famlia Buscap, Tia, Valdimir, Mi, Aninha, Filipe, Jlio, Dinho, Iara, Gu,
Bela, Nenzinho, Joo, Victor, Diego, Karla, Fio Dri, Gabriel, Gui, Padrinho, Clu,
Dudu e Nando pelas oraes, por sempre ter me apoiado e acreditado no meu
potencial e nos meus sonhos.
minha amada Voa, pelo exemplo que na minha vida, por nunca ter me
abandonado, pelas vezes que foi comigo apenas de companhia no laboratrio no
Natal, Ano Novo, Carnaval, mesmo sem saber sobre o meu trabalho, sempre disse
com muito orgulho...A minha neta trabalha com os ratinhos!!!!
Aos meus pais, por muitas vezes, terem deixado de realizarem seus sonhos
para que os meus fossem concretizados.
Aos meus irmos Juninho e Rany pela confiana.
Ao meu amor Fabrilucio, por desde o primeiro ter acreditado e me apoiado em
todas as minhas decises, por estar presente em todos os momentos...te amo!
Aos meus amores, Raul, Clara, Mel e Mrio pelo amor incondicional e pela
doura que vejo todos os dias nos seus olhares. Em especial Sasha que foi um ser
iluminado que Deus mandou para eu cuidar, para eu amar e que agora se tornou
uma estrela!!!!!
Famlia Insetos: Pedro, Jlia e Fred por terem se tornado essenciais na
minha vida, pelas risadas, pelas lgrimas, foi muito mais fcil com a ajuda de vocs.
Eu no existo longe de vocs, trabalhar nunca foi to divertido. O que temos para
hoje SAUDADE...amo para sempre!!!
famlia que ganhei no ano de 2014 na Clnica de Fisioterapia, Ieda, Cris,
Vera, Meyre, Gisnay, Danilo e Maicon pelos momentos de alegria que se tornaram
inesquecveis. Vocs so muito especiais para mim!
Ao meu grande amigo e irmo Fernando pelo apoio incondicional, pelas
oraes e pela torcida mesmo de longe pela minha vitria. Amo voc!
Ao Prof. Alexandre e a Fabiana pelos conhecimentos partilhados e por
sempre estarem dispostos a me ajudar.
Aos amigos do Laboratrio de Fisiologia por terem me acolhido to bem, em
especial, Vanessa Veronesi, Tatiane, Layla, Mara, Ana Laura, Ana Cludia, Silvia,
Clarice e Luciana pelos sorrisos sinceros...
minha querida amiga e irm Mel, por ter dividido comigo os melhores e
piores momentos desta jornada...amo voc!
Ao meu companheiro Herick, por sempre ter sido o meu brao direito em tudo
que fiz durante meu Mestrado e por ter se tornado meu irmo.
Aos amigos da Ps, Isabela, Jdina, Roberta, Marlia, Ravena, em especial a
J e o Ricardo por sempre terem me socorrido em sua casa e por serem estas
pessoas to iluminadas que Deus colocou na minha vida.
Aos funcionrios Dona Zlia e Helena, aos tcnicos Jos Reis, Marina, Lus e
Luciana e a secretria Antonieta por sempre estarem dispostas a ajudar.
Aos animais, por terem doado suas vidas para a realizao deste trabalho.
UNIFAL, CAPES E FAPEMIG, pelo apoio financeiro.
Enfim, a todos que de alguma forma fizeram parte deste projeto!!!
necessrio sempre acreditar que o sonho possvel, que o cu o limite e voc imbatvel.
No espere o futuro mudar tua vida, porque o futuro a consequncia do presente."
(Racionais MCs)
RESUMO
A dor muscular afeta cerca de 11 a 24% da populao mundial. de origem
multifatorial, podendo ser causada por fatores fsicos, emocionais, psicolgicos e
sociais e cada vez mais encontrada na prtica clnica. Estudos tem demonstrado
que o exerccio fsico uma atividade que auxilia no controle da dor. Os receptores
canabinides do tipo 2 (CB2), expressos em tecidos perifricos e clulas
inflamatrias, parecem estar envolvidos no controle da dor. Alm disso, estudos tem
demonstrado que tais receptores tambm estejam expressos no Sistema Nervoso
Central, incluindo clulas microgliais. Sendo assim, o presente estudo investigou a
participao de receptores CB2 e o envolvimento da micrglia espinal no controle da
dor muscular por meio do exerccio fsico. Para isso, foram utilizados camundongos
fmeas da linhagem C57BL/6, pesando entre 20 a 25g. O limiar nociceptivo foi
avaliado pelo teste de filamentos de Von frey e pelo teste da placa quente. O modelo
de dor muscular foi induzido pela injeo intramuscular de carragenina no msculo
gastrocnmio direito. Para verificar os nveis de citocinas pr-inflamatrias, Il-1 e
TNF-, foi realizado o ensaio de ELISA. A dor muscular pode gerar inflamao com
aumento da temperatura local, sendo assim, utilizamos a tcnica de termografia para
verificar as alteraes na temperatura local dos animais. Foram utilizadas as drogas,
AM630, para investigar a participao de receptores CB2; o MAFP, para avaliar a
participao de endocanabinides e a minociclina, para investigar o envolvimento da
micrglia. Aps a terceira semana de natao, os animais apresentaram uma
reduo da alodnia mecnica e da hiperalgesia trmica induzidas pela carragenina
i.m. O AM630, reverteu a antinocicepo induzida pelo exerccio, em ambos os
testes nociceptivos. O MAFP inibiu a nocicepo muscular nos animais exercitados,
apenas no teste da placa quente. A minociclina bloqueou a nocicepo apenas nos
animais sedentrios com dor muscular. Os resultados do ensaio de ELISA
demonstraram que o exerccio reduziu os nveis de TNF-, os quais se encontraram
aumentados nos animais com dor muscular que no foram exercitados. J os nveis
basais de IL-1 apresentaram reduzidos apenas nos animais submetidos ao modelo
de dor muscular e que realizaram o treinamento fsico. Por meio da anlise
termogrfica, foi encontrado uma reduo da temperatura local nos animais
exercitados com dor muscular. A micrglia parece estar envolvida na
termorregulao local dos animais com dor muscular exercitados, pois quando a
micrglia foi bloqueada pela minociclina, a temperatura corporal nestes animais foi
aumentada. Sendo assim, conclumos que o exerccio inibe a dor muscular induzida
pela carragenina, os receptores CB2 participam deste controle da dor e a micrglia
parece estar envolvida na gnese e manuteno da dor muscular, com a liberao
de citocinas pr-inflamatrias.
Palavras-chave: Mialgia. Exerccio. Receptor de canabinide. Micrglia.
ABSTRACT
Muscle pain affects approximately 11-24% of the population. It is of multifactorial
origin, which may be caused by physical, emotional, psychological and social factors
and is increasingly found in clinical practice. Studies have shown that physical
exercise is an activity that helps to control pain. Cannabinoid receptor type 2 (CB2)
expressed in peripheral tissues and inflammatory cells, appear to be involved in pain
control. In addition, studies have shown that these receptors are also expressed in
the central nervous system, including microglial cells. Thus, the present study
investigated the participation of CB2 receptors and the involvement of the spinal
microglia in the control of muscle pain by exercise. For this, were used C57BL/6
female mice, weighing between 20 and 25g. The nociceptive threshold was
measured by Von Frey filaments test and hot plate test. The muscular pain model
was induced by intramuscular injection of carrageenan in the right gastrocnemius
muscle. To verify the levels of pro-inflammatory cytokines, we performed the ELISA
assay. Muscle pain can lead to inflammation with increased local temperature, so we
use thermography technique to check for changes in the local temperature of the
animals. The following drugs were used, AM630, to investigate the involvement of
CB2 receptors, MAFP to evaluate the role of endocannabinoids and minocycline to
investigate the role of microglia. After the third week of swimming, the animals
showed a reduction in mechanical allodynia and thermal hyperalgesia induced by
carrageenan i.m. The AM630, reversed the antinociception induced by exercise in
both nociceptive tests. MAFP inhibited muscle nociception in animal exercised only in
the hot plate test. Minocycline blocked nociception only in the sedentary animals with
muscular pain. The results of the ELISA assay showed that exercise reduced TNF-
levels, which were found in animals with increased muscle pain, which have not been
exercised. Basaline levels of IL-1 showed reduced only in animals submitted to
muscular pain model and underwent physical training. By thermographic analysis, we
find a reduction in the local temperature of trained animals with muscular pain.
Microglia appear to be involved in thermoregulation location of animal muscle pain
exercised because when the microglia were blocked by minocycline, body
temperature was increased in these animals. Thus, we conclude that exercise
inhibits muscle pain induced by carrageenan, CB2 receptors participate in this pain
control and microglia seems to be involved in the genesis and maintenance of
muscle pain, with the release of pro-inflammatory cytokines.
Keywords: Myalgia. Exercise. Cannabinoid receptor. Microglia.
LISTA DE FIGURAS
Figura 1- Via ascendente da nocicepo. ..................................................... 28
Figura 2- Camundongo da linhagem C57BL/6 ............................................. 44
Figura 3- Via de administrao intratecal. .................................................... 46
Figura 4- Local de injeo da carregenina: msculo gastrocnmio .............. 46
Figura 5- Teste de Von Frey filamento: ........................................................ 50
Figura 6- Aparato utilizado para o teste da hiperalgesia trmica: Placa quente. .......................................................................................... 51
Figura 7- Termovisor FLIR Srie T420 (Flir System AB, Sucia) ................. 52
Figura 8- Posicionamento do animal sobre a bancada para o registro das imagens termogrficas dos membros inferiores. ................ 52
Figura 9- Mensurao do limiar nociceptivo de retirada da pata aps exerccio fsico. Os animais receberam carragenina ou veculo antes do nicio do protocolo de treinamento fsico e AM630 ou veculo aps o treinamento. ......................................... 54
Figura 10- Mensurao do limiar nociceptivo de retirada da pata aps exerccio fsico. Os animais receberam carragenina ou veculo antes do nicio do protocolo de treinamento fsico e MAFP ou veculo aps o treinamento.. ......................................... 55
Figura 11- Mensurao do limiar nociceptivo de retirada da pata aps exerccio fsico. Os animais receberam carragenina ou veculo antes do nicio do protocolo de treinamento fsico e minociclina ou veculo aps o treinamento. ................................... 55
Figura 12- Mensurao do limiar nociceptivo de retirada da pata aps exerccio fsico e efeito das citocinas sobre a dor muscular. ......... 56
Figura 13- Mensurao do limiar nociceptivo de retirada da pata aps exerccio fsico e efeito do exerccio sobre o controle da temperatura no modelo de dor muscular. ...................................... 56
file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092466file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092467file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092468file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092469file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092470file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092471file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092471file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092472file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092473file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092473file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092474file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092474file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092474file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092474file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092475file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092475file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092475file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092475file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092476file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092476file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092476file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092476file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092477file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092477file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092478file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092478file:///C:/Users/Rafaela%201/Documents/DISSERTAO%20FINAL_rafa.docx%23_Toc443092478
LISTA DE TABELAS
Tabela 1- Protocolo de exerccio fsico (natao) ............................................ 48
LISTA DE GRFICOS
Grfico 1- Efeito do exerccio fsico na dor muscular. O limiar nociceptivo mecnico foi avaliado pelo teste de Von frey filamentos, antes do treinamento, no final da primeira, no final da segunda e no final da terceira semana. .......................... 59
Grfico 2 Efeito do exerccio fsico na dor muscular. O limiar nociceptivo trmico foi avaliado pelo teste da placa quente antes do treinamento, no final da primeira, no final da segunda e no final da terceira semana.. ..................................... 59
Grfico 3 Participao do receptor para canabinide (CB2) sobre o efeito antinociceptivo produzido pelo exerccio fsico no controle da dor muscular. O limiar nociceptivo mecnico foi avaliado pelo Von frey filamentos antes do treinamento, no final da primeira, no final da segunda e nio final da terceira semana. ...................................................................................... 61
Grfico 4 Participao do receptor para canabinide (CB2) sobre o efeito antinociceptivo produzido pelo exerccio fsico no controle da dor muscular. O limiar nociceptivo trmico foi avaliado pelo teste da placa quente antes do treinamento, no final da primeira, no final da segunda e no final da terceira semana. ......................................................................... 61
Grfico 5 Participao dos endocanabinides no controle da dor muscular. O limiar nociceptivo mecnico foi avaliado pelo Von Frey filamentos antes do treinamento, no final da primeira, no final da segunda e no final da terceira semana. ...... 62
Grfico 6 Participao de endocanabinides no controle da dor muscular. O limiar nociceptivo trmico foi avaliado pelo teste da placa quente antes do treinamento, no final da primeira, no final da segunda e no final da terceira semana. ...... 63
Grfico 7 Participao da micrglia no controle da dor muscular. O limiar nociceptivo mecnico foi avaliado pelo Von Frey filamentos antes do treinamento, no final da primeira, no final da segunda e no final da terceira semana. .......................... 64
Grfico 8 Participao da micrglia no controle da dor muscular. O limiar nociceptivo trmico foi avaliado pelo teste da placa quente antes do treinamento, no final da primeira, no final da segunda e no final da terceira semana.. ................................ 65
Grfico 9 Efeito dos veculos sobre o teste do Von Frey filamentos. O limiar nociceptivo mecnico foi avaliado pelo teste do Von Frey filamentos antes do treinamento, no final da primeira, no final da segunda e no final da terceira semana. ..................... 66
Grfico 10 Efeito dos veculos sobre o teste da placa quente. O limiar nociceptivo trmico foi avaliado pelo teste da placa quente antes do treinamento, no final da primeira, no final da segunda e no final da terceira semana. ...................................... 66
Grfico 11- Efeito do treinamento fsico sobre os nveis musculares de TNF-. Os dados representam a mdia + E.P.M. dos nveis de TNF- (pg/mL) realizados aps a ltima semana de exerccio fsico.. .......................................................................... 69
Grfico 12- Efeito do treinamento fsico sobre os nveis musculares de
IL-1. Os dados representam a mdia + E.P.M. dos nveis de IL-1 (pg/mL) realizados aps a ltima semana de exerccio fsico.. .......................................................................... 69
Grfico 13- A- Efeito do treinamento fsico sobre a temperatura corporal aps dor muscular. B- Imagens representativas da temperatura local no msculo gastrocnmio direito em animais sedentrios e exercitados. ............................................. 71
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
L - Microlitros
AM 630 - Antagonista do receptor para canabinide do tipo 2
ATP - Trifosfato de Adenosina
CB1 - Receptor para canabinide do tipo 1
CB2 - Receptor para canabinide do tipo 2
CDME - Corno Dorsal da Medula Espinal
CFA - Adjuvante Completo de Freud
Cg - Carragenina
CGRP - Protena relacionada ao gene da calcitonina
CR3 - Receptor para o complemento-3
CR3/CD11b - Marcador microglial
Crem - Cremofor
CX3CR1 - Quimiocina fractalcina
DAGL - Enzima diacilglicerol lipase
DMSO - Dimetilsulfxido ou sulfxido de dimetilo
ELISA - Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
EPM - Erro padro da mdia
Ex - Exerccio
FAAH - cido graxo amino hidrolase
G - Gramas
GFAP - Protena cida fibrilar glial
i.m. - Intramuscular
i.p. - Intraperitoneal
i.t. - Intratecal
IBA - Marcador microglial
IL-1 - Interleucina 1
IL-10 - Interleucina 10
IL-1 - Interleucina 1 beta
IL-4 - Interleucina 4
K+ - Potssio
M - Molar
MAFP - cido metil araquidonil fluorfosfano/ (5Z, 8Z, 11Z, 14Z)
5,8, 11, 14-eicosatetraenil-metil ester fosfofluordrico)
MB - Medida basal
MGL - Monoacilglicerol lipase
MHC - Complexo principal de histocompatibilidade
Mino - Minociclina
nM - Nanmetro
NMDAR - Receptor de glutamato
NO - xido ntrico
PAG - Substncia Cinzenta Periaquedutal
PBS - Tampo Fosfato Salino
PG - Prostaglandina
PGE - Prostaglandina E
pH - Potencial hidrogeninico
RNAm - cido ribonuclico mensageiro
RVM - Bulbo rostral ventro medial
s.c. - Subcutnea
Sal - Salina
SDCR tipo I - Sndrome de Dor Complexa Regional do tipo 1
Sed - Sedentrio
SNC - Sistema Nervoso Central
SNP - Sistema Nervoso Perifrico
SP - Substncia P
TLRs - Tool like receptors
TNF- - Fator de necrose tumoral alfa
SUMRIO
1 INTRODUO ........................................................................................... 24
2 REVISO DE LITERATURA ...................................................................... 26
2.1 DOR: CONSIDERAES GERAIS ............................................................ 26
2.2 CLASSIFICAO DA DOR ........................................................................ 28
2.3 DOR MUSCULAR ....................................................................................... 30
2.4 EXERCCIO FSICO: NATAO ................................................................ 31
2.5 SISTEMA ENDOCANABINIDE ................................................................ 33
2.6 CLULAS DA GLIA E NOCICEPO ........................................................ 35
2.7 ATIVAO GLIAL E A MODULAO DA DOR ......................................... 38
2.8 CB2 E GLIA ................................................................................................. 41
3 OBJETIVOS ............................................................................................... 43
3.1 OBJETIVO GERAL ..................................................................................... 43
3.2 OBJETIVOS ESPECFICOS ...................................................................... 43
4 MATERIAIS E MTODOS ......................................................................... 44
4.1 ANIMAIS ..................................................................................................... 44
4.3 ADMINISTRAO DAS DROGAS ............................................................. 45
4.3.1 Administrao Intratecal .......................................................................... 45
4.3.2 Injeo intramuscular ............................................................................... 46
4.4 EXERCCIO FSICO ................................................................................... 47
4.5 AVALIAO DO LIMIAR NOCICEPTIVO .................................................. 49
4.5.1 Teste de alodnia mecnica: Von Frey filamentos ................................. 49
4.5.2 Teste de hiperalgesia trmica: Placa quente ......................................... 50
4.6 TERMOGRAFIA ......................................................................................... 51
4.7 PREPARAO DOS TECIDOS E DOSAGEM DE CITOCINAS
PELO ENSAIO DE ELISA .......................................................................... 53
4.7.1 ELISA- Enzyme linked immuno sorbent assay ...................................... 53
4.8 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL ........................................................... 54
4.9 ANLISE ESTATSTICA ............................................................................ 57
5 RESULTADOS ........................................................................................... 58
5.1 EFEITO DO EXERCCIO FSICO SOBRE A DOR MUSCULAR
INDUZIDA PELA CARRAGENINA. ............................................................ 58
5.2 INVESTIGAO DA PARTICIPAO DO RECEPTOR
PARACANABINIDE DO TIPO 2 (CB2) NO CONTROLE DA
DOR MUSCULAR PELO EXERCCIO FSICO .......................................... 60
5.3 INVESTIGAO DA PARTICIPAO DE
ENDOCANABINIDES NO CONTROLE DA DOR MUSCULAR
PELO EXERCCIO FSICO. ....................................................................... 61
5.4 AVALIAO DO ENVOLVIMENTO DA MICROGLIA NO
CONTROLE DA DOR MUSCULAR PELO EXERCCIO FSICO. ............... 63
5.5 EFEITO DOS VECULOS SOBRE O LIMIAR NOCICEPTIVO DE
RETIRADA DA PATA ................................................................................. 65
5.6 DETERMINAO DA CONCENTRAO DE CITOCINAS PR
INFLAMATRIAS NO MSCULO GASTROCNMIO POR
ELISA ......................................................................................................... 67
5.7 EFEITO DO TREINAMENTO FSICO NA TEMPERATURA
CORPORAL APS DOR MUSCULAR ....................................................... 69
6 DISCUSSO .............................................................................................. 72
7 CONCLUSO............................................................................................. 80
REFERNCIAS .......................................................................................... 81
ANEXO ..................................................................................................... 100
24
1 INTRODUO
A dor um fenmeno que afeta todas os indivduos, independente de raa,
cor, sexo ou idade, em alguma fase de sua vida. Apesar de todos avanos obtidos
nos ltimos anos em relao ao entendimento dos mecanismos envolvidos na
transmisso dos impulsos dolorosos, muitos tratamentos, principalmente os
farmacolgicos, no so totalmente eficazes, ou ainda muitos indivduos sofrem com
os efeitos adversos provenientes desses tratamentos.
Diante disso, destaca-se os tratamentos no-farmacolgicos, os quais so
economicamente viveis e produzem menos efeitos colaterais. Dentre os no-
farmacolgicos, o exerccio fsico citado como sendo bem eficaz. Estudos
demonstram que o exerccio fsico exerce muitos benefcios para a sade fsica e
mental, reduz a incidncia de patologias, promove neuroproteo, neuroplasticidade,
melhora a cognio, alm de ter atividade antidepressiva e ansioltica (MAZZARDO-
MARTINS et al., 2010). Alm de todas essas vantagens, o exerccio promove
analgesia (MAZZARDO-MARTINS et al., 2010).
Muitas evidncias demonstram que o exerccio fsico uma ferramenta til
para o controle da dor. Tais, so utilizados para reabilitar pacientes com doenas
crnicas, principalmente com disfunes msculo-esquelticas, como fibromialgia,
dor lombar crnica e dor miofascial (GOWANS; HUECK, 2004; WRIGHT; SLUKA,
2001). Alm disso, vrios estudos demonstraram que esse efeito ocorre tanto
durante quanto aps sua prtica (KOLTYN, 2000; OCONNOR; COOK, 1999).
Dentre os vrios sistemas envolvidos no controle da dor durante a atividade
fsica, o sistema endocanabinide tem fundamental importncia em termos de
relevncia fisiolgica (FIELD, et al., 2005). Estudos demonstram que os
endocanabinides produzem efeitos antinociceptivos em regies espinais e
supraespinais (DI MARZO et al., 1998; PIOMELLI, 2003). Alm disso, Galdino e
colaboradores (2014) demonstraram que a administrao em ratos de antagonistas
para o receptor para canabinide do tipo 1 (CB1) e receptor para canabinide do tipo
2 (CB2), bloqueou a antinocicepo induzida por exerccio aerbio. Em adio,
esses autores demonstraram que os nveis plasmticos de endocanabinides
(anandamida e 2-araquidonoilglicerol) e de mediadores relacionados com a
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390813004292#200022359http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390813004292#200016446
25
anandamida (palmitoiletanolamida e oleoletanolamina) foram aumentados aps o
exerccio aerbico.
Outros estudos tambm demonstraram o aumento dos nveis de
anandamida na circulao sistmica em humanos aps exerccio em esteira e
bicicleta (SPARLING et al., 2003).
As clulas da glia, principalmente a micrglia, so importantes na gnese da
dor. Os receptores canabinides do tipo 2 so expressos em clulas da glia de
humanos e ratos (ASHTON et al., 2006; NUNEZ et al., 2004) e sua expresso
aumenta especialmente as clulas gliais durante a inflamao (RAMIREZ et al.,
2005; SHENG et al., 2005;).
Os endocanabinides atuam sobre os receptores CB2 nas clulas da glia e
inibem a liberao de citocinas prinflamatrias, incluindo a IL1, TNF- e NO
(CABRAL et al., 2001; MOLINA-HOLGADO et al., 1997; 2002; PUFFENBARGER et
al., 2000; SHAOHAMI et al., 1997;), levando a antinocicepo.
Sendo assim, estudos demonstram que receptores CB2 inibem a atividade
microglial, por reduzir a liberao de citocinas pr-inflamatrias (MERIGUI et al.,
2012).
Portanto, o presente estudo investigou o envolvimento de receptores CB2 e
da micrglia no controle da dor muscular promovida pelo exerccio fsico.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390813004292#200013335
26
2 REVISO DE LITERATURA
Os tpicos a seguir, apresentaro o embasamento terico e contextualizaes
referentes ao estudo.
2.1 DOR: CONSIDERAES GERAIS
A dor uma experincia sensitiva e emocional associada ao dano tecidual
real ou potencial ou descrio desses danos (IASP, 2008). Alm disso, a dor
tambm um processo cognitivo que depende de memria, aspectos culturais e
psquicos (LOESER; TREEDE, 2008).
Em indivduos saudveis, a dor utilizada para propsitos altamente
adaptveis, orientada para a sobrevivncia. O primeiro objetivo da dor de avisar de
perigo real ou iminente de danos corporais, tais como contato com objetos
pontiagudos ou aquecidos (WATKINS; MAIER, 2002).
O segundo objetivo da dor de encorajar comportamentos de recuperao
em resposta dor resultante do prprio organismo. A leso j ocorreu e a rea
danificada agora inflamada. A informao dolorosa retransmitida para os centros
superiores do crebro que organizam os comportamentos de recuperao
apropriados para proteger e facilitar a cicatrizao do local danificado. Tais
comportamentos incluem desuso e proteo de um membro lesado e em caso de
animais, ocorre a limpeza da leso com o comportamento de lamber (WATKINS;
MAIER, 2002).
Assim sendo, a dor envolve aspectos comportamentais, podendo causar
reaes emocionais negativas e, quando persistente, pode tornar-se debilitante e
muitas vezes causadora de sofrimento, sendo frequentemente responsvel pela
diminuio drstica da qualidade de vida dos portadores deste sintoma (CHAPMAN;
GAVRIN, 1999; COMPTON; DOERING, 2006; GRIFFIS; JULIUS; BASBAUM, 2001).
J em modelos experimentais de dor em animais registrado tambm o processo
de codificao e processamento do estmulo nocivo (processo sensorial), sem levar
em considerao os aspectos psicolgicos que tambm influenciam na percepo
27
final da dor (processo emocional), por esta razo, denominamos a resposta
comportamental dos animais de nocicepo (LOESER; TREEDE, 2008).
Entretanto, existe uma diferena conceitual quando se utiliza os termos
nocicepo e dor. O primeiro conceito consiste apenas na recepo e decodificao
do estmulo nocivo por estruturas altamente especializadas do sistema nervoso
chamados nociceptores. Essas estruturas consistem em terminaes nervosas livres
associadas a fibras aferentes primrias (carreiam estimulo nociceptivo da periferia
medula) com caractersticas distintas (limiar de ativao e sensibilidade) em relao
a outras estruturas nervosas sensoriais. Entre essas fibras aferentes temos as do
tipo C e A, que possuem um menor calibre e esto relacionadas transduo e
conduo do estimulo nocivo, vale ressaltar que as fibras C so amielinizadas
(ausncia de mielina, uma camada de revestimento rica em lipdios e protenas que
possuem ndulos de Ranvier o qual, proporcionam aumento da velocidade do
estimulo pela fibra) e as fibras A apresentam mielina e possuem uma maior
velocidade de conduo do impulso nervoso em relao fibra C (JULIUS;
BASBAUM, 2001).
Na medula espinal, essas fibras aferentes primrias fazem sinapse com
neurnios de segunda ordem, que por sua vez, ascendem a reas supra-espinais
por meio de tratos neuronais especficos, como por exemplo, o trato espinotalmico.
Assim, os neurnios de segunda ordem faro no tlamo uma segunda sinapse com
neurnios de terceira ordem, os quais enviaro a informao nociceptiva at as
reas especficas do crtex cerebral, onde aspectos como intensidade, localizao e
durao do estmulo nociceptivo sero integrados e componentes afetivos e
emocionais sero interpretados e contextualizados, proporcionando a percepo da
dor (VANDERAH, 2007).
28
Figura 1- Via ascendente da nocicepo.
Sendo assim, veremos adiante as formas de classificao da dor.
2.2 CLASSIFICAO DA DOR
Dentre as formas de classificao da dor, a mais habitualmente utilizada a
que leva em considerao o tempo de durao. Assim sendo, a dor pode ser
classificada em aguda e crnica.
A dor aguda se d pela ativao direta de nociceptores, estruturas
especializadas na deteco de estmulos nocivos capazes ou no de causar alguma
leso. Desta forma, muitas vezes a dor aguda pode se estabelecer sem que ocorra
uma leso aparente. Quando a dor persiste por semanas ou meses, classificada
como dor crnica. A dor crnica muitas vezes permanece mesmo aps a
recuperao da leso e caracteriza-se tambm pela incapacidade de o organismo
restabelecer suas funes fisiolgicas (LOESER; MELZACK, 1999; MILLAN, 1999).
Na maioria dos casos de dor crnica, ocorrem vrias alteraes no organismo que
Nota: Os axnios das fibras aferentes primrias (C e A) que inervam as regies perifricas transmitem o impulso nociceptivo at as lminas do corno dorsal da medula espinal, onde neurnios de segunda ordem repassam a informao para os tratos neuronais ascendentes.
Fonte: Adaptado de Longhi-Balbinot (2009)
29
facilitam a transmisso e manuteno dessa dor como, por exemplo, o aumento da
sntese e/ou liberao de neurotransmissores, alteraes sinpticas e o brotamento
de novas fibras nervosas (LOESER; MELZACK, 1999; MILLAN, 1999).
A dor pode tambm ser classificada dependendo de onde ela se origina. A dor
nociceptiva aquela que ocorre devido a uma ativao excessiva de nociceptores,
que so estruturas especializadas sensveis a estmulos nocivos (mecnicos,
trmicos e qumicos) localizados principalmente na pele, msculos e vsceras,
enquanto que a dor neurognica ocorre quando o tecido neuronal lesionado com
consequente liberao de neuropeptdeos que induzem dor, tanto por estmulo
perifrico como central (MILLAN, 1999).
A dor neuroptica aquela que ocorre aps uma leso ou disfuno do
sistema nervoso somatossensorial. Ainda fazendo parte desta classificao, pode-se
citar a dor psicognica ou de origem psicolgica, que aquela que ocorre sem a
presena de um fator somtico identificvel (MILLAN, 1999).
J, a dor inflamatria ocorre em resposta leso de tecidos e a resposta
inflamatria subsequente. Ocorrem mudanas para a proteo do organismo contra
um estmulo nocivo potencialmente prejudicial que causou o dano. Para auxiliar na
cura e reparao da parte do organismo atingido, o sistema nervoso sensorial sofre
uma profunda mudana na sua capacidade de resposta; normalmente estmulos
incuos agora produzem dor e respostas a estmulos nocivos so exageradas e
prolongadas (JUHL et al., 2008). A sensibilidade permanece aumentada no interior
da rea inflamada e em reas adjacentes no inflamadas como um resultado de
plasticidade em nociceptores perifricos e vias nociceptivas centrais (HUANG et
al., 2006; HUCHO; LEVINE, 2007; WOOLF; SALTER, 2000). Uma vez que a via
nociceptiva sensibilizada aps a inflamao, os nociceptores j no atuam apenas
como detectores para os estmulos nocivos, mas tambm podem ser ativados por
baixos limiares. Normalmente, a dor inflamatria desaparece aps a resoluo da
leso tecidual inicial (DARFEUILLE-MICHAUD et al., 2004).
Um dos tipos de dor inflamatria que encontramos na clnica a dor muscular
que veremos a seguir.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2768555/#R82http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2768555/#R68http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2768555/#R68http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2768555/#R68http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2768555/#R69http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2768555/#R185http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2768555/#R108http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2768555/#R108
30
2.3 DOR MUSCULAR
A dor muscular desencadeada pela ativao dos nociceptores perifricos
que acionam fibras nervosas mielnicas A e fibras C do sistema nervoso perifrico
(SNP), que se projetam nos neurnios segmentares da substncia cinzenta do corno
dorsal da medula espinal (CDME) que so acionados e sensibilizados e onde
mecanismos modulatrios podem inibir ou facilitar a atividade dos nociceptores
(MENSE, 1994; 1997; WALL; GUTNICK, 1974).
O que normalmente no dia a dia provoca a dor muscular?
Em modelos animais, o processo miostico resultante da injeo de agente
irritantes musculares, como a carragenina, acarreta a liberao de substncias
vasoativas como a serotonina, histamina, bradicinina e prostaglandinas, resultando
em aumento da atividade dos nociceptores e de outros receptores. As vias
nociceptivas liberam retrogradamente substncia P, calcitonina e neuroquinina, as
quais agravam a condio inflamatria original. Alm disso, a ativao dos
nociceptores (via fibras IV) responsvel por gerar a dor muscular (TEIXEIRA,
1999).
Em adio, alguns desses nociceptores so ativados por uma grande
variedade de estmulos nociceptivos (ZIMMERMANN, 1988), onde alguns reagem
mais intensamente a alguns agentes qumicos e outros com atividade polimodal.
Tais nociceptores so sensibilizados por substncias algiognicas incluindo a
bradicinina, a histamina, os ons K+, as prostaglandinas (PGE), serotonina, acidose
tecidual (pH inferior a 6,1) e substncia P (SP). A liberao de noradrenalina e de
prostaglandinas (PGs) pelas fibras simpticas que inervam os msculos tambm
podem modificar a atividade dos receptores (MENSE et al., 1977; MENSE, 1997;
TEIXEIRA, 1999).
A palavra inflamao, do grego phlogosis e do latim flamma, significa fogo,
rea em chamas. Ela se apresenta como uma reao complexa a vrios agentes
nocivos, como microrganismos e clulas danificadas, que consiste de respostas
vasculares, migrao, ativao de leuccitos e reaes sistmicas (TROWBRIDGE;
EMLING, 1998), sendo considerada uma resposta fisiolgica desencadeada por
leso tecidual ou estmulos antignicos e que muitas vezes pode ser prejudicial ao
organismo (RAO et al., 2007; SCHMID-SCHONBEIN, 2006;). Clinicamente, a
31
inflamao caracteriza-se por apresentar cinco sinais cardinais: eritema, edema,
calor, dor e perda da funo (HEIDLAND et al., 2006), os quais so provenientes da
dilatao de arterolas e aumento da permeabilidade vascular por ao de
mediadores inflamatrios. Alm disso, com o aumento da temperatura, as reaes
metablicas ocorrem com maior rapidez e liberam calor adicional. J o edema surge
com aumento da permeabilidade vascular (VERGNOLLE, 2008).
Sabe-se que o exerccio fsico influencia no controle da dor muscular. Sendo
assim, falaremos a seguir sobre o efeito do exerccio fsico na dor.
2.4 EXERCCIO FSICO: NATAO
Exerccio fsico toda atividade fsica planejada, estruturada e repetitiva que
tem por objetivo a melhora ou manuteno da aptido fsica (CASPERSEN et al.,
1985), apesar do estresse fisiolgico homeostase e aos processos sistmicos
biolgicos que exigem solicitaes energticas acima do nvel de repouso
(MAUGHAN et al., 2000).
O exerccio fsico um importante componente no controle da dor, sendo
utilizado no tratamento de diversas disfunes msculos-esquelticas crnicas
(BEMENT; SLUKA, 2005).
Nesse contexto, evidncias demonstram que o exerccio fsico um
componente que auxilia no controle de algumas condies dolorosas (WRIGHT;
SLUKA, 2001). Este fenmeno tipicamente conhecido como analgesia induzida
pelo exerccio, mas a terminologia mais adequada para este fenmeno hipoalgesia
induzida pelo exerccio (KOTYN, 2002).
A natao uma das formas de exerccio fsico mais praticada em todo o
mundo, sendo que nos Estados Unidos a segunda modalidade de exerccio
dinmico mais popular, ficando atrs somente da caminhada (BOOTH et al., 1997;
US CENSUS BUREAU, 2009).
Essa modalidade de exerccio tem a vantagem de oferecer uma carga mnima
sobre as articulaes, permitindo uma grande facilidade de movimento. Alm disso,
a natao apresenta menor estresse mecnico devido flutuao, pela reduo dos
32
efeitos da gravidade, bem como uma melhor redistribuio do fluxo sanguneo entre
os tecidos (CAMPION, 2000).
Em roedores, a natao considerada uma habilidade inata. Estudos
demonstram ocorrncias de adaptaes (sesses de natao de 20 minutos
com suporte de cargas de 5, 6, 7, 8, 9 ou 10% ao peso do corpo durante 6 semanas
consecutivas) ao treinamento fsico iguais s observadas em humanos (GOBATTO
et al., 2001).
Os protocolos de exerccio so usados na reabilitao de pacientes com
doenas musculoesquelticas crnicas tais como: fibromialgia, lombalgia crnica e
dor miofascial (DE HUECK, 2004; GOWANS; WRIGHT; SLUKA, 2001). Alm disso,
vrios investigadores relataram que uma sesso de exerccio capaz de alterar a
percepo dolorosa, tanto durante quanto aps a realizao da mesma (COOK,
1999; KOLTYN, 2000; OCONNOR, 1999).
Muitos estudos em humanos e animais demonstram que o exerccio aerbio
proporciona alvio da mesma, denominado analgesia induzida por exerccio,
podendo ser ativado por uma variedade de estmulos dolorosos, incluindo o calor
(JANAL et al., 1984; 1994) e frio (PADAWER; LEVINE,1992). Vrios estudos foram
realizados visando demonstrar a analgesia induzida pelo exerccio, bem como
fatores isolados que influenciam a sua ocorrncia e extenso (DROSTE et al., 1991;
KEMPPAINEN et al., 1985).
Alm disso, estudos investigando o efeito do treinamento com natao em
roedores demonstraram uma melhora transitria da alodnia em casos de injria
medular (HUTCHINSON et al., 2004), reduo da hiperalgesia (BEMENT; SLUKA,
2005), diminuio da atrofia muscular durante o perodo de denervao por
esmagamento do nervo citico (JAWEED et al., 1974), aumento da sntese e
liberao de serotonina no crtex cerebral, tronco enceflico e medula espinal (DEY
et al., 1992).
Outro estudo demonstrou que o exerccio fsico agudo de intensidade leve
promoveu uma reduo da hiperalgesia frente a estmulo qumico induzida pela
formalina e da hiperalgesia trmica avaliado pelo teste da placa quente (BENTO-
SILVA et al., 2010).
Em adio, Bratti e colaboradores (2011) encontraram que o exerccio
prolongado de alta intensidade diminuiu a hipersensibilidade dolorosa presente em
33
modelo de sndrome da dor complexa regional tipo I (SDCR tipo I) em
camundongos. Kuphal e colaboradores (2007) tambm demonstraram que a
natao reduziu a hipersensibilidade dolorosa encontrada no teste da formalina e a
alodnia induzida por leso nervosa em ratos.
Alm disso, estudos evidenciam que o exerccio praticado diariamente pode
ser uma adio benfica para tratamentos clnicos e farmacolgicos a pessoas
portadoras de neuropatia perifrica (LI & HONDZINSKI, 2012).
2.5 SISTEMA ENDOCANABINIDE
Dentre os vrios sistemas sugeridos envolvidos no mecanismo da dor, o
endocanabinide tem sido fortemente investigado ao longo das ltimas dcadas.
O sistema endocanabinide foi descoberto no final dos anos 80, enquanto
que os sistemas de neurotransmissores principais, colinrgico, adrenrgico e
dopaminrgico foram descobertos na dcada de 30. A funo bsica do sistema
canabinide pode ser protetora. No SNC, a transmisso de sinal dos
endocanabinides mediada sobretudo pelo receptor CB1, um transportador
transmembrana de endocanabinides e enzimas hidrolticas envolvidas tanto na
sntese (lipase diacilglicerol, DAGL, a fosfolipase D especfica N-acylphosphatidyl-
ethanolamina) como na inativao (hidrolase amida dos cidos graxos e lipase
monoacilglicerol) dos endocanabinides. Os endocanabinides so sintetizados
medida que so necessrios a partir do cido araquidnico dos fosfolipdios da
membrana. A despolarizao neuronal ps-sinptica leva liberao de
endocanabinides, estes difundem-se ao longo da sinapse e ativam os receptores
CB1 na terminao pr-sinptica (DI MARZO et al., 2004).
A partir de ento, ocorreu o desvendamento do primeiro receptor canabinide,
o qual foi descrito como receptor para canabinide do tipo 1 (CB1). Dogrul e
colaboradores (2012), demonstraram que estes receptores esto amplamente
expressos em diversas estruturas enceflicas, preferencialmente, em reas do
crebro envolvidas na transmisso da dor, tais como a substncia cinzenta
periaquedutal (PAG), bulbo rostral ventromedial (RVM) e crtex, bem como na
medula espinal, gnglios da raiz dorsal, sistema nervoso entrico, adipcitos, clulas
34
endoteliais, hepatcitos, tecido muscular e trato gastrointestinal (HERKENHAM et
al., 1990; HOWLETT et al., 2004).
Os endocanabinides participam em uma variedade de processos incluindo a
termorregulao, apetite, funo imunitria, percepo (audio, viso e paladar),
cognio (potenciao a longo prazo e memria a curto prazo) e funo motora
(locomoo, propriocepo e tnus muscular) (POPE; PARSONS, 2010). Em muitos
estudos, demonstram a participao dos endocanabinides na modulao da dor,
regulao do apetite, alteraes de humor e funes patolgicas, respostas
inflamatrias, cncer, comportamento aditivo e epilepsia (GUINDON; HOHMANN,
2009; YATES; BARKER, 2009). Diferentemente dos neurotransmissores clssicos,
os endocanabinides so considerados mensageiros atpicos, uma vez que
medeiam a transferncia das informaes dos terminais ps aos pr-sinpticos de
uma forma retrgrada. Ainda, so sintetizados sob demanda e no so
armazenados em vesculas (DI MARZO et al., 2004).
Com novos estudos e investigaes desse sistema, Pertwee (2002), Van-
Sickle e colaboradores (2005) demonstraram posteriormente um segundo receptor
para canabinide (CB2), presentes predominantemente no sistema perifrico e se
relacionam com o sistema imunolgico, clulas T, clulas B, bao e amgdalas
(AMERI, 1999; MARTIN; LIVHTMAN, 1998). Por consequncia, esto intimamente
ligados a funes do sistema imune onde regulam a liberao de citocinas e a
migrao de clulas do sistema imune, podendo ser encontrados em diversos
tecidos linfoides dentro ou fora do SNC (FERNANDEZ-RUIZ et al., 2007; PERTWEE,
2001). Ensaios de hibridizao in situ demonstraram a existncia de RNAm para os
receptores CB2 no fgado, timo, amgdalas, medula ssea, pncreas, assim como
em macrfagos, moncitos e em uma ampla variedade de clulas imunes em cultura
(LYNN; HERKENHAM, 1994). RNAm para os receptores canabinides CB2 tambm
foi encontrado em tecido glial de crtex retirados de ratos recm-nascidos, inclusive
em concentraes mais elevadas do que nveis de RNAm para os receptores CB1 no
desenvolvimento cerebral (CABRAL et al., 2001).
Apesar de a maioria dos estudos acreditarem que os receptores CB2 so
exclusivamente expressos em tecidos perifricos e clulas inflamatrias (MUNRO et
al., 1993), agora h cada vez mais provas que sugerem que eles tambm so
expressos no SNC (VAN SICKLE et al., 2005). Na verdade, a alta regulao de CB2
durante a dor neuroptica em modelos animais tem sido descrita em clulas
35
microgliais e astrcitos (MARESZ et al., 2005; ZHANG et al., 2003). Alm disso, tem
sido sugerido que os receptores CB2 desempenham um papel crucial na regulao
imune do SNC durante a dor neuroptica (LUONGO et al., 2010; RACZ et al., 2008).
Uma das funes do receptor CB2 no sistema imunolgico durante o processo
doloroso a modulao da liberao de citocinas. A ativao de CB2 nas clulas T
por endocanabinides leva inibio da adenilil ciclase nestas clulas e a uma
reduo da resposta ao desafio imunolgico (CONDIE et al., 1996).
Outra funo no controle da proliferao, diferenciao e sobrevivncia
tanto em neurnios como em clulas no neuronais. Este receptor pode funcionar
como um "sinal de diferenciao de clulas (FERNNDEZ-RUIZ et al., 2007), sendo
sua expresso aumentada em clulas gliais durante estados dolorosos (SNCHEZ
et al., 2001).
Recentemente, tem sido demonstrado que as clulas microgliais de ratos
produzem um nmero de endocanabinoides ambguos, anandamida e 2-AG
(WALTER et al., 2003). Assim, por meio do papel imunomodulador dos
canabinides, buscou-se compreender melhor como o sistema endocanabinide
regula a funo microglial.
2.6 CLULAS DA GLIA E NOCICEPO
As clulas gliais, especificamente os astrcitos e a microglia, foram
reconhecidas por longo tempo como constituintes envolvidos em promover o
ambiente ideal para o funcionamento neuronal, tendo como funes principais o
suporte e a nutrio destas clulas. No entanto, estudos publicados na ltima
dcada tm indicado que a glia pode interagir com os neurnios, modulando a sua
atividade tanto sob condies fisiolgicas quanto patolgicas (ARAQUE et al, 1999).
A ativao glial uma caracterstica comum de muitas doenas do sistema nervoso
central e est envolvida na defesa, no reparo e na regenerao do tecido neuronal
exposto a doenas infecciosas, inflamao, trauma, tumores ou neurodegenerao
(KREUTZBERG, 1996; VILA et al., 2001).
Alm disso, a ativao glial constitui um processo multidimensional e a
maneira pela qual ela expressa depende do tipo e da intensidade do estmulo
36
indutor, podendo ocorrer curso temporal e padro de resposta distintos. Esta
caracterstica das clulas gliais distinta das clulas neuronais, cuja ativao
unidimensional, ou seja, resulta exclusivamente em produo de potencial de ao
(WATKINS; MAIER, 2003). No sistema nervoso central, os astrcitos e a microglia
diferem quanto origem, ao seu estado de ativao basal e s alteraes
morfolgicas e funcionais aps a ativao (WATKINS; MAIER, 2003).
No SNC de mamferos, as clulas gliais so at 10 vezes mais numerosas do
que os neurnios e podem compreender at 50% do volume total de clulas (POPE,
2010). Os astrcitos constituem cerca da metade da populao total das clulas
gliais e so amplamente divididos em astrcitos protoplasmticos e em astrcitos
fibrosos, com base nos dados nas diferenas morfolgicas. Seus processos rodeiam
os capilares dos neurnios revestindo as superfcies neuronais de forma livre,
formando um sinccio com outros astrcitos atravs de junes de hiato (PETERS et
al., 1976). Apesar de seus nmeros e locais estratgicos, h pouca informao
disponvel quanto s suas funes, embora tenha especulaes considerveis a
este respeito (SOMJEN, 1981; VARON; SOMJEN, 1979). Em grande parte, essa
falta de informao se deve ausncia de modelos adequados, em que as
propriedades dinmicas de astrcitos podem ser estudados com detalhes. Estudos
eletrofisiolgicos de astrcitos in situ (SOMJEN, 1981; VARON; SOMJEN, 1979), no
entanto, mostraram claramente que, ao contrrio dos neurnios, e eles so no
excitveis, assim, as suas funes especficas no podem ser identificadas com
base em uma nica resposta eltrica da mesma maneira como pode ser feito para
os neurnios. Os astrcitos exibem funes imunes. Tais clulas expressam os
receptores toll-like (TLRs), alm de atuarem como clulas apresentadoras de
antgenos e produzirem uma variedade de citocinas e quimiocinas, tambm so
importantes para a sinalizao do SNC com a periferia, uma vez que, eles secretam
quimiocinas e citocinas e apresentam contato ntimo com os vasos sanguneos
(DONG; BENVENISTE, 2001). Um dos marcadores mais utilizados na deteco dos
astrcitos so os filamentos intermedirios presentes no citoplasma e conhecidos
como GFAP (glial fibrilary acidic protein). A funo destas protenas ainda no
conhecida, porm o aumento da sua expresso est associado com o incremento da
ativao dos astrcitos (WATKINS; MAIER 2002).
Outra clula da glia bastante importante na gnese da dor a micrglia.
uma populao de macrfagos especializada, encontrada no SNC, so quiescentes
37
quando esto inativadas. No entanto, depois de leso do SNC, estas clulas podem
ser ativadas por citocinas produzidas pela infiltrao de clulas efetoras imunitrias.
Assim, a estimulao da microglia um modelo til para o estudo de mecanismos
subjacentes de leso neuronal por vrios fatores pr-inflamatrios e neurotxicos
lanados pela ativao microglial (JUNG et al., 2010).
Diferente dos astrcitos, sob condies fisiolgicas, a micrglia apresenta-se
na forma quiescente e constitui as clulas imunes residentes no sistema nervoso
central (KREUTZBERG, 1996). Embora apesar dos poucos estudos consistentes
demonstrem a origem da micrglia, acredita-se que clulas gliais mesodrmicas
invadam o sistema nervoso central durante a fase embrionria do desenvolvimento.
Subsequentemente, no perodo aps o nascimento, ocorre uma segunda migrao
de moncitos derivados da medula e, desta forma, ocorre a formao da micrglia
(CHAN et al., 2007; ROCK et al., 2004). A micrglia classificada em dois grupos
celulares, de acordo com sua morfologia e seu estado de ativao, as quais so a
micrglia em repouso, anteriormente denominada como micrglia quiescente e a
micrglia ativada.
A micrglia quiescente morfologicamente tpica, ramificada, com corpo
celular pequeno (5-10 m) e ncleo que preenche quase completamente o soma
(PERRY; GORDON, 1988). Numerosas ramificaes, delgadas e longas, tambm
conhecidas como processos microgliais, emergem a partir do soma. Uma
caracterstica marcante destas clulas que elas se tornam rapidamente ativadas
em resposta a um pequeno estmulo patolgico no sistema nervoso central. J a
micrglia ativada, apresenta alteraes morfolgicas caractersticas e adquirem
propriedades fagocticas, atuando no reparo tecidual e na regenerao neural
(KREUTZBERG, 1996), na defesa do parnquima neural contra doenas
infecciosas, trauma, isquemia, tumores cerebrais e na neurodegenerao.
As alteraes morfolgicas incluem o aumento do corpo celular, o
encurtamento e a hipertrofia das ramificaes. As clulas podem adquirir formato
esfrico ou amebide podendo apresentar ausncia de ramificaes (BRIERLEY;
BROWN, 1982). A forma amebide evidente durante as fases iniciais do
desenvolvimento embrionrio e durante a plasticidade, enquanto que a quiescente
encontrada na vida adulta em condies fisiolgicas.
A ativao microglial tambm caracterizada pelo aumento da expresso de
molculas como o MHC (major histocompatibility complex), o receptor para o
38
complemento-3 (CR3), as integrinas 2 (CD11b e CD11c) e uma variedade de
receptores para citocinas, quimiocinas e outras substncias liberadas no sistema
nervoso central. As alteraes funcionais da micrglia ativada incluem a migrao
para reas lesionadas, a fagocitose, a apresentao de antgenos e a secreo de
citocinas pr-inflamatrias como a interleucina-1 (IL-1) e o fator de necrose tumoral-
(TNF-) (WATKINS; MAYER, 2003). Alm disso, a ativao microglial est
envolvida com o sistema imune adaptativo, uma vez que estas clulas so
componentes chave no recrutamento leucocitrio (ALOISI, 2001). Outras funes
importantes da micrglia incluem a induo do apoptose em subpopulaes
especficas de neurnios durante o desenvolvimento (MARN-TEVA et al., 2001), o
controle da sinaptognese (ROUMIER et al., 2004), a sntese de fatores
neurotrficos e a regulao da transmisso sinptica (COULL et al., 2005) e da
astrogliose (ALLIOT et al., 1991; STREIT et al., 1999). A ativao microglial aguda
geralmente benfica pois atua de maneira protetora ao organismo. Porm, a
ativao crnica leva a mudanas neuronais, alm de contribuir para a destruio
neuronal, que observada em certas doenas neurodegenerativas, tais como a
doena de Alzheimer (KHOURY et al., 2007) e a doena de Parkinson (CARDONA
et al., 2006).
Alm disso, em modelos animais, a inibio da funo glial pela administrao
de minociclina, uma enzima que inibe o metabolismo microglial, atenua a dor
neuroptica e a inflamatria (CHACUR et al., 2004; MILLIGAN et al., 2003).
2.7 ATIVAO GLIAL E A MODULAO DA DOR
Nas ltimas dcadas, diversos estudos tm voltado sua ateno s clulas
gliais, principalmente astrcitos e micrglia, com o intuito de melhor esclarecer suas
funes em modelos de dor experimental (MILLIGAN et al., 2002; SCHOLZ;
WOOLF, 2007).
A importncia das clulas da glia da medula espinal em processos
nociceptivos foi primeiramente evidenciada por Garrison e colaboradores (1991),
que mostraram o aumento da densidade destas clulas, mais especificamente de
astrcitos na medula espinal, aps a induo de ligaduras no nervo isquitico
39
(GARRISON et al., 1991). Ainda, a hiperalgesia trmica resultante da injeo s.c. de
formalina e i.p. de endotoxina (WATKINS et al., 1999) bloqueada pela injeo
intratecal de inibidores gliais. Da mesma forma, a alodnia mecnica resultante da
injeo perifrica de zimosan, um polissacardeo presente na superfcie de fungos,
como leveduras, utilizado para induzir inflamao experimental (SATO et al., 2003)
tambm bloqueada por inibidor metablico das clulas da glia (MILLIGAN et al.,
2000). Estudos realizados por Chacur e colaboradores (2007), mostraram que o
inibidor do TNF e a minociclina, foram capazes de diminuir a hiperalgesia induzida
pela injeo de Adjuvante Completo de Freund (CFA) no msculo gastrocnmio de
ratos, sugerindo a participao de clulas gliais e citocinas neste fenmeno
(CHACUR et al., 2007, 2009).
Alteraes neuroimunes tm sido implicadas no desencadeamento da dor
induzida por diversos tipos de leso em tecidos perifricos (WATKINS et al., 2001).
Na medula espinal, as clulas gliais so ativadas em resposta a uma ampla
variedade de condies que produzem respostas de dor exagerada como
inflamao crnica dos tecidos e leso de nervos (WATKINS et al., 2001). Alm
disso, a glia tambm pode ser ativada por patgenos (vrus e bactrias), substncias
liberadas por fibras aferentes primrias que transmitem a informao dolorosa da
periferia para a medula espinal e que possuem receptores nas clulas gliais (ATP,
aminocidos excitatrios, substncia P e fractalcina) ou substncias liberadas dos
neurnios de segunda ordem da medula espinal que conduzem a informao
dolorosa da medula espinal para o crebro (prostaglandinas, xido ntrico e
fractalcina) (WATKINS et al., 2001; WATKINS; MAIER 2002).
No incio da dcada de 90 foram publicados os primeiros trabalhos
demonstrando que em modelos animais de dor neuroptica, induzida por leso em
nervos perifricos, havia ativao de astrcitos no corno dorsal da medula espinal
(GARRISON et al., 1991). Alm disso, drogas que bloqueavam a dor neuroptica,
como o antagonista do receptor glutamatrgico NMDA, o MK801, inibiam a ativao
astroctica (GARRISON et al., 1991). Estes estudos demonstraram pela primeira vez
uma possvel relao entre a ativao glial e o desenvolvimento da dor neuroptica.
Em adio, estudos mais recentes utilizando modelos animais tem demonstrado que
outros estmulos, como ligao de nervos perifricos (COYLE, 1998), injeo
subcutnea de formalina (FU et al., 2000) ou adjuvante completo de Freund (CFA)
(RAGHAVENDRA et al., 2004) e a leso da medula espinal (NESIC et al., 2005;
40
POPOVICH et al., 1997; SROGA et al., 2003; ZAI; WRATHALL, 2001), tambm so
capazes de induzir ativao das clulas gliais no sistema nervoso central,
particularmente na medula espinal. O bloqueio da ativao das clulas gliais atravs
da injeo intratecal do fluorocitrato, um inibidor metablico glial, reduziu a dor
gerada por estmulos que induzem tanto a inflamao do tecido subcutneo
(MELLER et al., 1994; WATKINS et al., 1997) quanto a inflamao de nervos
perifricos (WATKINS; MAYER, 2000). A inibio da micrglia, com a minociclina,
um inibidor seletivo do metabolismo microglial, tambm atenuou a hiperalgesia e a
alodnia em modelo de dor neuroptica (RAGHAVENDRA et al., 2003). Alm disso,
outros achados tambm demonstraram que a interrupo da ativao glial atenuou a
tolerncia produzida pela morfina, sugerindo que as substncias liberadas pela glia
atuam contrapondo-se aos efeitos do opiide administrado cronicamente (SONG;
ZHAO, 2001). Diante destas evidncias de que a ativao das clulas gliais contribui
para a gerao e manuteno da hipersensibilidade dor, vrios estudos tm sido
realizados para investigar quais molculas so capazes de induzir a ativao glial,
bem como quais substncias liberadas pela glia que podem alterar a atividade
neuronal e, desta forma, contribuir tanto para a gerao quanto para manuteno da
dor.
Estudos prvios demonstraram que as clulas gliais expressaram receptores
para muitas das substncias liberadas pelos neurnios. Na medula espinal, por
exemplo, os astrcitos e a micrglia expressam receptores para glutamato
(BESONG et al., 2002), ATP (TSUDA et al., 2003), substncia P (MARRIOT, 2004),
CGRP (PRILLER et al., 1995; REDDINGTON et al., 1995) e citocinas pr-
inflamatrias, como a fractalcina (ASENSIO; CAMPBELL, 1999; VERGE et al.,
2004).
Outros receptores amplamente expressos nas clulas gliais so os receptores
para canabinides (CB2), principalmente na micrglia, regulando sua motilidade e
produo imunomoduladora (ATWOOD; MACKIE, 2010; PERTWEE et al, 2010).
Neste cenrio complexo, o sistema endocanabinide pode representar um
alvo interessante por modular a comunicao microglia-astrcitos-neurnio. De fato,
os endocanabinides so liberados sob demanda pelos neurnios, bem como por
astrcitos e micrglia (WATTERS et al., 2002). digno notar que as clulas
microgliais produzem 20 vezes mais endocanabinides em comparao com os
neurnios e astrcitos (WATTERS et al., 2002).
41
Muitas molculas liberadas no SNC tm sido cogitadas como capazes de
ativar as clulas gliais, especialmente porque apresenta algumas caractersticas que
a diferencia das demais substncias liberadas pelos neurnios (MILLIGAN et al.,
2004; SUN et al., 2007). A fractalcina a nica citocina expressa constitutivamente e
liberada pelos neurnios no sistema nervoso central, enquanto que seu receptor
(CX3CR1) expresso exclusivamente na glia (ASENSIO; CAMPBELL, 1999;
VERGE et al., 2004). Trata-se de uma citocinamiosttica, nico membro pertencente
classe CX3C, cuja estrutura caracterizada por ter duas cistenas separadas por
trs aminocidos (ASENSIO; CAMPBELL, 1999). A fractalcina existe nas formas
solvel e ligada membrana extracelular (BAZAN et al., 1997; PAN et al., 1997), a
nica que se liga em apenas um tipo de receptor, denominado CX3CR1 (CX3C
receptor-1), que lhe exclusivo (JUNG et al., 2000). Para ativar o receptor CX3CR1,
a forma solvel clivada da membrana neuronal pela catepsina S, uma protease
expressa e liberada pela micrglia (CLARK et al., 2007).
Alguns dados sugerem que a micrglia responsvel pela a atividade
neuronal (HANSSON, 2006; MCMAHON et al., 2005), que quando ativadas sob
condies fisiopatolgicas, liberam substncias que modificam a sinalizao entre os
neurnios (FIELDS; STEVENS GRAHAM, 2002; MARCHAND et al., 2005). Estas
substncias incluem xido ntrico, o ATP e citocinas pr-inflamatrias (MARCHAND
et al., 2005). Estes mediadores derivados de clulas gliais contribuem para a
sensibilizao central (MA & ZHAO, 2002), resultando em alodnia e hiperalgesia
(MILLIGAN et al., 2000; SWEITZER et al., 1999).
2.8 CB2 E GLIA
Os receptores para canabinides do tipo 2 so expressos em clulas da glia
de humanos e ratos (ASHTON et al., 2006; NUNEZ et al., 2004) e sua expresso
aumenta especialmente as clulas gliais durante a inflamao (RAMIREZ et al.,
2005; SHENG et al., 2005). Usando uma inciso de pata ou um modelo de leso de
nervo perifrico mostraram que ativao in vivo do CB2 na medula reduz a
reatividade glial, medida como uma reduo na expresso de CR3/CD11b
(marcador microglial) ou molcula de adaptador de ligao do clcio ionizado 1 (Iba-
42
1) na micrglia (ROMERO-SANDOVAL; EISENACH, 2007; ROMERO-SANDOVAL
et al., 2008). Iba1 um marcador citoslico da micrglia que est associado com um
fentipo pr-inflamatrio e est envolvido na migrao da micrglia (OHSAWA et al.,
2000; 2004). Por conseguinte, o CB2 reduz a ativao in vitro do fator de necrose
tumoral- (TNF) e xido ntrico (NO) em micrglia (EHRHART et al., 2005; RAMIREZ
et al., 2005) e protetor contra a neurotoxicidade da micrglia em humanos
(KLEGERIS et al., 2003). No entanto, o mecanismo intracelular de ao especfica
pelo qual a ativao do CB2 altera o fentipo microglial no foi previamente relatado.
Estudos demonstram que agonistas do receptor canabinide CB2 produzem
alvio da dor em uma variedade de modelos animais (RICHARDSON, 2000). Os
endocanabinides atuam sobre as clulas da glia e neurnios inibindo a liberao de
molculas pr-inflamatrias, incluindo a IL-1, TNF- e NO (CABRAL et al., 2001;
MOLINA HOLGADO et al., 1997; 2002; PUFFENBARGER et al., 2000; SHOHAMI et
al., 1997) e aumentando a liberao de citocinas anti-inflamatrias como IL-4, IL-10
(KLEIN et al., 2000).
Em particular, a ativao dos receptores CB2 expressos na micrglia durante
a neuroinflamao (ATWOOD; MACKIE, 2010; BENITO et al, 2008) reduziu a
produo de NO e TNF- na micrglia (EHRHART et al, 2005; MERIGHI et al,
2012.). Alm disso, tal ativao microglial oferece proteo contra a neurotoxicidade
atravs do aumento da produo de IL-10 (CORREIA et al., 2005; 2010;
ELJASCHEWITSCH et al., 2006; KLEGERIS et al., 2003).
A ativao dos receptores CB2 tambm reduziu a ativao glial, inibindo a
liberao de fatores pr-inflamatrias pela micrglia, em modelos animais de hipxia
por isquemia peritoneal e doena de Huntington (BENITO et al., 2008).
Portanto, h algumas evidncias de que o treinamento fsico altera a atividade
de astrcitos (BERNARDI et al., 2013) e micrglia (COBIANCHI et al., 2010), mas
relao entre exerccio e a ativao glial exige muito mais investigao.
43
3 OBJETIVOS
Os objetivos deste trabalho esto descritos abaixo.
3.1 OBJETIVO GERAL
Investigar a participao de receptores canabinides e o envolvimento da
micrglia na dor muscular controlada pelo exerccio fsico.
3.2 OBJETIVOS ESPECFICOS
a) Avaliar o efeito do protocolo de treinamento fsico sobre o controle da dor
muscular;
b) Investigar a participao a nvel espinal de receptores CB2 na dor muscular
controlada pelo exerccio fsico;
c) Investigar a participao da micrglia espinal na dor muscular controlada pelo
exerccio fsico;
d) Investigar o efeito do treinamento fsico na temperatura muscular em modelo
de dor muscular;
e) Avaliar o efeito do treinamento fsico na produo de citocinas inflamatrias
em modelo de dor muscular.
44
4 MATERIAIS E MTODOS
Os materiais e mtodos utilizado neste estudo esto descritos a seguir.
4.1 ANIMAIS
Foram utilizados camundongos fmeas da linhagem C57BL/6 (figura 2),
pesando entre 20 a 25g, provenientes do Biotrio Central da Universidade Jos do
Rosrio Vellano (UNIFENAS). No perodo de realizao dos experimentos, os
animais foram mantidos em estantes ventiladas, sob controle de temperatura 23C e
com ciclo claro/escuro de 12 h controlado. Alm disso, os animais tiveram livre
acesso a rao e gua. Esse projeto foi realizado de acordo com a comisso
permanente local para experimentao tica com animais aprovado pela Autoridade
de Proteo Animal da Universidade Federal de Alfenas-MG (UNIFAL), sob
protocolo 628/2015, obedecendo s normas recomendadas pela IASP
(ZIMMERMANN, 1983).
Fonte: Da autora.
Figura 2- Camundongo da linhagem C57BL/6
45
4.2 DROGAS
As seguintes drogas foram utilizadas no estudo: Carragenina (Sigma-
Aldrich), diluda em salina isotnica estril (2%) e injetada no msculo gastrocnmio
direito em um volume de 50 L; o AM630 (6-iodo-2-metil-1-[2-(morfolinil)etil]-1H-
iodol-3-il(metoxifenil)metanona (TOCRIS), antagonista para o receptor canabinide
CB2, diluda em salina isotnica estril (2%) +DMSO (2%) +cremofor; o MAFP (cido
metil araquidonil fluorfosfano/(5Z, 8Z, 11Z, 14Z)-5, 8, 11, 14-eicosatetraenil-metil
ester fosfofluordrico) (TOCRIS), inibidor da FAAH, diludo em etanol (3%);
minociclina, inibidor seletivo da micrglia, diluda em tween 80, todas injetadas por
via intratecal. Em alguns experimentos os animais receberam os veculos das
drogas descritas acima, salina, salina+DMSO+cremofor, etanol e tween 80, injetados
de acordo com seus respectivos volumes.
4.3 ADMINISTRAO DAS DROGAS
A forma de administrao das drogas sero des ritas a seguir.
4.3.1 Administrao Intratecal
Para a realizao das injees intratecais, utilizamos o mtodo proposto por
Hylden e Wilcox (1980). Incialmente, os animais foram sedados por inalao de
isoflurano (2%) por meio de um sistema de vaporizao calibrada. Aps encontrar o
osso ilaco (espinhas ilacas ventrais), uma agulha de nmero 29G (13 x 0,33) foi
inserida diretamente no espao subaracnideo entre as vrtebras lombares L5 e L6
do animal. Imediatamente aps a insero e, aps a verificao do flint (retirada da
cauda), foi inserida a agulha no espao subaracnideo da medula e realizada a
injeo (figura 3).
46
Previamente a esse procedimento e com o objetivo de assegurar a
administrao correta das drogas, foi realizado um treinamento prvio para o
aprimoramento dessa tcnica com a injeo de 0,5 L de lidocana (2%). Como
resposta positiva da administrao i.t., observava-se a paralisia dos membros
traseiros dos animais (RADHAKRISHNAN et al., 2003).
As drogas e seus veculos foram injetadas intratecalmente antes da ltima
medida do limiar nociceptivo (incio da quarta semana) do treinamento fsico, para os
animais exercitados e os animais sedentrios.
4.3.2. Injeo intramuscular
Os animais receberam 50L de injeo intramuscular de carragenina (2%)
diluda em salina estril no msculo gastrocnmio direito. Os animais controle
receberam a mesma quantidade de salina (veculo) (figura 4).
Este procedimento foi utilizado para a realizao do modelo de dor muscular.
Fonte: Oliveira (2015)
Figura 3- Via de administrao intratecal.
47
4.4 EXERCCIO FSICO
Neste estudo, o protocolo de exerccio fsico utilizado foi o de natao, a qual
foi realizada por 5 dias, durante trs semanas, iniciada 24 horas aps a induo da
dor muscular pela injeo i.m. de carragenina. Para a realizao do exerccio, os
animais foram colocados em uma caixa de vidro, com dimenses de 15x9 cm, com
gua aquecida a 37C. Foi acrescentado 20% do volume de sabo lquido no total
de gua para reduzir a tenso superficial da gua e evitar o comportamento de
flutuar dos animais. Aps cada sesso de natao os animais foram
cuidadosamente secos com toalhas de tecido (MAZZARDO-MARTINS et al., 2010).
Na Tabela 1 est descrito o protocolo de treinamento fsico no qual os animais
foram submetidos ao longo de trs semanas.
Fonte: Bender (2012)
Figura 4- Local de injeo da carregenina: msculo gastrocnmio direito
48
Tabela 1- Protocolo de exerccio fsico (natao).
Nota: Na primeira semana, os animais realizaram uma adaptao, nadando por um perodo
de 15 minutos por dia, durante 5 dias. J na segunda semana, nadaram por um perodo de 30 minutos por dia, durante 5 dias na semana e na terceira semana, nadaram 45 minutos por dia, durante 5 dias. Ao final da primeira e segunda semana, em um intervalo de 2 dias, os animais no realizaram exerccio.
Fonte: Da autora.
Inicialmente, os animais foram divididos em 4 grupos experimentais, sendo o
Sal+Ex (n=6), composto por animais que receberam injeo de salina e foram
submetidos ao exerccio; Cg+Ex (n=6), composto por animais que receberam
injeo de carragenina e foram submetidos ao exerccio; Sal+Sed (n=6), composto
por animais que receberam injeo de salina e no realizaram exerccio e Cg+Sed
(n=6), formado por animais que receberam injeo de carragenina e no foram
submetidos ao exerccio. J, para investigar a participao de receptores para
canabinides do tipo II, endocanabinides e micrglia, os animais foram divididos
em grupos experimentais, igualmente como os descritos acima, porm com a pr-
injeo dessas drogas e seus respectivos veculos, por via intratecal, aps a terceira
semana do treinamento fsico.
Dias da semana Tempo (min)/
1semana
Tempo (min)/
2 semana
Tempo (min)/
3 semana
1 15 30 45
2 15 30 45
3 15 30 45
4 15 30 45
5 15 30 45
49
4.5 AVALIAO DO LIMIAR NOCICEPTIVO
Em seguir, demonstramos os testes utilizados para avaliar os limiares
nociceptivos.
4.5.1 Teste de alodnia mecnica: Von Frey filamentos
Inicialmente os animais permaneceram em suas caixas na sala de
comportamento por 30 minutos para se habituarem. Logo em seguida, foram
colocados em caixas individuas de vidro, (figura 5A) posicionadas sobre uma grade
de metal, a qual permitiu a avaliao do limiar nociceptivo mecnico pela pata direita
de cada animal (figura 5B). Os limiares de retirada da pata foram avaliados por meio
do von Frey Filamentos, o qual realiza uma presso mecnica, por meio de
filamentos de diferentes espessuras (figura 5C), aplicado de forma perpendicular
com fora suficiente para curv-los na superfcie plantar da pata posterior direita de
cada animal. Foram realizadas 3 medidas do limiar nociceptivo em cada animal,
separadas por intervalos de 3 minutos e a mdia das 3 medidas foi descrita como o
limiar mecnico de retirada de pata em gramas (g).
A medida basal (MB) do limiar nociceptivo mecnico foi realizada antes da
injeo de carragenina. Medidas posteriores do limiar nociceptivo foram realizadas
no final da segunda semana e final da terceira semana de treinamento fsico.
50
A B
C
4.5.2 Teste de hiperalgesia trmica: Placa quente
Alm do teste descrito acima, realizamos outro teste que permite a avaliao
da sensibilidade trmica nociceptiva dos animais: o teste da placa quente. Este teste
mensura a latncia (em segundos) da resposta do estmulo trmico aplicado na
superfcie plantar da pata dos animais. Para a realizao de tal, cada camundongo
foi colocado individualmente sobre a placa (figura 6) em uma sala de temperatura
Figura 5- Teste de Von Frey filamento.
Nota: A e B aparato utilizado para colocar os animais durante o experimento. A: viso completa das caixas dispostas sobre a mesa; B: viso inferior da grade de metal e posicionamento dos camundongos; C: os filamentos utilizados e em destaque uma amostra do posicionamento desse filamento durante a aplicao do estmulo.
Fonte: Oliveira (2015)
51
controlada (231C). Os valores de latncia de retirada da pata foram calculados a
partir de uma mdia de 3 retiradas consecutivas da pata direita, medidas com um
intervalo de 10 minutos. O tempo-limite imposto para evitar danos ao tecido foi de 30
segundos.
4.6 TERMOGRAFIA
A termografia uma tcnica no-invasiva, sem contato, que detecta a rea de
superfcie aquecida com radiao IV (TURNER, 1991).
No presente estudo, os dados da termografia foram captados antes do incio
do tratamento (induo da dor muscular e treinamento fsico) e logo aps a ltima
semana (terceira) do treinamento fsico. As imagens foram captadas utilizando um
Termovisor FLIR Srie T420 (Flir System AB, Sucia) capaz de permitir anlises
precisas de temperaturas de superfcie com variaes entre -20C a 650C (Figura
7).
Fonte: Da autora.
Figura 6- Aparato utilizado para o teste da hiperalgesia trmica: placa quente.
52
Para tal, os animais sedados por inalao de isoflurano (2%) foram colocados
sobre a bancada e o termovisor foi posicionado a 30 cm da rea avaliada e incidindo
de modo perpendicular mesma, considerando emissividade de 0,98 para estudo
em roedores (TURNER, 1991) em uma sala com a temperatura controlada a 23C
por ar condicionado e com umidade relativa do ar em 55%. Antes do procedimento,
esperou- se durante 15 minutos para adaptao as condies da sala.
As imagens foram captadas e analisadas por software (FLIR Quick Report-
Verso 1.2) (figura 8).
Fonte: Da autora.
Fonte: Da autora.
Figura 7- Termovisor FLIR Srie T420 (Flir System AB, Sucia)
Figura 8- Posicionamento do animal sobre a bancada para o registro das imagens termogrficas dos membros inferiores.
53
4.7 PREPARAO DOS TECIDOS E DOSAGEM DE CITOCINAS PELO ENSAIO
DE ELISA
Para a investigao do efeito do treinamento fsico sobre os nveis de
citocinas pr-inflamatrias no modelo de dor muscular, foi realizado o ensaio de
ELISA.
Imediatamente aps ltimo dia do protocolo de treinamento fsico os msculos
gastrocnmios direitos de cada animal exercitado ou controle foram removidos e
colocados em microtubos contendo uma soluo com PBS 0,1 M (pH=7.4). Logo em
seguida, os msculos foram homogeneizados e o homogenato foi centrifugado a
3,000 x g por 10 minutos em uma temperatura de 4 C e cada sobrenadante foi
adicionado em criotubos, os quais foram armazenados em um biofreezer em
temperatura a -80 C at o momento da anlise.
4.7.1. ELISA- Enzyme linked immuno sorbent assay
ELISA um imunoensaio que utiliza um ou mais anticorpos especficos para
um determinado antgeno para a quantificao da molcula de interesse.
Para a anlise dos nveis de interleucina 1-beta (IL-1) e do fator de necrose
tumoral (TNF-) no msculo gastrocnmio direito, foi utilizado kits de ELISA
(enzyme linked immuno sorbent assay) especficos para IL-1 e TNF- de
camundongo (PeproTech). Todos os procedimentos foram realizados de acordo
com as instrues do fabricante.
Logo em seguida, microplacas com 96 orifcios foram sensibilizadas com
anticorpos monoclonais de captura e posteriormente tiveram os stios inespecficos
bloqueados com soluo de albumina bovina. Aps lavagem, as amostras ou
padres foram incubados para possibilitar a quantificao. Seguiu-se a adio de
anticorpo de deteco, incubao com soluo de avidina-peroxidase e posterior
adicionamento da soluo cromognica para leituras das reaes colorimtricas que
foram realizadas a 405nm em leitor de microplacas (Synergy H1, BioTek). Clculos
54
foram realizados a partir da curva padro para determinao das concentraes das
amostras.
4.8 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL
Na fase inicial, utilizou-se quatro grupos (Sal+Ex, Cg+Ex, Sal+Sed, Cg+Sed).
Antes da injeo intramuscular (i.m.) de carragenina, os animais foram submetidos a
uma medida basal do limiar nociceptivo de retirada da pata, atravs do filamento de
Von Frey e da placa quente. Na continuidade desse experimento, o limiar
nociceptivo de retirada da pata foi mensurado do final da primeira, da segunda e da
terceira semana de treinamento fsico, conforme demonstrado na figura 8.
Para investigar a participao do receptor para canabinides (CB2) no
controle da dor muscular, o AM630, antagonista do receptor CB2, foi injetado i.t.
antes da ltima medida do limiar nociceptivo (figura 9).
Semanas
Carragenina
Exerccio (24h aps Cg)
Teste nociceptivo
AM630
Para averiguar a participao dos endocanabinides no controle da dor
muscular, O MAFP, inibidor da FAAH, enzima responsvel pela degradao da
anandamida, foi pr-administrado i.t. antes da ltima medida do limiar nociceptivo,
ou seja, depois da terceira semana de treinamento fsico (figura 10).
3 2
1
Figura 9: Mensurao do limiar nociceptivo de retirada da pata aps exerccio fsico. Os animais receberam carragenina ou veculo antes do nicio do protocolo de treinamento fsico e AM630 ou veculo aps o treinamento.
Nota: Cg: carragenina. Fonte: Da autora.
55
Semanas
Carragenina
Exerccio (24h aps Cg)
Teste nociceptivo
MAFP
J, para demonstrar a participao das clulas da glia, a nvel espinal,
principalmente a micrglia, administramos a minociclina, uma droga inibidora seletiva
da micrglia, no final da terceira semana de exerccio (figura 11).
Semanas
Carragenina
Exerccio (24h aps Cg)
Teste nociceptivo
Minociclina
Para determinar os nveis de citocinas pr-inflamatrias, TNF- e IL-1 e sua
participao no modelo de dor muscular, foi realizado o ensaio de ELISA, logo aps
a ltima semana de exerccio fsico (figura 12).
1 3 2
Figura 10- Mensurao do limiar nociceptivo de retirada da pata aps exerccio fsico. Os animais receberam carragenina ou veculo antes do nicio do protocolo de treinamento fsico e MAFP ou veculo aps o treinamento.
Figura 11- Mensurao do limiar nociceptivo de retirada da pata aps exerccio fsico. Os animais receberam carragenina ou veculo antes do nicio do protocolo de treinamento fsico e minociclina ou veculo aps o treinamento.
Nota: Cg: carragenina. Fonte: Da autora.
Nota: Cg: carragenina. Fonte: Da autora.
1 3 2
56
Semanas
Carragenina
Exerccio (24h aps Cg)
Teste nociceptivo
ELISA
Entretando, sabe-se que a dor muscular gera inflamao e levando em conta
que a isso leva ao aumento da temperatura local, investigamos o efeito do exerccio
na influncia desse controle de temperatura. Sendo assim, utilizamos a tcnica da
termografia. As imagens foram captadas antes do incio do treinamento e logo aps
a ltima semana de treinamento (figura 13).
Semanas
Carragenina
Exerccio (24h aps Cg)
Teste nociceptivo
Termografia
2 1 3
Figura 12- Mensurao do limiar nociceptivo de retirada da pata aps exerccio fsico e efeito das citocinas sobre a dor muscular.
Nota: Os animais receberam carragenina ou veculo antes do nicio do protocolo de treinamento fsico. O ensaio de ELISA foi feito logo aps a ltima semana de exerccio. Cg: carragenina.
Fonte: Da autora.
1 3 2
Nota: Os animais receberam carragenina ou veculo antes do nicio do protocolo de treinamento fsico. A termografia foi realizada antes do incio do treinamento e logo aps a ltima semana de exerccio. Cg: carragenina.
Fonte: Da autora.
Figura 13- Mensurao do limiar nociceptivo de retirada da pata aps exerccio fsico e efeito do exerccio sobre o controle da temperatura no modelo de dor muscular.
57
4.9 ANLISE ESTATSTICA
Os resultados foram apresentados como a mdia + EPM. Para o tratamento
estatstico dos dados comportamentais, foi utilizada a anlise de varincia de duas
vias (ANOVA). J, o tratamento estatstico dos dados obtidos pelo ensaio de ELISA
e a termografia foram analisados anlise de varincia de uma via (ANOVA). Ambas
as anlises foram seguidas pelo ps teste de Bonferroni para comparaes mltiplas
e foram consideradas estatisticamente significativas os valores de P
58
5 RESULTADOS
Em seguir, sero apresentados os resultados.
5.1 EFEITO DO EXERCCIO FSICO SOBRE A DOR MUSCULAR INDUZIDA PELA
CARRAGENINA.
No grfico 1, observa-se que ao final da primeira semana aps a injeo i.m.
de carragenina, houve uma reduo significativa do limiar nociceptivo (p
59
J o grfico 2 tambm demonstra que no final da primeira semana aps a
injeo i.m. de carragenina, houve uma reduo significativa do limiar nociceptivo
trmico (p
60
5.2 INVESTIGAO DA PARTICIPAO DO RECEPTOR PARA CANABINIDE
DO TIPO 2 (CB2) NO CONTROLE DA DOR MUSCULAR PELO EXERCCIO
FSICO
Uma vez demonstrado que o modelo de treinamento fsico proposto pelo
estudo promoveu antinocicepo, o prximo passo do estudo foi investigar o
envolvimento nesse efeito de receptores para canabinides CB2, a nvel espinal.
Assim, verifica-se que o efeito antinociceptivo encontrado aps a terceira semana de
treinamento fsico foi revertido significativamente (p
61
Nota: Os dados representam a mdia + E.P.M. da medida do limiar nociceptivo (s), *** indica
significncia estatstica (p
62
animais com dor muscular foi potencializado (p
63
Nota: Os dados representam a mdia + E.P.M. da medida do limiar nociceptivo (g), *** indica
significncia estatstica (p
64
J, tanto os animais exercitados que receberam salina quanto os animais
sedentrios, no tiveram alteraes nos limiares de retirada da pata em ambos os
testes.
Nota: Os dados representam a mdia + E.P.M. da medida do limiar nociceptivo (g), *** indica significncia estatstica (p
65
Nota: Os dados representam a mdia + E.P.M. da medida do limiar nociceptivo (g), *** indica significncia estatstica (p
66
Nota: Os dados representam