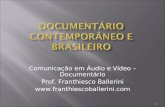UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA FACULDADE DE ... · RESUMO Este trabalho apresenta o...
Transcript of UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA FACULDADE DE ... · RESUMO Este trabalho apresenta o...
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO
Laura Maria Caputo Ferreira
NO FLUXO:
um recorte sobre os estilos musicais, o calango e o funk
Juiz de Fora
Março de 2016
Laura Maria Caputo Ferreira
NO FLUXO:
um recorte sobre os estilos musicais, o calango e o funk
Memorial Descritivo apresentada ao curso de
Comunicação Social, Jornalismo, da Faculdade
de Comunicação da Universidade Federal de
Juiz de Fora, como requisito parcial para
obtenção do grau de bacharel.
Orientador(a): Profa. Dra. Erika Savernini
Lopes
Juiz de Fora
Março 2016
4
AGRADECIMENTOS
Escolher uma profissão não é uma tarefa fácil, é o
que vamos fazer para a vida toda. Mas ao concluir a
Faculdade de Comunicação sinto que será diferente,
a cada dia surgem novos questionamentos e ideias
para ganhar forma e vida. Desse modo, nunca será
igual ou cansativo, sempre prazeroso.
Por todo o incentivo e amor incondicional agradeço
à minha família. Meus pais, em especial, pela
dedicação e esforços empenhados para que eu e
meus irmãos tivéssemos acesso à uma boa educação.
Aos amigos queridos agradeço pela força e
companheirismo. Com vocês as dificuldades
parecem menores.
À minha orientadora agradeço pelo tempo dedicado
ao meu trabalho e ao conhecimento transmitido.
Obrigada.
RESUMO
Este trabalho apresenta o relatório do documentário No Fluxo, produzido em 2015 através do
incentivo Canal Futura. De modo geral, o documentário resgata uma importante parte da nossa
cultura imaterial, através da pequena população do Distrito de São José das Três Ilhas - MG.
Um resgate que se dá através de um corte epistemológico feito pela cultura e pelo gosto musical
dos personagens, estabelecendo uma transição sutil entre a tradição e o contemporâneo, entre o
calango e o funk e o hip hop. O trabalho aborda questões teóricas que fundamentaram a
construção do filme com base em pesquisadores como Bill Nichols e Fernão Ramos. Discute-
se a forma de produção e a abordagem estilística do tema, bem como o papel informativo do
documentário. Além disso, apresenta uma espécie de diário de produção descrevendo cada parte
do processo audiovisual, pois, acima do produto fílmico alcançado, trata-se de um processo de
aprendizagem
Palavras-chave: Documentário. Interferência Cultural. Calango. Funk.
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1 – Yverson usando boné aba reta da Nike .................................................................. 27
Figura 2 – Gravação da sobreposição de sons ......................................................................... 35
Figura 3 – Checagem de equipamento .................................................................................... 36
Figura 4 – Filmagem interior da igreja ................................................................................... 36
Figura 5 – Entrevista com adolescente que foi descartada ..................................................... 38
Figura 6 – Cena da dança dos adolescentes que precisou ser cortada por questões de
continuidade ........................................................................................................................... 38
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 9
2 DOCUMENTÁRIO COMO OBJETO DE ESTUDO ..................................................... 11
2.1 DEFINIÇÕES DE DOCUMENTÁRIO ............................................................................ 11
2.2 SUBGENEROS DO DOCUMENTÁRIO ......................................................................... 12
2.3 A ESSENCIA DO DOCUMENTÁRIO ............................................................................ 15
3 PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO ............................................................................. 17
3.1 ROTEIRO DE DOCUMENTÁRIO .................................................................................. 17
3.2 SOBRE FILMAGEM ........................................................................................................ 18
3.3 SOBRE MONTAGEM ...................................................................................................... 20
4 INTERFERENCIA CULTURAL E A GLOBALIZAÇÃO ........................................... 22
4.1 O FUNK X O CALANGO ................................................................................................ 25
4.2 SÃO JOSÉ DAS TRÊS ILHAS ....................................................................................... 28
5 DIÁRIO DE PRODUÇÃO ................................................................................................. 31
5.1 O DOCUMENTÁRIO COMO PROJETO ........................................................................31
5.2 NARRATIVA .................................................................................................................... 32
5.3 FILMAGEM ...................................................................................................................... 33
5.4 MONTAGEM .................................................................................................................... 37
6 CONCLUSÃO ..................................................................................................................... 39
REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 40
APÊNDICES – ROTEIRO NO FLUXO ............................................................................. 42
9
1 INTRODUÇÃO
Na era da globalização, preservar uma identidade cultural forte e inabalável é uma
tarefa de caráter intangível, pois as informações circulam em redes. De algum modo, estamos
todos conectados. O documentário No Fluxo traz este debate através de registros imagéticos e
da memória narrativa de seus personagens. Uma possível ruptura dos costumes e tradições do
Distrito de São José das Três Ilhas – MG cria um conflito entre as diferentes gerações de
moradores.
Em um movimento de resgate e quase resistência, o calango (gênero musical
característico da região) sobrevive nas vozes de uma única família. Enquanto o funk, o hip-hop,
o pagode e outros gêneros se apropriam de um terreno ao qual originalmente não pertencem.
Nesse contexto, o documentário tem o objetivo de contextualizar o recorte uma identidade em
processo de construção e aproximar os espectadores do ambiente onde se passa os
acontecimentos.
A mise-en-scène de No Fluxo propõe uma familiaridade e proximidade entre
câmera/diretora/personagens. Essa dinâmica ressignificou a estética do documentário, "é uma
concepção de mise-en-scène como cálculo, como 'mise-en-place', como construção de ritmo
pela montagem, como marcação de elementos significantes pelo enquadramento" (AUMONT,
1992/93, apud RAMOS, 2012, p.6 )1
O trabalho de pesquisa e a estética propostos aproxima o filme dos subgêneros
classificados por Bill Nichols como, participativo com inserções no poético. O documentário
também se apresenta como um exemplo questionar um desentendimento construído
historicamente: a total fidelidade das imagens com a realidade. Em No Fluxo, por vezes, os
sons ambientes são sobrepostos e impõem a edição um ritmo fantasioso, no entanto, em nada
interfere no compromisso ético com o público e os personagens. Mesmo que, como em toda e
qualquer produção fílmica, o diretor tenha domínio sobre aquilo que é filmado, esta espécie de
controle não é exercida em mesmo nível de uma produção de ficção. Considera-se, no
documentário, a pesquisa de campo e interação com os sujeitos, partes do trabalho de pré-
produção e não um controle rígido sobre personagens, figurinos e cenários como ocorrem em
produções ficcionais.
1 AUMONT, Jacques. ‘Renoir le Patron, Rivette le Passeur'. In: Le Théâtre dans le Cinema- Conferences Du
Collége d’Histoire de l’Art Cinématographique nº3.. Inverno 1992/93.
Paris. Cinemathèque Française/Musée du Cinema.
10
Historicidade, discursividade e a experiência da audiência são integradas à análise
fílmica compondo um repertório de perguntas, mais do que de respostas – de ordem
tanto ética, quanto estética – que circundam o domínio do documentário. Um outro
olhar se constrói exatamente pela convicção de que não existe uma essência da
imagem fotográfica que a conduza à aderência da realidade (e a qualquer sorte de
realismo enquanto imperativo narrativo, menos ainda a uma naturalidade
documental). De outro lado, tampouco o cinema é apenas um sistema de signos, mas
é um discurso atrelado a amarras históricas e sociais. (BALTAR; 2004 )
Além disso, o presente trabalho também tem a finalidade de pontuar o fazer
documentário na esfera prática. Destacando as principais etapas de produção e as dificuldades
comuns de gravações de baixo orçamento. Por fim, a necessidade de montar e dar significado
a um filme que seja instrumento artístico e de informação, pois, de acordo com, Nichols (2007)
“do documentário, não tiramos apenas prazer, mas uma direção também”. No Fluxo tem,
portanto, o objetivo de ser uma reportagem documental que apresenta uma abordagem estética
e ao mesmo tempo um recorte de uma história e tradição, de modo que isto fique claro aos
espectadores.
11
2 DOCUMENTÁRIO COMO OBJETO DE ESTUDO
Como espectadores, esperamos dos documentários asserções sobre o mundo, sejam elas
verdadeiras ou não. Segundo Ramos (2013), atrelar o documentário ao conceito de verdade é
limitar o gênero, o trabalho de definição do documentário é conceitual, com base em
ferramentas analíticas e uma realidade histórica. Sobre a definição, “muito simples: pergunte a
você mesmo. Em 99% dos casos você já está informado da indexação do filme a que assiste
como espectador”, afirma Ramos (2013, p.26). Ou seja, em grande parte, o documentário se
denuncia através de seus métodos e características peculiares.
2.1 DEFINIÇÕES DE DOCUMENTÁRIO
O documentarista João Moreira Salles, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo
(2007), afirmou que não há como fugir ao fato de que quem filma é sempre maior do que quem
é filmado, “Porque sou eu que enquadro, sou eu que escolho o que perguntar, sou eu que escolho
o que editar”. Nesta perspectiva, diante de uma diversidade estilística de abordagens possíveis,
Ramos (2001) questiona a criação de parâmetros rígidos e delimitados sobre a classificação do
gênero. Segundo o autor, no Brasil, se estabeleceu de forma uniforme uma negação às
especificidades do campo não ficcional, na atualidade existe uma ênfase na sobreposição de
fronteiras e com isso, uma dificuldade em estabelecer essas delimitações dentro do campo
documental.
Esta definição menos “ingênua” trata o gênero com subjetividade e amplia o seu
conceito para “uma narrativa com imagens-câmera que estabelece asserções sobre o mundo, na
medida em que haja um espectador que receba essa narrativa como asserção sobre o mundo”
(Ramos, 2013, p. 25).
Apesar das tentativas de classificar ou o contrário, simplesmente não estabelecer
parâmetros para definir uma produção documental, existem formas de representação que
identificam o fazer documentário, os elementos materiais do filme que se organizam através de
uma inter-relação de estéticas e intenções. Algumas dessas ramificações ou subgêneros do
documentário representam um campo tradicional e correspondem as expectativas
historicamente construídas pelo público.
12
Comumente atribuímos ao documentário somente o papel “registrador”. No
entanto, o cinema assumiu uma função importante no que diz respeito à produção
historiográfica, seja ficcional ou não ficcional. Por essa razão, Bill Nichols (2007) classificou
duas categorias gerais de filmes: o “documentário de representação social” e o “documentário
de satisfação de desejos”. Nichols entende que o valor de documentar está no simples fato de
um filme existir, ou seja, possuir conteúdo imagético e estatuto enunciativo.
Os documentários de satisfação de desejos são os que normalmente chamamos de
ficção. Esses filmes expressam de forma tangível nossos desejos e sonhos, nossos
pesadelos e terrores. [...] Os documentários de representação social são os que
normalmente chamamos de não ficção. Esses filmes representam de forma tangível
aspectos de um mundo que já ocupamos e compartilhamos. (NICHOLS, 2007, p. 26)
De acordo com Baltar (2004), o lugar do documentário é de natureza variável e história
e deve-se dispersar o ato de defini-lo. Ele deve ser analisado a partir de uma premissa histórica
e não "essencialista", ou seja, pensar sob uma perspectiva história e social as características que
possui na atualidade.
2.2 SUBGÊNEROS DO DOCUMENTÁRIO
A crença e credibilidade assumida pelo documentário se manifesta através de três
maneiras principais, segundo Bill Nichols (2007, p.28): a identificação (“oferecem-nos um
retrato ou representação reconhecível do mundo”); a representatividade (“eles falam em favor
dos interesses dos outros”) e o convencimento (“os documentários podem representar o mundo
da mesma forma que um advogado representa os interesses de um cliente”).
Nichols estabelece, de acordo com linha evolutiva histórica e tecnológica, seis
modos ou tipos de subgêneros do documentário: o expositivo, o observativo, o participativo, o
reflexivo, o performático e o poético. O autor classifica os modos a partir de seu discurso
fílmico, ou seja, de acordo com o tratamento estético escolhido. Entre as abordagens de um
filme, o documentarista pode escolher enfatizar, por exemplo, o personagem em detrimento do
tempo e espaço ou valorizar uma argumentação clássica em contraponto de uma montagem
performática. A expressão de cada uma das formas expostas não se manifesta necessariamente
só, mas existe uma relação de predominância entre os conteúdos narrativos. Cada subgênero
atesta a individualidade de seu autor, como uma assinatura.
13
O modo poético é um estilo construído a partir de fragmentos, com base em ideais
modernistas, sacrificando o modo de montagem em continuidade ou linear. Este tipo de
produção enfatiza as sensações em detrimento das representações palpáveis. Por esta razão, não
há o compromisso ou preocupação em destacar os atores sociais, tempo e espaço em que o filme
se passa. Neste modo é passível de encontrar elementos que geram ambiguidade e uma estética
rebuscada. “Esse modo enfatiza mais o estado de ânimo, o tom e o afeto do que as
demonstrações de conhecimento ou ações persuasivas”, argumenta Nichols (2007, p, 138).
Já o modo expositivo privilegia uma organização retórica e argumentativa, é um
modelo fechado que assume a possibilidade de o documentário ser uma representação do real.
Este subgênero é facilmente identificado pelo público pois usa a mesma lógica de montagem
das reportagens jornalísticas, narrações em voz-over e imagens que referendam os diálogos
apresentados. O modo expositivo contraria, também, a fórmula do cinema, pela qual as imagens
transmitem emoções e conteúdo enunciativo, pois ele é pautado na fala e usa as imagens como
suporte, e não o contrário.
A principal premissa do modo observativo é a menor interferência do diretor
naquilo que é filmado. O diretor é um observador capaz de captar “a vida de improviso” (termo
criado pelo crítico francês George Sadoul no início dos anos 1960 para classificar Vertov como
pai do cinema verdade). Da mesma forma que o modo expositivo, ele usa elementos tradicionais
para se valer de maior veracidade. Neste caso, o filme funciona como um registro etnográfico
de determinada relação, situação ou espaço. Esse distanciamento do objeto filmado foi possível
através do desenvolvimento tecnológico que permitiu câmeras mais leves, de 16mm, como
Arriflex e Auricon, e gravadores de áudio portáteis como o Nagra. Dessa forma, diretor e equipe
passaram a se deslocar de forma discreta ou despercebida. O não uso da figura do locutor ou os
recursos de legenda deram ao público autonomia para interpretar o documentário por conta
própria.
Os filmes observativos mostram uma força especial ao dar uma ideia de duração real
dos acontecimentos. Eles rompem com o ritmo dramático dos filmes de ficção
convencionais e com a montagem, às vezes apressada, das imagens que sustentam os
documentários expositivos ou poéticos. (NICHOLS, 2007, p. 149)
O modo participativo acrescenta ao modo observativo a interferência do diretor
no que é filmado e na relação com seus personagens. As práticas das ciências sociais se mostram
eficientes para o trabalho de pesquisa e produção de um filme participativo. Da união entre
14
cinema e antropologia espera-se um filme com novas formas de diálogo, transcrição e
interpretação da realidade filmada, pois o documentarista também se transforma em um ator
social. No entanto, Nichols (2007, p 159) destaca que “nem todos os documentários
participativos enfatizam a experiência ativa e aberta do cineasta ou a interação de cineasta e
participantes do filme”. O cineasta tem a preocupação em apresentar uma perspectiva ampla
frequentemente histórica em sua natureza, dando ao espectador impressão maior de veracidade
dos fatos.
No modo reflexivo, a diferença, em relação com o modo participativo, consiste na
forma de produção. Neles Nichols afirma que os processos de negociação entre cineasta e
espectador que se tornam o foco de atenção, deixando para segundo plano o relacionamento
com os atores sociais. O questionamento e as reflexões do próprio fazer documentário ganham
destaque, entende-se o documentário como uma representação.
Esse é um estilo que parece proporcionar um acesso descomplicado ao mundo; toma
a forma de realismo físico, psicológico e emocional por meio de técnicas de montagem
de evidência ou em continuidade, desenvolvimento de personagem e estrutura
narrativa. (NICHOLS, 2007, p. 164)
O documentário performático demonstra como o conhecimento material leva à
uma compreensão dos processos mais gerais em funcionamento na sociedade. Este tipo de
documentário dirige ao público de maneira emocional ao invés de mostrar o mundo de forma
objetiva, enfatiza o aspecto expressivo do próprio engajamento do cineasta com o objeto fílmico
e a receptividade do público, estimulando o afeto e valorizado a proximidade com o espectador.
Levando em consideração a possibilidade de definição do campo documentário,
pois o consenso contemporâneo mais comum é de que não existe um domínio próprio, mas uma
inter-relação com elementos estéticos, os autores Ramos (2001) e Nichols (2007), convergem
opiniões quando se refere à “indexação” do gênero.
Por indexação, entenda-se um conceito que aponta para a dimensão pragmática,
receptiva, do documentário. A idéia é que, ao vermos um documentário, em geral
temos um saber social prévio, sobre se estamos expostos a uma narrativa documental
ou ficcional. (RAMOS, 2001, p.6)
A imagem documental possui um forte impacto no público receptor pois trata-
se de uma imagem que está dentro do universo do real. Por ser encarada de tal forma pelo
15
espectador, as imagens não ficcionais, de um modo geral, possuem uma potencialidade singular
quando apresentadas através da tradição da narrativa documentária.
O vídeo e o filme documentário estimulam a epistefilia (o desejo de saber) no público.
Transmitem uma lógica informativa, uma retórica persuasiva, uma poética
comovente, que prometem informação e conhecimento, descobertas e consciência. O
documentário propõe a seu público que a satisfação desse desejo de saber seja uma
ocupação comum. Aquele que sabe (o agente tem sido tradicionalmente masculino)
compartilhará conhecimento com aqueles que desejam saber. Nós também podemos
ocupar a posição daquele que sabe. Eles falam sobre eles para nós, e nós obtemos
prazer, satisfação e conhecimento como resultado (NICHOLS, 2007, p.70)
Com isso, quando pensamos na finalidade de um filme ficcional e um não ficcional,
conclui-se que o documentário tem mais responsabilidade com seu público do que qualquer
outro fílmico, pois, além de uma produção artística, espera-se do documentário a informação.
2.3 A ESSÊNCIA DO DOCUMENTÁRIO
A essência de um documentário trata de um significado maior dado através das imagens
e organização de sentido. “Quando, portanto, falo em estrutura do filme, a especificação de
imagem e som organizados de um certo modo não é acidental” (XAVIER, 1983, p.20). Como
finalidade primeira um filme tem o objetivo de atrair, concentrar atenção. As imagens
mecânicas associadas à sensibilidade nas montagens é que transmitem o significado do filme.
Este significado vem de dentro, identificações, para o exterior, projeções.
Elas devem ter significado, receber subsídios da imaginação, despertar vestígios de
experiências anteriores, mobilizar sentimentos, aliar-se mentalmente à continuidade
da trama e conduzir permanentemente a atenção para um elemento importante e
essencial – a ação. (in MUNSTERBERG; XAVIER (org.), 1983, p.26)
De acordo com Ramos (2013) a imagem no documentário possui um potencial singular;
uma tomada em estado puro representa, acima da imagem propriamente dita, a emoção
transmitida. A articulação dos planos é o momento que determina a fruição do filme; a
montagem pode traduzir sentidos e garantir a interação espectador/filme. A esta etapa, na qual
“a mão oculta [...] articula esses planos, alguns chamam montagem” (RAMOS, 2013, p.86).
16
O papel do documentário não se limita a documentar, seu objetivo é além de mostrar,
ele deve persuadir, encantar, questionar e desafiar o público. Foi na década de 1940 que Paul
Henley criou o termo documentário para diferenciar o gênero de uma simples documentação.
Na década de 1960 o documentário clássico sofreu uma reviravolta com o
surgimento do Cinema Verdade. O processo de montagem dos filmes passou a não obedecer às
estruturas rígidas, as imagens e personagens foram inseridos como elementos estéticos.
Inicialmente, da proposta de não intervenção e descrever, em sua máxima, a vida como ela é, o
Cinema Verdade inaugura, segundo Ramos (2002), a noção da reflexibilidade.
17
3 PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO
Segundo Aumont e Marie (2006), é dado o nome de documentário a uma montagem
cinematográfica com imagens que tem como referência o mundo real. Pensando por esta lógica,
o desafio de um filme não ficcional é concorrer, durante as diferentes etapas de produção, com
os imprevistos, aquilo que não cabe no roteiro pois o controle não pertence ao diretor. Essa
relação acontece de forma diferente quando falamos de tempo fílmico, enquanto nas gravações
documentais o diretor não consegue ter total domínio sobre aquilo que é filmado, as opções
estéticas e as escolhas de enquadramento, por exemplo, fazem parte de um universo paralelo ao
real. Segundo Xavier (2011), o tempo fílmico é diferente do compreendido pelo real, ele está
condicionado à velocidade da percepção e à representação fílmica da ação. Este segundo
momento, o controle do diretor se faz presente.
Para as questões que podem e devem ser planejadas, um documentário também conta
com roteiro, tratamento e estrutura discursiva.
3.1 ROTEIRO DE DOCUMENTÁRIO
Falar em roteiro remete em primeira instância a um filme ficcional, no entanto, o ele
também é uma ferramenta de extrema importância para organizar e orientar as gravações de um
documentário, tendo o objetivo de otimizar três recursos importantes de uma filmagem: tempo,
dinheiro e pessoas.
Segundo Puccini (2013), embora o roteiro seja a principal forma de organização de um
produto audiovisual, ele possui heranças da dramaturgia teatral, no qual possui sua origem. No
entanto, diferentemente do teatro, o roteiro de cinema não encontra dificuldades em transitar
entre o tempo e o espaço no decorrer da ação.
O discurso do filme documentário tem por característica sustentar-se por ocorrências
do real. Trata efetivamente daquilo que aconteceu, antes ou durante as filmagens, e
não daquilo que poderia ter acontecido, como no caso do discurso narrativo ficcional.
Essa ancoragem no real vai encontrar seus procedimentos essenciais sempre na busca
de sua legitimação. Entre depoimentos, entrevistas, tomadas in loco, imagens de
arquivo, imagens gráficas etc., o filme reunirá e organizará uma série de materiais
para formar uma asserção sobre determinado fato, que é externo ao universo do
realizador. (PUCCINI, 2013, p.24)
Em outras palavras, o roteiro de um filme documentário não é guiado pela sequência de
cenas dramáticas, mas contém descrições e sugestões de abordagens, entrevistas, sequência de
imagens de cobertura, entre outras variáveis. O trabalho do roteirista é criar uma estrutura básica
18
com orientações na hora das gravações, uma espécie de roteiro decupado no modelo de pré-
produção.
Conhecida como Documentário Direto, a prática de produção de documentário sem
roteiro surgiu no final dos anos 1950 (nos EUA e na Europa). Sobre essa abordagem, Puccini
(2009) comenta a metodologia prática de alguns diretores, como o americano Robert Flaherty
ao diretor de Nanook (1922), que leva a eliminação do roteiro na produção documental.
Muito embora a prática instaurada pelo Documentário Direto não tenha se tornado
dominante ao longo dos anos - longe disso, o modelo clássico, devidamente renovado
pelas evoluções técnicas do meio, ainda é majoritário no grosso da produção de
documentário feita para o cinema e a TV - o estilo é facilmente associado à ampla
difusão do mito de que o filme documentário exige apenas o gesto de ligar a câmera
e alguma sensibilidade do cineasta para com aquilo que já existe, pleno de sentido, ao
seu redor. ( PUCCINI, 2009, 176)
Além disso, Ramos (2013) aponta que no final dos anos de 1990 e início deste século,
o documentário ganhou mais espaço e reflexões de que ele sobressai aos limites da narrativa
clássica. O roteiro de um documentário pode se trabalhar com elementos ou dispositivos, ou
seja, pode utilizar imagens de arquivos, fotografias, entrevistas, encenação, qualquer elemento
que pode ser articulado e transformado em uma narrativa.
Percebemos que desde o Cinema Verdade dos anos de 1960 até os anos de 1990, o
documentário manteve seu formato tradicional, baseado no depoimento, em imagens-câmera e
a ideia de imprimir a realidade. Já no século XXI, o documentário passa por uma guinada,
ganhando forma ao explorar novas estratégias de dramaturgia ou o uso de dispositivos para
narrar uma história. Até o momento, para Puccini (2013), no documentário muitas vezes existe
uma impossibilidade de escrever um roteiro fechado e detalhado cena a cena em virtude do
assunto ou forma de tratamento escolhida em sua abordagem, pois os documentários não
possuem diretrizes e leis próprias, particulares a cada produção.
3.2 SOBRE FILMAGEM
Longe da máxima travada por Glauber Rocha, uma câmera na mão e uma ideia na
cabeça, as gravações de um documentário, mesmo roteirizado, assumem proporções ora
maiores ora aquém das expectativas. A ferramenta de pesquisa aproxima o cinema documental
da antropologia; filmar, neste caso, equivale a registrar hábitos, costumes, gestos e expressões
de diferentes povos e culturas.
19
A etnografia e a observação participante foram tradicionalmente usadas na
antropologia como método de descrever e observar sociedades pesquisadas,
inicialmente espacial e culturalmente distintas do pesquisador, mas que, a partir dos
anos de 1950, incorporaram temas e grupos sociais também partem de seu universo
familiar. Esta perspectiva de trabalho do antropólogo diz que, desde os primeiros
tempos, fossem incorporados ao seu arsenal de trabalho e observação os equipamentos
de fotografia e cinema, em busca do registro do “real”. (MONTE-MOR, 2004, p.98)
Durante o procedimento das gravações, o documentário trabalha com asserções
cotidianas, criar uma perspectiva das intenções do sujeito que enuncia. Pedir aos personagens
que refaçam ações que já produzem de forma espontânea, observado pela equipe anteriormente,
é uma maneira de ilustrar um recorte de uma realidade.
Para Puccini (2013), além do trabalho de observação incumbido a toda a equipe de um
documentário, em especial ao diretor, o olhar do diretor é ainda mais fundamental no
direcionamento das entrevistas, peça chave de um documentário. “Dependendo da situação de
filmagem e do assunto, essa orientação pode propiciar um tom mais intimista à entrevista”
(PUCCINI, 2013, p.69). Escolhas que podem parecer despretensiosas ou aparentemente menos
importantes, como por exemplo, o local da entrevista, o tipo de roupa que o entrevistado usa, o
posicionamento da câmera e a condição climática, podem representar uma leitura decisiva para
o documentário. Essas características e escolhas no momento da filmagem criam uma carga de
informação visual que auxilia na estética final do filme e também, no estilo formado pelo
diretor.
No ato de filmar um documentário nem sempre o roteiro consegue abranger o cenário
real. Por isso lidar com situações de imprevistos é comum na produção do cinema documental.
Para exemplificar esta característica Puccini faz uso das palavras de Adrian Cooper:
A respeito do documentário, podemos destacar a necessidade de ser ágil e rápido. A
vida não espera a arte. Uma cena mal iluminada que tem força dramática é sempre
preferível a uma cena lindamente iluminada, mas que perdeu o momento dramático e
que só registra sobras do momento significativo. O fotógrafo do documentário está
sempre fazendo concessões técnicas em função de questões dramáticas. Claro, tudo
depende da proposta do filme. (apud Puccini, 2009, p. 79)
Conclui-se que nas produções documentais não se pode, como acontece de forma mais
natural na ficção, controlar uma imagem. São muitas variáveis, que nem mesmo a observação
atenta é capaz de prever. O trabalho de pesquisa de um documentário acontece antes, durante e
ainda, depois. No entanto, mesmo estando atento das diferentes possibilidades, o filme reage
aos acontecimentos do mundo real.
20
3.3 SOBRE MONTAGEM
A montagem como extensão do roteiro, é desta forma que Puccini (2013) destaca a
importância do processo de filmagem como algo contínuo. De forma simplificada, o início do
caminho começa com a pesquisa e pré-produção, passa pelo roteiro na busca de significado,
continua nesta tentativa durante as filmagens e encerra o primeiro ciclo de sentido na
montagem. O segundo ciclo do sentido é dado pelo espectador.
Na articulação dos planos existe uma mão oculta que fascina na reflexão
desconstruída contemporânea e que pode também produzir enunciados ou sentido,
interagindo ativamente com o modo do sujeito-da-câmera ser na tomada, pelo
espectador, determinando a fruição. A mão oculta que articula os planos alguns
chamam de montagem. [...] A continuidade espaço-temporal que vem no
documentário obedece, portanto, a procedimentos de montagem que têm a sua âncora
na unidade plano fundada pela tomada. (RAMOS, 2013, p.86)
Um elemento importante para uma narrativa é saber organizar a progressão temporal,
isso é, estabelecer os conflitos, as ordens de entrada e a formulação de sentindo para um filme.
Este ato de ‘costurar’ as imagens significa estruturar e organizar as ações no tempo narrativo.
Sobre essa sincronização de sentido Eisenstein afirma que
O fragmento A, derivado dos elementos do tema em desenvolvimento, e o fragmento
B, derivado da mesma fonte, ao serem justapostos fazem surgir a imagem na qual o
conteúdo do tema é personalizado de forma mais clara.
Ou:
A representação A e a representação B devem ser selecionadas entre muitos possíveis
aspectos do tema em desenvolvimento, devem ser procuradas de modo que sua
justaposição – isto é, a justaposição destes precisos elementos e não elementos
alternativos – suscite na percepção e nos sentidos do espectador a mais completa
imagem deste tema.(EISENSTEIN, 2002, p.51)
Para Ramos (2013), a montagem de documentário não se distingue muito da montagem
de filmes ficcionais; a articulação dos planos segue uma ordem de blocos unitários de
continuidade espaço-temporal. Eticamente o processo de montagem de um documentário é
posto em dúvida e muitas vezes visto de forma negativa. Isso acontece quando os mecanismos
das articulações não ficam evidentes para o espectador, causando uma falsa impressão do que
está sendo transmitido. Logo, é encarado de forma pejorativa quando o espectador não exerce
de forma consciente a reflexão sobre o papel de representação.
Ramos (2013) também cita uma explicação de Bill Nichols sobre a sutileza de
diferenciação entre a articulação fílmica de planos das narrativas ficcionais e das documentais.
Nichols acredita que: enquanto a ficção utiliza de recursos de cortes e continuidade para manter
21
uma linha de sentido, o filme documentário constrói sua continuidade a partir de suas ligações
reais, históricas. Como se o sentido de um filme documentário seguisse um rumo natural da sua
história, o que não aconteceria na ficção.
A montagem e a seleção de planos estão muito presentes em narrativas que trabalham
coladas ao transcorrer da circunstância da tomada, como é o caso do cinema direto.
No caso do documentário clássico, a montagem muitas vezes determina a ordem das
tomadas, a partir de roteiros fechados que acompanham de perto a disposição em
cenas da decupagem da ação, seguindo (ou formando) as asserções sobre o mundo.
(RAMOS, 2013, p.87)
O contemporâneo tende para o modelo de montagem instaurado por Dziga Vertov. Para
Ramos, o mundo de improviso de Vertov, no qual o conceito de montagem está nas coisas
propriamente ditas, obedecendo as regras da intensidade e indeterminação. Dessa forma,
estabelece uma relação mais intenção entre o conteúdo imagético e o público receptor.
22
4 INTERFERÊNCIAL CULTURAL E A GLOBALIZAÇÃO
A globalização é um processo histórico-cultural que teve início no final do século
XX em função do grande avanço tecnológico registrado no período. As inovações dos produtos
industriais permitiram elevar a comunicação ao nível global, favorecendo as trocas de
informações, pessoas e ideias.
Como consequência da globalização o mundo presenciou um “encurtamento” de
suas fronteiras e uma aproximação de tempo e espaço entre diferentes povos. Os meios de
comunicação de massa tiveram forte influência neste processo de integração cultural e, na
alteração das culturas locais.
A internacionalização foi uma abertura das fronteiras geográficas de cada sociedade
para incorporar bens materiais e simbólicos das outras. A globalização supõe uma
interação funcional de atividades econômicas e culturais dispersas, bens e serviços
gerados por um sistema com muitos centros, no qual é mais importante a velocidade
com que se percorre o mundo do que as posições geográficas a partir das quais se está
agindo (CANCLINI, 2006, p.32).
Em termos culturais, este encurtamento do mundo possibilitou uma interação entre
a cultura local tradicional e a cultura global, tendo influência na identidade cultural dos povos.
Outro agente que dita regras culturais, sociais e políticas é a economia. De certo modo, segundo
Canclini (2006), as manifestações culturais também são submetidas aos valores que dinamizam
o mercado e a moda. As práticas do consumo incessante se baseiam nas ideias de identificações,
nos imaginários de projeção e no divertimento. A cultura passa a ser vendida como um estilo
de vida, daquilo que se é ou pretende ser. Neste momento, percebe-se que as noções de
identidades culturais a partir da globalização são exemplificadas em escala menor quando
analisamos os personagens adolescentes presentes no documentário No Fluxo. Apesar de
morarem em um arraial rural e presenciarem, no cotidiano, em grande maioria, ações e
costumes próprios do ambiente em que vivem, estes jovens se apropriaram de uma estética
urbana. Como por exemplo, os jovens de centros urbanos têm acesso a vida movimentada das
cidades, festas, trabalho, trânsito, violência. Já na roça o clima é de tranquilidade, ar puro e
poucas festas. Os adolescentes entrevistados para o documentário incorporaram, através dos
sentimentos de identificação e projeção, os estilos e gostos dos jovens que vivem em ambientes
urbanos. As argumentações apresentadas pelos entrevistados é que assistiram na televisão e
gostaram do estilo ou viram seus ídolos usarem e resolveram imitar. Este comportamento
sempre lhes pareceu natural e não se apresenta como conflitante. O rádio, o celular e a internet
23
também foram apontados como outros meios que reforçaram as identidades construídas pelos
jovens. No entanto, apesar de frequentemente usarem bonés “aba reta”, cordões de prata, roupas
e acessórios da Nike, no caso dos meninos, e shorts e blusas curtas, no caso das meninas, um
estilo comum do funk da periferia, estes personagens não abandonaram características das suas
“origens”, mesmo por que ainda permanecem no local, o que impede que percam suas raízes.
Nas entrevistas, percebe-se uma hibridização dos estilos, o rural e o urbano, na tranquilidade
na fala, o “medo” de ir em um baile funk por causa de brigas, a vontade de continuar morando
no distrito de São José das Três Ilhas, entre outras questões, evidencia a interação entre os
costumes e os reflexos dentro de um grupo. Dentre os jovens entrevistados, destaca-se, com
características mais marcantes da junção desses hábitos e estilos o Samuel de Oliveira. Com 17
anos, ele sonha e ser cantor de funk e já compõe suas canções. Apesar disso, por influência dos
tios, Alcides Isaú e José Geral Oliveira, que são “calangueiros”, Samuel também canta o
calango desde pequeno, com 9 anos fazia apresentações pelo arraial junto com seus tios. Ele
reconhece a importância e valor histórico do calango, gosta do gênero, mas se identifica mais
com um estilo musical mais jovem, o funk. Na letra de funk apresentada por Samuel, percebe-
se grande influência do calango nos versos e a temática também faz referência ao local onde foi
criado.
De acordo com Canclini, “as ciências sociais e as humanas concebem as identidades
como historicamente construídas, imaginadas e reinventadas em processos constantes de
hibridização e transnacionalização, os quais diminuem seus antigos enlaces territoriais”
(CANCLINI, 2006, p.114). Entende-se desta afirmativa que as identidades não são avessas ao
tempo, mas são fruto de uma construção.
Nesse contexto, percebe-se que a globalização caminha na direção de uma
homogeneização de culturas, em níveis maiores ou menores dependendo do contexto analisado.
Este processo reconstrói significados e identidades culturais, com o objetivo de estimular uma
cultura de consumo. Para Morin, apesar do caráter cosmopolita assumido, a cultura global não
se sobressai completamente das tradições locais.
A cultura industrial se desenvolve no plano do mercado mundial. Daí sua formidável
tendência ao sincretismo-ecletismo e à homogeneização. Sem, todavia, superar
completamente as diferenciações, seu fluxo imaginário, lúdico, estético, atenta contra
as barreiras locais, étnicas, sociais, nacionais, de idade, sexo, educação; ela separa dos
folclores e das tradições temas que ela universaliza, ela inventa temas imediatamente
universais. (MORIN, 2011, p.34)
24
Essa cultura industrial se orienta pelos campos estéticos e na forma de espetáculo,
“é através dos espetáculos que seus conteúdos imaginários se manifestam. Em outras palavras,
é por meio do estético que se estabelece a relação de consumo imaginário” (MORIN, 2011,
p.59). Dessa forma, podemos entender que a cultura de massa fornece, ou vence, a nós mitos
de projeções, felicidades, popularidade, entre outros. Ela funciona não somente causando um
fluxo que movimenta sua existência do imaginário para o real, mas também o contrário, do real
para o imaginário. Neste contexto, novas manifestações culturais surgem como resultado de um
processo de transculturação, com outras palavras, surgem manifestações como resultado das
conexões em rede, da expansão da tecnologia e que ainda não possuem raízes históricas. O que
torna a identidade cultural cada vez mais complexa de definir como um processo fechado.
AMondiacult – Declaração do México para políticas públicas de 1982 – determina
que cultura é o conjunto dos traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e
afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e compreendendo que
cada povo tem a sua identidade e cultura; e, ainda, que a Declaração Universal da
UNESCO sobre a Diversidade cultural dispõe sobre a diversidade cultural como um
patrimônio da humanidade, se manifestando [...] na originalidade e pluralidade de
identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade,6
percebe-se que a diversidade cultural é uma realidade com a qual se deve lidar e
preservar para que haja um bom relacionamento entre povos. (apud, VOLPINI, 2010)
Volpini (2010) apresenta o conceito de Hall sobre a globalização como um fator
que atinge de forma desigual as diferentes partes do mundo, de forma que as regiões e povos
absorvem em níveis distintos das culturas difundidas pelos meios de comunicação de massa.
Colocando o documentário no Fluxo novamente em evidência, a influência da globalização
dentro do vilarejo de São José das Três Ilhas não se apresenta de forma intensa, no entanto, é
um aspecto que não se pode ignorar e que cresce gradativamente. O acesso à internet, por
exemplo, que é um dos agentes de integração mais fortes na atualidade, ainda é restrito e recente
dentro do distrito. Apenas em 2014 foi possível ter acesso à internet nas residências, a conexão
era baixa e via rádio. Em 2015, foi instalada uma antena de sinal telefônico em São José e, a
partir daí os moradores puderam usar os aparelhos celulares nas ruas e internet 3G. Antes disso
era preciso uma antena rural para captar o sinal de telefone do estado do Rio de Janeiro, que faz
divisa com o município. Sobre a instalação da antena de sinal telefônico: com cerca de 15
metros, a antena foi instalada na única em um terreno de vista para a rua tomada pelo patrimônio
histórico da cidade, o que provoca um estranhamento quando analisamos a questão estética,
pois se apresenta no mesmo ambiente que um conjunto de casas antigas e tombadas pelo
patrimônio histórico. A antena, uma conquista importante para a comunidade é ao mesmo
25
tempo uma utilidade pública como um objeto de contraste entre os casarões construídos no
período cafeeiro da região, prosperidade.
Segundo Volpini (2010), este fenômeno é um paradoxo pois os povos recebem a
cultura global cada um à sua maneira e incorporam-nas também de forma diferente. Como um
movimento oposto ao que foi apresentado até então, em No Fluxo, os personagens Alcides e
José Geraldo, que são tio e sobrinho, são responsáveis pela manutenção da tradição e
preservação do calango como uma cultura regional. Existe, portanto, uma tentativa de
fortalecimento da cultura local, percebida inclusive pelos adolescentes entrevistados que,
apesar de não se identificarem com o calango, reconhecem sua importância histórica para a
região. Apesar dos costumes do arraial terem se modificado com o passar dos anos, essas
mudanças não foram simbolicamente suficientes para “destruírem” as tradições locais, de
algum modo, seus moradores carregam, de forma consciente ou inconsciente um pouco dessa
cultura.
Volpini (2010) discorre sobre a preocupação dos povos em manter suas tradições
locais em detrimento dos avanços das influências globais. Existe, portanto, um processo e
consciência inversa, de uma promoção do local.
Para Cortina (2005), os povos de todo o mundo devem ter a consciência de que
nenhuma cultura tem soluções para todos os problemas vitais e de que pode aprender
com outras, tanto soluções das quais carece como a se compreender a si mesma. Esta
é uma tentativa de povos viverem conjuntamente e poderem ter uma efetiva
comunicação, através do entendimento e respeito da cultura do outro. (CORTINA,
2005, apud VOLPINI, 2010)
A harmonia cultural também é uma das propostas do documentário No Fluxo,
compreender que a globalização é um processo inevitável e que os recursos tecnológicos podem
também aproximar. O filme, por exemplo, tem a função de auxiliar na preservação de uma
cultura imaterial através do registro desses fatos.
4.1 O FUNK X O CALANGO
O Funk tem sua origem nos Estados Unidos, durante a década de 1960. O cantor
James Brown é apontado como o responsável pela criação deste novo estilo musical que reúne
aspectos de outros ritmos, como do Jazz, do soul music e do R&B (rhythm.&. blues). No funk,
o importante é a batida, como a música flui e cria um ritmo dançante. Em sua estrutura, as
músicas de funk normalmente giram em torno de apenas um acorde, provocando um ritmo de
batidas repetitivas sincopado e conta com uma seção de metais.
26
A origem do termo está fortemente associada ao sexo, o termo representa uma gíria
americana para falar sobre o cheiro dos negros, trata-se de um termo pejorativo. No entanto, na
década de 1960 que a gíria “funky”' perdeu seu significado pejorativo e passou a remeter seu
sentido a algo como orgulho negro.
O funk cresceu no Brasil no final dos anos 1970, quando passa a fazer parte da
programação festiva das periferias do Rio de Janeiro - RJ. Segundo apresentado na pesquisa de
Viana, esse deslocamento para o subúrbio aconteceu devido à popularização da MPB (Música
Popular Brasileira), que tomou conta dos palcos da cidade do Rio. Dessa forma, os “Bailes da
Pesada”, ou seja, os bailes funk, foram transferidos das casas de shows mais nobres para as
periferias da cidade, e a cada final de semana acontecia em um bairro diferente e começaram a
ganhar nomes, como por exemplo, Soul Grand Prix, festa Som 2000, Uma Mente Numa Boa,
Tropabagunça e Cash Box.
A partir deste momento, o gênero musical alavancou no país, ganhou visibilidade
na imprensa e fama no país. O funk, que era produzido de forma independente, sem intermédio
de gravadoras ou alcance televisivo, passou a ser visto como um produto vendável e lucrativo,
tanto a música como o “estilo do funk”. “Era um movimento da massa para a massa, produzido
na periferia para consumo direto e desintermediado da própria periferia” (VIANA, 2010).
No Brasil, foi na década de 1990 que o funk acentuou a ligação entre o gênero e a
temática erótica. Essa nova vertente ganhou força e ficou ainda mais popular nos anos 2000,
quando ficou conhecido como “proibidão”, “pancadão” ou “tamborzão”. Atualmente existem
muitas variações do funk, como o melody, proibidão, erótico, ostentação, entre outros. Destaca-
se entre os diferentes nichos do funk o estilo nomeado como “ostentação”, pois os temas das
letras reforçam uma cultura do consumo como forma de empoderamento. As letras referem-se
constantemente carros importados, objetos de alto valor, bebidas e o maior poder de bens
materiais.
Além de um estilo musical, o funk é “um estilo de vida”, o empoderamento é dado
pela caracterização, ou seja, você tem poder de acordo com o que veste ou possui. Em uma
cultura industrial, as ideias do funk são difundidas pelos meios de comunicação em massa a fim
de introduzir uma identidade homogenia do público atingido. Dessa forma, após compreender
as formas como o funk se apresenta, é possível notar algumas dessas características presentes
nos entrevistados para o documentário. No entanto, é interessante ressaltar que estes jovens só
se apropriaram de uma parte deste processo, o mais evidente é o estético.
27
Figura 1 – Yverson usando boné aba reta da Nike.
Fonte: Andrêssa Rezende (Arquivo Pessoal, 2015).
Como objeto de contraponto, o calango, gênero musical caraterístico de um
ambiente rural que traz elementos do forró, do brega e das rimas repentistas, é apresentado
como um movimento de resistência, um laço histórico de preservação de um costume local. Na
biologia, calango é uma espécie de lagarto do mato.
Durante a entrevista, Alcides Isaú, 77 anos, conta que a tradição de cantar calango
foi passada pelos seus pais. É uma família inteira, geração após geração, que preserva esta
cultura e, na atualidade, o membro mais jovem que dá continuidade a essa “herança” é Samuel
Oliveira, 17 anos, também entrevistado. No entanto, Samuel, além de cantar calango, quer ser
cantor de funk.
Alcides conta2 sobre os bailes que cantava na época que era criança, com cerca de
7 anos já acompanhava seu pai. O município de Belmiro Braga, ao qual o distrito de São José
das Três Ilhas pertence, foi na década de 1960 uma região próspera devido ao cultivo do café e
as atividades agropecuárias. Nesta ocasião, Alcides relata que os fazendeiros da região
contrataram, durante muitos anos, sua família e alguns outros músicos do vilarejo para tocarem
e cantarem calango nas festas oferecidas aos colonos, os trabalhadores. Esta informação atesta
o caráter popular do calango ligado as classes de menor poder aquisitivo. O estilo musical tinha
2 em trecho que não faz parte do produto final do documentário No Fluxo, mas faz compõe o processo de
pesquisa.
28
como finalidade, isto dentro do município, como divertimento e lazer de trabalhadores do
campo.
Existem diferentes “linhas” do calango, ou seja, o repentista pode fazer seus versos
em cima de temas variados, como por exemplo, os animais, as árvores, brigas e bebidas.
Evidenciando sua riqueza popular, essas linhas também podem ser inventadas a partir de um
neologismo, como por exemplo, as linhas do “grazinado”, “senterfor”, entre outras. As linhas
servem como orientação aos versos que normalmente terminam rimando com a linha no qual
está inserido.
O longa-mentragem, Calangos e Calangueiros uma Viagem Caipira pela Estrada
Real, de Flávio Cândido (2008), é um documentário etnográfico que percorre o vale do rio
Paraíba do Sul em busca de outros calangueiros. Alcides Isaú também é personagem deste
documentário e viaja pela estrada real conhecendo mais sobre a cultura e origem do calango.
Uma observação interessante é que, além uma tradição artística e poética do Brasil Rural, o
calango é para seus intérpretes um objeto de orgulho e representa um status de poder. Pois,
durante o documentário, os calangueiros propunham desafios entre eles, como um desafio entre
rappers, entre as rimas surgiam versos de provocação e disputa. Ao final do desafio existia um
desconforto daquele que havia perdido a batalha ou um orgulho do cantor que fez os versos
mais provocadores. Esta informação não é dita explicitamente, é uma interpretação com base
nas imagens e no acompanhamento das filmagens.
Atualmente, em São José das Três Ilhas, a tradição rural do calango é mantida por
uma única família. Nos anos entre 2006 e 2010, o ponto de Cultural, São José das Culturas,
vinculado ao Ministério da Cultura, fez diferentes tentativas de resgatar este costume e envolver
outros membros da comunidade, no entanto, de forma efetiva, manteve-se os mesmos músicos,
Alcides Isaú, José Geraldo Oliveira e mais recentemente, Samuel Oliveira.
4.2 SÃO JOSÉ DAS TRÊS ILHAS
Segundo dados apresentados pelo censo de 2010 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o município de Belmiro Braga possuía, no ano da pesquisa,
3.403 moradores e sua área territorial é de 393,130 km². Pertencente à Belmiro Braga, o distrito
de São José das Três Ilhas foi instalado no dia primeiro de março de 1963, três meses depois de
Belmiro Braga ser emancipado da cidade de Juiz de Fora (MG).
O arraial começou a ser povoado por volta de 1852, de acordo com a pesquisa
histórica do IBGE, os primeiros moradores são originários de Portugal e iniciaram as atividades
29
agrícolas na região com o plantio de cereais. Além dos portugueses e desentende, os italianos
também foram importantes para o desenvolvimento do local.
Antes da categoria de município, Belmiro Braga foi criado como Distrito de
Vargem Grande, subordinado ao município de Juiz de Fora. Em trinta e um de dezembro de
1943 Vargem Grande passou a se chamar Ibitiguara. Já com o nome de Belmiro Braga, nome
dado em homenagem ao poeta que nasceu no local, foi elevado à categoria de município em
trinta de dezembro de 1962, pela lei estadual nº 2764, desmembrado definitivamente de Juiz de
Fora. Atualmente a sede é Belmiro Braga e a cidade é composta por três distritos: Belmiro
Braga, Porto das Flores e São José das Três Ilhas.
O Distrito de São José das Três Ilhas possui cerca de 200 habitantes. A vila é
formada por um conjunto arquitetônico de casarões coloniais do século 19 e uma igreja de pedra
construída com mão de obra escrava datada de 1878. A principal atividade econômica da região
é a agropecuária e o artesanato pois, apesar do potencial turístico, essa não é uma atividade
explorada pelo município.
31
5 DIÁRIO DE PRODUÇÃO
Neste momento, o memorial tem o compromisso de descrever as etapas do processo
de produção do documentário No Fluxo e traçar, em paralelo, uma análise feita pelo ponto de
vista da direção do filme com base nas fases de tratamento, pré e pró produção. Para Aumont e
Marie (2006) a análise tem sempre a intenção de explicar ou chegar a alguma conclusão sobre
a peça analisada que não tem, no entanto, o caráter de avaliação.
O documentário No Fluxo foi realizado com recursos do edital para produção de
estudantes do Canal Futura. Por essa razão, ele obedece a exigências presentes no edital da
emissora, como por exemplo, possuir caráter de reportagem documental e duração de até 13
minutos. Além disso, a elaboração do roteiro e recorte do tema foi desenvolvido junto a
assessoria da consultora do Canal Futura, Sylvia Palma.
No Fluxo participou da 3ª edição deste projeto, uma parceria entre a Globo, o Canal
Futura e a Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU). O objetivo deste Edital
era integrar as produções dos estudantes de graduação ao mercado audiovisual no Brasil com o
desenvolvimento de temas sobre a diversidade cultural e conteúdo educativo.
5.1 O DOCUMENTÁRIO COMO PROJETO
Como moradora do Distrito de São José das Três Ilhas, presenciar o conflito entre
o tradicional e o contemporâneo despertou curiosidade e interesse. Com o lançamento do Edital
da Sala de Notícias surgiu a oportunidade de realizar o projeto com apoio de uma emissora de
televisão de relevância nacional, Futura. O objetivo do chamado público era incentivar as
produções audiovisuais de estudantes a serem veiculadas à programação do Canal Futura e que
estivesse de acordo com os valores da emissora.
O Futura assume a missão de construir um jornalismo, bem como toda sua grade de
programação, que contribua, por meio da comunicação, para a educação e a articulação social.
Sendo, portanto, um espaço participativo formado por narrativas diferenciadas dos presentes
nos canais televisivos tradicionais. Os valores que foram apresentados são: o espírito
comunitário, o pluralismo, o espírito empreendedor e a ética.
O modelo de programação do Futura é fundado em relacionamento de cooperação
com diferentes parcerias de produção e edição com universidades, televisões, produtores
independentes, setor privado, fundações e organizações da sociedade e diretamente com seus
telespectadores.
32
Atendendo aos requisitos que convergem com a missão do canal, No Fluxo
apresenta uma narrativa que valoriza o pluralismo de nossa cultura e dá vozes a personagens
com pouca ou nenhuma visibilidade nas mídias. O projeto tem relevância quando analisamos o
período histórico que vivemos em relação com os meios de comunicação, o crescente avanço
da tecnologia e o encurtamento das distâncias entre diferentes culturas e valores. Além disso, o
papel registrador de um filme é também uma ferramenta de preservação da cultura e história de
um povo. Dessa forma, o documentário se propôs a contar um recorte sobre a história de um
pequeno vilarejo através das músicas, o calango, o funk e o hip-hop, o contraste entre os
moradores que preservam a tradição do canto do calango e oposição aos jovens que preferem o
funk.
O Canal Futura também ofereceu aos participantes oficinas com profissionais da
área de produção, direção e montagem. Foram três dias de exposição do tema, orientações sobre
a abordagem e workshop para esclarecer dúvidas técnicas. Essas questões técnicas, referente
aos padrões de cor, como exportar o arquivo após a edição, qual os formatos de gravação de
vídeo e áudio, por exemplo, representou as maiores dificuldades e dúvidas dos estudantes. Após
este momento de troca de experiências, o documentário No Fluxo consolidou sua proposta,
traçar uma narrativa através da música e sonos. A proposta foi aprovada pelos consultores do
canal Futura e as orientações seguiram por e-mail.
5.2 A NARRATIVA
O roteiro pode ser dividido inicialmente em três partes interpretativas: a
ambientação, a apresentação do calango como tema e a quebra de expectava quando é
apresentado os personagens que “defendem” o funk e o hip-hop. Essa classificação inicial é
referente a introdução do tema. Em um primeiro momento, a abertura não localiza o tema de
forma imediata, mas insere o espectador no ambiente, localiza um território que caracteriza os
personagens. Trata-se de uma cena cotidiana daquele vilarejo que mostra trabalhadores rurais.
Ainda como parte da abertura, o calangueiro Alcides Isaú inicia um verso que
termina “se cantasse fosse crime, eu andava sempre na cadeia”, o que sugere que o
documentário tratará sobre música. E logo em seguida, com o som da sanfona em BG aparecem
dos créditos iniciais. A quebra de expectativa acontece neste momento, onde, ao invés de dar
continuidade e apresentar o calango ao espectador, aprece o depoimento de dois jovens dizendo
que não gostam de ouvir o calango e preferem o funk.
33
O filme volta ao Alcides que explica a tradição do calango. A partir daí os
personagens se apresentam em blocos temáticos, o calango, o funk, o hip hop e a mistura dos
estilos. As cenas foram articuladas de modo a acompanhar os blocos temáticos, do mesmo modo
que o tempo dos cortes obedecem ao tempo do que cada personagem diz ou representa. A edição
mais rápida e picotada entre os jovens e os planos mais longos sobre o calango tem a intenção
de valorizar o ritmo de cada entrevistado de acordo com o estilo musical que representa. O
ponto de convergência é apresentado nas falas do adolescente, Samuel Oliveira, que sonha em
ser cantor de funk, mas aprendeu desde pequeno a cantar calango.
Como forma de reforçar a harmonia natural da cidade, foi pensada uma cena em
que a sobreposição de sons constrói um ritmo próprio das imagens, uma forma de jogar com a
manipulação do real. É uma edição das imagens locais com sons ambientes que representam o
cotidiano daquele vilarejo. A princípio, está opção de montagem seria inserida uma segunda
vez no filme, no entanto, o roteiro precisou sofrer alterações para estabelecer suas asserções
sobre o tema. Essa montagem é forma mais evidente de identificar a proposta inicial do
documentário que era trabalhar com a valorização dos sons, mas existem outros momentos do
documentário no qual essa intenção também pode ser percebida, como por exemplo, na abertura
em que foi mantido o ruído do vento no microfone e o barulho das folhas de cana sendo
arrastadas pela estrada de chão.
No final, os personagens retomam como uma espécie de despedida, cada um é
identificado por seu estilo, e se encerra com o verso de calango. Apesar do documentário No
Fluxo apresentar uma visão deste recorte histórico, não existiu a intenção de fazer um
julgamento sobre qual estilo musical é melhor, pelo contrário, o objetivo é reforçar a ideia de
que é possível existir uma harmonia entre o tradicional e o contemporâneo, uma cultural
regional e outra global.
5.3 FILMAGEM
Antes de iniciar as gravações para o documentário No Fluxo, foi feito uma filmagem,
com o mesmo tema, para um trabalho da disciplina DOCUMENTÁRIO, da Faculdade de
Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, ministrada pela professora Mariana
Musse. As imagens e entrevistas coletadas neste primeiro contato foram utilizadas como
material de pesquisa e estudo para a pré-produção do documentário que será exibido pelo Canal
Futura. Este exercício produzido para a faculdade foi de extrema importância para chegar ao
34
produto final de No Fluxo, a partir do resultado observado nas primeiras filmagens, foi
necessário trocar alguns entrevistados e o projeto inicial sofreu suas primeiras alterações.
Mesmo já conhecendo os personagens, ter uma equipe pequena foi importante
para que gravações tivessem um clima de maior espontaneidade. Dessa forma, principalmente
os adolescentes que não tinham intimidade com a câmera, se sentiram mais à vontade. Este
aspecto foi observado na qualidade dos depoimentos, primeiro com uma equipe de até cinco
pessoas, durante o trabalho de pesquisa, e depois nas gravações oficiais, na maior parte do
tempo, duas pessoas presentes durante as entrevistas. O segundo depoimento foi mais completo
e espontâneo. Portanto, as filmagens iniciais foram importantes para a solução de alguns
problemas, como por exemplo, a necessidade de trocar o personagem principal entre os jovens.
Inicialmente, os depoimentos sobre o funk seriam centrados no adolescente Ariel, no entanto,
ele não correspondeu as expectativas durante a entrevista e não seria um personagem
interessante para o documentário, por mais que se encaixasse no perfil desejado. Como solução,
o depoimento dos jovens foi descentralizado, sem destacar um ou outro entrevistado como
principal.
As gravações também não seguiram o cronograma inicial pois os personagens
desmarcaram por diversas vezes as entrevistas. Neste momento pareceu que os entrevistados
não encaram as gravações como um compromisso, mas uma conversa ou favor para alguém
conhecido. A intenção era que algumas entrevistas fossem feitas com mais de uma pessoa, mas
para solucionar a questão de disponibilidade dos personagens, eles foram entrevistados
separadamente, juntando apenas os três entrevistados que cantavam e ou tocavam o calango.
O apoio do projeto São José das Culturas, ligado ao Ministério da Cultura, foi importante
como auxílio técnico e com o empréstimo do equipamento, câmera Sony Z1, microfone direto
e tripé. No entanto, estes equipamentos estavam sujeitos a disponibilidade em datas específicas,
contar com eles para todas as gravações era ficar refém a mais uma variável. Apesar de perder
na qualidade da imagem e som, cerca de metade do material gravado foi filmado com uma
câmera fotográfica Nikon D5000.
Filmar com luz ambiente, usando apenas rebatedor quando necessário foi uma opção
estética, uma forma do filme expressar maior naturalidade. No entanto, em razão das
dificuldades com o equipamento, o filme perdeu qualidade quando foi filmado com a câmera
fotográfica e, a opção de não usar luz artificial prejudicou tecnicamente o produto. Neste caso,
a escolha foi minimizar os efeitos na pós-produção e manter o material coletado para cumprir
com os prazos de entrega do Canal Futura. Acreditamos que o conteúdo narrativo não foi
prejudicado, por isso, apostamos na força narrativa da imagem em sobreposição da alta
35
qualidade do material. Os erros que cominaram na perda da qualidade da imagem não foram
pensados previamente e feitos de forma consciente, no entanto, assumir os ruídos como uma
estética do documentário foi uma opção da direção.
Figura 2 – Gravação da sobreposição de sons
Fonte: Andrêssa Rezende (Arquivo Pessoal, 2015)
36
Figura 3 – Checagem de equipamento
Fonte: Laura Caputo (Arquivo Pessoal, 2015)
Figura 4 – Filmagem interior da igreja
Fonte: Andrêssa Rezende (Arquivo Pessoal, 2015)
37
5.4 MONTAGEM
O processo de montagem foi o momento em que o filme ganhou forma e significado
próprio, expressando outras necessidades de sentido além das orientações que o roteiro
indicava. O pré-roteiro exigido pelo Canal Futura foi abandonado em razão das novas
necessidades do documentário e também com base no material coletado durante as gravações.
O primeiro corte passou pelas avaliações da professora orientadora, Erika Savernini, e
pela consultora do Canal Futura, Sylvia Palma. No entanto, com base nos questionamentos
apresentados, acreditamos que o filme tinha um material frágil, com poucas opções de ângulos;
a entrevista com os adolescentes possuía pouco conteúdo enunciativo e tomadas longas que
tornavam as falas cansativas; e o filme não cumpria com sua proposta narrativa. Após as
sugestões de adaptações do conteúdo, o filme assumiu uma lógica de montagem dinâmica, mais
rápida; a exposição do tema também foi antecipada, e os blocos temáticos – os momentos em
que se falam de cada estilo musical – passou a dialogar entre eles. A orientação da professora
alterou de forma concisa a forma de narrar o filme.
Na montagem foram amenizadas correções de som e cor das imagens, reforçando a
estética proposta, dando saturação as imagens para que pudessem transmitir algo vibrante e
valorização, até mesmo, de alguns sons que poderiam ser encarados como ruídos, mas que neste
momento, seriam para ‘denunciar’ os problemas técnicos e os barulhos do local.
Como um elemento presente no documentário No Fluxo, o tempo das imagens e o ritmo
da edição enfatizam a proposta de desenvolver um tema que falasse de música e ritmo em todos
os sons e imagens de um filme. Acreditamos que a narrativa do documentário extrapole o
momento de fala das entrevistas e se mostre presente durante todo o filme.
Por ser uma das primeiras experiências com edição, o produto final ainda não
correspondeu às expectativas, mas foi um bom produto. Compreender e aceitar que o filme não
corresponde ao roteiro e que, ainda o roteiro, não corresponde a uma idealização foi e é um
processo. Por essa razão, se faz importante ressaltar que No Fluxo é resultado, acima de tudo,
de uma aprendizagem. E, esse aprendizado teve início antes da faculdade, na participação das
atividades de cinema do Projeto São José das Culturas, e se consolidou durante a graduação.
38
Figura 5 – Entrevista com adolescente que foi descartada
Fonte: Andressa Rezende (2015)
Figura 6 – Cena da dança dos adolescentes que foi cortada por questões de
continuidade
Fonte: Andrêssa Rezende (Arquivo Pessoal, 2015)
39
CONCLUSÃO
O documentário No Fluxo, no qual o processo de produção foi o objeto de estudo deste
Memorial Descritivo, cumpriu com as expectativas da diretora. Sendo ele seu primeiro
documentário e também um projeto individual, que, no entanto, gerou um produto coletivo.
Além disso, o filme será transmitido em abril de 2016 pelo Canal Futura, uma emissora de
prestígio e alcance nacional. Com isso, saber que o filme irá alcançar um maior número de
espectadores o torna ainda mais satisfatório.
Em síntese, o documentário resgata uma cultura imaterial da pequena população do
Distrito de São José das Três Ilhas – MG. Através de uma linguagem poética, o filme utiliza os
sons do ambiente para localizar os espectadores no tempo e espaço, e narra, através do gosto
musical dos entrevistados, uma história com início, meio e fim. Um recorte. Dessa forma, o
documentário também se torna uma ferramenta para o resgate e preservação de uma cultura,
sem deixar de ser “um fruto do seu tempo”.
Mais importante que os problemas encontrados foram as soluções propostas. De modo
geral, o documentário driblou a inexperiência, o baixo orçamento e os problemas técnicos. A
obra final representa um trabalho de pesquisa e possuí conteúdo informático, estético e artístico.
Destacamos como palavra chave deste trabalho o processo. Trata-se de entender que o
documentário compreende o encerramento de um ciclo e presenta uma trajetória, que tem início
com os primeiros contatos com o universo audiovisual e se encerra com a graduação em
Comunicação Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Acreditamos que as limitações
técnicas e a inexperiência em dirigir e idealizar um documentário seja menos relevante que as
superações dessas dificuldades e a carga de conhecimento e aprendizado adquirida. Deve-se
entender No Fluxo como um momento em que se é permitido realizar erros e acertos.
40
REFERÊNCIAS
AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. Dicionário teórico e crítico do cinema: 2. Campinas:
Papirus Editora, 2006
CANCLINI, Néstor Garcia. Consumidores e Cidadãos; conflitos multiculturais da
globalização. 6. Ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006.
EISENSTEIN, Sergei. O Sentido do Filme.Rio de Janeiro: Zahar, 2002.
MORIN, Edgar.Cultura de Massas no Século XX. 10. Ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2011.
NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. 2. ed. Campinas: Editora Papirus, 2007.
PUCCINI, Sérgio. Roteiro de documentário. Da pré-produção à pós-produção.3 Ed.
Campinas, Sp, Papirus, 2013.
PUCCINI, Sérgio. Sobre as situações de filmagem no documentário. Imagofagia, v. abril, p.
3, 2011
PUCCINI, Sérgio. Introdução ao Roteiro de Documentário. Doc On-Line - Revista Digital
de Cinema Documentário, 2009.
RAMOS, Fernão Pessoa. A Mise-en-scène realista: Renoir, Rivette e Michel Mourlet. In:
Gustavo Souze e outros. (Org.). XIII Estudos de Cinema e Audiovisual SOCINE. 1ed.São
Paulo:2012.
RAMOS, Fernão Pessoa. Mas afinal...o que é mesmo documentário? São Paulo: Senac/SP,
2013.
RAMOS, Fernão Pessoa. O Que É Documentário. In: Fernão Pessoa Ramos; José Gatti;
Afrânio Catani; Maria Dora Mourão. (Org.). Estudos de Cinema 2000 / Socine. Porto Alegre:
Sulina, 2001.
XAVIER, Ismail (org.). A Experiência do Cinema, Rio de Janeiro: Edições Graal:
Embrafilmes, 1983
BALTAR, Mariana. Reflexões sobre o lugar do documentário.Digitagrama - Revista
Acadêmica de Cinema, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, 2004. Disponível em:
<http://www.estacio.br/graduacao/cinema/digitagrama/numero2/reflexoes.asp>. Acesso em:
25 fev. 2016.
41
IBGE. Cidades. Disponível em:
<http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=310610>. Acesso em: 20 jan. 2016.
VIANA, L.R, O Funk no Brasil: música desintermediada na cibercultura. Sonora. Sonora,
Campinas, v. 3, n. 5, p. 03-24, 2010. Disponível em:
<http://www.sonora.iar.unicamp.br/index.php/sonora1/article/viewFile/32/31>. Acesso em: 10
fev. 2016. VOLPINI SILVA, Carla Ribeiro. A influência da globalização nas manifestações culturais
e o diálogo intercultural como uma genuína alternativa de respeito à diversidade e ao
multiculturalismo. Anuario brasileiro de direito internacional, Belo Horizonte, v. 2, n. 5, p.
19-35, 2010. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r27209.pdf>. Acesso em: 16
jan. 2016.
43
APÊNDICE – ROTEIRO NO FLUXO
O pré-roteiro foi relaborado de acordo com o modelo cobrado pelo Canal Futura. Como
foi elaborado antes das gravações, o documentário não seguiu rigidamente essas orientações,
foi preciso promover mudanças para adaptar o conteúdo ao material coletado.
ABERTURA
Imagens da estrada que acompanham um movimento de um carro andando lentamente. Neste
momento são mostradas as poucas casas que existem à beira da estrada, todo o resto é verde e
pastos com bois. O som é de vento, pássaros e outros bichos. No caminho dois senhores estão
passando com na estrada, um puxando a carroça cheia de cana e o outro com um balde de leite,
eles caminham na estrada. Os senhores olham com curiosidade para a câmera e seguem seu
destino. Os sons são dos passos e da cana que arrasta pelo chão. (MARCAR)
Créditos: No Fluxo
Corta.
CENA 1 – Rua. Exterior. Dia
Câmera parada em plano médio mostra uma Igreja de pedra. Os frames são acelerados e a única
movimentação percebida são as das nuvens. Em BG o som de uma sanfona crescente em ritmo
acelerado. Um cachorro aparece em cena. A música termina. Silêncio.
Corta.
CENA 2 – Casa Alcides. Exterior. Dia
Câmera parada em plano aberto mostra um vale de montanhas. A cada plano a imagem vai se
detalhando até enquadrar somente uma pequena casa. Um vale de montanhas, a câmera vai
fechando até enquadrar somente uma pequena casa. Alcides, 71 anos, entra pela lateral no
quadro e fica parado em frente sua casa olhando para a câmera, nas mãos um acordeon.
Corta
44
CENA 3 – Casa Alcides. Interior. Dia
Alcides sentado em um banco na sala, a luz vinda da janela ilumina seu rosto. Atrás imagens
de santos e uma televisão nova. Alcides fala sobre o que é calango, como aprendeu a cantar e
como eram as festas na sua época de menino.
Corta.
CENA 4– Exterior. Dia
Imagens do vilarejo, das ruas de pedras, casarões, das pessoas e dos bichos. Em BG o som de
uma sanfona. A cada imagem será acrescido o som daquilo que é mostrado, dando um ritmo
natural para a cena. Exemplo: o som de uma porta que se abre, de pessoas caminhando de botina
na rua de pedra, de um pássaro, do sino da igreja ... as imagens seguem a dinâmica da música.
Até um silêncio.
Corta.
CENA 5 – Exterior. Dia
Câmera parada em plano aberto. Vista de frente para a rua principal do Distrito de São José das
Três Ilhas, o chão é de pedras e com casarões construídos na época em que o café era a principal
economia do lugar. Primeiro a rua vazia, mas aos poucos é percebido que no final da rua se
aproxima um grupo de pessoas, cerca de 5 jovens. O som crescente é de beatbox feito em ritmo
de funk. Close nos rostos, sorrisos, pulseiras, cordões e pés. A Cena termina quando os jovens
chegam a um plano médio em referência a câmera que está em contra-plongée.
Corta.
CENA 6 – Exterior. Dia
Sentado à mesma forma em sua sala, Alcides conta como a música mudou do seu tempo até
hoje.
Corta.
45
CENA 7– Exterior. Dia
Um banco debaixo de uma árvore. Este é o ponto de encontro dos jovens que moram em São
José das Três Ilhas. Em ritmo acelerado os meninos chegam um a um e se sentam no banco.
Todos estão com um smartphone e um deles tocando funk. Entrevista sobre o estilo musical e
o que eles fazem no vilarejo.
Corta.
CENA 8– Interior. Dia
Samuel,15 anos, se prepara para dá entrevista. Ele se ajeita na cadeira que fica no seu quarto.
O menino veste moletom, tênis Nike e boné de aba reta. Ele canta calango.
Corta.
CENA 9– Interior. Dia
A câmera percorre sobre o quarto e os objetos pessoais de Samuel, saí do quarto e vai até o
quintal. Neste momento o som é uma mistura entre o funk e o calango. Serão intercaladas falas
sobre suas preferências de como se vestir e as músicas que gosta.
Corta
CENA 10 – Exterior. Entardecer.
A câmera mostra a entrada da igreja de pedra e atrás o sol se pondo. Os meninos fazem
passinhos de funk. Após um tempo entra em BG a voz do Alcides cantando calango.
Corta
CENA 11– Exterior
Close. Alcides encerra seus versos e sem jeito para a câmera e espera o corte final.
CENA 12 – Exterior
Planos da cidade. Silêncio.