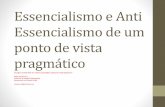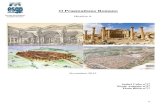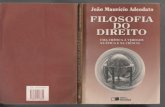UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE … · Pragmatismo. 3. Hermenêutica (Direito). 4....
Transcript of UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE … · Pragmatismo. 3. Hermenêutica (Direito). 4....
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
UMA VISÃO FILOSÓFICA ANTIESSENCIALISTA PARA O ABANDONO DA NOÇÃO DE RACIONALIDADE JURÍDICA: os processos de decisão em direito como ambientes
lingüísticos regrados e contingentes
Adrualdo de Lima Catão
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO Área de Concentração: Filosofia, Sociologia e Teoria Geral do Direito
Recife 2005
Adrualdo de Lima Catão
UMA VISÃO FILOSÓFICA ANTIESSENCIALISTA PARA O ABANDONO DA NOÇÃO DE RACIONALIDADE JURÍDICA: os processos de decisão em direito como ambientes
lingüísticos regrados e contingentes
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito do Recife / Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Pernambuco como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. Área de Concentração: Filosofia, Sociologia e Teoria Geral do Direito. Orientador: Prof. Dr. João Maurício Adeodato.
Recife 2005
CATALOGAÇÃO NA FONTE
340.12 Catão, Adrualdo de Lima C357v Uma visão filosófica antiessencialista para o abandono da
noção de racionalidade jurídica: os processos de decisão em direito como ambientes lingüísticos regrados e contingentes / Adrualdo de Lima Catão. – Recife : Edição do Autor, 2005.
130 f. Orientador: João Maurício Leitão Adeodato. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco. CCJ. Direito, 2005. Inclui bibliografia. 1. Direito - Filosofia. 2. Pragmatismo. 3. Hermenêutica
(Direito). 4. Processo decisório (Direito). I. Adeodato, João Maurício Leitão. II. Título.
340.12 (CDD-Dóris de Queiroz Carvalho) UFPE/CCJ-FDR/PPGD/EFR-efr BPPGD2005-10
AGRADECIMENTOS
Quero aqui agradecer sinceramente àqueles que também fizeram parte dessa
dissertação. Para começar, meus companheiros de mestrado, que, ao longo do curso,
tornaram-se meus verdadeiros amigos aqui nessa terra recifense. Fabiano, Mariana, David,
Carolzinha, Mayra, Enoque, Dani, além de Ale, parceira de verdade não só no mestrado, mas
em todas as situações difíceis que passei por aqui. Não posso esquecer da galera do grupo de
pesquisa Retórica e Direito, fomentador das discussões apresentadas neste trabalho.
Agradeço ao meu orientador, João Maurício, exemplo de dedicação à academia
e de responsabilidade com seus alunos. Ao professores, principalmente George Browne,
Torquato Castro Jr., Eduardo Rabenhorst e Alexandre Da Maia e aos funcionários da Pós-
graduação, em nome de Josi, Carminha e Eurico.
Em Maceió, a todos os amigos que torcem por mim e que, por várias maneiras,
contribuíram com este trabalho. Karina, que me acompanhou e me incentivou no início do
curso. Minhas irmãs, Nathália e Priscila. Meus companheiros de farra: Wander, Bosa, Pereira,
Guaxuma, Edinho, Sanches, Hugo, Fabrício, Christian, Marquinhos e Helder, por terem me
liberado de algumas delas para concluir as etapas dessa formação. Meus ex-sócios Thiago
Bomfim e Felipe Lins, além de Expedito e meus amigos professores do CESMAC e da FAA.
Ao pessoal do gabinete, César, Bia, Poly, Claudinha, Patrícia, André,
Rosinaldo, Thauana, Carlos, Rodrigo, Martinha e Natália, por agüentarem os papos chatos de
Filosofia do Direito.
Millena, que esteve comigo na fase final, permitindo-me concluir este trabalho
mesmo diante da inesperada, mas maravilhosa situação que vivenciamos.
Agradeço enfim, a todos os meus alunos, de Maceió e de Recife, por me terem
feito apurar as idéias aqui apresentadas, e madurar as premissas filosóficas que baseiam este
trabalho.
O Reino Avulso
De tanto contemplar-te, sinto o fogo de uma beleza abstrata iluminar-me. Parti de ser humano ou contingente. De perfil, sou palavra. Do mar que penso faço o mar que existe. Quem sou eu senão linguagem? No tempo me acrescento, sendo imagem liberta do sensível. Expectador, vou perdendo e ganhando a cada passo no reino avulso da vida, e o sonho que me segue é a realidade de um sonho mais real que me fascina. Do paraíso expulso, rondo a porta de um domínio perdido. Ó linguagem, ó meu país natal, vem receber teu filho!
IVO, Ledo. Poesia Completa: 1940-2004. Rio de Janeiro: TopBooks, 2004, p. 331.
RESUMO
CATÃO, Adrualdo. Uma visão filosófica antiessencialista para o abandono da noção de racionalidade jurídica: os processos de decisão em direito como ambientes lingüísticos regrados e contingentes. 2005. f. 121. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.
Esta dissertação pretende apresentar a idéia de que a filosofia do direito não
precisa manter a noção de racionalidade como critério de correção e previsibilidade das
decisões jurídicas. A superação das idéias de racionalidade ligadas à visão essencialista da
norma e dos fatos jurídicos, parece levar a uma espécie de relativismo, que, em direito, se
identifica com a idéia de arbitrariedade na tomada de decisões. Apresenta-se a tentativa
habermasiana de uma racionalidade procedimental, baseada na obediência a regras
transcendentes, como uma postura a ser superada por uma filosofia pragmatista do direito. A
idéia central é a de que os processos de decisão em direito são ambientes lingüísticos regrados
e, ao mesmo tempo, contingentes. Assim, a idéia de uma racionalidade procedimental não
contextual é, não só filosoficamente frágil, mas também de pouca utilidade, dada a
constatação da contingência e da existência de vários tipos de processos decisórios, cada um
servindo a seus propósitos específicos. A postura pragmatista, ligada às idéias
wittgensteinianas é, destarte, a mais propícia ao estudo do direito de uma sociedade complexa
como a brasileira.
Palavras-chave: Filosofia do direito; racionalidade jurídica; pragmatismo.
ABSTRACT
CATÃO, Adrualdo. An antiessentialist philosophical vision for the abandonment of the legal rationality’s notion: the decision procedures in law as steady and contingent linguistic surroundings. 2005. f. 121. Master Degree – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.
This dissertation intends to present the idea that Philosophy of Law does not
need to maintain de notion of rationality as a criterion of correction and predictability of the
law decisions. The surmounting of the ideas of rationality linked to the essentialist vision of
law and facts seems to lead to a kind of relativism, which, in jurisprudence, identifies itself
with the idea of arbitrary decisions. Here, Habermas’ approach to a procedural rationality,
based on obeying transcendent rules, is presented as a bearing to be surmounted by a
pragmatic philosophy of law. The central idea is that the decisions procedures in law are
steady and, at the same time, contingent linguistic surroundings. Thus, the idea of a non-
contextual procedural rationality is, not just philosophically fragile, but also of small utility,
through the verification of contingency and of the existence of various species of decision
procedures, each one serving to each specifics purpose. The pragmatic bearing, linked to
wittgensteinian ideas is, hence, the most favorable to the studies of law in a complex society
as Brazilian’s.
Key Words: Philosophy of law; legal rationality; pragmatism.
INTRODUÇÃO.................................................................................................................. 10 INTRODUÇÃO................................................................................................................... 12 I – O problema filosófico a ser investigado: do essencialismo legalista ao essencialismo procedimentalista ................................................................................................................. 12 II. Organização formal do trabalho....................................................................................... 16 CAP. 01. SUPERAÇÃO DO ANTIESSENCIALISMO E ANTI-REPRESENTACIONISMO PARA UMA FILOSOFIA PRAGMATISTA DO DIREITO: APRESENTAÇÃO DO MARCO FILOSÓFICO DO TRABALHO........................................................................... 18 1. Introdução: o Pragmatismo pós-giro lingüístico pragmático ............................................. 18 2. Pragmatismo como antiessencialismo: crítica à concepção realista de que as coisas têm essências a serem descobertas pelo ato de conhecimento...................................................... 19 3. Giro Lingüístico e Representacionismo: a proposta de uma linguagem ideal representativa da realidade.......................................................................................................................... 22 4. A visão wittgensteiniana da linguagem como instrumento de ação: a noção de “jogo de linguagem” .......................................................................................................................... 28 CAP. 02. A BUSCA DA SEGURANÇA PELA RACIONALIDADE SUBSUNTIVA: A SUPERAÇÃO DA NOÇÃO DE NEUTRALIDADE DO INTÉRPRETE JURÍDICO E DA INTERPRETAÇÃO COMO REPRODUÇÃO DE SENTIDO.............................................. 36 1. Introdução: o problema da visão essencialista da norma jurídica e a neutralidade do intérprete.............................................................................................................................. 36 2. A noção de texto jurídico-dogmático e a apresentação do paradigma da neutralidade como pureza do ato interpretativo .................................................................................................. 37 3. O modelo essencialista de interpretação que ainda vigora na dogmática jurídica contemporânea: voluntas legis e voluntas legislatoris........................................................... 41 4. A visão do homem como ser histórico-temporal para uma concepção hermenêutica do conhecimento....................................................................................................................... 46 5. A noção de circularidade hermenêutica como superação da noção tradicional de neutralidade no direito (a interpretação como atividade produtora de sentido) ...................... 50 CAP. 03. A SUPERAÇÃO DA DISTINÇÃO FATO-VALOR: UMA POSTURA FILOSÓFICA PRAGMATISTA PARA A SUPERAÇÃO DA NOÇÃO DE OBJETIVIDADE NA AFERIÇÃO DOS FATOS EM DIREITO...................................................................... 56 1. Introdução: a noção de fato como construção humana (para uma visão diferente da prova nos processos de decisão)..................................................................................................... 56 2. A noção de fatos pré-lingüísticos como corolário de uma postura representacionista: os “fatos brutos”....................................................................................................................... 58 3. A concepção tradicional do fato no direito: a distinção entre fato jurídico e fato bruto na teoria de Pontes de Miranda ................................................................................................. 63 4. A distinção fato-valor como objetivação dos fatos e subjetivação dos valores: argumentos para uma tentativa de superação da noção tradicional de objetividade como representação da realidade .............................................................................................................................. 66 5. Uma visão pragmatista de diferença entre questão de fato e questão de direito: a controvérsia sobre os fatos e a sua normatividade................................................................. 72 6. A verdade como descrição mais útil do mundo: o pragmatismo como teoria anti-representacionista e suas implicações na questão da prova dos fatos no processo judicial..... 78
CAP. 04. A BUSCA FILOSÓFICA POR CRITÉRIOS RACIONAIS DE CORREÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS: O RACIONALISMO PROCEDIMENTAL COMO POSTURA UNIVERSALIZANTE......................................................................................................... 85 1. Introdução: a superação das concepções essencialistas e o receio do relativismo (a busca da Filosofia do Direito pela “racionalidade” dos processos de decisão) ..................................... 85 2. O receio da “ditadura” do Poder Judiciário e a busca da Filosofia do Direito pela racionalidade judicial ........................................................................................................... 86 3. A superação da razão centrada no sujeito: racionalidade como fundamento das regras de lógica, sinceridade e liberdade no discurso ........................................................................... 90 4. A busca pela racionalidade das decisões judiciais: a teoria da argumentação jurídica como forma de se encontrar critérios descontextualizados para a racionalidade do discurso judicial............................................................................................................................................ 95 5. O falso paradoxo da liberdade discursiva: porque as tentativas racionalizantes não-contextuais não se adaptam à postura pragmatista na filosofia ............................................ 100 CAP. 05. IRRACIONALISMO X RACIONALISMO: UMA DISTINÇÃO A SER SUPERADA NUMA FILOSOFIA DO DIREITO QUE LEVE EM CONSIDERAÇÃO MULTIPLICIDADE DE USOS E A CONTINGÊNCIA DOS PROCESSOS DE DECISÃO JURÍDICA......................................................................................................................... 106 1. Introdução: a descontrução da noção de racionalidade jurídica (um apontar para seu paulatino desuso) ............................................................................................................... 106 2. A noção de paradigma e a contextualização dos critérios de correção e verdade dentro do jogo de linguagem: a segurança jurídica identificada com os limites contextuais para a decisão.......................................................................................................................................... 107 3. A distinção comensurabilidade-incomensurabilidade como questão de grau: incomensurabilidade como impedimento temporário à comunicação.................................. 116 4. O receio do relativismo e a crítica à noção de comensurabilidade ................................... 119 5. A contingência da linguagem jurídica e a multiplicidade dos processos de decisão: por um progressivo desuso da noção de racionalidade pela Filosofia do Direito ............................. 123 BIBLIOGRAFIA: .............................................................................................................. 131
12
INTRODUÇÃO
I – O problema filosófico a ser investigado: do essencialismo legalista ao essencialismo procedimentalista
O presente trabalho quer apresentar a visão de que os processos de decisão
jurídica são ambientes lingüísticos contextuais, guiados por regras e, ao mesmo tempo,
contingentes, passíveis, portanto, de modificação de seu vocabulário e, conseqüentemente, das
suas próprias regras. Tais regras de aferição da correção das assertivas e das decisões está
presente na própria linguagem, não sendo cabível pensar-se em critérios últimos ou
incondicionais.
Para chegar a uma tal conclusão o trabalho precisa desconstruir duas tentativas
racionalizantes que têm influência marcante na Filosofia do Direito e na hermenêutica
jurídica. A primeira se refere à visão própria do racionalismo clássico, representado pelas
teorias da interpretação jurídica baseadas numa visão da interpretação como ato neutro e de
reprodução de sentido.
Esta postura, tipicamente essencialista e representacionista, trabalha com a
visão de que o processo de decisão estaria absolutamente limitado pelo sentido do texto
normativo e sua correspondência com os fatos, limitação da qual o decididor e os contendores
não podem fugir. A participação do intérprete fica em segundo plano e se deixa de lado a
noção de sentido contextualizado.
Assim sendo, os critérios de racionalidade eram encontrados da essência dos
textos normativos, ou jurídico-dogmáticos. Trata-se da noção essencialista, típica do
legalismo da Escola da Exegese, que não encontra eco sequer na visão kelseniana da
interpretação1, mas que permeia até hoje muitos dos manuais de Introdução do Direito.
1 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 387.
13
A segunda proposta tenta substituir a primeira, visualizando o direito como
ambiente lingüístico complexo, buscando formas de racionalidade não mais nos textos e fatos
jurídicos, mas na obediência a critérios procedimentais pragmáticos, cujo fundamento tem
caráter incondicional e universal.
A tentativa aqui é a de desconstruir ambas as posturas, para concluir pela
inutilidade dos usos totalizadores da palavra “racionalidade”, quando aplicada aos processos
de decisão jurídica, tendo em vista a variedade de ambientes lingüísticos em que tais
processos ocorrem.
Para discorrer sobre a problemática, o trabalho se organiza em cinco capítulos.
No primeiro deles, apresenta-se o marco filosófico que servirá para negar o essencialismo e as
noções totalizadoras e essencialistas da racionalidade. Assim, em sua aproximação
hermenêutica do pragmatismo, as idéias de Rorty servem como crítica às noções
representacionistas do conhecimento, bem como às noções essencialistas do ser.
Destarte, o trabalho, inicialmente, é o de imaginar uma atividade autorizada a
ostentar o nome de “filosofia”, mesmo não tendo nada a ver com descobrir a forma de se
encontrar a essência da norma jurídica, o sentido último dos textos dogmáticos, ou o
procedimento racional em si mesmo.2
A tarefa do segundo capítulo é a de superar a busca pela racionalidade jurídica
baseada na idéia de sentido único do texto, e de neutralidade como distanciamento e não
participação do intérprete na definição do sentido dos textos dogmáticos. Apresenta-se a
filosofia hermenêutica heideggeriana e as noções de circularidade hermenêutica e
historicidade do homem, como forma de defender a indeterminação prévia dos textos
normativos.
2 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988, p. 277.
14
A distinção fato-valor e a noção de fato como algo puro e desvinculado da
participação humana é o objeto do terceiro capítulo. Tenta-se apresentar a idéia de que a
prova no direito não seria algo simplesmente objetivo, no sentido de que serviria a
“representar” os fatos em discussão num processo.
Apresenta-se outra visão da distinção entre questão de fato e questão de direito,
apontando seu uso na dogmática e superando a visão de que as questões de fato seriam
objetivas, pois estariam lidando com a “realidade”. Assim é que, até a prova em direito é
lingüística, e, portanto, as controvérsias fáticas são tão problemáticas quanto as controvérsias
valorativas, vendo-se a prova como instrumento de persuasão e de convencimento, ou como
meio de justificação de decisões.
O problema a ser discutido no quarto capítulo é que as decisões judiciais não
possuem mais a certeza que possuíam no alvorecer do Estado de Direito com a Revolução
Francesa e as teorias interpretativas do positivismo legalista. A segurança jurídica que se
buscava alcançar, com a visão do juiz como mero repetidor das normas gerais previamente
postas, não mais se adapta às exigências de mutabilidade e complexidade sociais que, cada
vez mais, apresentam situações inusitadas e que necessitam de uma resposta imediata por
parte do Judiciário, impedido que está de alegar o non liquet.
A decisão judicial, vista não mais como mero ato de conhecimento, mas agora,
também como um ato de “vontade”3, passa a ter um caráter “arbitrário”, o que cria um
importante desafio para a Filosofia do Direito, qual seja, a questão de como “fundamentar
racionalmente” uma decisão tomada “subjetivamente”, mesmo que nos limites de uma
moldura e mesmo que se admita que tal escolha somente ocorre em casos específicos de
indeterminação.4
3 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 393. 4 HART, Herbert L. A. O conceito de direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 137.
15
Um dos caminhos encontrados pelos filósofos para resolver o “problema” da
racionalidade é o das teorias procedimentalistas da argumentação, que se baseiam em regras
práticas e éticas que informam o procedimento e, ao mesmo tempo, conferem racionalidade
ao mesmo.
Este trabalho quer apresentar um caminho alternativo. Criticam-se, pois, as
premissas filosóficas em que se baseiam as teorias argumentativas baseadas numa
racionalidade procedimental, pois situam as regras da racionalidade fora do ambiente
lingüístico contextualizado.
No capítulo quinto, a tentativa é a de superar o relativismo sem precisar de um
conceito de razão baseada em elementos não contextuais. Quer-se deixar de lado o receio do
decisionismo sem recorrer a um racionalismo procedimental.
Ao contrário, a tentativa é de apresentar a filosofia pragmatista e a visão
wittgensteiniana da linguagem como instrumento de ação para que se vejam os processos
decisórios como ambientes lingüisticamente regrados e, portanto, não sujeitos à arbitrariedade
do irracionalismo ou do relativismo.
Contudo, este regramento não deve ser alçado à categoria de “racional” no
sentido de incondicional. Isto porque as regras que o compõem não são consideradas
imutáveis, nem são fórmulas heróicas de se encontrar o rumo do conhecimento em direção à
essência da norma jurídica ou da justiça.
Ao contrário, a proposta de visão dos processos de decisão pretende apresentá-
los como ambientes lingüísticos contingentes, cujas regras controlam e, ao mesmo tempo são
forjadas continuadamente e de forma imprevisível. Uma decisão que se chame hoje, absurda,
amanhã poderá não ser assim tachada.
Assim é que a proposta do presente trabalho deixa de lado determinado uso
tradicional da palavra “razão”, que designa a segurança na tomada das decisões jurídicas, não
16
em favor do irracionalismo ou do relativismo. A despeito da manutenção do uso da palavra,
propõe-se um gradativo desuso da mesma, que cada vez menos consegue conferir a segurança
que outrora proporcionou aos processos de decisão jurídica.
II. Organização formal do trabalho
A pesquisa bibliográfica na área de Filosofia e Filosofia do Direito será utilizada
como base para a elaboração do trabalho, buscando-se tratar a problemática sob um enfoque
eminentemente de crítica ao paradigma epistemológico tomado por base pelas visões
tradicionais da decisão jurídica.
O presente trabalho não responde a questões dogmáticas sobre o processo de
tomada de decisões em direito, apesar de apresentar, no decorrer do texto, referências a
questões dogmáticas, que servirão para ilustrar o interesse que a filosofia pode despertar em
questões estritamente jurídicas.
No que se refere à apresentação física, optou-se pela sobriedade do estilo de letra
times new roman e do espaçamento entre linhas 2,0, estando de acordo com as normas da
ABNT. A escolha pela referência bibliográfica completa apresentada no rodapé da folha se
baseia no fato de que o leitor deve sempre ser levado em consideração na escolha da forma de
apresentação de qualquer pesquisa, e a referência completa, apesar de repetitiva, facilita a
visualização imediata do autor e da obra, sem a necessidade de remeter o leitor ao final do
texto. O rodapé servirá, muitas vezes, para a elaboração de comentários e esclarecimentos que
não deveriam constar no corpo do texto.
As citações não estarão parafraseadas apenas quando a reprodução literal do
trecho for essencial ao entendimento da idéia que se quer apresentar. Evita-se a transcrição de
17
trechos em língua estrangeira, visando a facilitar a compreensão do leitor não versado no
idioma da obra citada. A transcrição de trechos de obras em língua estrangeira será feita por
tradução do autor, mantendo-se a transcrição original no rodapé.
A utilização de aspas quer destacar as citações literais, bem como palavras com
duplo sentido ou mesmo em destaque, além dos títulos de artigos de periódicos consultados.
Evita-se o recurso ao texto em itálico ou em negrito, sendo que este último serve a destacar os
títulos dos livros e periódicos que serviram à elaboração do trabalho.
18
CAP. 01. SUPERAÇÃO DO ANTIESSENCIALISMO E ANTI-REPRESENTACIONISMO PARA UMA FILOSOFIA PRAGMATISTA DO DIREITO: APRESENTAÇÃO DO MARCO FILOSÓFICO DO TRABALHO
1. Introdução: o Pragmatismo pós-giro lingüístico pragmático
Trata este capítulo de apresentar o marco teórico-filosófico que norteará todo o
trabalho. Aqui se tentará apresentar os pontos básicos que orientam a pesquisa, notadamente a
postura pragmatista e suas relações com a visão wittgensteiniana do não-representacionismo
da linguagem.
A tentativa aqui é a de focalizar a proposta de Richard Rorty de mesclar as
idéias dos pragmatistas clássicos com a filosofia lingüística pragmática e hermenêutica, de
forma a apresentar o marco teórico que informa as idéias principais do presente trabalho.
Apresentam-se, pois, tais noções filosóficas como movimentos
antiessencialistas e anti-representacionistas, numa forma de rompimento com os dualismos
metafísicos sujeito-objeto, aparência-realidade, essência-acidente, característicos da filosofia
clássica desde dos gregos5.
Trata-se da superação de concepções metafísicas, baseadas no entendimento de
que a função do pensamento seria descobrir as essências das coisas do mundo. O marco
filosófico que orienta este trabalho propicia um entendimento livre dos dualismos metafísicos
acima mencionados, levando-se ao desenvolvimento do que se pode denominar de giro
linguístico-pragmático ou reviravolta lingüístico-pragmática da filosofia contemporânea.6
Nesse sentido, a tese que se pretende abordar é aquela segundo a qual, num
novo mundo filosófico, não se deve tentar encontrar na linguagem ou no pensamento
5 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 153. 6 OLIVEIRA, Manfredo Araújo. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 15.
19
representações da realidade,7 desde que o conhecimento não é conhecimento de essências, ou
da coisa em si, mas sim um ato condicionado aos interesses e necessidades humanos, sempre
inserido num ambiente lingüístico, abrindo espaço à concepção pragmática da linguagem.
Assim é que se pretende no presente capítulo demonstrar a pertinência da tese
pragmatista para a visão do direito e dos processos de decisão jurídica, apresentando aquele
que decide como um ser inserido num ambiente lingüístico e, pois, histórico, cultural,
temporal e finito, enfim, humano.
E é nesse ponto que se encontra a mais valiosa contribuição do que se
convencionou chamar de neopragmatismo, típico do pensamento de Richard Rorty, para uma
visão pragmatista do direito. Trata-se da substituição da pergunta “estou eu descrevendo o
objeto em sua realidade ou apenas sua aparência?”, pela pergunta: “estou eu usando a melhor
descrição possível para a situação em que me encontro?”.8
Daí que é este marco teórico vem informar a visão do direito e dos processos
de decisão jurídica apresentada nesse trabalho.
2. Pragmatismo como antiessencialismo: crítica à concepção realista de que as coisas têm essências a serem descobertas pelo ato de conhecimento
O pragmatismo, como uma filosofia da ação, quer acabar com a distinção entre
conhecer coisas e usá-las. Para isso, apresenta-se contra a tese de que as coisas do mundo
tenham uma essência a ser descoberta e de que, portanto, seria função do conhecimento
buscar esta essência. “Sin embargo, para hacer plausible esa afirmación, los pragmatistas
7 “(…) we shall no longer think of either thought or language as containing representations of reality”. RORTY, Richard. “A pragmatist View of Comtemporary Analytic Philosophy”. Site da Universidade de Stanford. Disponível em <www.stanford.edu/~rrorty/>. Acesso em: 05 de setembro de 2003. 8 RORTY, Richard. “A pragmatist View of Comtemporary Analytic Philosophy”. Site da Universidade de Stanford. Disponível em <www.stanford.edu/~rrorty/>. Acesso em: 05 de setembro de 2003.
20
tienen que atacar la idea de que conocer X es estar relacionado con algo intrínseco a X,
mientras que usar X es estar em uma relación accidental, extrínseca a X.” 9
A idéia de que conhecer algo é buscar a sua essência se refere ao dualismo
metafísico essência-acidente, que, por outro lado, diz respeito à distinção entre extrínseco e
intrínseco, sendo esta a distinção que uma filosofia que se considere pragmatista deve superar,
utilizando-se do que se chama de antiessencialismo.10
É evidente que o dualismo entre a postura platônica – de que os universais
lingüísticos que o ser humano utiliza para designar coisas através da linguagem
corresponderiam a objetos verdadeiramente existentes – e a postura segundo a qual tais
universais seriam apenas símbolos contextuais é uma das disputas das mais antigas da
filosofia.
Em direito, esta dicotomia é apresentada pela disputa entre privilegiar a noção
de que as regras gerais possuem uma essência significativa e, de outro lado, a visão de que o
direito deve ser analisado sob o ponto de vista casuístico, concreto. Nesse, sentido, quer-se
adotar neste trabalho a visão de que o homem seria um ser biologicamente carente – tendo
somente a linguagem como referencial – trabalhando a questão com as especificidades do
vocabulário pragmatista.11
Para o pragmatista nada há em um objeto que não seja relacional, inexistindo
nesse objeto algo como uma essência a ser pesquisada, de forma que qualquer definição de
algo será sempre uma relação deste objeto com outros, e não algo que seja “em si”.
Richard Rorty, ao tentar demonstrar como pensar de forma antiessencialista,
apresenta, como exemplo, a proposta de se pensar as coisas como números. O fato é que é
9 RORTY, Richard. Esperanza o conocimiento? Una introducción al pragmatismo. Buenos Aires: Fundo de Cultura Econômica, 2001, p. 47. 10 RORTY, Richard. Esperanza o conocimiento? Una introducción al pragmatismo. Buenos Aires: Fundo de Cultura Econômica, 2001, p. 47. 11 ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e na ciência. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 214 e ss.
21
difícil pensar nos números como tendo características intrínsecas. Assim, saber qual a
natureza de um número, o que ele é “em si mesmo”, aparte as suas relações com outros
números, não faz sentido:
Lo que se busca es una descripción de 17 que sea de diferente tipo que las siguientes descripciones: menor que 23, mayor de 8, la suma de 6 y 11, la raíz cuadrada de 289, el cuadrado de 4.123.105, la diferencia entre 1.687.922 y 1.678.905. Lo molesto de todas estas descripciones es que ninguna parece llevarnos más cerca del número 17 que cualquiera de las otras.12
Portanto, qualquer das descrições do número “dezessete”, feitas acima, são
sempre referentes às suas relações com outros números e qualquer delas é capaz de nos levar
à noção do número 17.
Na tentativa de se livrar da concepção de que existem essências a serem
descobertas pela atividade do conhecimento, tenta-se apresentar a tese pragmatista de que não
há sentido em falar na distinção entre essência e acidente, já que, não somente no caso dos
números, mas no que se refere a qualquer tipo de coisa, o que há para conhecer são as suas
relações com outras coisas.13
Ao tentar descobrir a natureza intrínseca de uma mesa, por exemplo, de nada
adianta bater na mesa como forma de se adquirir um conhecimento intrínseco ou não-
lingüístico da mesa. Para o pragmatista, para saber o que é a mesa, não há melhor resposta
que: “aquello com respecto a lo qual los siguientes enunciados son verdaderos: marrón, fea,
dolorosa ante um movimiento enérgico de la mano, capaz de interponerse en el camino, hecha
de átomos, etcétera”.14
O pragmatista, pois, acredita que a preocupação de se separar a coisa de suas
relações é uma preocupação vã. Isto porque, numa visão pragmatista, “Não pode haver
12 RORTY, Richard. Esperanza o conocimiento? Una introducción al pragmatismo. Buenos Aires: Fundo de Cultura Econômica, 2001, p. 51. 13 RORTY, Richard. “Pragmatismo, filosofia analítica e ciência”. PINTO, Roberto Margutti Pinto; MAGRO, Cristina; ett ali. Filosofia analítica, pragmatismo, e ciência. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998, p. 15. 14 RORTY, Richard. Esperanza o conocimiento? Una introducción al pragmatismo. Buenos Aires: Fundo de Cultura Econômica, 2001, p. 56.
22
nenhuma diferença em alguma parte que não faça uma diferença em outra parte”.15 Se assim o
é, não há que se perscrutar sobre ter alcançado ou não a essência da coisa, a despeito das
relações a que esta coisa está submetida e de que forma ela pode ser útil aos propósitos e
necessidades humanos.
É nesse ponto que James afirma que “a posse da verdade, longe de ser aqui um
fim em si, é somente um meio preliminar em direção a outras satisfações vitais”. A tese
pragmatista sustenta, portanto, que não pode haver um ponto arquimediano de medida sobre
qual das descrições é mais ou menos correspondente à natureza intrínseca do objeto, já que
cada descrição servirá a interesses e propósitos diferentes.16
Assim, ao contrário de se buscar uma essência, seria mais útil buscar no
vocabulário da prática e da ação, do que no da teoria e da contemplação, alguma informação
sobre o significado das coisas do mundo. O fato é que, se as coisas nada mais são do que o
estabelecimento de determinadas relações, não há sentido em se perguntar sobre sua
“essência”, posto que não há uma “essência” sem correspondência com as necessidades
humanas.
Incabível, pois, pensar que, em direito, poder-se-ia obter interpretações
jurídicas que revelem o que seria uma essência da norma jurídica ou mesmo decisões que
sejam adequadas a algo como a “verdade” ou a “realidade”, conforme se verá mais à frente,
no desenvolver deste trabalho.
3. Giro Lingüístico e Representacionismo: a proposta de uma linguagem ideal representativa da realidade
O que se percebe da análise do pragmatismo proposto por Rorty é uma
adaptação da filosofia pragmatista clássica às filosofias pragmáticas da linguagem,
15 JAMES, William. Pragmatismo e outros ensaios. Rio de Janeiro: Lidador, 1967, p. 46. 16 Esta visão servirá para, no terceiro capítulo deste trabalho, fundamentar a visão pragmatista dos fatos no direito. JAMES, William. Pragmatismo e outros ensaios. Rio de Janeiro: Lidador, 1967, p. 118.
23
notadamente à filosofia wittgensteiniana da segunda fase, bem como à filosofia hermenêutica
heideggeriana e à noção do círculo hermenêutico.17
Daí que a filosofia pragmatista que se pretende implementar nesse trabalho
passa pelas noções encontradas nas teorias filosóficas surgidas com o que se convencionou
chamar de “giro lingüístico”. Cabendo, neste primeiro capítulo, tentar esclarecer como uma
visão pragmatista deve lidar com esta revolução na filosofia.
O problema é que tais revoluções filosóficas sempre tendem ao fracasso, posto
que apresentam um novo método, um novo vocabulário para resolução das mesmas questões
filosóficas que se apresentam desde os gregos.18
Assim é que a mais recente revolução filosófica, tratada comumente de giro
lingüístico, é encarada de forma crítica por Rorty, pois apresenta o ponto de vista de que os
problemas filosóficos poderiam ser resolvidos, desde que fossem encarados como problemas
lingüísticos, reformando-se a linguagem comum, ordinária, cheia de erros e imprecisões, para
uma linguagem ideal.
Tem-se, assim, nos chamados neopositivistas lógicos, uma tentativa de criação
de uma linguagem ideal que pudesse por fim à obscuridade do conhecimento causada por
problemas estritamente lingüísticos.19 Inicialmente, pois, a reviravolta lingüística significaria
uma maneira diferente de se trazer à tona os problemas filosóficos, tratando os problemas
anteriores sob a rubrica de “problemas lingüísticos”.20
17 GHIRALDELLI JR, Paulo. Richard Rorty: a filosofia do novo mundo em busca de mundos novos. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 50 e 57. 18 RORTY, Richard. El giro lingüístico: dificuldades metafilosóficas de la filosofia lingüística. Barcelona: Paidós Ibérica, 1990, p. 47-48. 19 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 157 e WARAT, Luiz Alberto. O direito e sua linguagem. C/colab.Leonel Serevo Rocha. Porto Alegre: Fabris, 1995, p. 37. 20 OLIVEIRA, Manfredo Araújo. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 12.
24
No primeiro “giro lingüístico”, com os positivistas lógicos do Círculo de
Viena21, tinha-se a idéia de que a linguagem deve servir como instância mediadora entre o
homem e o mundo, de forma que os problemas filosóficos deveriam ser resolvidos por uma
linguagem perfeita, uma linguagem ideal.
Trata-se da tentativa de se encontrar um caráter designativo da linguagem,
onde se tem “a teoria da afiguração como correspondência estrutural entre frase e estado de
coisas, respectivamente, fatos, elaborada no Tratactus. A frase representa, por semelhança
estrutural, o estado de coisas por ela referido”. Trata-se da visão de que “existe um mundo em
si que nos é dado independentemente da linguagem, mas que a linguagem tem a função de
exprimir” o que levou Wittgenstein a buscar esta linguagem perfeita, capaz de corresponder
com exatidão à estrutura ontológica do mundo. 22
Há, aqui, uma preocupação central com as questões semânticas e sintáticas,
donde os problemas pragmáticos, aqueles referentes à relação do signo com seu usuário, não
se apresentam a não ser em uma linguagem natural, sendo irrelevantes para o que se chama de
neopositivismo lógico.23
Deixa-se de encarar a linguagem como um mero instrumento secundário,
passando-a a uma categoria privilegiada na filosofia, mantendo-se, todavia, a diferença entre
pensamentos lingüísticos e não-lingüísticos e tomando a filosofia lingüística como forma de
solução última de todos os problemas filosóficos.
Segundo afirma Rorty, o que distinguiria a filosofia analítica de outras
iniciativas filosóficas do século XX seria a idéia de que o giro, junto com o uso da lógica
21 “Reconhece-se, geralmente, como fundador do positivismo lógico um grupo que surgiu na década de 20 deste século, conhecido sob a denominação de Círculo de Viena. Schlick, e Carnap podem ser indicados como seus membros mais destacados. Nagel, Moris, Quine, Fèigl, entre outros, tembém participaram; tendo Peirce, Frege e Wittgenstein (Tratactus) como precursores necessários”. WARAT, Luiz Alberto. O direito e sua Linguagem. C/colab.Leonel Serevo Rocha. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1995, p. 37. 22 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 121. 23 WARAT, Luiz Alberto. O direito e sua linguagem. C/colab.Leonel Serevo Rocha. Porto Alegre: Fabris, 1995, p. 46.
25
simbólica, tornaria possível, ou pelo menos mais fácil, transformar a filosofia numa disciplina
científica. A esperança, portanto, seria a de que os filósofos viessem a se tornar capazes, por
meio de uma pesquisa cooperativa, de “adicionar tijolos ao edifício do conhecimento”.24
Seria como transformar a filosofia em um esforço de encontrar o fundamento
para o conhecimento humano através da linguagem. Esta primeira frente em que se operou o
giro lingüístico não deixa de lado os dualismos metafísicos acima mencionados, já que tem
por intuito eleger uma linguagem ideal como forma de solucionar tais problemas, mantendo-
os, todavia, como verdadeiros problemas da filosofia.
Assim, caberia à filosofia da linguagem retirar as assertivas filosóficas do
âmbito da linguagem natural para que se possa constatar o que, “verdadeiramente” significam,
encarando-se, dessa forma, a linguagem, ainda, como possibilidade de se representar o mundo
como ele “é”.
Trata-se de uma tentativa de se conservar algo da tradição cartesiana, um
“esforço, dentro da recente filosofia da linguagem, para especificar ‘como é que a linguagem
se apega ao mundo’, criando em conseqüência um análogo do problema cartesiano de saber se
como é que o pensamento se apega ao mundo”. 25
Daí que a proposição é “uma imagem da realidade, (...) um modelo de
realidade tal qual a pensamos”. Ao mesmo tempo, “o sentido da proposição é a sua
concordância ou sua não concordância com as possibilidades da existência e da não-existência
de estados de coisas”.26
É como se o “espelho da natureza” deixasse de se encontrar internamente
(pensamento) e passasse a ser encontrado externamente, ou seja, na linguagem, reabilitando as
questões filosóficas clássicas em termos lingüísticos. É isso, justamente, o que proporciona a
24 RORTY, Richard. “Analytic philosophy and transformative philosophy”. Site da Universidade de Stanford. Disponível em <www.stanford.edu/~rrorty/>. Acesso em: 05 de setembro de 2003. 25 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988, p. 168. 26 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lógico-Filosófico. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 52 e 71.
26
possibilidade de se pensar e falar sobre o mundo. Eis a constatação lógica do porquê de a
linguagem fazer sentido.27
É a linguagem o ponto de investigação filosófica principal, já que os equívocos
produzidos em filosofia são nada mais que incoerências lingüísticas, que somente podem ser
solucionadas com uma linguagem ideal.
Os “equívocos” da linguagem ordinária são as razões para as confusões
conceituais que os filósofos tratam como “problemas filosóficos”. Este é o objetivo expresso
da única obra de vulto publicada por Wittgenstein ainda em vida28. O Tratado Lógico-
Filosófico quer mostrar que os problemas filosóficos simplesmente desaparecem quando se
entende a lógica da linguagem:
O livro trata dos problemas da filosofia e mostra – creio eu – que a posição de onde se interroga estes problemas repousa numa má compreensão da lógica da nossa linguagem. Todo o sentido do livro podia ser resumido nas seguintes palavras: o que é de todo exprimível, é exprimível claramente; aquilo de que não se pode falar, guarda-se em silêncio.29
Resolver os problemas da filosofia é, no entanto, o intento também do que se
chama de “segunda fase” da filosofia wittgensteiniana (que será abordada no próximo ponto).
O que identifica a proposta do Tractatus é que ele quer cumprir tal desiderato apresentando a
idéia de que a linguagem teria uma “estrutura lógica subjacente, cujo entendimento mostra os
limites do que se pode dizer clara e significativamente”.30
Tais limites são encontrados na Lógica e nos seus desenvolvimentos propostos,
principalmente por Russell31, de quem Wittgenstein pôde apreender as noções fundamentais
27 CONDÉ, Mario Lúcio Leitão. Wittgenstein: linguagem e mundo. São Paulo: Annablume, 1998, p. 52. 28 Wittgenstein publicou, ainda em vida, outras duas obras: um glossário alemão para crianças no curso primário e o roteiro de uma conferência a ser ministrada num encontro patrocinado pela Revista Mind e pela Sociedade Aristotélica. EDMONDS, Davids. EIDINOW, John. O atiçador de Wittgenstein. Rio de Janeiro: Difel, 2003, p. 222. 29 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lógico-Filosófico. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 27. 30 GRAYLING, A. C. Wittgenstein. São Paulo: Edições Loyola, 2002, p. 29. 31 A Teoria das Descrições de Russell não cabe nos propósitos desse trabalho, mas é a chave para a formalização da linguagem ordinária e a conseqüente evolução da lógica. Consiste na visualização das partes isoladas das
27
para a elaboração do Tratado. Ao destacar a importância filosófica da Lógica e, mais
especificamente, do calculo do predicado, encara-a como a linguagem perfeita, que pode
definir os limites do que pode ser dito, e, por conseguinte, do que tem significado.
A filosofia da linguagem teve, pois, início, “como a tentativa de produzir um
empirismo não-psicologístico mediante a reformulação de questões filosóficas como questões
de lógica”.32 O Tratado reconhece, pois, que a linguagem perfeita deve refletir a estrutura do
mundo, já que, tanto a linguagem, quanto o mundo, têm uma estrutura. É a análise clara e o
reconhecimento desse isomorfismo entre mundo e linguagem que pode livrar a linguagem das
imprecisões que fazem “surgir” os problemas filosóficos.33 Eles são tidos como proposições
que não conseguem retratar nada no mundo, não tendo conexão com o mesmo, pois não
refletiriam sua estrutura.34
Vê-se porque a Lógica tem papel fundamental na filosofia: o fato de que o
papel da linguagem é um só, o de representar a estrutura lógica do mundo. Tudo aquilo que
não sirva a este propósito, ou seja, que não reflita a estrutura lógica do mundo, está fora do
que pode ser dito, e, portanto, segundo o Tratado, deve ser silenciado, pois:
O método correto da Filosofia seria o seguinte: só dizer o que pode ser dito, i.e., as proposições das ciências naturais – e portanto sem nada que ver com a filosofia – e depois, quando alguém quisesse dizer algo metafísico, mostrar-lhe que nas suas proposições existem sinais aos quais não foram dados uma denotação.35
O objetivo desse capítulo, nesse sentido, é o de demonstrar que o pragmatismo
como antiessencialismo e anti-representacionismo pode ser útil a uma concepção da sentenças, como forma da verificação de sua falsidade ou veracidade. Assim, a despeito de a França ser uma república, a frase “Rei da França é careca” tem significado, mesmo não denotando nenhuma figura existente. Russell explica dividindo a sentença em três: 1. Existe um rei da França; 2. Existe um único rei da França; 3. O que quer que seja o rei da França, é careca. Expondo, pois, a lógica da linguagem, tem-se que, sendo a primeira assertiva falsa, toda afirmação é falsa. Usando, pois, as formas lógicas e os instrumentos de uma linguagem formalizada, conseguir-se-ia definir o que pode e o que não pode ser dito. GRAYLING, A. C. Wittgenstein. São Paulo: Edições Loyola, 2002, p. 50 e ss. 32 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988, p. 168. 33 MORENO, Arley R. Wittgenstein: os labirintos da linguagem. Campinas: Universidade de Campinas, 2000, p. 59. 34 GRAYLING, A. C. Wittgenstein. São Paulo: Edições Loyola, 2002, p. 49. 35 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lógico-Filosófico. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 27.
28
reviravolta lingüística como reviravolta lingüístico-pragmática, superando, com a ajuda do
próprio Wittgenstein, agora em sua segunda fase, a noção de que a única função da linguagem
é a denotação, que não se confunde com “representação da realidade”.
4. A visão wittgensteiniana da linguagem como instrumento de ação: a noção de “jogo de linguagem”
Para os propósitos desse trabalho, o de apresentar o processo de decisão
jurídica como jogo de linguagem, cabe analisar a noção básica da segunda fase da filosofia de
Wittgenstein, quando ele passa a visualizar a linguagem como instrumento de ação humana.
Não se adentrará, neste momento, aos questionamentos mais aprofundados da filosofia
wittgensteiniana, já que no decorrer do trabalho, as noções da pragmática da linguagem serão
usadas, junto às idéias pragmatistas e hermenêuticas, para fundamentar a tese proposta na
dissertação e os desdobramentos das questões específicas sobre os processos de decisão
jurídica.
É que o giro lingüístico, conforme dito acima, teve um momento inicial no qual
ainda se deixava levar pelos dualismos gregos, apegando-se a uma tentativa de se encontrar,
através da linguagem, a essência do conhecimento, ou das coisas do mundo.
A despeito desse momento inicial, Rorty apresenta o linguístic turn, num
segundo momento, com características das linhas de pensamento anti-representacionistas,
quando se passou a considerar o pensamento do último Wittgenstein como tendo dado uma
nova forma de se pensar sobre a suposta relação entre a linguagem e a realidade, em contraste
com os neopositivistas lógicos, e com o próprio Wittgenstein do Tractatus.36
A viragem pragmática veio, pois, com o próprio Wittgenstein ao rever sua
postura filosófica em relação à linguagem, trazendo a noção de que a linguagem não é 36 “This line of thought, running through the later Wittgenstein, as well as through the work of Sellars and Davidson, has given us a new way of thinking about the relation between language end reality”. RORTY, Richard. “Analytic philosophy and transformative philosophy”. Site da Universidade de Stanford. Disponível em <www.stanford.edu/~rrorty/>. Acesso em: 05 de setembro de 2003.
29
representação do mundo. Isso passa pela consideração antiessencialista de que não há um
mundo com essências a serem descobertas pelo homem que deve percebê-las e, depois,
utilizar-se da linguagem para sua transmissão.
Assim é que:
(...) pensar na linguagem como uma imagem do mundo – um conjunto de representações de que a filosofia necessita de exibir como estando numa qualquer espécie de relação não-intencional com aquilo que representam – não é útil para se explicar como a linguagem é apreendida ou compreendida.37
Trata-se do “sentimento de que não há nada no mais profundo de nós excepto
(sic) o que nós próprios lá pusemos (...), nenhuma argumentação rigorosa que não seja
obediência às nossas próprias convenções”.38
Nesse sentido, o trabalho da “segunda fase” da filosofia de Wittgenstein se
refere a seus escritos que vão desde a década de 1930 até sua morte. Tais textos são trabalhos
posteriores ao Tractatus, quando Wittgenstein, após um longo tempo longe da filosofia, volta
novamente seu interesse para as questões antes tratadas, agora sob um ponto de vista
diferente.
O período de transição que viveu a filosofia wittgensteiniana se refere a
questionamentos que envolvem, principalmente, a autoridade da lógica como linguagem
representativa da realidade. Passa-se a ver a linguagem lógica como uma entre tantas outras
linguagens possíveis. A metáfora da linguagem como imagem ou espelho formal do mundo
dá lugar à noção de linguagem como ferramenta.39
Esta fase de transição ocorre quando Wittgenstein retorna à Cambridge e vive
um intenso período de atividade intelectual, no qual desenvolve as idéias que vão formar a sua
outra obra de grande vulto, qual seja, as “Investigações Filosóficas”. Aqui, a preocupação
37 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988, p. 231. 38 RORTY, Richard. Conseqüências do pragmatismo. Lisboa: Piaget, 1999, p. 45. 39 EDMONDS, Davids. EIDINOW, John. O atiçador de Wittgenstein. Rio de Janeiro: Difel, 2003, p. 240.
30
com a linguagem continua, mas não se a vê mais como tendo a única função de representar a
estrutura lógica do mundo.
Nesse sentido, Wittgenstein demonstra sua mudança de pensamento quando
passa a ver sua linguagem ideal apresentada no Tractatus como “um jogo de linguagem
específico e, portanto, um processo de interação social; só que em virtude de seu caráter
artificial dá uma impressão de pureza, isto é, de separação de uma práxis social...”.40
Assim, qualquer linguagem ideal seria nada mais que um entre tantos
vocabulários possíveis, apenas um entre tantos processos de interação social que apenas dá a
impressão de estar desvinculado das práticas e necessidades humanas. A Lógica Simbólica é
um vocabulário específico, que serve para responder determinadas questões, mas ignora
outras.41
Passa-se a ver a linguagem como ferramenta, instrumento pelo qual o homem
realiza suas várias necessidades. Se assim o é, não se pode pensar a linguagem como tendo
uma única função, como se pensou no Tractatus. Abandonam-se, pois, os resquícios de
realismo ontológico.42
Como forma de negar a essência representativa da linguagem, Wittgenstein, ao
iniciar suas Investigações Filosóficas, apresenta uma citação de Santo Agostinho na qual uma
criança (o próprio Agostinho) aprendia o sentido das palavras pela designação feita
ostensivamente pelos seus pais, de modo que ouvindo as palavras, compreendia a que objetos
elas se referiam.
Seguindo este mote, Wittgenstein argumenta:
E parece-me que agora se pode dizer: Santo Agostinho descreve a aprendizagem da linguagem humana como se a criança chegasse a uma terra desconhecida cuja língua
40 OLIVEIRA, Manfredo Araújo. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 145. 41 RORTY, Richard. Philosophy and social hope. London: Penguim books, 1999, p. 178. 42 MORENO, Arley R. Wittgenstein: os labirintos da linguagem. Campinas: Universidade de Campinas, 2000, p. 59.
31
não compreendesse: como se ela já tivesse uma língua, mas não esta. Ou antes: como se a criança já pudesse pensar, apenas não pudesse falar. E “pensar” aqui quer dizer “falar para si próprio”.43 Ora, aqui Wittgenstein critica o aprendizado ostensivo da forma como é vista
por Agostinho, que ocorre quando alguém aponta para algo e diz um nome, supostamente
identificando o nome com o objeto. O argumento do Tractatus, que se identifica com uma
postura essencialista e representacionista é a de que “se os significados de palavras
consistissem num vínculo denotativo com objetos, então este vínculo teria de ser estabelecido
pela definição ostensiva, ou seja, indicando um objeto – tipicamente, apontando-o com um
dedo – e proferindo seu nome”.44
Todavia, não se pode identificar a definição ostensiva com o fundamento do
aprendizado da linguagem, primeiro porque a definição ostensiva já é um jogo de linguagem
e, portanto, já depende de determinados pressupostos lingüísticos significativos.
Isto porque, dado que a criança não tem ainda linguagem, como poderia ela
saber que o “apontar” serve para “nomear” uma coisa? De outro lado, como poderia a criança
aprender o significado de um verbo de forma ostensiva? Como apontar para um verbo? Como
a criança ou iniciante na linguagem vai saber se ao apontar, está-se a designar o nome da
coisa e não a sua forma ou a sua cor?
Santo Agostinho não fala de uma distinção a introduzir entre as diferentes palavras. Quem descreve a aprendizagem da linguagem desta maneira pensa, julgo eu, em primeira analise, em substantivos como ‘mesa’, ‘cadeira’, ‘pão’ e em nomes de certas atividades e propriedades; e, quanto às restantes espécies de palavras, alguma coisa se há-de encontrar.45
Portanto, para que o ato de apontar e nomear sirva a seu propósito, os
participantes da linguagem devem, desde já, estar inseridos numa forma de vida e,
conseqüentemente, num jogo de linguagem. Ademais, A denotação é apenas uma preparação 43 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. (IF 32) 44 GRAYLING, A. C. Wittgenstein. São Paulo: Edições Loyola, 2002, p. 97. 45 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. (IF 1).
32
para o uso de uma palavra. Imaginar que a denotação é a essência da linguagem é deixar de
lado as funções mais variadas das palavras que pronunciamos dia-a-dia.46
Em segundo lugar, a denotação é apenas um, entre tantos aspectos e funções da
linguagem. Nesse sentido, a noção de jogo de linguagem, que serve a vários propósitos na
filosofia da segunda fase de Wittgenstein, vai, aqui, ser usada para demonstrar a
multiplicidade de usos que a linguagem tem, ao contrário da visão de que a linguagem teria
uma essência, que seria a de refletir a estrutura lógica do mundo.47
Trata-se, pois, de identificar linguagem e ação humana. A questão é que esta
atividade humana (a linguagem) se dá sempre em contextos de ação com características
próprias e específicas, que refletem a função que a linguagem deve ter e somente pode ser
compreendida a partir desse contexto.48
Wittgenstein não define o que são jogos de linguagem, e nem poderia fazê-lo,
sob pena de contrariar sua visão antiessencialista. Assim é que a forma de vida do ser humano
se configura em linguagem que, em sendo instrumento de ação, se desdobra em infinitas
possibilidades, que são os jogos de linguagem. Ao invés de definir um conceito de jogo de
linguagem, Wittgenstein exemplifica-os como sendo contextos de formas de vida nas quais o
homem atua, age. “A expressão jogo de linguagem deve aqui realçar o fato de que falar uma
língua é uma parte de uma actividade ou de uma forma de vida”.49
Sempre se está num jogo determinado. São vários os jogos com que o ser
humano age e entre os mesmos não há qualquer elemento essencialmente comum. Ao invés
de tentar encontrar uma essência da linguagem “eu afirmo que todos estes fenômenos [jogos
46 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. (IF 27). 47 RORTY, Richard. Philosophy and social hope. London: Penguim books, 1999, p. 56. 48 OLIVEIRA, Manfredo Araújo. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 138. 49 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. (IF 19 e 23).
33
de linguagem] nada têm em comum, em virtude do qual nós utilizemos a mesma palavra para
todos – mas antes que eles são aparentados entre si de muitas maneiras diferentes”. 50
O que ele faz é apresentar exemplos e tentar demonstrar a parcialidade da
linguagem para alegar que somente o contexto social em que cada jogo é jogado pode dar
sentido ao que é dito. “Em nossa linguagem, não se trata apenas de designar objetos por meio
de palavras; as palavras estão inseridas numa situação global que regra seu uso...”.51
Imagine-se, desde já, a diferença entre os jogos de “relatar” com os de
“ordenar”. Pense-se num jogo que, quando um dos participantes disser “cinco lajes!”, deve o
outro lhe trazer nada mais que cinco lajes. A expressão “cinco lajes!” designa um estado de
coisas? Nesse sentido, para apresentar a multiplicidade de formas de uso da linguagem,
Wittgenstein pergunta:
Qual é a diferença entre o relato ou a asserção ‘Cinco lajes’ e a ordem ‘Cinco lajes! – Bem, é o papel desempenhado pelo acto de pronunciar estas palavras no jogo de linguagem. Mas também será o tom em que estas palavras são pronunciadas que será diferente, e a expressão facial, e muitas outras coisas.52
Ora, assim se vê que a linguagem não pode se resumir a uma única função, a de
dar nomes. Identifica-se, pois, a linguagem, como uma atividade da vida do ser humano,
como falar, beber, andar. O homem, portanto, usa a linguagem. E como os usos dependem dos
interesses, sendo múltiplos e complexos os interesses humanos, são também múltiplos e
complexos os usos da linguagem.
“Mas quantas espécies de proposições há? Talvez asserção, pergunta e ordem?
Há um número incontável de espécies: incontáveis espécies diferentes da aplicação daquilo a
que chamamos ‘símbolos’, ‘palavras’, ‘proposições’.”53 São tantas as espécies quantos são
nossos interesses. Utiliza-se a linguagem para dar ordens, descrever objetos, relatar um 50 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. (IF 65). 51 OLIVEIRA, Manfredo Araújo. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 139. 52 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. (IF 21) 53 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. (IF 23).
34
acontecimento, formar e examinar uma hipótese, traduzir, inventar uma estória, mentir, fingir,
cantar, pedir, entre tantos outros usos.54
Isso, todavia, não quer dizer, em Wittgenstein, que o “uso” seja a essência da
linguagem. Ao contrário, a noção de “uso” demonstra a multiplicidade de jogos de linguagem
e a multiplicidade dos propósitos para os quais a linguagem pode ser utilizada, contrariando,
expressamente, o pensamento dos lógicos e do próprio “autor do Tractatus Lógico-
Philosophicus”55.
Esta “dieta unilateral” é o que proporciona a visão essencialista e
representacionista que se quer afastar. A filosofia que queria ver na linguagem apenas um
propósito (o de representar, denotar) proporciona a visão de que há uma essência das coisas,
essência esta que a linguagem deve representar. Deve o filósofo ter uma visão panorâmica da
linguagem, como forma de afastar os maus entendidos lingüísticos que levam ao pensamento
essencialista, de ver a linguagem como representação da realidade.56
Diante da inserção do ser humano na linguagem, nenhum sentido tem se
perguntar sobre se uma frase representa a realidade, ao invés de se questionar sobre a
utilidade ou não da descrição apresentada para consecução de determinados fins humanos.
Um desses fins humanos é realizado pelo direito e, nesse sentido, visualizar-se
o processo de decisão como um ambiente lingüístico, nos moldes das posturas filosóficas aqui
adotadas, vai interferir profundamente na noção tradicional da interpretação jurídica dos
textos normativos, do papel do decididor em direito e da própria justificação dos processos de
decisão jurídica.
As posturas aqui apresentadas vão informar todo o decorrer do trabalho e,
principalmente, darão o tom da conclusão que se pretende apresentar, levando-se em
54 “Mais tarde, Austin utiliza estes verbos performativos para analisar a dupla realização dos actos de fala, através dos quais um falante, ao dizer algo, está simultaneamente a dizer algo”. HABERMAS, Jürgen. Racionalidade e comunicação. Lisboa: Edições 70, 1996, p. 155. 55 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. (IF 23). 56 SPANIOL, Werner. Filosofia e método no segundo Wittgenstein. São Paulo: Loyola, 1989, p. 101 a 104.
35
consideração que o processo de decisão jurídica é um entre tantos jogos de linguagem que o
homem usa.
36
CAP. 02. A BUSCA DA SEGURANÇA PELA RACIONALIDADE SUBSUNTIVA: A SUPERAÇÃO DA NOÇÃO DE NEUTRALIDADE DO INTÉRPRETE JURÍDICO E DA INTERPRETAÇÃO COMO REPRODUÇÃO DE SENTIDO
1. Introdução: o problema da visão essencialista da norma jurídica e a neutralidade do intérprete
O presente capítulo apresenta uma antiessencialista de se encarar a
interpretação do direito levando-se em consideração a indeterminação a priori dos textos
normativo-dogmáticos de se opor à concepção tradicional da hermenêutica jurídica baseada
na existência de um sentido “em si” do texto, que deveria ser encontrado por meio de um
método objetivo e neutro.
A visão do intérprete como sujeito que participa do ato de interpretação, em
oposição à noção do aplicador do direito como mero reprodutor de um sentido pré-existente é
o que se pretende abordar como uma primeira decorrência de uma postura antiessencialista e
anti-representacionista.
Não fazendo sentido falar-se numa essência significativa nos textos
normativos, só a análise do momento histórico da aplicação é que o sentido do texto é dado, o
que demonstra a necessidade de uma visão pragmática da interpretação do direito.
De outro lado, a postura da hermenêutica jurídica tradicional de encarar os
textos normativos como dotados de sentido próprio, esteja ele na “intenção do legislador” ou
na “vontade da lei” é própria do pensamento essencialista.
Esta mesma visão que, apesar de já se encontrar superada no normativismo
kelseniano, ainda encontra lastro na doutrina jurídica tradicional, o que demonstra a
necessidade da discussão trazida nesse capítulo57. É esta postura diante dos textos normativos
que se tenta combater através de uma visão hermenêutico-pragmática.
57 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 388.
37
Com a visão do humano como ser histórico, inserido num mundo lingüístico,
torna-se impossível pensar em conhecimento “objetivo” ou “neutro” em contraposição a
“subjetivo”. Daí que o intérprete jamais estará livre de seus pré-conceitos e, portanto,
qualquer interpretação será sempre circunstancial e nunca “objetiva”.
Nesse capítulo, as idéias da filosofia hermenêutica vêm trazer uma
contribuição ao antiessencialismo pragmatista, apresentando uma postura diferente daquela
vigorante ainda hoje quanto à interpretação jurídica, qual seja, aquela segundo o qual ao
intérprete não cabe encontrar “a única interpretação correta” diante de um caso concreto, mas
sim a que, diante das circunstâncias, será considerada pelo intérprete como a mais adequada
para aquela situação histórica. Assim é que os textos normativos não contêm “em si” o
sentido correto para sua aplicação.
2. A noção de texto jurídico-dogmático e a apresentação do paradigma da neutralidade como pureza do ato interpretativo
Neste capítulo se pretende apresentar a tese de que o direito dogmático, da forma
como ainda hoje se apresenta nas sociedades ocidentais desenvolvidas é uma organização que
somente pôde surgir na sociedade moderna, tendo tido como ápice de seu desenvolvimento o
surgimento do Estado de direito, onde se consolidou a concepção de um Poder Judiciário
como instância despolitizada/neutra de solução de conflitos. Esta neutralidade somente seria
possível em se tomando o Judiciário um poder autônomo, separado das esferas executiva e
legislativa do Estado.
Deste modo, apresenta-se o Poder Judiciário como esfera própria de solução de
conflitos devendo basear suas decisões em normas postas previamente e estruturadas em um
sistema que tem como pressuposto a inegabilidade de tais normas como ponto de partida para
38
a interpretação jurídica, além da obrigatoriedade de decidir, ou o princípio da proibição do
non liquet.
Inicialmente, é mister apresentar o contexto em que se pode encontrar a forma de
apresentação do direito que se pode chamar de dogmática, pois, somente com o
desenvolvimento de uma sociedade complexa o bastante para dogmatizar seu direito é que se
pode falar em uma neutralidade do Judiciário, sem a interferência de outros subsistemas no
momento da decisão. Somente com a dogmatização do direito na sociedade moderna foi
possível o desenvolvimento do Estado de direito.
A sociedade moderna que aqui se pretende apresentar é aquela cuja complexidade
social permitiu uma suficiente diferenciação entre as ordens normativas, apresentando o
direito como ordenamento distinto da religião e da moral, por exemplo. Assim, as sociedades
primitivas se organizam de forma que as diversas ordens normativas se apresentam
indiferenciadas, donde se afirmar que um ilícito cometido em uma sociedade primitiva é, ao
mesmo tempo um crime, um pecado e uma imoralidade. 58
Destarte, a complexificação das relações sociais permitiu a diferenciação entre o
direito e as demais normas de controle social, abrindo-se espaço à tolerância diante de
comportamentos desvirtuados da religião ou moral dominantes. A superação das verdades
absolutas dos diversos jusnaturalismos vem proporcionar a positivação do direito (aqui se
prefere o termo “dogmatização”)59, tendo tal realidade sido acentuada com o aparecimento do
Estado de direito.60
58 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 205. 59 Ver ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 215. 60 Frise-se, porém que já nos séculos XVI a XVIII, prolifera-se o direito escrito em detrimento dos costumes o que não caracteriza, por si só, um direito dogmático na forma como aqui se apresenta, já que somente com a diferenciação entre as esferas jurídicas e as demais ordenações sociais é que se pode caracterizar o direito como
39
Daí a importância que a lei adquire na sociedade moderna como fonte de direito
superior do sistema. Destaque-se os movimentos pela codificação ocorrentes, inclusive, nos
países de tradição anglo-saxônica, que pleiteavam a segurança de um ordenamento racional e
previamente estabelecido, contra a indeterminação dos comandos individuais e ocasionais da
common law.61
A outra característica é a obrigatoriedade de decidir. Só na modernidade o Estado
deve decidir sempre, adquirindo ou pretendendo o monopólio da jurisdição62. Assim, diante da
complexidade das relações surgidas com o mundo moderno, deve o Estado decidir sempre e
sobre todos os conflitos que lhe aparecem, tendo em vista a necessidade nova – inexistente
antes da era moderna – de que o Estado esteja presente com toda sua força para propiciar a
segurança necessária.
Pois bem. O direito de uma sociedade moderna, dito direito dogmático, tem como
características essenciais a inegabilidade dos pontos de partida63 e a obrigatoriedade de
decidir. A primeira característica se refere à impossibilidade de se argumentar juridicamente
senão com base em textos previamente estabelecidos. No caso do Estado de direito tais textos
são predominantemente os textos legais.
O direito dogmático teve seu desenvolvimento e fixação de suas características
essenciais com a derrocada do absolutismo. Apesar de, já no absolutismo – início da era
moderna – podermos encontrar a diferenciação entre o direito e as demais ordens normativas,
o surgimento do Estado de direito consolidou a lei como principal fonte de direito, bem como
dogmático. FERRAZ JR, Tercio Sampaio. Função social da dogmática jurídica. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 62. 61 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 34 e ss. 62 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 217. 63 FERRAZ JR, Tercio Sampaio. Função social da dogmática jurídica. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 93 e ss, e ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 215.
40
a noção clássica da divisão de poderes como forma de limitação ao poder, ressaltando a
necessidade de obediência ao texto até mesmo pelo soberano. A segurança jurídica era o valor
supremo que se devia alcançar, tudo em busca de uma proteção às liberdades individuais
contra a arbitrariedade do governante.
A posição do Judiciário como poder autônomo tem por objetivo garantir uma
separação entre direito e política.64 Deste modo, neutraliza-se a influência política nas
decisões judiciais, salientando-se a figura do juiz como imparcial decididor de controvérsias
individuais. Tudo isto com a finalidade maior de proteger o indivíduo contra o arbítrio do
soberano, ideologia própria ao desenvolvimento do Estado Burguês.
A neutralização política do Judiciário se apóia justamente na visão do raciocínio
judicial como um processo de subsunção do fato à norma. Deste modo, o juiz se coloca como
ente neutro diante dos interesses em jogo no conflito social, cabendo-lhe aplicar a lei
racionalmente, pois “se estes interesses serão atendidos ou decepcionados não é problema do
juiz, que apenas aplica a lei”.65
Conclui-se, portanto, que o direito dogmático e a neutralidade do Judiciário são
realidades próprias ao Estado de direito burguês, e que até hoje exercem marcante influência
no raciocínio judiciário. Estas características do direito dogmático e a posição que o Poder
Judiciário ocupa no Estado de direito servem como pressuposto histórico para a demonstração
do paradigma epistemológico vigente a esta época, o de que havia um sentido único da norma
que cabia ao juiz (neutro) encontrar no processo de subsunção. Tais questões serão analisadas
nos próximos pontos.
64 FERRAZ JR. Tercio Sampaio. “O Judiciário frente a Divisão de Poderes: um princípio em decadência?” Anuário dos cursos de pós-graduação em direito, n. 11. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2000, p. 347. 65 FERRAZ JR. Tercio Sampaio. “O Judiciário frente a Divisão de Poderes: um princípio em decadência?” Anuário dos cursos de pós-graduação em direito, n. 11. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2000, p. 348.
41
3. O modelo essencialista de interpretação que ainda vigora na dogmática jurídica contemporânea: voluntas legis e voluntas legislatoris
Desde a filosofia clássica, com os pré-socráticos, busca-se encontrar a essência
fundamental das coisas do mundo. Tem-se o desprezo pela retórica e a exaltação da verdade,
entendendo-se a dialética como saber superior, enquanto a retórica nada mais seria do que um
saber sem compromisso ético.66
O saber retórico ganha, no entanto, maior prestígio com Aristóteles, que passa
a considerá-lo um saber útil, quando os argumentos demonstrativos não são possíveis, ou
mesmo bem vindos67. Todavia, a tradição herdada pelos modernos é a de rejeição à retórica,
forjando-se uma racionalidade restrita, identificando conhecimento com demonstração
científica.
Uma epistemologia baseada em evidências poderia, assim, construir um
conhecimento claro, objetivo, digno de um saber científico. Daí a preocupação com a pureza
do saber e a necessidade de objetividade e neutralidade do sujeito observador diante do objeto
observado. É a busca pela verdade e o desprezo pela verossimilhança como característica do
pensamento racional moderno.68
A postura racionalista dos modelos jurídico-positivistas da modernidade
também importam a caracterização do direito como ciência. Seguindo esta linha, o ponto
cerne da caracterização do conhecimento científico é o do que se chama de neutralidade
axiológica, podendo ser este considerado o ponto capital da controvérsia sobre a cientificidade
e pureza do conhecimento jurídico, já que envolve um problema filosófico altamente
relevante e que tem suas bases na filosofia grega, passando pela modernidade e que hoje vem
66 FERES, Marcos Vinício Chein; ALVES, Marco Antônio Sousa. “Racionalidade ou Razoabilidade? Uma Questão Posta para a Dogmática”. Revista da Faculdade de direito da Universidade Federal de Minas Gerais, n. 39. Belo Horizonte: Faculdade de direito da UFMG, 2001, p. 288. 67 ARISTOTELES. Rethoric. The works of Aristotle. Col. Great Books of the Western World. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1990, v. 8, p. 596. 68 TEIXEIRA, João Paulo Allain. Racionalidade das decisões judiciais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 13.
42
sofrendo questionamentos incessantes por parte daqueles que não admitem a distinção
filosófica clássica entre o subjetivo e o objetivo, o que inclui a proposta do presente trabalho.69
Foi, portanto, com base nesse dualismo que se cunhou um conceito de ciência
cujo elemento primordial se referia à objetividade e neutralidade do pesquisador, provocando
discussões epistemológicas intermináveis sobre a cientificidade dos conhecimentos sociais e
humanos diante dos conhecimentos naturais, ou das ciências da natureza.
Inicialmente, o que se tentou fazer foi aproximar o conhecimento jurídico às
ciências da natureza, o que pode ser percebido claramente nas tentativas de se formular um
direito natural “racional”, uma busca pela cientificidade influenciada pelo sucesso das
demonstrações e métodos matemáticos.70
A marcante influência do positivismo lógico no direito, como uma clara
vertente filosófica representacionista, pode ser demonstrada pela identificação do raciocínio
jurídico com a lógica formal, atribuindo-se à norma geral a premissa maior e ao caso concreto
a premissa menor, enquanto a sentença seria a conclusão necessária do silogismo.71
Assim é que as primeiras doutrinas jurídico-positivistas, notadamente aquelas
identificadas com a Escola da Exegese, buscavam a segurança num modelo racional para a
aplicação do direito, donde o ato do aplicador nada mais seria senão a identificação do fato
com a norma para a verificação da conseqüência jurídica a ser aplicada, sem qualquer
intervenção dos valores e subjetividades do aplicador.
Este modelo de interpretação jurídica tinha como característica a pressuposição
de univocidade dos textos normativos, típica de uma postura representacionista em relação à
69 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 186 e ss; 70 BOBBIO, Norberto; BOVERO, Michelangelo. Sociedade e estado na filosofia política moderna. São Paulo: Brasiliense, 1996. 71 PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 02 e ss.
43
linguagem e que pode ser encontrada no legalismo da Escola da Exegese e na noção de direito
como ciência.72
Sendo assim, a atividade levada a cabo pelos juizes, ou por quem decide as
questões jurídicas, nada mais seria do que algo mecânico, aproximado do cálculo, sem que se
exigisse algo mais que uma operação mental de identificação do suporte fático abstrato da
norma com o fato concreto ocorrido no mundo dos fatos para que a incidência fosse verificada
e norma gerasse todos os seus efeitos, bem aos moldes da objetividade e isenção de valores
requeridos pelo positivismo lógico.73
Trata-se da necessidade de se considerar o direito um sistema formalizado,
donde a obrigação de decidir com base no ordenamento obriga o juiz a tratar o direito como
completo, coerente e claro, ou seja, sem lacunas, antinomias, nem tampouco obscuridades ou
ambigüidades.74
Desta forma satisfaziam-se as necessidades de segurança e limitação do poder
dos juízes, tratando a atividade jurisdicional como algo mecanizado e sem criatividade, na
qual o intérprete não leva em consideração valores ou outras questões subjetivas, nos moldes
exigidos pelo racionalismo moderno ainda reinante.
O que se quer ressaltar é que o paradigma epistemológico racional, a busca
pela essência, pelo ser em si das coisas do mundo, a separação entre sujeito e objeto e o
dualismo verdadeiro-falso, características do pensamento moderno, ainda têm bastante
influência sobre a epistemologia jurídica, notadamente quanto ao papel do decididor e do
processo de decisão na interpretação dos textos normativos.
72 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 34; NEVES, Marcelo. “A Interpretação Jurídica no Estado Democrático de direito”. GRAU, Eros Roberto; GUERRA FILHO, Willis Santiago. Direito constitucional: estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 356; LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, P. 21-22. 73 Para a noção de “suporte fático abstrato” e “incidência” ver PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado de direito privado. Tomo I. Campinas: Bookseller, 2002, p. 12 e ss. 74 PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2000, 34-35.
44
Desde a Escola da Exegese até os dias atuais, permanece no inconsciente de
grande parte dos juristas a concepção de que, dado um caso concreto, ter-se-ia uma “única
interpretação jurídica correta”, cabendo ao pensamento dogmático desenvolver os métodos
próprios para se buscar, racionalmente, tal decisão.
É de se destacar, mais uma vez, que esta visão da interpretação não se encontra
no normativismo de Kelsen75, nem tampouco nas idéias de Hart76 sobre o direito. Para o
primeiro, o texto dogmático é relativamente indeterminado, já que a aplicação do direito é
uma relação entre um escalão inferior e um escalão superior. Esta relação não é jamais de
total determinação. Portanto, a lei jamais vincula completamente o juiz, do mesmo modo que
o texto constitucional não vincula completamente o legislador ordinário. Daí que “a norma do
escalão superior não pode vincular em todas as direções (sob todos os aspectos) o ato através
do qual é aplicada”77. O direito a aplicar, assim, formaria uma espécie de moldura, dentro da
qual o intérprete atua com uma espécie de liberdade.
Em Hart, há o que ele chama de “textura aberta do direito”, donde as regras
gerais possuem uma ambigüidade e vagueza decorrentes da própria natureza contingente dos
fatos sociais por ela regulados:
Mesmo quando são usadas regras gerais formuladas verbalmente, podem, em casos particulares concretos, surgir incertezas quanto à forma de comportamento exigido por elas. Situações de facto particulares não esperam por nós já separadas umas das outras, e com etiquetas apostas como casos de aplicação da regra geral, cuja aplicação está em causa; nem a regra em si mesma pode avançar e reclamar os seus próprios casos de aplicação.78
Vê-se, pois, que o positivismo não pode, genericamente, ser acusado de
essencialista quanto à interpretação. As posturas de Kelsen e Hart não se mantêm nesse
75 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 393. 76 HART, Herbert L. A. O conceito de direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 137. 77 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 388. 78 HART, Herbert L. A. O conceito de direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 139.
45
modelo típico da escola da exegese79. Todavia, determinadas teorias interpretativas ainda
influentes buscam, até hoje, “o sentido e alcance das expressões de direito”.80 Prova disso é a
polêmica travada em meados do século XIX entre as teorias chamadas subjetivistas – que
buscam o sentido da norma numa “vontade do legislador” na tentativa de aplicar a separação
de poderes através do recurso ao legislador para a interpretação da norma – e as teorias
objetivistas, que apontam para a busca de sentido objetivo contido no texto em si.81
No caso da voluntas legislatoris, a tentativa de se encontrar o “sentido em si”
na intencionalidade produtora do texto, e, no caso da voluntas legis, a tentativa de encontrar o
sentido no próprio texto, como se o texto “em si” tivesse algum sentido independente das
necessidades e da história do homem.
Ambas as teorias, portanto, permanecem sob o paradigma de que a norma tem
um sentido em si, e que o intérprete deveria buscar este sentido ou na vontade do legislador –
caso das doutrinas subjetivistas – ou na própria norma – caso das doutrinas objetivistas. Neste
sentido, continua-se a buscar algo metafísico, que diz respeito ao “significado da norma”,
como sendo este o objeto da dogmática hermenêutica, que ainda vigora nos manuais de direito
no Brasil.82
Esta tentativa metafísica de se buscar um “sentido em si” no texto normativo
desconsidera o caráter humano da interpretação e, conforme se verá ao longo do trabalho, é
objeto de crítica das concepções hermenêutico-filosóficas que postulam uma visão do
conhecimento como atividade lingüística, voltada não para um ser em si, mas para os
problemas e necessidades históricas do ser humano, inserido sempre, num ambiente
lingüístico. 79 No quarto capítulo desse trabalho, ver-se-á que as idéias apresentadas por estes autores vão desencadear um novo processo de busca pela segurança e racionalidade no direito, a racionalidade procedimental das teorias da argumentação. 80 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p.01. 81 FERRAZ JR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. São Paulo: Atlas, 1994. 82 Ver NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 305 e ss; DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 384 e ss; e GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do direito. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 250 e ss.
46
4. A visão do homem como ser histórico-temporal para uma concepção hermenêutica do conhecimento
O rompimento com a concepção de sujeito desvinculado do objeto, quando
apresenta o conhecimento limitado pelo próprio aparato cognoscitivo subjetivo já está, de
forma tímida, em Kant.83 As formas a priori, puras, da sensibilidade (tempo e espaço)
impedem o sujeito de apreender o mundo tal como ele “é”, fazendo do conhecimento algo, de
certa forma, “relativo” ao sujeito.
Eis as bases para a filosofia passar a considerar o sujeito cognoscente como
inserido no mundo e tomando o mundo como perspectiva do sujeito. Em Kant, todavia, ainda
se tinha um sujeito universal, não um sujeito considerado como um ser específico, inserido
em um contexto histórico, social, psicológico ou até mesmo biológico84. Pensa-se, ainda, num
mundo “em si”, que “existe”, mesmo sem poder ser conhecido.
A visão que se quer apresentar nesse trabalho e, mais especificamente, nesse
capítulo, insere o sujeito no mundo de forma que não só o sujeito constrói o mundo, mas,
diante da sua inserção no próprio mundo, ele também é forjado pelo mundo, indo mais além
das idéias normativistas sobre a indeterminação dos textos dogmáticos.85
Daí a utilização do conceito heideggeriano do Ser-aí86, que, de forma
simplificada, pode significar “ser-no-mundo”, não no sentido estar em contato com todas as
coisas que constituem o mundo, mas sim de estar já familiarizado com uma totalidade de
significados num contexto referencial específico.
83 ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e na ciência. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 30 e ss. 84 MATURANA, Humberto. Ontologia da realidade. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001, p. 120 e ss. 85 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Parte I. Petrópolis: Ed. Vozes, 2000, p. 89. 86 Dasein é traduzido para o português também como “pre-sença”. Ver GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I. Petrópolis: Vozes, 2002 e HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo: parte I. Petrópolis: Ed. Vozes, 2000. Ver também STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 186. Em Manfredo Oliveira tem-se a tradução por eis-aí-ser. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 207 e ss.
47
A utilização da noção heideggeriana do “ser-aí” não implica uma aceitação da
postura filosófica de Heidegger quanto à linguagem. Sua ontologia hermenêutica quer
recuperar a atenção ao ser87 enquanto o pragmatismo, como sendo uma filosofia da ação, volta
a sua atenção para o agir.
Sendo assim, este trabalho pretende apenas ler Heidegger como Rorty o leu –
como o filósofo que volta os olhos para um “ser” histórico, voltado para sua temporalidade –
sem, contudo, embarcar no projeto ontológico heideggeriano. Esta noção é, portanto,
plenamente coerente com a postura pragmatista que se quer apresentar nesse trabalho.88
Assim, na análise de Heidegger da “mundanidade do mundo”, as coisas se dão
ao Ser-aí no interior de um “projeto”. Assim é que as coisas só “são” na medida em que têm
um sentido dentro de um projeto específico, de um determinado contexto que se apresenta ao
Ser-aí.89
O mundo com o qual o Ser-aí está já familiarizado é dado numa relação com
sua finitude, na qual o Ser-aí está sempre em um projeto histórico-cultural ligado à sua
mortalidade. “Tudo isso significa que o Ser-aí só se funda como uma totalidade
hermenêutica na medida em que vive continuamente a possibilidade de não existir mais”.90
Esta possibilidade de não mais existir é a forma da temporalidade do homem
que só se revela no seu direcionamento para a morte. É o homem como ser finito o que o
insere numa perspectiva finita, histórica, portanto, não-absoluta. Assim é que o sentido do ser
emerge na temporalidade, já que o fim do ser-no-mundo é a morte e, diante disso, “este fim
87 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 217. 88 RORTY, Richard. Conseqüências do pragmatismo. Lisboa: Piaget, 1999, p. 94. 89 VATTIMO, Gianni. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 112. 90 VATTIMO, Gianni. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 113.
48
limita e determina a totalidade cada vez possível da pré-sença”.91 O sentido do próprio ser-no-
mundo é determinado pela inserção deste num projeto tendente a um fim específico, a morte.
O homem, pois, constitui-se como ser-no-mundo, e “só há mundo e só há
verdade porque o homem é Dasein”92, ou seja, o Ser-aí, a Pré-sença. É o homem o revelador
do ser, pois o ser só é enquanto compreendido pelo Ser-aí. O homem compreende o ser na ex-
sistência histórica como ser-no-mundo:
A ex-sistência do homem é, enquanto ex-sistência historial, mas não é em primeiro lugar e apenas pelo facto de, no decurso do tempo, muitas coisas acontecerem com o homem e as coisas humanas. Pelo facto de se tratar de pensar a ex-sistência do ser-aí, por isso o pensar, em Ser e Tempo está tão fundamente interessado em que seja experimentada a historicidade do ser-aí.93
A existência do homem é, pois, histórica. Daí é que se abandona a busca pelo
“fundamento” do ser-em-si, já que “qualquer relação de fundação se dá já sempre no interior
de uma época do ser”94, a temporalidade do homem, que impede uma visão totalitária e
absoluta das coisas e do próprio homem.
Gadamer desenvolve sua hermenêutica filosófica para contrapor uma verdade
científica e demonstrável por um inquérito objetivo e neutro a uma noção de verdade como
experiência hermenêutica do Ser-aí. Com base na noção de ser histórico e inserido na
tradição, Gadamer apresenta uma hermenêutica filosófica, em contraposição a uma
hermenêutica normativa, apresentando a noção heideggeriana de ser-no-mundo como homem
inserido num contexto histórico e de tradição.95
A compreensão é tratada como constitutivo fundamental do homem como ser
histórico. Só se pode falar em hermenêutica na medida em que o homem é hermenêutico e,
91 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Parte II. Petrópolis: Ed. Vozes, 2002, p. 12. 92 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 209. 93 HEIDEGGER, Martin. Carta sobre o humanismo. Lisboa: Guimarães. 1987, p. 59. 94 VATTIMO, Gianni. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 115. 95 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 354.
49
portanto, finito, histórico, marcando-se, inexoravelmente a sua experiência de mundo.96 O
questionamento de Gadamer se refere à possibilidade de compreender diante da historicidade
do homem. A visão do homem como um ser isolado e separado do mundo é contraposta a um
ser-no-mundo, ou seja, o homem não pode superar sua inserção histórica no mundo:
O que é consagrado pela tradição e pela herança histórica possui uma autoridade que se tornou anônima, e nosso ser histórico e finito está determinado pelo fato de que também a autoridade do que foi transmitido, e não somente o que possui fundamentos evidentes, tem poder sobre nossa ação e nosso comportamento.97
É nesse sentido que a tradição condiciona a compreensão como estrutura prévia
que forja o ser-no-mundo da qual esta não pode “racionalmente” se livrar. A história é
condição prévia para o ser-no-mundo.98 Tentar ver o Ser-aí como ser absoluto, longe do
mundo, é ver no homem um aspecto divino.
O Ser-aí, pois, só “é” num contexto histórico. Só “é” diante do que lhe é dado
em sua finitude, em sua temporalidade. À hermenêutica filosófica cabe a busca do sentido a
partir do ser-no-mundo, como ser engajado numa práxis lingüística determinada. O ser é, pois,
aquele que vem ao encontro do homem, é dado ao homem, cada vez de forma diferente. “É o
dar-se (Geschick) do próprio ser que nos permite, no seio de nossa epocalidade, captar sua
parcialidade e perceber o advento histórico de uma experiência nova”.99
Antes de ser considerada uma limitação para a atividade de compreender, a
historicidade do ser-aí é condição de possibilidade para a compreensão. São os pré-conceitos
que forjam o homem na história que tornam possível a compreensão. Diante disso, só se
compreende a partir das expectativas de sentido que se dirigem e provêm da tradição
específica do homem.
96 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 209. 97 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 372. 98 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 202. 99 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 216.
50
Tradição esta que não está à disposição do homem, mas, ao contrário, o homem
se sujeita a ela. Assim: “Não se trata mais de uma subjetividade pura, isolada do mundo e da
história, mas de uma subjetividade que se constitui enquanto tal condicionada e marcada por
seu mundo, que, por sua vez, é historicamente mediado e lingüisticamente interpretado”.100
Esta historicidade se manifesta na linguagem, cuja estrutura deverá servir como
instrumento para a ação do homem dentro de sua historicidade. A análise da noção de círculo
hermenêutico, de certa forma, completa a noção do homem como ser histórico, indo de
encontro à proposta de uma linguagem pura, que refletiria a estrutura do mundo de forma
neutra.
Não se pode pensar, pois, em neutralidade do intérprete como reprodução e um
sentido existente, ou em racionalidade baseada na segurança da objetividade do intérprete,
sendo este o ponto específico que se analisará no próximo ponto.
5. A noção de circularidade hermenêutica como superação da noção tradicional de neutralidade no direito (a interpretação como atividade produtora de sentido)
A noção tradicional de neutralidade é encontrada no direito quando se pensa na
possibilidade de o intérprete jurídico estar alheio a tudo que não seja conteúdo da norma
jurídica, entendendo-se a norma jurídica como texto lingüístico abstrato que pode ter sua
“essência” encontrada por uma análise metodologicamente pura.
Aqui, quer-se abandonar esta noção de neutralidade, reconhecendo que a
tradição condiciona a compreensão e isso “nos leva a indagar se na hermenêutica das ciências
do espírito não devemos restabelecer de modo fundamental o elemento da tradição”.101
100 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 228. 101 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 374-375. Destaque-se que Gadamer também considera a importância da tradição nas ciências da natureza (p. 376).
51
Destarte, ao invés de fugir da tradição, propõe-se reconhecê-la e encontrar sua produtividade
hermenêutica.
A noção do chamado círculo hermenêutico, pois, leva ao entendimento de que
a distinção entre subjetivo e objetivo é algo metafísico e não leva em conta a inserção
necessária do homem no mundo e seus valores, crenças e, principalmente, interesses. Em
Heidegger, tem-se o que se chama de circularidade hermenêutica, quando este afirma:
A interpretação de algo como algo funda-se, essencialmente, numa posição prévia, visão prévia e concepção prévia. A interpretação nunca é apreensão de um dado preliminar, isenta de pressuposições. Se a concreção da interpretação, no sentido da interpretação textual exata, se compraz em se basear nisso que ‘está’ no texto, aquilo que, de imediato, apresenta como estando no texto nada mais é do que a opinião prévia, indiscutida e supostamente evidente do intérprete.102
Dessa forma, o processo de compreensão já vem norteado por uma expectativa
de sentido procedente do contexto,103 o que demonstra, ainda, que os preconceitos não estão à
disposição do homem. É justamente por isso que a busca pela verdade livre de
“subjetividades”, no sentido de participação do intérprete, é algo sem sentido. A compreensão
não pode ser levada a efeito sem uma compreensão preliminar implícita.104
Estando previamente familiarizado com o mundo, o ser-aí é forjado dentro
desta pré-compreensão, sendo que “qualquer ato de conhecimento nada mais é que uma
articulação, uma interpretação dessa familiaridade preliminar com o mundo”.105
Assim é que não existem dois seres humanos que compartilhem um contexto
associativo idêntico. Isto porque o contexto é formado da totalidade da existência histórica do
indivíduo, que forjam sua pré-compreensão. Portanto, o ser humano compreende não somente
com a memória e a experiência pessoal, mas também com o reservatório do inconsciente
102 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo: parte I. Petrópolis: Ed. Vozes, 2000, p. 207. 103 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 385. 104 ADEODATO, João Maurício. O problema da legitimidade: no rastro do pensamento de Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989, p. 99. 105 VATTIMO, Gianni. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 112.
52
particular, que varia de pessoa a pessoa. Daí que “não existem fac-símiles da sensibilidade,
nem psiques gêmeas”.106
Por conseguinte, mesmo quando se pensa estar fazendo uma investigação
“neutra” ou “objetiva”, deve-se levar em consideração que até na escolha do tema da
investigação, na pergunta feita pelo investigador e na forma de apresentar os problemas, está a
pré-compreensão. “Em outras palavras, a procura do sentido do ser, para o homem, implica
numa participação efetiva do sujeito pensante na constituição do próprio objeto pensado”.107
Diante da importância da tradição na compreensão, as coisas somente são na
medida em que aparecem ao homem. Assim, partir de pontos de vista diferentes, o texto
normativo se apresenta, historicamente, sob aspectos diferentes.
A circularidade da compreensão, todavia, não é algo de que se deve tentar
fugir. Ao compreender, o homem como ser-no-mundo está forjado pelos preconceitos e, a
cada compreensão, está-se construindo o ser humano como ser-aí. Cada nova compreensão –
que já está influenciada pela pré-compreensão – forma o ser-no-mundo e, como tal,
influenciará em uma nova compreensão e, assim, por diante. Trata-se de uma relação circular
da qual o homem não pode escapar.
A forma que o circulo hermenêutico é apresentado não indica uma
normatividade, mas a condição em que efetivamente o homem compreende. Não se trata de
visualizar a noção da pré-compreensão como algo mal, ou a ser evitado.108 Vê-se, destarte, que
a pré-compreensão não é algo limitador do conhecimento, sendo, na verdade, condição de
possibilidade para a compreensão, inerente ao homem como ser histórico. São os pré-
conceitos que forjam o homem na história e tornam possível a compreensão. 106 “No two human beings share an identical associative context. Because such a context is made up of the totality of an individual existence, because it comprehends not only the sum of personal memory and experience but also the reservoir of the particular subconscious, it will differ from person to person. There are no facsimiles of sensibility, no twin psyches”. STEINER, G. After Babel: aspects of language and translation. New York: Oxford University Press, 1998, p. 178-179. 107 ADEODATO, João Maurício. O problema da legitimidade: no rastro do pensamento de Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989, p. 101. 108 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Parte I. Petrópolis: Ed. Vozes, 2000, p. 210.
53
É nessa perspectiva, portanto, que se afirma que a busca pela representação
exata do que seria o “sentido da norma jurídica” está fadada ao fracasso diante da
impossibilidade de se evitar o círculo hermenêutico. Esta noção torna sem sentido, pois, o
problema da pureza e neutralidade no ato de interpretação do direito. Diante da noção de
circularidade hermenêutica, não se contrapõe neutralidade à subjetividade, mas sim, supera-se
tal distinção.
Não faz sentido, destarte, falar-se em conhecimento neutro e objetivo em
contraposição a conhecimento subjetivo a não ser que se esteja partindo de uma concepção
metafísica representacionista, que corresponde à noção de que, ao compreender, não deve o
homem misturar o que está “dentro” de si com o que está “fora”, ou seja, no mundo.109
A decisão jurídica – que é o tipo de discurso que se quer analisar no contexto
deste trabalho – tendo em vista a noção de circularidade da compreensão – é uma
interpretação da linguagem dos fatos e dos textos normativos que se lhe apresentam num
determinado contexto social e político.
O decididor, como sujeito cognoscente, não está buscando um sentido que já
está no texto ou na intencionalidade que a produziu, mas, ao contrário, com o ato
interpretativo, de certa forma se confere um sentido ao texto e aos fatos, diante da situação
concreta que se lhe apresenta, casuística e irrepetível110.
Assim é que o marco filosófico trazido neste trabalho, para a análise da
hermenêutica jurídica, modifica radicalmente o modelo de interpretação apresentado pelos
juristas tradicionais, que falam em encontrar “o sentido correto”, identificando-o num sentido
prévio do texto.
Encarar o texto como tendo um sentido em-si é o que possibilita uma
hermenêutica normativa, no sentido de método para busca da verdade na interpretação, o que 109 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988, p. 266. 110 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 279.
54
contraria a noção de Gadamer, segundo o qual “não é ele [intérprete] que, como conhecedor,
busca seu objeto e extrai com meios metodológicos o que realmente se quis dizer e tal como
realmente era, mesmo que levemente impedido e obscurecido pelos próprios preconceitos”.111
O sentido do texto não é propriedade do autor nem tampouco do texto, mas sim
do intérprete considerado num contexto social e, portanto, intersubjetivo. É impossível a
reprodução de sentido, já que o texto é indeterminado e, portanto, “aparece como um ponto de
referencia fixo frente à problematicidade, arbitrariedade ou, no mínimo a pluralidade de
possibilidades interpretativas que apontam para o texto”.112
Contra a tentativa de se encontrar o sentido único do texto, Heidegger ressalta
que “aquilo que, de imediato, apresenta como estando no texto nada mais é do que a opinião
prévia, indiscutida e supostamente evidente do intérprete”.113 Assim, “quem lê o texto lê a
partir de determinadas expectativas e na perspectiva de um sentido determinado”.114 Trata-se
de um projetar no qual o sentido se manifesta para o Ser-aí. Este projetar é baseado nos pré-
conceitos, encontrados no contexto histórico no qual o intérprete vive, e com os quais se tem
de lidar no ato de interpretação.
Dessa forma, a consideração de que o texto normativo pode ter um sentido
determinado previamente ao momento interpretativo não passa de uma tentativa de imposição
de um dado sentido, que vai de encontro à natureza hermenêutica do conhecimento e da
interpretação e desconsidera a circularidade da compreensão já apresentadas nesse trabalho.
A noção de “decisão criativa”, todavia, acirra as discussões sobre a influência
política e de outras esferas na decisão judicial, que levariam ao relativismo das decisões
jurídicas. A discussão sobre a politização do jurídico e a pós-moderna inter-relação entre o
jurídico e o político se refere à possibilidade ou não de decisões arbitrárias por parte de juízes,
111 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 595. 112 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método II. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 392. 113 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Parte I. Petrópolis: Ed. Vozes, 2000, p. 207. 114 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 354.
55
passando também pelo problema de legitimidade democrática do Judiciário para decisões
livres e influenciadas por fatores políticos, gerando a controvérsia sobre qual dos poderes
estatais detém a função central no Estado Democrático de direito.
Analisando-se a questão com base na proposta filosófica deste trabalho,
observar-se-á que o intérprete, como sujeito participante do sentido, será sempre influenciado
por fatores sociais, políticos e de outras esferas no momento de sua decisão, já que tais
interesses estão presentes nos contextos de muitos processos decisórios em direito.
Nos próximos capítulos se verá que tal problema desencadeou as posturas
universalizantes da racionalidade jurídica, como forma de vencer o receio do relativismo em
direito, tentativas de manter a “racionalidade jurídica” que este trabalho busca superar. Antes
disso, porém, cabe a apresentação de uma outra forma de se aplicar a racionalidade tradicional
objetivista, baseada na noção realista dos fatos em direito. É o que se verá no próximo
capítulo.
56
CAP. 03. A SUPERAÇÃO DA DISTINÇÃO FATO-VALOR: UMA POSTURA FILOSÓFICA PRAGMATISTA PARA A SUPERAÇÃO DA NOÇÃO DE OBJETIVIDADE NA AFERIÇÃO DOS FATOS EM DIREITO
1. Introdução: a noção de fato como construção humana (para uma visão diferente da prova nos processos de decisão)
O que se pretende com o presente capítulo é tentar apresentar uma noção de
fato como construção humana, em oposição à teoria da verdade como correspondência com a
realidade, defendendo a confusão entre fatos e valores para a visão do fato como algo desde já
normatizado, posto que construído numa narrativa dentro de uma linguagem.
Em direito, este questionamento se reflete na distinção entre questões de fato e
questões de direito, e está baseado numa segurança realista na objetividade dos primeiros. Tal
distinção tem, inclusive, influência dogmática na aceitabilidade de recursos, mas, em Filosofia
do Direito, se refere à noção comum de que, mesmo que se considere a interpretação uma
atividade na qual o sujeito ou intérprete jurídico tem participação na produção de sentido, as
questões meramente fáticas envolvem a correspondência das descrições com a realidade.
A distinção entre questões de fato e de direito leva consigo esta idéia comum
de que as questões de fato, ou as controvérsias que estão sob esta denominação, referem-se a
disputas não interpretativas. Nesse trabalho a tentativa é de apresentar uma visão menos
pretensiosa quanto à objetividade dos fatos para, diante de uma aproximação entre os
conceitos de fato e valor, apresentar a noção de fato numa perspectiva pragmatista.
Tentar-se-á demonstrar – em mais uma empresa no sentido de superar as
teorias representacionistas – que a noção de fato no direito, implica sempre uma
normatização, de forma tal que não se poderia falar em “fato puro”, que a norma jurídica
denotaria, em contraposição ao que seria o “fato jurídico”, qualificado da norma.
A tese aqui apresentada enfoca a distinção entre fato e valor para tentar
encontrar argumentos para aproximação dos dois conceitos, superando a distinção,
57
notadamente no que se refere à consideração de que os valores seriam algo “subjetivo”,
enquanto os fatos poderiam ser constatados “objetivamente”, sem qualquer possibilidade de
valoração por parte do sujeito cognoscente.
Ao se apresentar o ser humano como inserido desde sempre na linguagem, o
que se objetiva é demonstrar que não há espaço para a noção de fato pré-lingüístico, ou puro,
que independe da linguagem, já que, como visto, não se tem um acesso às coisas do mundo de
forma direta, pois o homem está sempre inserido na linguagem que forma sua condição de ser
humano.
Daí que qualquer descrição é “valorada”, “normativa”, donde o fato é sempre
construído pelo homem e carrega consigo a marca da subjetividade humana, sendo, pois,
impossível se falar em conhecimento objetivo dos fatos.
Ainda nesta linha de argumentação, pretende-se apresentar a tese de que os
fatos em direito são nada mais de descrições feitas por observadores, as quais refletem, desde
já seus interesses e necessidades.
Neste sentido é que, superando a noção de fato como correspondência com a
realidade, tem-se que a prova jurídica terá um caráter sempre persuasivo, desde já
normatizado e valorado pelos interesses de quem descreve.
Isto implica, pois, uma visão da prova, em direito processual, como
instrumento retórico e não como comprovação de uma “realidade”, e leva ao entendimento de
que a aplicação do direito é que vai, numa metáfora cabível para o presente trabalho,
“construir” o fato, sendo destituído de sentido falar-se em “fato puro” em contraposição a
“fato jurídico”.
58
2. A noção de fatos pré-lingüísticos como corolário de uma postura representacionista: os “fatos brutos”
A concepção clássica sobre os fatos que permeia o senso comum dos
pensadores jurídicos é a de que fatos ocorrem no mundo independentemente dos seres
humanos e que estes, através de seus aparelhos sensoriais (numa visão empirista), podem
conhecê-los objetivamente.
Todavia, aplicando-se as posturas filosóficas utilizadas no presente trabalho,
tenta-se superar esta visão, com fundamento na falta de sentido em se procurar algo antes da
linguagem. Tal empresa seria tentar visualizar o que, desde Kant, já se assinalara impossível:
a “coisa em si”.115
Em Kant, todavia, as coisas-como-elas-são, ou as coisas-em-si-mesmas, apesar
de incognoscíveis, podem ser pensadas. É que a representação das coisas tais como são dadas
ao conhecimento não se regula por elas mesmas – como coisas-em-si – mas são os objetos –
como fenômenos – que se regulam pelo modo de representação do ser humano (as formas
puras da sensibilidade – espaço e tempo). Mesmo assim, enquanto não se conhece a coisa-em-
si, tem-se que ela pode ser pensada, já que seria absurdo admitir que haveria fenômeno sem
que algo estivesse a aparecer.116
No caso presente, contudo, não se afirma a existência ou inexistência da coisa-
em-si. Encara-se a pergunta sobre sua existência, bem como a noção de fato bruto como uma
afirmação inútil ou mesmo sem sentido.
Uma objeção a esta posição filosófica é a de que existiriam sentimentos crus,
ou seja, algo que não necessita de linguagem para o conhecimento, como as dores, por
115 RORTY. Richard. Esperanza o conocimiento? Una introducción al pragmatismo. Buenos Aires: Fundo de Cultura Econômica, 2001, p. 45. 116 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. (prefácio à segunda edição).
59
exemplo. Desta forma, uma criança em idade pré-lingüística ao sentir dor, estaria
“conhecendo” a dor, e, portanto, existiria sim uma consciência ou sensação antes da
linguagem, cabendo à mesma representar tal realidade.
Uma primeira argumentação contra a noção de consciência ou sensação pré-
lingüística é a de que são capacidades diferentes o “sentir a dor” e o “identificar o que é” a
dor. Nesta linha de raciocínio, Rorty pergunta: “O que é, então, saber o que é a dor sem saber
ou reparar que gênero de coisa é ela?” E responde: “É apenas ter uma dor”.117
Veja-se que é diferente o fato de a criança, ou mesmo um animal, sentir a dor e
saber o que é a dor. O que ocorre é que a criança, antes e depois do aprendizado da linguagem
sente a mesma coisa, mas somente na linguagem ela “sabe” o que é a dor, pois tem condições
de “jogar” segundo as regras do jogo de linguagem.
O problema desta distinção é que a afirmação de que a criança tem uma dor,
mas não sabe o que ela é, também invoca a possibilidade de fatos independentes da
linguagem. Afinal é possível ter acesso a este “ter uma dor”, mesmo sendo algo que, em tese,
ocorreria internamente? Aliás, a própria pergunta faz algum sentido?
Não se quer aqui estabelecer noções sobre o que ocorre internamente, ou na
mente do ser humano. Uma posição pragmatista como a que se pretende tomar nesse trabalho
não admitiria tais considerações. O que se objetiva é argumentar que a idéia de um sentimento
pré-lingüístico não faz sentido, dentro da já apresentada noção de jogo de linguagem.
E aqui se tem mais um uso da noção de jogo de linguagem trazida pela
filosofia wittgensteiniana. A noção agora serve para revelar mais um propósito da filosofia
das Investigações, qual seja, o de dissolver as perplexidades encontradas na “gramática
superficial”. No exemplo dado acima, tal perplexidade se refere à idéia de que “ter uma dor”
significaria possuir, dentro de si, algo que existe, independentemente da linguagem.
117 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988, p. 148.
60
Esta idéia é vista por Wittgenstein como um mal entendido lingüístico, no
sentido de que a afirmação “ter uma dor” tem uma função específica dentro do jogo de
linguagem, e certamente não significa que quem afirma “ter uma dor” quer passar adiante a
informação de que possui, dentro de si, algo específico que se designa pela palavra “dor”.
Segundo Wittgenstein, a principal razão da forte inclinação para se falar da
cabeça como sendo a “sede” dos pensamentos é que as palavras ‘pensamento’ e ‘pensar’
existem paralelamente a “palavras que denotam actividades (corporais), como escrever, falar,
etc” isto, por conseguinte “leva-nos a procurar uma actividade diferente destas, mas a elas
análoga, correspondente à palavra pensamento”.118
A questão é que a expressão “ter uma dor” – tanto quanto outras expressões
compostas por verbos psicológicos como “sentir”, “entender”, “pensar”, etc – parece indicar
um estado interno, um “apontar para dentro”.119 Esta seria a visão da linguagem como
figuração, postura que, como visto no primeiro capítulo, identifica a estrutura da linguagem
com a estrutura do mundo, de forma que cada signo precisa representar uma realidade.
Mas não é assim que se passam as coisas. Não aprendemos o uso da palavra
dor identificando dentro de nós uma determinada sensação que sabemos estar ocorrendo,
reconhecemos enquanto tal e, então nomeamos. Pelo contrário, aprendemos a utilizar a
sentença “eu tenho dores” como uma extensão do nosso comportamento natural de dor, bem
como a atribuir dor às outras pessoas quando elas se comportam de modo semelhante.120
Wittgenstein vai, agora, usar a noção de jogo de linguagem para descrever o
uso das noções de “pensar”, “ter em mente”, “sentir”, trazendo à baila exemplos vários de uso
dos referidos termos, para provar que a idéia de “estado interno como fato bruto” é uma mera
confusão gramatical: “Wittgenstein agora reconhece que nesta sua dieta unilateral [presente
no Tractatus], juntamente com o desprezo pelas características de casos particulares, reside 118 WITTGENSTEIN, Ludwig. O livro azul. Lisboa: Edições 70, p. 33. 119 SPANIOL, Werner. Filosofia e método no segundo Wittgenstein. São Paulo: Loyola, 1989, p. 17. 120 HACKER, P. M. S. Wittgenstein. São Paulo: Unesp, 2000, p. 52.
61
uma das fontes de seu engano”.121 Assim, descrever estados de consciência não parece, pois, o
mesmo jogo de linguagem que descrever objetos como uma mesa ou uma cadeira.122
Contra a visão de que a dor é sensação bruta que a linguagem visa a
representar, Wittgenstein apresenta um exemplo que elucida seu argumento. Em tal exemplo
se percebe claramente que pensar nas sensações como fatos brutos é algo sem uso no jogo de
linguagem onde a expressão “ter uma dor” é normalmente utilizada.
Suponhamos que cada pessoa tem uma caixa dentro da qual está uma coisa a que chamamos “escaravelho”. Nenhuma pessoa pode ver o que está dentro da caixa de uma outra; e cada pessoa diz que só sabe o que é um escaravelho pela percepção do seu escaravelho. – Aqui seria possível que cada pessoa tivesse uma coisa diferente na sua caixa. Podemos até conceber que a coisa na caixa estivesse em transformação contínua. – Mas se a palavra “escaravelho” tivesse, no entanto, um emprego para estas pessoas? Então este emprego não seria o de uma designação de uma coisa. A coisa na caixa não pertence de todo ao jogo de linguagem; nem sequer como um simples algo, porque a caixa também podia estar vazia.123
É sem sentido falar-se em dor como objeto a ser designado pelos signos, pois a
“gramática da expressão” não se adapta à função designativa da linguagem. Por que faz
sentido afirmar que uma “pessoa” tem dores, mas seria um absurdo dizer que um “corpo” tem
dores? “Até que ponto é que a minha mão não sente dores, mas sim eu na minha mão?”. E
como se decide a controvérsia: o corpo tem dores? Wittgenstein responde: “Bem,
aproximadamente da seguinte maneira: se uma pessoa tem dores na mão, então não é a mão
que o diz (a não ser que o escreva); e, além disso, não se consola a mão, mas sim a pessoa que
sofre; olha-se a pessoa nos olhos”. É, portanto, a identificação com o utilizador da linguagem
(a mão, que não fala) que proporciona a noção ilusória de que a dor “pertence” ao ser
humano.124
121 SPANIOL, Werner. Filosofia e método no segundo Wittgenstein. São Paulo: Loyola, 1989, p. 56. 122 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. (IF 290). 123 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. (IF 293). 124 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. (IF 286).
62
Desta maneira, o fato de se identificar nos bebês em idade pré-lingüística, algo
como “sentimento”, mesmo afirmando que não se pode conhecê-los, parece mais uma
tentativa de adequar uma visão behaviorista com um sentimento de comunidade “que nos une
a tudo o que seja humanóide. Ser humanóide é possuir um rosto humano, e a parte mais
importante desse rosto é uma boca, que podemos imaginar proferindo frases em sintonia com
expressões apropriadas desse rosto como um todo”.125
Outra afirmação de sensação como fato bruto se encontra na visão de que a
“cor” seria um exemplo de fato bruto, independente da linguagem e que seria retratado ou
espelhado pela palavra “vermelho”: “Como é que reconheço que isto é vermelho? – “Vejo o
que é isto; e agora sei que tem este nome”. Isto? O quê?! Para esta pergunta, que gênero de
resposta tem sentido? (Andas sempre à volta de uma explicação ostensiva interior)”.126
Seguindo o mesmo exemplo, não se conhece a “cor vermelha” em si. Conhece-
se o conceito. Não há que se pensar em algo “em si” no mundo que seja representado pela
palavra “vermelho”. O que Wittgenstein quer dizer é que é na linguagem que o homem atua,
dando sentido às coisas segundo suas necessidades e interesses, sempre no contexto do jogo
de linguagem em que se encontra. Por isso à pergunta: “Como é que sei que esta cor é
vermelha? Uma resposta seria: ‘Eu aprendi português’”127.
É a negação do racionalismo subjetivista cartesiano e da sua visão de que o
“pensar” ou “sentir” é uma certeza direta, pois, ao olhar para dentro, ter-se-ia certeza da
existência das sensações. É isso que Wittgenstein desconstrói. A noção de jogo de linguagem
chama a atenção de que, no caso dos sentimentos, o que se quer é aplicar o modelo
representacionista do Tractatus, e pensá-los como fatos representados pela proposição. A
desconstrução da pragmática da linguagem não quer afirmar que “não existem dores”. Quer
125 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988, p. 152. 126 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. (IF 380). 127 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. (IF 381).
63
apenas descrever o uso habitual da expressão, mostrando os absurdos de se pensar que os
estados mentais seriam fatos brutos128:
Para esclarecer o sentido da palavra “pensar”, olhamos para nós próprios enquanto pensamos: aquilo que observamos será a denotação da palavra! – Mas este conceito não é usado dessa maneira. (Seria como se, sem conhecer o jogo de xadrez, eu quisesse tentar ver o que é que a palavra “xeque-mate” significa, apenas pela observação rigorosa do último lance de uma partida de xadrez”).129
Destarte, além do “limite” imposto pela linguagem, o que há é a “coisa em si”
e não faz sentido perguntar por ela. Perguntar pela “coisa em si” é imaginar um sentido fora
de um contexto lingüístico. É imaginar o significado fora de qualquer jogo de linguagem, fora
da forma de vida do ser humano.
Portanto, não há nada para se conhecer acerca de algo que não seja descrição
feita dentro de um jogo e de acordo com suas regras. Esta afirmação servirá para fundamentar
os próximos pontos do capítulo, que argumentarão, respectivamente, sobre uma aproximação
entre as noções de normatividade e faticidade, bem como sobre uma visão antiessencialista
quanto à noção de fato no direito, defendendo-se uma teoria da verdade não identificada com
a “correspondência com a realidade”.
3. A concepção tradicional do fato no direito: a distinção entre fato jurídico e fato bruto na teoria de Pontes de Miranda
Em pelo menos dois aspectos se pode analisar a concepção que os juristas
tradicionais têm do conceito “fato” quanto ao direito. Em primeiro lugar, tem-se o problema,
caro à teoria do direito, que é o do fato jurídico como entidade própria e que geraria os efeitos
jurídicos quando da incidência da norma no fato puro, que a mesma prevê abstratamente em
sua hipótese normativa.
128 SPANIOL, Werner. Filosofia e método no segundo Wittgenstein. São Paulo: Loyola, 1989, p. 75. 129 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. (IF 316).
64
Outra questão se refere ao processo e à aplicação do direito, mais
especificamente à distinção entre questão de fato e de direito.
Quanto ao primeiro aspecto, este ponto do capítulo pretende apresentar a noção
clássica de Pontes de Miranda no que se refere ao fato jurídico. Esta concepção se baseia
numa noção objetiva de fato como aquilo que ocorre independentemente do homem e que, em
estando previsto por uma norma jurídica, sofre a “qualificação” de jurídico.
Na estrutura lógica da norma jurídica, tem-se a parte em que está prevista,
hipoteticamente, uma situação fática abstrata, a qual Pontes de Miranda chama de “suporte
fático abstrato”.130 “Quando aludimos a suporte fático estamos fazendo referência a algo
(=fato, evento ou conduta) que poderá ocorrer no mundo e que, por ter sido considerado
relevante, tornou-se objeto da normatividade jurídica”.131
Diferentemente desta noção, tem-se a de “suporte fático concreto” que se refere
aos fatos que ocorrem de forma concreta no mundo, fazendo com que a norma incida. Ao
incidir, a norma traz o fato para uma perspectiva jurídica que ganhará contornos próprios
conforme estabelecido pela norma em seu conseqüente. Tal fato passará a ser chamado de fato
jurídico.132 Fato jurídico, portanto, é o fato sobre o qual a norma incide e que vai gerar o efeito
jurídico que poderá ser uma relação jurídica ou outras espécies eficaciais que não cabem ser
discutidas aqui.133
130 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Tomo I, Campinas: Bookseller, 1999, p. 66. 131 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 35. 132 CATÃO, Adrualdo de Lima. “Considerações sobre os conceitos fundamentais da teoria geral do processo: direito subjetivo, pretensão, ação material, pretensão à tutela jurídica e remédio jurídico processual”. CCJUR em Revista. N. 01. Maceió: Edufal, 2003, p. 36. 133 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 188.
65
A incidência, com a conseqüente formação do fato jurídico, tem um sentido
lógico-transcendente, eis que tal fenômeno se passaria no mundo da psique, sendo um
conceito lógico que vai gerar o dever ser concreto que será conteúdo da eficácia jurídica.134
Nesta linha de raciocínio, a diferença entre o fato concreto e o fato
jurisdicizado é que o primeiro é “fato puro” e o segundo é “qualificado” pelo direito. “Os
simples eventos da natureza jamais entram na composição de suporte fático em sua
simplicidade de fato puro”.135
Quanto à relação entre o observador humano e os fatos, a teoria do fato jurídico
toma por base esta distinção metafísica entre “fato puro” e “fato jurídico”, donde o primeiro é
fato mesmo sem o conhecimento humano – sendo independente dele – enquanto o segundo
somente ocorre com a participação humana ao “conhecer o fato puro” (e, portanto, objetivo),
assim, nesta concepção “a morte é fato e a morte conhecida é suporte fático”.136 O fato
jurídico somente ocorre com o conhecimento humano do fato puro.
Veja-se que se mantém a noção metafísica de “fato” como algo que não
depende do homem, algo pré-lingüístico, objetivo. Além disso, trata o conhecimento do fato
como se fosse outro “fato puro”, que comporia o suporte fático abstrato e faria a norma
incidir. Daí porque a morte e seu conhecimento objetivo seriam elementos do suporte fático
da norma jurídica. Ao conhecer o fato puro, este passaria a ser qualificado de “jurídico”.
Mesmo com a noção de conhecimento do fato como pressuposto para a
formação do que se chama de fato jurídico, não há qualquer referência na teoria ponteana à
participação humana na construção interpretativa do fato puro, nem tampouco do fato 134 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 49 e ss. Na metódica estruturante de Müller tal conceito se identificaria com o de “âmbito da norma” que são os fatos juridicamente relevantes dentro do “conjunto de matérias”, ou seja, dentro dos fatos ocorridos, têm-se aqueles que são importantes para o direito e por isso entrarão na concretização normativa. São, pois, fatos qualificados como o fato jurídico de Pontes de Miranda. Ver ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 221-259. 135 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 48. 136 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 49.
66
jurídico. Apenas o conhecer, constatar o fato puro já desencadearia a incidência – desde que
houvesse previsão normativa – não havendo menção à interpretação da norma jurídica (texto
normativo), nem do fato mesmo, que, em sendo puro, não poderia ser interpretado.
Isto bem demonstra o paradigma filosófico em que tal teoria faria sentido.
Somente com uma noção de fato como algo objetivo é que se pode pensar num “fato puro”,
pré-lingüístico, fora da linguagem. Referida noção é que dá ensejo à distinção factual-
normativo, como se existisse um fato natural e um fato normatizado, que já seria o fato
jurídico.
Esta noção de fato na teoria do direito informa o senso comum dos aplicadores
jurídicos e se reflete na distinção entre questões de fato e questões jurídicas, no sentido de que
somente as últimas poderiam ser consideradas interpretativas.
No próximo ponto, superando-se esta noção de fato puro pelas noções
filosóficas pragmatistas, pretende-se trazer críticas a uma postura que considere os fatos algo
impassível de interpretação, como ocorre nas visões tradicionais da teoria do direito.
4. A distinção fato-valor como objetivação dos fatos e subjetivação dos valores: argumentos para uma tentativa de superação da noção tradicional de objetividade como representação da realidade
A distinção fato-valor encerra várias questões problemáticas. No entanto,
diante da complexidade inerente às mesmas, tem-se que o presente trabalho enfocará mais
especificamente uma das implicações filosóficas da distinção, qual seja, a de que os fatos são
diferentes dos valores por que independem do homem, são objetivos, enquanto as questões
valorativas são eminentemente culturais e, assim, são forjadas pelo ser humano, sendo, pois,
67
subjetivas. Esta postura tem por base a visão moderna de ciência e, notadamente, o
determinismo mecanicista de Newton.137
A noção de que os valores estariam “dentro” do homem, enquanto os fatos
estariam “fora”138, é típica de uma visão filosófica baseada na consideração da existência de
uma realidade intrínseca, a qual o homem pode ter acesso direto e que estaria lá mesmo que o
homem não existisse:
Dizem que nós, seres humanos, somos animais racionais. Nossa crença nessa afirmação nos leva a menosprezar as emoções e a enaltecer a racionalidade, a ponto de querermos atribuir pensamento racional a animais não-humanos sempre que observamos neles comportamentos complexos. Nesse processo, fizemos com que a noção de realidade objetiva se tornasse referencia a algo que supomos ser universal e independente do que fazemos, e que usamos como argumento visando a convencer alguém não queremos usar de força bruta.139 Os fatos, nessa linha de raciocínio, não estão submetidos a uma apreciação
subjetiva por parte de quem o observa, sendo independentes do observador e não sofrendo a
influência dos valores. Tem-se, de outro lado, a visão de que os valores são dependentes da
subjetividade humana, pelo que nenhum procedimento seria capaz de torná-los objetivos, já
que não são cognitivos.140
É o mito da neutralidade axiológica que se manifesta no direito pela idéia de
neutralidade do Judiciário e na clássica noção de divisão dos poderes, baseados na noção
filosófica de “objetividade”. A tentativa de se estabelecer uma distinção nítida entre o
julgamento de “valor” e o de “realidade”. Enquanto os primeiros seriam voltados para os
sentimentos subjetivos do observador – argumento típico de um relativismo ético – os
segundos seriam puramente objetivos e independentes do homem.141
Não se quer aqui afirmar que toda a filosofia trabalha com esta visão da
diferença entre fatos e valores. Ao contrário, muitas concepções filosóficas lidam com os
137 RABENHORST, Eduardo Ramalho. A normatividade dos fatos. João Pessoa: Vieira Livros, 2003, p. 15. 138 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988, p. 266. 139 MATURANA, Humberto. Ontologia da realidade. Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 243. 140 PUTNAM, Hilary. Realismo de rosto humano. Lisboa: Piaget, 1999, p. 237. 141 RABENHORST, Eduardo Ramalho. A normatividade dos fatos. João Pessoa: Vieira Livros, 2003, p. 22.
68
valores como se fossem objetivos, como é o caso dos jusnaturalismos racionais que,
aproximaram os valores de conhecimentos matemáticos.142
Assim, o que se quer é aproximar as noções de fato e valor para negar a
objetividade dos fatos no sentido representacionista tradicional e, ao mesmo tempo, tentar
livrar-se de um relativismo dos valores, onde qualquer descrição seria válida em se tratando
de questões valorativas. A tese aqui é a de que os fatos são, desde sempre, valorações, pois
são nada mais que descrições feitas dentro de um jogo de linguagem, submetidas, no mínimo,
às regras lingüísticas.
Um primeiro argumento contra a distinção representacionista entre fatos e
valores, é o argumento da participação do intérprete como ser histórico na composição da
narração fática, já visto também sob a forma da noção de círculo hermenêutico no capítulo
segundo. “A objetivação desertifica a terra, implode o mundo, converte o ser humano em
animal que trabalha, e em tudo isso, realiza a consumação da metafísica e da decadência da
verdade dos entes”.143 Trata-se, pois, de um argumento bastante plausível para abandonar-se a
noção tradicional de fatos objetivos, mesmo em ciências físicas:
Da mesma maneira, e independentemente de estarmos ou não cientes disso, nós, observadores, nunca ouvimos num vácuo: sempre aplicamos algum critério particular de aceitação àquilo que escutamos (ou vemos, tocamos, cheiramos... ou pensamos), aceitando-o ou rejeitando-o, dependendo desse critério ser ou não satisfeito em nosso escutar. E, com efeito, isso está ocorrendo agora mesmo com o leitor desse artigo.144
É a partir deste argumento que Putnam trilha o caminho filosófico próprio para
lidar com a aproximação entre fato e valor. Afirma que seria uma ilusão pensar numa possível
concordância em relação ao que seria a noção tradicional de fatos e, em contrapartida, encarar
os valores como temas não passíveis de concordância, dada a pretensa objetividade atribuída
aos primeiros. Nesse sentido, pergunta: “Quando é que um nazi e um antinazi, um comunista
142 BOBBIO, Norberto; BOVERO, Michelangelo. Sociedade e estado na filosofia política moderna. São Paulo: Brasiliense, 1996, p. 14. 143 STEIN, Ernildo. Pensar é pensar a diferença: filosofia e conhecimento empírico. Ijuí: INIJUÍ. 2002, p. 140. 144 MATURANA, Humberto. Ontologia da realidade. Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 247-248.
69
e um social democrata, um fundamentalista e um liberal, ou até mesmo um republicano e um
democrata, concordaram em relação aos fatos?”145
É que os fatos, como sendo descrições, refletem as necessidades humanas, e,
portanto, os valores de quem faz a descrição. Assim, uma discordância entre fatos não é
meramente objetiva, na qual se deveria buscar uma “correspondência com a realidade” para
averiguar qual das asserções seria “verdadeira”. As controvérsias fáticas, por conseguinte,
também envolvem valores. É nesse sentido que James afirma que a palavra “‘realidade’
tornou-se nossa garantia para chamar um sentimento de cognitivo.”146
O exemplo mais evidente de como questões fáticas são, também, questões
valorativas, é o da “escolha” pela comunidade científica entre duas teorias conflitantes. Tais
disputas sempre envolvem análises eminentemente valorativas.
O exemplo dado por Putnam é o da disputa entre as teorias da relatividade de
Whitehead e de Einstein. Ambas as teorias pareciam chegar às mesmas conclusões. Ocorre
que, mesmo anos antes da possibilidade material de comprovação dos resultados das teorias, a
de Whitehead foi rejeitada diante da maior “simplicidade” com que Einstein passava da
Relatividade Especial para uma causa de gravitação, portanto:
Parte do meu exemplo é que as palavras coerência e a simplicidade, e outras semelhantes, são em si valores. Supor que “coerente” e “simples” são apenas palavras emotivas – palavras que expressam uma “atitude pro” perante uma teoria, mas que não associam quaisquer propriedades definitivas à teoria – seria considerar a justificação como um assunto inteiramente subjetivo.147
Desse modo, a escolha entre teorias científicas envolve valores. A justificação
de cada teoria precisa lidar com sua utilidade, necessidade, simplicidade e coerência, palavras
que se referem a questões valorativas.
145 PUTNAM, Hilary. Realismo de rosto humano. Lisboa: Piaget, 1999, p. 243. 146 JAMES, William. Pragmatismo e outros ensaios. Rio de Janeiro: Lidador, 1967, p. 179. 147 PUTNAM, Hilary. Realismo de rosto humano. Lisboa: Piaget, 1999, p. 212.
70
Veja-se que, levando-se em conta uma visão relativista dos valores, o
argumento apresentado por Putnam torna as controvérsias fáticas uma questão “meramente”
subjetiva. Daí porque ao dizer que uma teoria é simples, coerente e útil, está-se fazendo a
justificação da teoria, a fazer a justificação servirá para a aceitação da teoria.
Em Thomas Kuhn, vários argumentos são capazes de proporcionar a rejeição
ou aceitação de um determinado paradigma científico. Entre eles, existe aquele que se refere à
melhor forma de solucionar problemas, pois tem mais facilidade em persuadir cientistas, bem
como aqueles argumentos chamados “estéticos”: “Refiro-me aos argumentos, raras vezes
completamente explicitados, que apelam, no indivíduo, ao sentimento do que é apropriado ou
estético – a nova teoria é ‘mais clara’, ‘mais adequada’ ou ‘mais simples’ que a anterior”.148
Esta observação é decisiva para o que se pretende afirmar nesse trabalho. As
disputas entre teorias não são resolvidas por meio de um critério baseado na representação da
realidade. Muitas provas científicas, inclusive, não são sequer possíveis quando das
discussões. No dizer de Kuhn, questões persuasivas são amplamente usadas em controvérsias
científicas em áreas onde o senso comum pensa estar lidando com exatidão.
Destarte, a aproximação entre fatos e valores se mostra evidente diante da
necessária discussão valorativa no âmbito das controvérsias científicas.
Com base na noção representacionista da objetividade dos fatos, as
controvérsias sobre a coerência e a simplicidade de uma teoria física não devem ser
necessariamente consideradas “mais objetivas” que as controvérsias sobre a justiça ou noções
de bem e mal, pois, em ambos os casos, está-se diante de temas valorativos.149
Em assim sendo, o procedimento deliberativo que resulta em alterações de
paradigmas em ciência se aproxima, por exemplo, ao procedimento deliberativo que resulta
148 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2003, p. 196. 149 RORTY, Richard. Conseqüências do pragmatismo. Lisboa: Piaget, 1999, p. 235.
71
em modificação de governos (sentido mais literal do termo revolução), ou mesmo dos
processos de mudança de escolas artísticas.150
Nesse sentido é que se diz que “as proposições científicas não parecem
repousar num solo mais seguro do que o das proposições éticas, pois existem valores
implícitos em toda atividade científica”.151 Valores como a simplicidade, coerência,
compreensibilidade, não podem ser reduzidos a noções físicas e são tão problemáticos quanto
determinadas noções éticas. Ademais, não se pode furtar a tais valores, pois informam
qualquer discussão científica ou ética.152
Trazendo a discussão mais especificamente para o direito, as discussões sobre a
interpretação de um determinado fato (trata-se ou não de legítima defesa? A morte cerebral
abre a sucessão? Mesmo sem se encontrar o corpo pode haver homicídio?) sempre envolverá
aspectos valorativos sobre o caso específico, notadamente o critério da “coerência” dos
argumentos fátcos. Tal critério será decisivo para a decisão que seria tomada em um processo
de decisão jurídica.
Todavia, não se quer passar a idéia de que a aproximação entre fatos e valores
aqui proposta seria um relativismo. Na verdade, a postura de Putnam é a de rechaçar o
relativismo ético, que, como visto se baseia numa postura representacionista quanto à noção
de fato.
Usando o argumento de que os fatos, de certa forma, são valores, não se deve
considerar, também os fatos, questões “meramente subjetivas”. Tal postura tornaria qualquer
discussão ininteligível, ou mesmo inútil, já que se daria legitimidade à “verdade de cada um”.
150 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988, p. 256. 151 RABENHORST, Eduardo Ramalho. A normatividade dos fatos. João Pessoa: Vieira Livros, 2003, p. 54. 152 PUTNAM, Hilary. Razão, verdade e história. Lisboa: Dom Quixote, 1992, p. 103.
72
Afirmar que as discussões sobre fatos são valorativas não quer dizer que não se
possa discutir a respeito de qual é a “melhor” descrição entre as concorrentes, que será guiada
pela idéia geral de “bem”.153
Desta forma, ao invés de rechaçar os valores como algo não cognitivo, dever-
se-ia reconhecer que os valores “obtém sua autoridade da nossa idéia de prosperidade humana
e da nossa idéia de razão”. Destarte, a controvérsia não é algo arbitrário, sem sentido e sem
regras. A discussão será voltada sempre para a idéia de “bem”, que adquire seu significado
dentro da cada jogo de linguagem.
A idéia de bem, no direito, vai atender aos propósitos e valores da sociedade e,
principalmente, da comunidade jurídica. A vagueza da noção de “bem” é própria dos
objetivos deste trabalho, que não é o de defender uma espécie de racionalidade para solução
de controvérsias fático/valorativas (notadamente, aquelas que ocorrem no ambiente
lingüístico próprio ao direito).
O objetivo aqui é o de apresentar uma aproximação entre as noções de fato e
valor no sentido de defender uma não objetividade da noção de fato diante de sua
característica eminentemente valorativa, na medida em que sem valores não haveria um
mundo, pois são os valores que torna os homens humanos.154
5. Uma visão pragmatista de diferença entre questão de fato e questão de direito: a controvérsia sobre os fatos e a sua normatividade
A visão de que o fato concreto é tomado como algo objetivo, como fato puro
que, só com a qualificação jurídica, ser-lhe-ia atribuído o caráter normativo, é uma típica
postura representacionista.
153 PUTNAM, Hilary. Realismo de rosto humano. Lisboa: Piaget, 1999, p. 213. 154 PUTNAM, Hilary. Realismo de rosto humano. Lisboa: Piaget, 1999, p. 215.
73
Em direito, tanto na consideração da noção de fato puro quanto na teoria
clássica da interpretação jurídica, a referida tese também permeia o senso comum dos juristas.
A tese de que, antes da valoração conferida pela norma jurídica, não haveria nada a
interpretar, pois se estaria diante de um fato puro.
O problema não é encarar como momentos distintos o “constatar do fato” e a
“qualificação jurídica” desse fato, mas sim, pensar que as controvérsias sobre o acontecer do
fato são objetivas e dizem respeito à correspondência com a realidade. A distinção
corresponde à diferença entre fato puro e fato jurídico e reflete também a oposição entre
questão de fato e de direito.
Identificam-se, pois, três “elementos” da aplicação do direito: O texto
normativo (suporte fático abstrato); o fato concreto (aqui se confundem o fato puro e o
suporte fático concreto. Na teoria ponteana o suporte fático concreto seria já qualificado); e a
qualificação jurídica – que corresponderia ao conceito de incidência.
A questão é: há diferença entre saber “se” o fato (concreto) aconteceu e saber
“que” fato (jurídico) aconteceu. Tal diferença, contudo, implica dizer que a primeira questão é
mais objetiva que a primeira? São, como se vê, problemas diferentes: um deles é a diferença
entre o fato não jurídico e o fato jurídico. O outro é saber se tal diferença, em existindo,
implica numa visão do fato puro como realidade pré-lingüística.
Seguindo esta linha, defende-se, porém, que existe uma diferença entre os
momentos interpretativos de “constatar” um fato e “qualificá-lo” juridicamente.155 Rabenhorst
faz esta diferença mantendo, no entanto, o caráter interpretativo do fato e desprezando a
noção de um fato puro, independente do observador e de suas escolhas.
155 RABENHORST, Eduardo Ramalho. “A interpretação dos fatos no direito”. Prim@facie. Ano 02. N. 02. Disponível em <www.primafacie.com.br> Acesso em 17/11/2003.
74
A qualificação jurídica seria, pois, um momento posterior, em que, superada a
questão – repita-se, desde já interpretativa – de sabe “se” o fato previsto normativamente
ocorrera, trata-se de saber “que” fato ocorrera, diante dos conceitos jurídicos aplicáveis.
Deve-se, contudo, destacar que tais limites são bastante imprecisos e não
importam numa diferença de gênero de interpretação. Fatos são, desde já, descrições
lingüísticas e, portanto, não podem ser vistos fora de um jogo de linguagem. Em cada jogo de
linguagem o fato tem seu significado, não havendo como se pensar num fato puro. Pois bem.
Enquanto se está jogando o jogo da dogmática jurídica, são seus conceitos que interessam.
Portanto, saber “se” o “fato” aconteceu já é, de certa forma saber “que” fato aconteceu.
A pergunta só faz sentido, pois, em pensando-se nos conceitos fáticos previstos
nos textos normativos não só como regras de um jogo específico (dogmática jurídica), mas
também como expressões de diversos outros jogos de linguagem, ora da linguagem comum,
ora de especialidades científicas. Muitas vezes os textos normativos lançam mão de termos
técnicos, médicos, econômicos, e da linguagem comum. A diferença entre questão puramente
de fato e a qualificação jurídica é algo que se refere, pois, à diferença entre problemas de
significação de linguagens não jurídicas, e problemas de significação próprios à dogmática
jurídica.
Um exemplo pode esclarecer esta diferença entre questão fática e qualificação
jurídica: A lei trabalhista exige alguns requisitos para a configuração do contrato de trabalho
(o fato jurídico), que teria como efeito a relação de emprego. Pois bem, tais requisitos são os
seguintes fatos: trabalho com subordinação jurídica, onerosidade, pessoalidade e não-
eventualidade da prestação de serviços. Diante de uma situação em que o sujeito preste
serviços, mas lhe seja negado o reconhecimento da relação de emprego, a controvérsia
poderia se dar nos seguintes moldes: “nego-lhe a relação de emprego, pois não foi constatada
a subordinação jurídica”.
75
Esta questão estaria se referindo a “que” tipo de fato aconteceu, já que a
controvérsia se dá sobre que tipo de “prestação de serviços” se trata. Há, pois, uma diferença
entre saber “se” houve ou não uma prestação de serviços e “que” tipo de prestação de serviços
ela é (trabalho autônomo, representação comercial, relação de emprego, servidor público,
etc.).
Assim, diante desta diferença, a qualificação jurídica seria um momento
próprio, distinto da questão: “houve ou não a prestação de serviços” (que, frise-se, é também
ato interpretativo).
Ocorre, todavia, que ambas as controvérsias são, ao mesmo tempo, sobre “se”
o fato ocorreu e “que” fato ocorreu. O jogo que se está a jogar é que é diferente em ambas as
questões. Saber “se” ocorreu o fato da prestação de serviços é saber o “que” significa
prestação de serviços. Esta questão é normativa, mas não parece estar ligada, ainda, a um
conceito específico da dogmática jurídica, estando relacionada à linguagem comum, e ao que
significa “prestação de serviços”.
A existência dessa diferença no momento da qualificação jurídica se refere ao
momento em que o texto normativo passa a fazer parte da controvérsia e, portanto, determina
o lugar da dogmática jurídica em sentido estrito. Quando o problema passa a ser a noção de
“subordinação jurídica” um conceito próprio à dogmática passa a fazer parte da controvérsia
e, portanto, já é questão de qualificação jurídica. Todavia, ambas as questões são problemas
relacionados com o significado dos fatos e estão dentro de um jogo de linguagem, tratando-se,
pois de questões normativas.156
Outras vezes, porém, questões que parecem ser “puramente fáticas”, sem
ligação com a dogmática, estão, desde já, dentro dela. Por exemplo, o saber “se” aconteceu
uma “morte” realmente é diferente de saber “que” tipo de fato é tal morte (homicídio, 156 Ver, de outro ponto de vista, a consideração de Gabriel Ivo sobre a noção de fato como descrição através da linguagem competente das provas oposta à noção de fato puro. IVO, Gabriel. “A Incidência da Norma Jurídica: o cerco da linguagem”. RTDC, v. 4, 2000, p. 34 e ss.
76
infanticídio, latrocínio, suicídio, abortamento, eutanásia). Mas o saber o significado de
“morte” é já uma questão para a dogmática jurídica.
Basta atentar para as controvérsias sobre a morte encefálica e sua diferença
para com a morte pela paralisação dos órgãos.157 A morte encefálica possibilita a retirada dos
órgãos, mas pode-se dizer que ela já abre a sucessão? Qual a data que constará no atestado de
óbito, a da morte cerebral ou da paralisação dos órgãos?
Afinal, pode-se dizer que morte é um “fato puro”, ao invés de um conceito
construído e elaborado pelo homem, cujo sentido será atribuído dentro de um jogo de
linguagem? Morte é a “mesma coisa” em todo o mundo, em todas as culturas, em todo jogo
de linguagem?
O fato “morte” não “é” em si, independente de qualquer interpretação, devendo
ser lido dentro do jogo de linguagem em que está inserido. E se este jogo, no exemplo, é o
processo judicial, a dogmática jurídica. Assim, o contexto significativo do direito será o
parâmetro do significado a ser alcançado. Isto posto, saber “se” uma morte ocorreu é, antes,
saber o “que” é morte, dentro dum contexto desde já, jurídico.
Destarte, às vezes, saber o que “é” o fato depende da dogmática, e, às vezes,
não. Mas sempre dependerá de um vocabulário, de um jogo de linguagem. Então, a tese de
que seria possível visualizar um fato como fato puro já não tem cabimento diante das
premissas filosóficas estabelecidas ao longo do trabalho.
Enfim, diante da superação da noção tradicional de fato no direito, como ficaria
a distinção entre questão de fato e de direito? É uma distinção sem sentido?
Pensando-se em fato como representação da realidade, tal distinção é
filosoficamente insustentável. Todavia, pode-se aferir o uso da expressão “questão de fato”
157 “Art. 3º. A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por dois médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina”. Congresso Nacional Brasileiro: Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. Juris Síntese Millenium. n. 34, Porto Alegre: Ed. Síntese, 2002, 1 CD-ROM.
77
encarando os fatos como sendo descrição, que emerge sempre dentro de um contexto
lingüístico, desde já normatizado.
Sendo útil à esfera dogmática, cabe à Filosofia do Direito dar-lhe contornos
não-representacionistas. Assim, a “questão de fato” se distingue da “questão de direito”
apenas no que se refere ao objeto da controvérsia que aparece ao decididor. Se a controvérsia
não passa pelos fatos ou por sua qualificação, está-se diante de controvérsia apenas jurídica.
Isto se percebe claramente quando não se está discutindo provas dentro do
processo de decisão. Quando não se discute prova no processo judicial, seja porque se
concorda quanto aos fatos ou quanto a sua qualificação, não está diante de questão fática.
Num processo judicial, pois, há questões fáticas (houve a morte? Quem
matou?); questões de qualificação jurídica (Homicídio? Legítima defesa?); e questões
estritamente jurídicas, atinentes à interpretação do texto normativo (A Lei dos crimes
hediondos é inconstitucional?).
A diferença entre questão de fato e qualificação jurídica não tem, todavia,
importância para a dogmática jurídica que, sem discutir o assunto, considera a qualificação
jurídica uma questão de fato, e uma controvérsia jurídica, seja sobre “se” o fato aconteceu,
seja sobre “que” fato aconteceu, não será passível de avaliação por tribunais superiores.
Não se quer, portanto, abandonar a distinção questão de fato/questão de direito
que, dogmaticamente falando, tem funções próprias no ordenamento jurídico, notadamente, a
de impedir rediscussão sobre prova (questão de fato ou qualificação jurídica) em tribunais
superiores.
Identifica-se, assim, a aplicação do direito como uma atividade complexa que
está desde sempre inserida no jogo de linguagem. Separar questões de fato e de direito só se
justifica desde que não se veja a questão de fato como busca pela representação da realidade.
78
Esta noção pragmatista pode trazer uma visão diferente das posturas tradicionais sobre a
prova processual.
6. A verdade como descrição mais útil do mundo: o pragmatismo como teoria anti-representacionista e suas implicações na questão da prova dos fatos no processo judicial
Na linha que se pretende estabelecer para este trabalho, quer-se deixar de lado
a noção da prova como algo não passível de discussão, por ser objetivo e não interpretável.
Quer-se superar a visão de que o processo judicial seria ambiente de verdadeiro inquérito
científico, pelo qual, dados os fatos, a única questão passível de interpretação seria o texto
normativo, enquanto a prova seria uma forma de “comprovação” do fato.
Assim, quer-se abandonar a visão de que a verdade dos fatos em direito se
identificaria com a correspondência da descrição ou do pensamento a uma realidade
extrínseca independente do homem.158
O que se quer dizer aqui é que os fatos são descrições que refletem as
necessidades de quem os diz, bem como de quem aufere sua correção ou veracidade, na linha
do que Putnam chama de realismo interno. Não há acesso direito a uma realidade
independente, mas a descrição, ela própria, forja, constrói o objeto. Os órgãos sensoriais não
dão um acesso direto a um mundo “em si”, mas sim uma descrição de objetos que são em
parte constituídos e estruturados por eles. Somente com a manutenção do dualismo
aparência-realidade pode-se pensar em alguma forma de investigação que possibilite uma
visão das coisas como elas “são”, sem referencia aos interesses e necessidades humanos.
Tenta-se trazer a noção de crença como possibilidade de lidar com os
problemas da realidade, mas não como algo representativo dessa realidade. Nesse sentido, o
158 PUTNAM, Hilary. Renovar a filosofia. Lisboa: Piaget, 1992, p. 115.
79
pragmatismo busca a superação desse tipo de dualismo, trazendo a idéia de que as crenças são
verdadeiras e falsas na medida em que lidem bem ou mal com os problemas da realidade.
A idéia do conhecimento como representação da realidade é, portanto,
considerada inútil como teoria filosófica, já que é vão perguntar se um vocabulário utilizado
em uma dada investigação está mais próximo da realidade do que outro, posto que cada
vocabulário serve a um propósito específico:
Em particular, não há propósito algum que consista simplesmente em “descobrir como as coisas são”, oposto ao propósito de descobrir como prever seu movimento, explicar seu comportamento, etc. Não se comunica nada se se disser, com Locke e Williams, que o vocabulário no qual nós prevemos o movimento de um planeta está mais em contato com o modo com as coisas realmente são do que o vocabulário no qual atribuímos ao planeta influencia astrológica; porque dizer que a astrologia não está em contato com a realidade não pode explicar porque ela é inútil; apenas repõe este facto (sic) em termos representacionistas enganadores.159
Veja-se que descobrir a verdade é nada mais que descobrir a relação do que se
investiga com outras coisas do mundo e não encontrar a realidade do que a coisa é em si.
Segundo Richard Rorty, o pragmatismo vem gradualmente se desligando dessa tentativa, que
ainda apresentava resquícios na obra de Peirce, por exemplo, quando o mesmo fala em uma
espécie de consenso da comunidade de cientistas para o alcance do que poderia se chamar de
realidade.160
Nesta linha de raciocínio, qualquer tentativa de se encontrar um procedimento
racional por si mesmo, por meio de um consenso ou de uma investigação ideal em nada é
mais útil do que se tentar alcançar uma correspondência com a realidade, pois também se
configura numa tentativa de encontrar um sentido absoluto para a palavra “verdade”.161
159 RORTY, Richard. “Introdução: pragmatismo como anti-representacionismo”. MURPHY, Jonh. O pragmatismo: de Peirce a Davidson. Porto: Edições Asa, 1993, p. 10. 160 RORTY, Richard. “Introdução: pragmatismo como anti-representacionismo”. MURPHY, Jonh. O pragmatismo: de Peirce a Davidson. Porto: Edições Asa, 1993, p. 10 e 11. 161 RORTY, Richard. Esperanza o conocimiento? Una introducción al pragmatismo. Buenos Aires: Fundo de Cultura Econômica, 2001, p. 24.
80
A crítica de Rorty162, porém, não faz desaparecer a tese do fundador do
pragmatismo, de que a verdade não pode ser nada além do que um “estado de crença
inatacável pela dúvida”.163
Peirce admite que existem coisas que o sujeito não duvida, mas que, assim
mesmo, não se deve encarar tais crenças como verdades absolutas, pois estas crenças podem,
ao longo da vida, converter-se em novas dúvidas que poderão ser suplantadas por outras
crenças: “É certo que aquilo em que o leitor não se pode impedir de acreditar hoje poderá
amanhã ser inteiramente desacreditado pelo próprio leitor”.164
A crença é, além disso, uma forma de criação de um hábito, uma regra de
ação.165 Para Peirce, a crença suplanta a dúvida num primeiro momento, mas inicia um outro
estágio do conhecimento que se refere à ação. A função da crença é estabelecer um hábito.
Neste ponto, diferentes crenças distinguem-se pelos diferentes hábitos que provocam.166 Daí o
pragmatismo ser uma filosofia da ação que, como tal, deve ter uma concepção de verdade
referente a esta característica.
Em Peirce, pois, considerar todos os efeitos possíveis de um determinado
objeto é a regra para atingir-se o terceiro grau da clareza da compreensão. Assim, a concepção
completa desses efeitos é a concepção completa do objeto.167 Como não se pode afirmar quais
162 Rorty, inclusive, dá menos importância ao pensamento de Peirce quanto ao pragmatismo, chegando a afirmar que “A sua contribuição para o pragmatismo foi meramente ter lhe dado um nome, e ter estimulado James”. RORTY, Richard. Conseqüências do pragmatismo. Lisboa: Piaget, 1999, p. 232. Destaque-se que, após ter dado o nome de pragmatismo à filosofia que apresentava, Peirce, por discordar de alguns pontos que estavam sendo apresentados por James e outros filósofos, mudou o nome da sua filosofia para pragmaticismo. PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica. São Paulo: Editora Perspectiva, 2000, p. 285-287. 163 PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica. São Paulo: Editora Perspectiva, 2000, p. 289. 164 PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica. São Paulo: Editora Perspectiva, 2000, p. 289. 165 “As it appeases de the irritation of doubt, which is the motive for thinking, thought relaxes, and comes to rest for a moment when belief is reached. But, since belief is a rule for action, the application of which involves further doubt and further thought, at the same time that it is a stopping place, it is also a new starting-place for thought.” PEIRCE, Charles Sanders. “How to Make our Ideas Clear”. Selected Wrtings (values in a universe of chance). Nova Iorque: Dover Publicatons. 1980, p. 121. 166 PEIRCE, Charles Sanders. “How to Make our Ideas Clear”. Selected Wrtings (values in a universe of chance). Nova Iorque: Dover Publicatons. 1980, p. 121. 167 “It appears, then, that the rule for attaining the third grade of clearness of apprehension is as follows: consider what effects, which might conceivably have practical bearings, we conceive the object of our conception to have. Then, our conception of these effects is the whole of our conception of the object.” PEIRCE, Charles Sanders.
81
são todos os efeitos possíveis que um determinado objeto possui agora ou virá a possuir no
futuro, a concepção do objeto está limitada pelos efeitos que se apresentam no momento da
investigação, considerada historicamente.
Não se pode dizer que existe um método de investigação racional o bastante
para constatar todos os efeitos práticos possíveis do objeto investigado. Para ele o inquérito é
um outro nome para a solução de problemas e que não se pode imaginar um inquérito sobre a
forma como os homens devem viver. Cada estágio de maturidade social substituirá dilemas
prévios apenas produzindo outros mais novos.168
Assim, os pragmatistas não crêem que possa haver algo como uma verdade
representativa da realidade. O que pode haver é uma distinção entre definições mais úteis e
menos úteis e não uma distinção entre aparência e realidade.169 Deste modo, mantemos as
crenças com as quais conseguimos lidar bem com os problemas, aquelas que “demuestran ser
guías confiables para obtener lo que queremos”.170
É nesse sentido que James afirma:
Se há qualquer vida que seja realmente melhor do que a que devemos levar, e se há qualquer idéia que, em sendo acreditada, ajudar-nos-ia a levar tal vida, então seria realmente melhor para nós acreditar nessa idéia, a não ser que, na verdade, a crença que se lhe depositasse colidisse incidentalmente com outros benefícios vitais de maior vulto.171
Estes benefícios vitais são, nada mais nada menos, que benefícios concedidos
por outras crenças, tornando-as mais compatíveis do que as outras. “Em outras palavras, o
“How to Make our Ideas Clear”. Selected Wrtings (values in a universe of chance). Nova Iorque: Dover Publicatons. 1980, p. 124. 168 RORTY, Richard. “The Decline of a Redemptive Truth and the Rise of a Literacy Culture”. Site da Universidade de Stanford. Disponível em <www.stanford.edu/~rrorty/>. Acesso em: 05 de setembro de 2003. 169 RORTY, Richard. Esperanza o conocimiento? Una introducción al pragmatismo. Buenos Aires: Fundo de Cultura Econômica, 2001, p. 14. 170 RORTY, Richard. Esperanza o conocimiento? Una introducción al pragmatismo. Buenos Aires: Fundo de Cultura Econômica, 2001, p. 26. 171 JAMES, William. Pragmatismo e outros ensaios. Rio de Janeiro: Lidador, 1967, p. 59.
82
maior inimigo de qualquer de nossas verdades pode ser o resto de nossas verdades”.172
Ademais, “Dado que nadie conoce el futuro, que nadie sabe qué creencias permanecerán o no
justificadas, no hay nada a-histórico que decir acerca del conocimiento o de la verdad”.173
A negação do dualismo aparência-realidade significa encarar o conhecimento
não como a forma de obter a representação exata da realidade, ou de encontrar um
fundamento único e atemporal para a mesma, mas sim de conseguir lidar com os problemas
humanos à medida que surgem na vida.
A verdade, destarte, está muito menos relacionada com uma realidade existente
por si mesma do que com uma assertiva que possibilite um futuro melhor, com a dissolução
de problemas práticos surgidos na vida, caracterizando-se o pragmatismo como uma teoria
filosófica que tende a buscar não uma forma ou método de se encontrar a verdade, mas sim
apresentá-la como algo referente às necessidades humanas para uma vida melhor.
A proposta pragmatista quer, pois, encarar o problema da verdade como
descrição mais útil ou menos útil do mundo, tendo em vista que, estando sempre num
contexto lingüístico, não cabe ao homem tentar buscar algo para além de seus interesses.
Numa visão pragmatista, como visto, as descrições humanas são mais ou menos verdadeiras
se elas, no contexto social em que são ditas, alcançam melhores resultados práticos, ou seja,
são descrições melhores.174
Aqui se encaixa o que pretende o trabalho abordar sobre o problema da prova e
da correspondência com a realidade. Os juristas em geral trabalham com uma noção de prova
como comprovação da realidade. Uma concepção pragmatista, no entanto, não pode levar em
conta uma visão tal.
172 JAMES, William. Pragmatismo e outros ensaios. Rio de Janeiro: Lidador, 1967, p. 59. 173 RORTY, Richard. Esperanza o conocimiento? Una introducción al pragmatismo. Buenos Aires: Fundo de Cultura Econômica, 2001, p. 40. 174 RORTY. Richard. Esperanza o conocimiento? Una introducción al pragmatismo. Buenos Aires: Fundo de Cultura Econômica, 2001, p. 21.
83
A prova é nada mais que descrição textual que visa a dar plausibilidade a uma
determinada tese que se apresenta no contexto de um jogo de linguagem próprio que é o
processo. Ali será aferida sua plausibilidade, coerência e capacidade de persuasão.175 Cada
uma das versões, numa controvérsia fática, terá maior ou menor coerência ou plausibilidade,
sendo estes os valores que importarão para uma decisão que será tomada dentro das regras do
jogo. Desta maneira “todo fato ao ser elaborado é narrado e, obviamente, fatos podem ser
narrados de diferentes maneiras”. 176
Imaginar, portanto, a prova jurídica como correspondência com a realidade é
fechar os olhos às necessidades e interesses humanos ao construir os fatos. Destarte, a noção
de prova como correspondência com a realidade deveria ser substituída pela noção de verdade
ligada ao interesse, utilidade e coerência que se adapta muito melhor a um processo mais
democrático e tolerante à opinião contrária, mais aberto a escutar argumentos do que a dar
respostas “verdadeiras”.
A visão de que a prova, num processo judicial pode ser tida como algo
objetivo, neutro, independente do homem e de seus interesses e valores é algo que cria uma
espécie de ilusão metafísica que se identifica com a tentativa de se encontrar no texto
normativo uma “única resposta correta” e tem como base uma teoria da verdade como
correspondência, noção esta que se quer refutar nesse trabalho.
Daí que um enfoque pragmático da verdade impede que se desconsidere a
verdade como crença justificada e útil177, donde a verdade pareceria mais algo que serve para
“usar a realidade” do que para “representar a realidade”.178 Encarando a verdade como crença
175 RABENHORST, Eduardo Ramalho. “A interpretação dos fatos no direito”. Prim@facie. Ano 02. N. 02. Disponível em <www.primafacie.br> Acesso em 17/11/2003, p. 13. 176 RABENHORST, Eduardo Ramalho. “A interpretação dos fatos no direito”. Prim@facie. Ano 02. N. 02. Disponível em <www.primafacie> Acesso em 17/11/2003, p. 11. 177 PEIRCE, Charles Sanders. “How to Make our Ideas Clear”. Selected Writings (values in a universe of chance). Nova Iorque: Dover Publicatons. 1980, p. 121. 178 RORTY, Richard. Conseqüências do pragmatismo. Lisboa: Piaget, 1999, p. 234.
84
e como diretriz para ação, tem-se uma postura mais adequada no trato para com a noção do
“verdadeiro”, principalmente em direito.
O senso comum jurídico não possui ainda esta visão e “tudo se passa como se a
prova dos fatos na órbita jurídica fosse a concretização de uma verdade entendida como
correspondência com a realidade e não como um simples feixe de convergências capazes de
levar a uma adesão razoável”.179
Se a crença é uma orientação para a ação, nenhuma afirmação está livre dos
interesses de quem a diz, logo, a maior ou menor coerência das narrativas será importante
para se medir a maior ou menor capacidade de convencimento daquele a quem compete a
decisão (o júri, o juiz ou o tribunal). Isto quer dizer que não se pode encarar a prova como
comprovação de uma realidade, mas sim como argumento, descrição que visa a persuadir o
decididor diante dos interesses de quem a apresenta:
A prova jurídica trás consigo, inevitavelmente, o seu caráter ético. No sentido etimológico do termo probatio advem (sic) de probus que deu, em português prova e probo – provar significa uma constatação demonstrada de um fato ocorrido – sentido objetivo – mas também aprovar – sentido subjetivo. Fazer aprovar significa a produção de uma espécie de simpatia, capaz de sugerir confiança, bem como a possibilidade de garantir, por critérios de relevância, o entendimento dos fatos num sentido favorável (o que envolve questões de justiça, equidade, bem comum etc.).180
Em direito, conseqüentemente, uma noção de verdade como crença justificada
e útil aos propósitos humanos parece mais interessante a uma teoria da prova processual,
encarando-a como descrição de fatos para persuasão, já que, diante da complexidade da
sociedade contemporânea, o direito não pode se valer de noções metafísicas de certeza e
verdade, sob pena de substituir a tolerância democrática pelo arbítrio de “uma versão
verdadeira”.
179 RABENHORST, Eduardo Ramalho. “A interpretação dos fatos no direito”. Prim@facie. Ano 02. N. 02. Disponível em <www.primafacie.br> Acesso em 17/11/2003, p. 14. 180 FERRAZ JR. Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. São Paulo: Atlas, 1994, p. 318.
85
CAP. 04. A BUSCA FILOSÓFICA POR CRITÉRIOS RACIONAIS DE CORREÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS: O RACIONALISMO PROCEDIMENTAL COMO POSTURA UNIVERSALIZANTE
1. Introdução: a superação das concepções essencialistas e o receio do relativismo (a busca da Filosofia do Direito pela “racionalidade” dos processos de decisão)
Trata o presente capítulo de apresentar a tentativa, comum às teorias da
argumentação jurídica, de se conferir algum estatuto de “racionalidade” ao processo de
decisão de controvérsias jurídicas, representado, nas sociedades que apresentam a forma de
um direito dogmatizado, pelos processos de decisão jurídica.
Esta tentativa decorre da necessidade de se manter a segurança jurídica mesmo
com a adoção das posturas antiessencialistas tratadas no capítulo segundo e terceiro. “O
problema da racionalidade da jurisprudência consiste, pois, em saber como a aplicação de um
direito contingente pode ser feita internamente e fundamentada racionalmente no plano
externo, a fim de se garantir simultaneamente a segurança jurídica e a correção”.181
Em busca desses objetivos, diante da indeterminação prévia dos textos
dogmáticos e da complexidade da interpretação dos fatos jurídicos, o “juiz Hércules” de
Dworkin e os pressupostos básicos ao discurso jurídico como caso especial do discurso
prático geral, apresentadas por Robert Alexy, são apresentadas como exemplo de tentativas
racionalizantes que visam a substituir o modelo do racionalismo moderno.182
A base filosófica da teoria da argumentação de Alexy, ligada à postura
habermasiana de “racionalizar” o processo de tomada de decisões jurídicas, demonstra a
tendência de manutenção do vocabulário do racionalismo, com uma redefinição da noção de
razão, de forma a fundamentar um discurso livre de coação.
181 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia I: entre faticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Universitário, 1997, p. 247. 182 ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica: la teoría del discurso racional como teoría de la justificación jurídica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, 205 e ss.
86
Trabalhando com o pressuposto de que as questões morais não podem ser
resolvidas pelo recurso a noções jusnaturalistas ou de objetividade valorativa, como queriam
os racionalistas modernos, tem-se agora de fundar a moralidade num discurso lógico, livre de
coação e baseado na sinceridade. A racionalidade estaria, pois, na obediência às regras desse
discurso, donde algumas dessas regras teriam estatuto ideal, e mediriam a racionalidade de
cada decisão pela obediência ou não aos pressupostos do discurso racional.
Os pressupostos filosóficos de fundamentação das regras de são apresentados
para, ao final serem desconstruídos, apresentando-se como desnecessária e infrutífera a busca
pela “razão comunicativa” como forma de fundar o que é apenas um entre tantos jogos de
linguagem possíveis, abrindo caminho para, já no quinto e último capítulo se apresentar a
proposta pragmatista para a visão dos processos de decisão em direito.
Quer-se assumir a postura de que a Filosofia do Direito não necessita de um
discurso tal que incorpore elementos fundacionistas, como o que ocorre com a visão do
discurso racional como obediência a critérios e regras fundamentados em pressupostos
universais.
O objetivo é o de assumir uma postura pragmatista, em cujo vocabulário não
caibam os dualismos próprios a uma filosofia da consciência, como a oposição entre racional
e irracional, ou entre essência e acidente. A Filosofia do Direito não necessita manter a noção
de “racionalidade” como forma de fundamentar um determinado tipo de processo de tomada
de decisões jurídicas.
2. O receio da “ditadura” do Poder Judiciário e a busca da Filosofia do Direito pela racionalidade judicial
Deve-se, desde já, fazer a ressalva de que a indeterminação prévia de sentido
do texto normativo e a visão dos fatos jurídicos como descrições feitas num ambiente
87
lingüístico contextual não são uma “constatação fática” de que teria havido uma mudança
substancial na “natureza da interpretação jurídica”.
Na verdade, com a complexidade social cada vez maior, o sujeito se defronta
com situações complexas e inusitadas, que não podem ser tratadas de forma homogênea,
necessitando de soluções casuísticas. Daí a proliferação de textos dogmáticos abstratos, como
os princípios e conceitos jurídicos indeterminados, permitindo o controle social em uma
sociedade complexa. 183
Fornecem-se, pois, as bases para o entendimento de que a textura aberta ou a
indeterminação prévia dos textos normativos proporcionaria uma arbitrariedade na decisão e
que tal arbitrariedade deveria ser eliminada pela Filosofia do Direito. O receio é o de que a
liberdade que o texto jurídico confere ao aplicador no momento da decisão implique um
decisionismo, e que a prudentia substitua a razão.
Nesse sentido, as teorias da argumentação jurídica procuram um lugar onde se
apoiar para evitar o que já vem sendo chamado de a “ditadura” do Poder Judiciário, que, num
modelo de direito dogmático, sobressai-se como a última instância das decisões jurídicas.
Esta tentativa pode ser exemplificada inicialmente pela visão idealista de
Dworkin sobre a moralidade do judiciário e a necessidade de o juiz encontrar a “única decisão
correta”. Trata-se de uma visão radicalmente contrária a qualquer tipo de “relativismo” ou
“liberdade” no ato interpretativo.
A reação de Dworkin é à postura de Hart, segundo a qual o direito apresenta
em sua estrutura determinadas normas que têm uma “textura aberta”, diante das quais o
decididor pode, arbitrariamente, escolher uma entre as interpretações possíveis.184 Diante
183 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 280. 184 HART, Herbert L. A. O conceito de direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 137 e ss.
88
dessa situação, o juiz poderia, arbitrariamente, ou seja, baseado na vontade, decidir o caso
concreto a si apresentado.185
Baseado nessa premissa, Hart teoriza sobre o tema do ceticismo acerca das
regras. As regras gerais realmente existem, ou o direito é somente aquilo que os tribunais
decidem em cada caso concreto?186
Se as normas apresentam uma textura aberta, é bastante razoável perscrutar
sobre a existência de parâmetros gerais de conduta para assim entender qual a amplitude da
liberdade do decididor. É com esta questão que Hart trabalha tentando demonstrar que, apesar
da liberdade do intérprete ao decidir um caso, não se pode negar as hipóteses em que os
parâmetros de conduta são aceitos geralmente, servindo de pautas objetivas e que são
efetivamente observadas pela sociedade. Assim, a liberdade do que decide não nega a
existência das regras objetivas de conduta.187
O problema é que, apesar de se observar que algumas pautas de conduta são
geralmente aceitas e não apresentam maiores problemas em sua interpretação, o espaço
deixado pela textura aberta de determinados textos normativos possibilita que o decididor
esteja livre para decidir, o que traz à tona o problema da legitimidade da decisão.
Trata-se da preocupação que Kelsen desprezou como incabível à ciência do
direito. Mantendo os fundamentos de sua Teoria Pura, afirma que a interpretação é “ato de
conhecimento”, que visa a encontrar as diversas possibilidades de sentido de acordo com a
ciência do direito, servindo esta como uma espécie de moldura, dentro da qual as diversas
possibilidades estariam inseridas.188
185 DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge: Harvard University Press. 2001, p. 34-35; ver também STRUCHINER, Noel. Direito e linguagem: uma análise da textura aberta da linguagem e sua aplicação no direito. Rio de Janeiro: Renovar. 2002, p. 124. 186 HART, Herbert L. A. O Conceito de direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 138. 187 “O direito opera na vida deles [indivíduos] não meramente como hábitos ou como base de predição de decisões dos tribunais ou de acções de outras autoridades, mas como padrões jurídicos de comportamento aceites”. HART, Herbert L. A. O conceito de direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 151. 188 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 387 e ss.
89
Assim, a ciência do direito, diante da plurivocidade dos textos normativos,
deve buscar as várias interpretações cientificamente possíveis, findando aí seu desiderato. A
partir de então, a interpretação seria uma escolha arbitrária, um verdadeiro ato de vontade,
exercício de um poder discricionário, que não estaria mais no âmbito de análise da ciência do
direito, pois seria questão de política ou ética qual das hipóteses interpretativas seria aplicada
ao caso.
Aqui, Kelsen frustra os racionalistas, tornando a produção teórica do direito um
mero “arbítrio”189. Esta visão do positivismo é que provoca a preocupação com o
“irracionalismo” nas decisões judiciais, ao se referir à questão da legitimação de uma decisão
discricionária. Assim, Dworkin teoriza a respeito na tentativa de demonstrar que, mesmo nos
casos difíceis (hard cases), o juiz poderia (ou deveria) encontrar a “única resposta correta”, ou
a resposta “mais razoável”, diante do problema apresentado, baseando-se no ordenamento
jurídico, sem o recurso a uma decisão arbitrária ou baseada na vontade. 190
Assim, Dworkin apresenta como uma das características centrais do
positivismo e seu “modelo de regras” a de que a obrigação jurídica (legal obligation) somente
existe se houver uma regra de direito que assim o diga. Destarte, no modelo de regras, quando
não há uma regra, não há obrigação jurídica.191
Nesse sentido, são os princípios que servem de condicionantes e balizadores
para a decisão, tornando a decisão em um caso difícil um ato dogmaticamente balizado, que
admite a atividade não-arbitrária do juiz, podendo este exercer, inclusive, a atitude crítica
diante do ordenamento, reconciliando decisões do passado (precedentes ou textos legais)192
189 Fazendo surgir o que Tercio chama de “desafio kelseniano”. FERRAZ JR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. São Paulo: Atlas, 1994, p. 263. 190 DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge: Havard University Press, 2001, p. 81 e ss; e O Império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 378 e ss. 191 DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge: Havard University Press, 2001, p. 17. 192 Aqui se refere à idéia de que não há liberdade do decididor, que deve sempre se basear em textos precedentes para tomar sua decisão. MARMOR, Andrei. Interpretation and legal theory. Oxford: Clarendon Press, 1994, p. 74.
90
com a aceitabilidade racional do presente, ponderando os valores envolvidos no hard case.193
Mantém-se, pois, a segurança sem impedir que o decididor possa, diante de um caso difícil,
ponderar valores e interesses.
É obvio que uma visão como a de Dworkin desperta críticas bastante difíceis
de se contornar, notadamente quando ele defende que uma subjetividade ideal como o “juiz
Hércules”, uma espécie de super intérprete, uma figura ideal que teria a possibilidade de
encontrar a “única resposta correta”.194 Esta tese tem uma fé na infalibilidade do juiz diante da
plurivocidade dos textos normativos e das questões valorativas e altamente controversas que
lhe aparecem no processo judicial.
Esta fé somente poderia estar baseada numa figura ideal como Hércules, o juiz
perfeito. Dworkin apresenta sua teoria com enfoque em exigências ideais, refletidas na noção
de Hércules. Todavia, como o juiz comum está aquém da figura de um Hércules, a tese de
Dworkin é bastante difícil de ser defendida numa sociedade tão complexa com a que
contemporaneamente se apresenta.
3. A superação da razão centrada no sujeito: racionalidade como fundamento das regras de lógica, sinceridade e liberdade no discurso
Uma outra linha de crítica à irracionalidade das decisões judiciais tem por base
a noção de razão comunicativa habermasiana se baseia num novo conceito de razão,
desvinculada da subjetividade e encarada como obediência a critérios que garantam a
liberdade e sinceridade discursivas.
193 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia I: entre faticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Universitário, 1997, p. 264. 194 AARNIO, Aulis. Derecho, racionalidad y comunicación social: ensayos sobre Filosofía del Derecho. México: Distribuiciones Fontamara, 1995, p. 26.
91
Trata-se, pois, de visualizar o direito e a racionalidade das decisões sob uma
perspectiva procedimentalista195, fugindo-se da razão centrada no sujeito, de um lado, e da
irracionalidade, de outro, para encontrar uma razão comunicativa. Trata-se de uma
racionalidade procedimental, cuja função é a de “identificar e reconstruir condições universais
de possível compreensão mútua”. Trata-se de apresentar a idéia de que todo falante em atitude
comunicativa deve, ao efetuar um ato de fala, apresenta pretensões de validade universal.196
A premissa da teoria habermasiana da racionalidade comunicativa é a de que
devem existir pressupostos básicos a serem observados no discurso e que proporcionariam o
caráter racional ao mesmo. Refere-se à tentativa de se livrar da teoria da verdade como
correspondência, mantendo a racionalidade como meta-critério para correção das decisões
morais e veracidade das questões teóricas voltando-se à busca pelo consenso.197
Nessa linha de raciocínio, distingue-se o discurso teórico do prático. No
primeiro, tem-se a pretensão de veracidade das asserções, enquanto no segundo, a busca pela
correção da norma de ação é o objetivo. Em ambos os casos, normas que implicam a
liberdade, sinceridade e a lógica no discurso, servem como critérios para aferição da
racionalidade procedimental, que visa a substituir a racionalidade centrada no sujeito e a
noção de verdade como representação da realidade. Uma teoria como esta tem em vista
afirmar que uma crença moral resultante de um procedimento cujas regras de racionalidade
não foram cumpridas só pode ser tida como “irracional”.198
A razão vista como centrada no sujeito tem a sua aferição baseada nos critérios
de verdade que regulam as relações do um sujeito que conhece o mundo de objetos ou estado
de coisas possíveis. Uma relação de correspondência que toma por base um mundo
195 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia I: entre faticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Universitário, 1997, p. 242. 196 HABERMAS, Jürgen. Racionalidade e comunicação. Lisboa: Edições 70, 1996, p. 09 e 12. 197 ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 2000, p. 234. 198 RORTY, Richard. Objetivismo, relativismo e verdade: escritos filosóficos I. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002, p. 236.
92
“coisificado” que existe independente do homem e que deve ser captado pela razão. Teorias
filosóficas que dão o “acesso” a tal mundo devem ser deixadas de lado.199
De outro lado, uma razão comunicativa tem em mente o “conhecer” como algo
“mediado pela comunicação, a racionalidade encontra sua medida na capacidade de os
participantes responsáveis pela interação orientarem-se pelas pretensões de validade que estão
assentadas no reconhecimento intersubjetivo”.200
A razão assim colocada se refere à capacidade que tem o discurso de “unificar
sem coerção e instituir um consenso no qual os participantes superam suas concepções
inicialmente subjetivas e parciais em favor de um acordo racionalmente motivado”.201 A
liberdade e sinceridade discursivas voltadas para um “consenso racional”.
Como vimos, a distinção moderna entre fato e valor implica a consideração da
análise fática como objetiva, enquanto os valores não seriam susceptíveis de cognição, pois
seriam meramente subjetivos. Daí que a “razão prática” ficou vinculada à felicidade
individualizada, levando-se a pensá-la como “questão de gosto”.202
Tem-se, pois, a visão de que os valores seriam dependentes da subjetividade
humana, pelo que nenhum procedimento seria capaz de torná-los objetivos, sendo, pois não
cognitivos. Enquanto isso, os fatos são objetivos, pelo que a razão está na capacidade do
sujeito de alcançar tal certeza pelo poder que lhe distingue dos animais irracionais. 203
A visão habermasiana parte da crítica à verdade como correspondência com a
realidade, para aproximar fatos e valores, e encará-los de maneira tal que não haveria que se
falar em fato como algo objetivo e independente do homem. Insere-se a noção de fato como
199 HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 17 e ss. 200 HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 438. 201 HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 439. 202 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988, p. 266. 203 PUTNAM, Hilary. Realismo de rosto humano. Lisboa: Piaget, 1999, p. 237.
93
descrição e identifica a verdade com a justificação feita num discurso racional, algo como um
ponto arquimediano.204
O discurso moral está, pois, vinculado a práticas lingüísticas que aferirão a
racionalidade e a correção da decisão tomada após a deliberação. A aproximação entre fato e
valor não se dá pela objetivação dos valores como queriam os jusnaturalistas racionalistas205,
mas sim por uma nova visão de racionalidade, a razão comunicativa, que se aplicaria tanto a
questões teóricas quanto a questões práticas.
Com base em Peirce, não se trata da visão de uma comunidade privada
específica para definição das regras de racionalidade discursiva, pois, mesmo que não se
possa sair do jogo de linguagem a que o ser humano está vinculado, “na relação com a
realidade não se pode perder o nexo com algo que independe de nós e que é, nesse sentido,
trancendente”.206
A verdade assim considerada tem por base a noção de “final opinion” da
comunidade de cientistas, um estágio ideal onde a informação fosse completa, de forma tal
que “a realidade depende da decisão derradeira da comunidade; o pensamento constitui-se
caminhando na direção de um pensamento futuro (...)”.207
Esta concepção de realidade depende da consideração de uma comunidade que,
por determinados critérios, definiria a verdade como aceitabilidade racional como uma
“pretensão de validade criticável sob as condições comunicacionais de um auditório de
intérpretes alargado idealmente no espaço social e no tempo histórico”, o que indica a
preocupação com a liberdade de participação no discurso, tanto temporal quanto espacial. A
204 GHIRALDELLI JR, Paulo. “Apresentação: pragmatismo e neopragmatismo”. RORTY, Richard. Para realizar a América: o pensamento de esquerda no século XX na América. Rio de Janeiro: DP&A, 1999, p. 28-29. 205 BOBBIO, Norberto; BOVERO, Michelangelo. Sociedade e Estado na Filosofia Política Moderna. São Paulo: Brasiliense, 1996, p. 14. 206 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia I: entre faticidade e validade. São Paulo: Tempo Brasileiro, 1997, p. 32. 207 PEIRCE, Charles Sanders. Escritos coligidos. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 83.
94
noção de uma comunidade discursiva se refere à idéia de algo diferente da noção de verdade
como representação objetivada de uma realidade pelo método científico.208
Habermas bem destaca que a community of investigators de Peirce é um
ambiente de cientistas e não de pessoas comuns. Todavia pensa que a noção pode ser utilizada
não somente para problemas científicos ou teóricos, mas pode ser transplantada para questões
práticas e do dia-a-dia. Em ambos os casos têm-se pretensões de validade para as assertivas
propostas dentro do discurso, com relação às questões do mundo.209
A análise habermasiana implica, pois, a consideração do caráter transcendental
do fundamento dos pressupostos de racionalidade. O acordo resultante do procedimento
discursivo racional não é algo apenas “relativamente válido”, mas sim “objetivamente
válido”, para todos os sujeitos considerados racionais, aqueles que potencialmente podem
participar da situação ideal de discurso.
Daí que a verdade ou correção do resultado do discurso depende da
possibilidade de se alcançar o consenso numa situação discursiva ideal, que é o fundamento
da racionalidade do processo discursivo.210
Em suma, pode-se identificar como pressupostos de racionalidade do discurso
a obediência a regras básicas que conferem total liberdade ao discurso e ampla participação
dos oradores. A regra primeira é aquela segundo a qual “todo aquele que fala pode tomar
parte no discurso”.211 Veja que se trata de uma teoria prescritiva, que toma por base
pressupostos transcendentes que, se observados, definem a racionalidade do discurso.
A pretensão em Habermas é de racionalizar o discurso e, com isso, criar uma
alternativa à razão centrada no sujeito e a teorias da verdade como correspondência com a 208 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia I: entre faticidade e validade. São Paulo: Tempo Brasileiro, 1997, p. 32 e 33. 209 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia I: entre faticidade e validade. São Paulo: Tempo Brasileiro, 1997, p. 34. 210 ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 2000, p. 239. 211 ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica: la teoría del discurso racional como teoría de la justificación jurídica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 112.
95
realidade. Esta será a base da visão de Alexy sobre a possibilidade de racionalizar o processo
judicial e proporcionar, no ambiente específico da Filosofia do Direito, uma alternativa à
razão do positivismo, centrada no método e à concepção do jusnaturalismo racional, sem cair
na teoria de Dworkin sobre a idealização de um intérprete perfeito ou da possibilidade de se
encontrar a “única decisão correta”.
4. A busca pela racionalidade das decisões judiciais: a teoria da argumentação jurídica como forma de se encontrar critérios descontextualizados para a racionalidade do discurso judicial
Seguindo esta linha, Alexy trabalha o discurso jurídico como caso especial do
discurso prático habermasiano, o que faz da questão sobre a correção de um enunciado um
problema procedimental. A racionalidade de tal procedimento estaria ligada ao cumprimento
de pressupostos básicos do discurso racional prático.
Alexy não pensa num procedimento que encontrará apenas uma resposta, nem
coloca o pressuposto da racionalidade no resultado do processo. Na verdade, o “racional” está
no cumprimento das regras básicas e não em um resultado específico, seja ele consensual ou
não.212
Inicialmente é bom deixar claro que o tipo de discurso jurídico que será objeto
de problematização nesse ponto é aquele realizado dentro do tipo de processo de decisão
jurídica, que se refere ao ambiente lingüístico de decisão de conflitos por uma autoridade
dentro de um constrangimento dogmático, que pode se dar tanto num judicial ou
administrativo.213
212 ALEXY, Robert. “Problemas da Teoria do Discurso”. Anuário do Mestrado em direito, n. 5. Recife: Editora Universitária da UFPE, 1982, p. 93; e ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 2000, p. 283. 213 FERRAZ JR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. São Paulo: Atlas, 1994, p. 15 e ss; e ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica: la teoría del discurso racional como teoría de la justificación jurídica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, 205-206.
96
Toma-se o processo de decisão dentro de um contexto de uma sociedade
moderna o suficiente para ter um direito pretensamente dogmático. A característica do direito
dogmático que aqui interessa é a da inegabilidade dos pontos de partida, que são, justamente,
os textos dogmáticos produzidos pelas fontes normativas. Estes textos não podem ser
explicitamente negados numa argumentação que se considere dogmática.
Assim, num direito dogmático, o discurso no processo judicial tem de lidar
com este primeiro constrangimento. Outra característica do direito dogmático é a o monopólio
da força e da violência legítima, e, no caso de decisão de conflitos, a impossibilidade de
alegar o non liquet. Mesmo diante de controvérsias insolúveis, ou seja, que envolvem valores
tão importantes como incompatíveis, deve a autoridade se pronunciar para decidir o
conflito.214
Num ambiente tal, a especificidade do discurso judicial diante do discurso
prático geral é patente. As limitações temporais, a desigualdade de direitos à participação e a
estrita correspondência das argumentações das partes aos seus interesses individuais bem
demonstram as especificidades do discurso realizado no processo de um direito dogmático.
Além do mais, a questão do consenso e sua aplicação aos processos de decisão
que envolvem conflitos não pode ser levada em consideração, o que limita a aplicação da
teoria habermasiana da busca pelo consenso racional e também caracteriza a especificidade do
discurso processual.215
Mesmo assim, partindo-se da visão de que o processo judicial é um tipo de
ambiente para o discurso jurídico e de que este é um tipo de discurso prático geral, Alexy
busca uma fundamentação para a “racionalidade” desse tipo de discurso judicial, que estaria
214 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 215 e ss. 215 ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica: la teoría del discurso racional como teoría de la justificación jurídica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 206.
97
no cumprimento de regras básicas da razão e que haveria, nos participantes a pretensão de
correção das suas assertivas.216
Sem adentrar nas especificidades da aplicação de conteúdos lógicos aos
argumentos judiciais, este ponto do trabalho tem em vista apenas apresentar a postura
filosófica de Alexy como algo geralmente presente nas teorias da argumentação jurídica: o de
criar uma espécie de vocabulário padrão composto de regras que racionalizariam o processo
de tomada de decisões jurídicas.
Tais regras são, basicamente, um conjunto de “exigências da atividade de
fundamentação, isto é, regras da discussão racional, cujo cumprimento garanta que o resultado
seja racional”217.
As chamadas regras “fundamentais”, que são aquelas referentes a pressupostos
lógicos do discurso, bem como as chamadas “regras da razão”, bem demonstram a intenção
pragmática da teoria da argumentação de Alexy: de orientar o discurso para uma prática
lógica, de liberdade e sinceridade no discurso. Destacam-se a regra da não-contradição (1.1.
Nenhum falante pode se contradizer), a regra da sinceridade (1.2. Todo falante só pode
afirmar aquilo que ele próprio crê), e a regra da liberdade (2.1. Quem pode falar pode
participar do discurso; 2.2. c) todos podem expressar suas opiniões, desejos e necessidades).218
Não se quer aqui, contudo, analisar pormenorizadamente as diversas regras
estipuladas por Alexy, nem como elas poderiam ser aplicadas ao processo, tampouco a
questão de se o discurso jurídico é caso especial do discurso prático geral, já que tal
empreitada necessitaria de uma análise bem mais aprofundada sobre a teoria e suas
especificidades.
216 ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 2000, p. 292. 217 ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 2000, p. 241. 218 ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica: la teoría del discurso racional como teoría de la justificación jurídica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 283.
98
O que se pretende é apresentar os pressupostos da postura filosófica, ou seja, o
fundamento das regras de racionalidade, para, depois, criticá-los. Para isso, leva-se em
consideração a tentativa de fundar as regras da racionalidade em algo para além do contexto
pragmático de aplicação de tais regras. Uma tentativa com base não mais em uma teoria da
verdade como correspondência com a realidade ou da razão centrada no sujeito, mas, sim,
numa racionalidade ligada à conformidade às regras de um discurso racional.
A teoria, portanto, fundamenta as regras em bases transcendentes, conferindo
um estatuto privilegiado ao discurso que nelas se fundamenta, além de universalizar a
liberdade discursiva fundada na regra já acima mencionada, segundo a qual “todos que falam
têm direito a participar no discurso”.
Alexy esclarece, todavia, que as regras do procedimento não garantem o
resultado da argumentação, já que as regras não prescrevem de que premissas devem partir os
participantes no discurso. Explica que não conseguem satisfazer a necessidade de certeza
quanto ao resultado final da argumentação. Mantendo-as, todavia, como critérios de correção
de enunciados normativos e como instrumento de crítica a fundamentações não racionais.219
“Para quien sólo está dispuesto a aceptar como teoría de la argumentación
jurídica racional un procedimiento que garantice la seguridad del resultado, la teoría aquí
propuesta resulta rechazable ya por este motivo”.220 Abandona-se, portanto, a ligação entre
certeza e razão, partindo-se para a busca de algo que possa salvar o processo de tomada de
decisões de algo irracional. É a retomada da busca pela racionalidade do direito, agora sob
nova roupagem.
A teoria se propõe a apresentar regras e formas que, em sendo observadas,
garantiriam a racionalidade – e, com base nela, a correção – das decisões judiciais. Formam
219 ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica: la teoría del discurso racional como teoría de la justificación jurídica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 38. 220 ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica: la teoría del discurso racional como teoría de la justificación jurídica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 278.
99
uma espécie de critério com o qual se deve medir a racionalidade de procedimentos tais como
o processo judicial e suas limitações.221
O problema a ser encarado aqui é onde se firmam tais critérios. Seguindo a
postura habermasiana, as regras se constituem em critérios para a correção das decisões
tomadas dentro do processo com fundamento a-histórico. O trabalho pretende problematizar a
questão de se a atribuição de um caráter universalista e transcendente aos critérios de
racionalidade procedimental é algo a se buscar pela Filosofia do Direito.
Destaca-se a ressalva de que uma teoria da argumentação jurídica é própria ao
contexto de um Estado Democrático de Direito222. Isto, porém, não retira a visão totalizadora e
universalizante da racionalidade procedimental, ao menos quanto a determinadas regras
(Alexy não define quais), que podem ter sua validade fundamentada no fato de serem uma
“condição de possibilidade da comunicação”. É o que ele chama de “fundamentação
pragmático-universal” das regras do discurso.223
Vê-se, portanto, que a tentativa de superação de uma noção metafísica e
verdade como correspondência com a realidade, bem como a superação da concepção
tradicional de razão centrada no sujeito que “descobre” a realidade graças a seu aparato
interno que “reflete” – na analogia com um espelho – a realidade exterior, é uma postura cara
aos pressupostos pragmatistas desse trabalho.
A superação do método científico como paradigma de racionalidade dos
procedimentos jurídicos é algo na teoria da argumentação jurídica que se coaduna com o
pragmatismo aqui apresentado, notadamente pelo aspecto de negação da subjetividade do
221 ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica: la teoría del discurso racional como teoría de la justificación jurídica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 280. 222 ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 2000, p. 266. 223 ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica: la teoría del discurso racional como teoría de la justificación jurídica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 184; e ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 2000, p. 287.
100
intérprete ou do método de investigação como critério para aferição da racionalidade da
decisão jurídica.
O enfoque no procedimento e na liberdade de participação como forma de se
forjar uma razão comunicativa é, ainda, um argumento politicamente interessante, mas
filosoficamente frágil. A questão é que ainda se mantêm os vícios universalistas e
transcendentes, incompatíveis com uma sociedade altamente complexa como a que se
demonstra na pós-modernidade. Esta é a questão que será discutida no ponto seguinte.
5. O falso paradoxo da liberdade discursiva: porque as tentativas racionalizantes não-contextuais não se adaptam à postura pragmatista na filosofia
Tentar-se-á, agora, como forma de desconstruir a postura filosófica apresentada
nesse capítulo, desfazer o paradoxo que a tese pragmatista apresenta quando, defensora da
tolerância e da liberdade, opõe-se a um racionalismo procedimental ou discursivo nos moldes
habermasianos.
Este paradoxo aparece quando se leva em consideração que a regra básica que
conferiria racionalidade ao procedimento discursivo é justamente a regra da liberdade de
participação (“todo aquele que fala tem direito a fazer parte do discurso”). Se assim o é, por
que razão um pragmatista não concordaria com tal regra, já que é justamente a liberdade, que
move o filósofo antiessencialista?
O pragmatista, ao negar os pressupostos de um discurso racional como algo
para além das fronteiras de um determinado tipo de audiência224, é visto como alguém que
despreza o consenso e o acordo, pois abandona a noção de essências a-históricas e se põe a
agir de forma a não defender um princípio democrático.
224 HABERMAS, Jürgen. Verdade e justificação. São Paulo: Loyola, 2004, p. 263.
101
Pretende-se afirmar, nesse ponto do trabalho, que muito dessa visão tem por
base a necessidade de se encontrar segurança nas posturas científicas e morais a respeito do
mundo. Daí a esperança de tornar a busca pela decisão correta e pela verdade algo ainda em
voga, e que leva o pragmatismo como apresentado por Rorty a ser acusado de irracionalista.225
No que se refere às teorias da argumentação, articula-se um argumento
pragmatista, na medida em que se defende uma definição de verdade que seja resultado de
uma conversação não distorcida. O problema é que se toma o conceito de “conversação não
distorcida” como algo fundante, universal e, até mesmo, transcendente.
Há, destarte, um aparente paradoxo entre a defesa da liberdade pela
racionalidade discursiva e a defesa da liberdade pelo pragmatismo, ao negar a referência a
uma idealidade ou racionalidade que fundamente a correção das decisões estabelecidas pelo
procedimento.
Seria possível sair desse paradoxo? Na verdade, a postura que se quer defender
diria que não há paradoxo. Ou se acredita que existe uma instância superior medidora da
racionalidade ou, ao contrário, vê-se o homem na contingência da linguagem em que ele age.
Eis a perplexidade de Rorty ao ver substituída a noção de verdade, como correspondência
com a realidade, por um procedimento justificado por uma instância não contextual:
No comprendo como es que gente como Habermas e Wellmer, que han renunciado a la teoría de la verdad como correspondencia y que, por tanto, no pueden distinguir entre la pretensión de informar sobre un hábito de acción y la pretensión de representar la realidad, pueden trazar tal distinción entre dependencia contextual e independencia contextual.226
Da parte desse trabalho, o que se quer é argumentar pela segunda opção, como
uma postura filosófica mais adequada a uma visão liberal-democrática na Filosofia do Direito,
por mais paradoxal que possa parecer. O que se quer aqui é “permanecer etnocêntrico e
225 RORTY, Richard. Conseqüências do pragmatismo. Lisboa: Piaget, 1999, p. 243. 226 RORTY, Richard. Pragmatismo, una versión: antiautoritarismo en epistemología e ética. Barcelona: Ariel Filosofia. 2000, p. 103.
102
oferecer exemplos”, evitando-se afirmar que Peirce estava certo em pensar que a verdade
estaria fadada a vencer. 227
O ponto central da argumentação é: “fundar” a liberdade num critério de
caráter transcendente seria uma posição filosoficamente frágil e pragmaticamente inútil aos
propósitos de uma Filosofia do Direito numa sociedade altamente complexa.
Ao se defender uma racionalidade discursiva, pretende-se buscar “o critério”,
“o vocabulário”, “o jogo perfeito”, no qual o resultado será “racional”, desde que obedecidas
as normas por ele previstas. Tal postura é, portanto, filosoficamente dogmática, e pode
resultar, até, mesmo, em atitudes políticas autoritárias (vide as recentes tentativas de
“disseminação” da democracia por parte das potências ocidentais aos países do oriente).228
Assim é que, admitir-se um “privilégio moral” ao valor liberdade pode ser uma
tentativa de empurrar os adversários políticos contra a parede. Tentativa esta que fracassa
sempre que se considere que a parede é nada mais que um entre outros tantos vocabulários,
mais uma, entre tantas outras maneiras de descrever o mundo.229
Nesse sentido, parece que a questão controversa entre ambas as posturas não é
tanto política quanto filosófica, e a proposta aqui é justamente esta, não questionar as regras
de racionalidade como politicamente consideradas, mas sim manter uma controvérsia
filosófica sobre a necessidade de uma “racionalidade jurídica” nos moldes apresentados
acima.230
Trata-se de questionar a auto-imagem que uma sociedade democrática deveria
ter. A despeito da necessidade de universalizar a postura democrática, o que se quer no
presente trabalho, e será apresentado no capítulo final, é desconstruir a noção do “racional”, 227 RORTY, Richard. Conseqüências do pragmatismo. Lisboa: Piaget, 1999, p. 245. 228 RORTY, Richard. Objetivismo, relativismo e verdade: escritos filosóficos I. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002, p. 237; e ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e na ciência. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 233. 229 RORTY, Richard. Contingência, ironia e solidariedade. Lisboa: Presença, 1994, p. 71. 230 “Assim, a diferença entre a tentativa de Habermas de reconstruir uma forma de racionalismo e a minha recomendação de que a cultura deveria ser poetizada não se reflete em qualquer desacordo político”. RORTY, Richard. Contingência, ironia e solidariedade. Lisboa: Presença, 1994, p. 98.
103
dissolvendo seu uso como medidor prévio de correção das decisões e garantidor de segurança
jurídica.
Quer-se deixar o universalismo e o essencialismo em favor de uma tentativa de
viver com a pluralidade e com a complexidade, deixando de buscar a validade universal, que
resultaria no fim da conversa filosófica.231
A proposta é não buscar soluções únicas e imutáveis, nem fórmulas de se
encontrar o rumo da essência, do conhecimento, da moralidade ou do direito. A idéia é uma
Filosofia do Direito que tenta problematizar ao invés de solucionar o “quebra-cabeça
filosófico”232, mantendo de pé a conversação e o respeito à pluralidade. Uma maneira de ver a
Filosofia do Direito “como a tentativa de impedir que a conversação degenere em inquérito,
em programa de investigação”.233
Para uma visão como a que se quer defender aqui, deve-se abandonar qualquer
referência a um método último, mesmo que tal método envolva uma “deliberação livre”. Uma
herança platônica que se manifesta na necessidade de se basear em algo a-histórico, universal,
necessário.
Para o pragmatista, as restrições que se apresentam à investigação (moral ou
teórica) não são critérios a-humanos. Não existem constrangimentos a-históricos. À filosofia
cabe lidar somente com as restrições conversacionais que se apresentam como ônus
particulares e sempre referentes àqueles com quem contemporaneamente se conversa, delibera
e observa.234
Deve-se aceitar a contingência da linguagem humana e a contingência da
comunidade, pois é a conversação entre aqueles que historicamente são contemporâneos a
231 RORTY, Richard. Contingência, ironia e solidariedade. Lisboa: Presença, 1994, p. 99. 232 (“Philosophical puzzle”). RORTY, Richard. “Analytic philosophy and transformative philosophy”. Site da Universidade de Stanford. Disponível em <www.stanford.edu/~rrorty/>. Acesso em: 05 de setembro de 2003. 233 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988, p. 286. 234 RORTY, Richard. Conseqüências do pragmatismo. Lisboa: Piaget, 1999, p. 236-237.
104
única fonte com a qual os humanos podem se orientar. “Tentar evitar esta contingência é
esperar tornarmo-nos uma máquina adequadamente programada”.235
Trata-se da concepção segundo a qual a conversação precisa ter um fim, e este
fim estaria no consenso racional obtido pela obediência às regras da racionalidade discursiva.
Pensar que os seres humanos estão a conversar para evitar futuras conversas. No caso do
discurso jurídico, a tentativa de por a Filosofia do Direito a favor dessa busca pela correção
definitiva da decisão.
O racionalismo procedimentalista se revela, neste trabalho, não como uma
“parede”, mas como uma “cortina pintada”, uma obra do homem como tantas outras. Na linha
de pensamento de Rorty, quer-se defender que a Filosofia do Direito seja vista como parte de
uma cultura filosófica desprovida do desejo de encontrar o vocabulário final, a Filosofia do
Direito vista como parte de uma cultura “poetizada”: “Uma cultura poetizada seria uma
cultura que não insistiria para que encontrássemos a parede real por detrás das paredes
pintadas, os verdadeiros critérios de verdade por oposição aos critérios que são apenas meros
artefactos culturais”.236
Na pós-modernidade, a tentativa de buscar teorias universais se perde diante da
pluralidade de visões de mundo e de interesses e necessidades. Trata-se da perda de
credibilidade das narrativas universalizantes, que não conseguem mais abarcar toda a
“racionalidade” num só modelo.237
Esta é a idéia que norteia o capítulo final. As noções de comensurabilidade e de
processos de decisão como ambientes lingüísticos aponta para um contínuo desuso da noção
de racionalidade descontextualizada ou baseada em critérios universais. A multiplicidade de
235 RORTY, Richard. Conseqüências do pragmatismo. Lisboa: Piaget, 1999, p. 237. 236 RORTY, Richard. Contingência, ironia e solidariedade. Lisboa: Presença, 1994, p. 82. 237 GHIRALDELLI JR, Paulo. “Apresentação: pragmatismo e neopragmatismo”. RORTY, Richard. Para realizar a América: o pensamento de esquerda no século XX na América. Rio de Janeiro: DP&A, 1999, p. 33-34.
105
usos a que os processos de decisão jurídica podem servir, não admite que se pense na
racionalidade como critério único de correção e segurança das decisões jurídicas.
106
CAP. 05. IRRACIONALISMO X RACIONALISMO: UMA DISTINÇÃO A SER SUPERADA NUMA FILOSOFIA DO DIREITO QUE LEVE EM CONSIDERAÇÃO MULTIPLICIDADE DE USOS E A CONTINGÊNCIA DOS PROCESSOS DE DECISÃO JURÍDICA
1. Introdução: a descontrução da noção de racionalidade jurídica (um apontar para seu paulatino desuso)
O presente capítulo quer apresentar a questão filosófica sobre a pertinência do
vocabulário usado pela racionalidade procedimental em uma filosofia jurídica contemporânea.
É cabível a busca pela racionalidade do processo judicial? Uma Filosofia do Direito necessita
de uma empresa como tal? Sem a racionalidade fincada em um critério universal, resta ainda
alguma segurança ao direito?
A referência a uma espécie de mundo objetivo independente do homem, bem
como a tentativa de se encontrar um critério da verdade e da certeza, na razão, como algo
intrínseco ao “eu”, são remanescentes da imagem de que o mundo é uma criação divina, de
alguém que tinha uma linguagem própria.238
Nesse sentido, o que se quer defender, finalmente, é que a tentativa de se
encontrar uma espécie de razão centrada na intersubjetividade e em regras garantidoras da
liberdade de discurso é, ainda, um resquício dessa visão e que, portanto, pode ser deixada de
lado por uma postura filosófica pragmatista.239
Todavia, qualquer posição filosófica que venha a desprezar a racionalidade ou
algo que possa garantir previamente a correção das assertivas e decisões humanas pode vir a
ser tachada de irracionalista ou de relativista, ou ainda, em questões práticas, de imoral.240
238 RORTY, Richard. Contingência, ironia e solidariedade. Lisboa: Presença, 1994, p. 44; e GHIRALDELLI JR, Paulo. Richard Rorty: a filosofia do novo mundo em busca de mundos novos. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 93. 239 Segundo Rorty, o pragmatismo de James, Peirce e Putnam ainda trabalham com a noção de situação cognoscitiva ideal, ao contrário de Dewey e Davidson. RORTY, Richard. Esperanza o conocimiento? Una introducción al pragmatismo. Buenos Aires: Fundo de Cultura Económica, 2001, p. 22. 240 RORTY, Richard. Contingência, ironia e solidariedade. Lisboa: Presença, 1994, p. 71.
107
Para a posição que aqui vai ser apresentada, a saída é combater as posturas
essencialistas não propondo assertivas como: “não há verdades”, “o mundo é um caos”, ou “a
moralidade não existe”. Não se quer defender qualquer “decisionismo”, “relativismo” ou
“irracionalismo” nos processos de decisão jurídica.
Na verdade, quer-se, numa postura pragmatista, defender o esquecimento de
distinções como racional-irracional, subjetivo-objetivo, moralidade-prudência, pela
apresentação dos processos de decisão jurídica como ambientes regrados e contingentes, nos
moldes da noção wittgensteiniana de jogo de linguagem.
Seguindo este lastro, destaca-se a multiplicidade de tipos de processos de
decisão existentes no direito. Multiplicidade esta que denota a variedade de interesses e
necessidades a que eles podem servir, não se faz viável pensar em critérios universais de
racionalidade, concluindo assim pelo gradativo desuso da noção de racionalidade no direito.
2. A noção de paradigma e a contextualização dos critérios de correção e verdade dentro do jogo de linguagem: a segurança jurídica identificada com os limites contextuais para a decisão
A visão pragmatista explicitada ao longo do trabalho, leva ao entendimento de
que o contexto em que as decisões jurídicas são efetuadas é determinante para a análise de sua
coerência ou plausibilidade. Portanto, a segurança das decisões tomadas em determinados
contextos se encontra nas regras do ambiente lingüístico em que são tomadas.
Putnam, ao expor a noção do seu realismo interno, apresenta a verdade como
dependente do contexto em que as frases são ditas:
Sob este ponto de vista, o arco-íris percebido (com faixas contínuas de vermelho, laranja, amarelo, etc.) não é idêntico ao arco-íris da física (uma análise
108
espectroscópica nos revela que o mesmo não possui estas faixas de cores repartidas uniformemente).241
Isso quer dizer que um ser humano, que observe e perceba as sete cores do
arco-íris, não está fazendo uma descrição “falsa” diante da “realidade”. Talvez se ele estivesse
numa aula de física, sua observação sobre o arco-íris poderia ser considerada falsa, para os
propósitos e necessidades da aula de física, mas isso não poderia ser dito dessa mesma
afirmação feita num ambiente de conversa informal.
Putnam, nesta linha de raciocínio, lança o exemplo metafísico que se refere à
possibilidade de que exista um cientista louco que teria criado, em laboratório, seres humanos
que não possuíam corpo, mas somente cérebros, tendo-os colocado em bacias químicas,
ligando-os a supercomputadores que gerariam todas as sensações, desde as visuais até as
auditivas, possibilitando um “mundo” virtual para estes indivíduos (à semelhança do mundo
que está à volta dos seres normais).242
Na sua proposta de um realismo interno, Putnam usa este exemplo não como
argumento cético, mas para perquirir acerca das crenças que esta raça poderia ter e pergunta:
Estariam eles errados em suas crenças? O questionamento é feito para provocar o seguinte
problema: Afinal a verdade pode ser encontrada fora de um contexto?
Esta reflexão sugere que quando os cérebros-em-contentores pensam “Nós somos cérebros num contentor” a condição de verdade para a sua afirmação deve ser que eles são cérebros-em-contentores na imagem, ou algo desse tipo. Assim, esta afirmação parece ser falsa, e não verdadeira, quando eles pensam tal, mesmo que eles sejam cérebros-em-contentores do nosso ponto de vista. Parece que eles não estão enganados – eles não estão a pensar em nada radicalmente falso. Claro que há verdades que eles não conseguem exprimir; mas isto é, sem dúvida, verdadeiro para cada ser finito. (grifo não original) 243
241 RABENHORST, Eduardo Ramalho. A normatividade dos fatos. João Pessoa: Vieira Livros, 2003, p. 57-58. 242 “Agora, imaginem uma raça de pessoas que foram literalmente criadas por um supercientista louco. Estas pessoas tinham cérebros, suponhamos, como os nossos, mas não tinham os corpos. Tinham apenas a ilusão de corpos, de um ambiente esterno (como o nosso), etc.: na realidade eles são cérebros suspensos num contentor de químicos. Tubos ligados aos terminais nervosos produzem a ilusão de impulsos sensoriais chegando aos olhos e ouvidos e aos corpos executando os comandos motores dos respectivos cérebros”. PUTNAM, Hilary. Realismo de rosto humano. Lisboa: Piaget, 1999, p. 186. 243 PUTNAM, Hilary. Realismo de rosto humano. Lisboa: Piaget, 1999, p. 187.
109
Pensar na falsidade das crenças dos “cérebros-em-contentores” é imaginar uma
relação de correspondência com a realidade, o que esta ligada à idéia metafísica de verdade,
imprópria a uma visão pragmatista e hermenêutica do conhecimento. Assim, “como podemos
nós sair da nossa cultura própria e avaliar o seu lugar relativamente ao fim do inquérito?”244
Este entendimento fica bastante consolidado quando se tem em mente a noção
de “paradigmas incomensuráveis”, utilizada por Kuhn e aproveitada por Rorty ao tratar da
diferença entre discursos normais e hermenêuticos. O discurso normal é aquele identificado
com a noção de comensurabilidade, que quer dizer “capaz de ser trazido para debaixo de um
conjunto de regras que nos digam como é que se pode alcançar um acordo racional acerca
daquilo que resolveria a questão em cada ponto onde as declarações parecem ser
conflituosas”.245
Aqui, Rorty pretende falar acerca da pretensão, que ele atribui à epistemologia,
de que todos os discursos sejam comensuráveis, isto é, possam ter suas controvérsias
resolvidas com base num terreno comum. Daí que, “construir uma epistemologia é encontrar a
quantidade máxima de terreno comum com os outros. A assunção de que se pode construir
uma epistemologia é a assunção de que um tal terreno comum existe”.246
Sendo assim, sempre seria possível encontrar acordo sobre pontos
controvertidos com base em premissas sólidas e bem determinadas. Esta era a pretensão das
teorias filosóficas fundacionistas, e que pensam a filosofia como disciplina meta-científica,
uma espécie de “tribunal da verdade” no qual as descrições controversas podem ser
analisadas, e que demonstrará qual delas é verdadeira.
244 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988, p. 223. 245 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988, p. 248. 246 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988, p. 248.
110
Este “tribunal” poderia estar na mente (na clareza e distinção das idéias)247, na
verificação empírica (ou seja, “fora” do homem), na linguagem perfeita (numa visão da
filosofia analítica), ou, até mesmo, no acordo racional habermasiano.
Pretende-se negar tais perspectivas, com a noção de paradigma, que Rorty
utiliza para tentar moldar um conceito de comensurabilidade.248 Substituir a perspectiva de
que sempre existe um terreno comum, no qual as premissas de decisão sobre as controvérsias
jurídicas estão determinadas, pela visão de que tal terreno comum muitas vezes não existe, é o
que se pretende aqui, com base numa posição pragmatista, destacando que a existência de um
terreno comum é sempre contextual.
Todavia, em certas ocasiões, é possível a obtenção de um certo “terreno
comum” para aferição da plausibilidade de descrições efetuadas pelos humanos. Este tipo de
discurso é o que se quer aqui denominar de discurso “comensurável”, presente, em Kuhn, no
que ele chama de ciência normal.249
A mesma noção pode ser adaptada para questões se senso comum, como faz
Wittgenstein em “Da certeza” (Über Gewissheit). Ele questiona a dúvida do tipo cartesiana, e
tenta demonstrar que as certezas comuns são decorrentes de cada tipo de jogo de linguagem
que se esta a jogar.
Assim, as certezas cotidianas decorrem de certos tipos de vocabulários, que
formam verdadeiras “imagens do mundo”, de forma tal que as certezas dependem de um pano
de fundo lingüístico:
Acredito que a Terra é um corpo na superfície do qual nos deslocamos e que não desaparece subitamente tal como qualquer outro corpo sólido, esta mesa, esta casa, esta árvore, etc.. Se pretendesse duvidar da existência da terra muito antes do meu nascimento, teria de duvidar de todas as espécies de coisas que são ponto assente para mim.250
247 O cogito só é evidente por causa de sua “clareza e distinção”. Ver: RUSSELL, Bertrand. The History of Western Philosophy. New York: Simon & Schuster, p. 565. 248 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988, p. 248. 249 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2003, p. 43 e ss. 250 WITTGENSTEIN, Ludwig. Da certeza. Lisboa: Edições 70, 1998, p. 73.
111
Todavia, esta mesma certeza cotidiana tem características diferentes em se
tratando de jogos de linguagem diferentes. Nesse sentido, “acredito que todo o ser humano
tem um pai e uma mãe humanos; mas os católicos acreditam que Jesus só teve uma mãe
humana”.251
Ao viver o homem atua dentro de um contexto significativo e, para atender a
seus objetivos e interesses, tem que jogar segundo as regras do jogo de linguagem em que está
inserido. Estas regras é que conferem os critérios para a medida da correção das assertivas
feitas dentro do jogo de linguagem.
Assim, em que se baseiam as certezas? Wittgenstein quer dizer que a
experiência não é o lugar para que sejam buscadas, mas sim no conjunto de pressuposições
lingüísticas que formam cada jogo de linguagem. Assim, as certezas não estão numa
correspondência com a realidade empírica, mesmo porque várias proposições que são tidas
como “certas” são como que ensinadas pela experiência, mas ela “não as ensina isoladamente;
pelo contrário, ensinou-nos um conjunto de proposições interdependentes”.252
Este conjunto de proposições é o que forma determinado vocabulário, a que se
pode chamar de “paradigma”. São as pressuposições lingüísticas que formam a “imagem de
mundo” que dão suporte às certezas. “‘Estamos muito certos disso’ não significa que toda e
qualquer pessoa esteja certa disso, mas que pertencemos a uma comunidade que está ligada
pela ciência e pela educação”.253
Seguindo esta linha é que a perspectiva historicista de Kuhn leva ao
entendimento de que a evolução das ciências não se dá numa espécie de aproximação das
descrições científicas com a realidade, mas sim numa mudança de paradigmas, uma mudança
na “imagem de mundo”. 251 WITTGENSTEIN, Ludwig. Da certeza. Lisboa: Edições 70, 1998, p. 75. 252 WITTGENSTEIN, Ludwig. Da certeza. Lisboa: Edições 70, 1998, p. 81. 253 WITTGENSTEIN, Ludwig. Da certeza. Lisboa: Edições 70, 1998, p. 87.
112
Os paradigmas, que se consubstanciam em modelos teóricos, vigoram durante
um certo tempo na comunidade científica, e servem como parâmetro para a aferição dos
“problemas” científicos e da sua própria solução. Tais modelos formam os critérios para a
solução dos “quebra-cabeças” científicos:
O termo paradigma aparece nas primeiras páginas do livro e a sua forma de aparecimento é intrinsecamente circular. Um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade partilham, e, inversamente, uma comunidade científica consiste em homens que partilham um paradigma.254
Esta comunidade de cientistas trabalha na resolução de problemas sempre com
base em um vocabulário, uma linguagem que determina os próprios questionamentos por que
passam as ciências.
Daí que a revolução científica opera, em Kuhn, uma verdadeira mudança na
concepção de mundo. “É como se a comunidade profissional tivesse sido subitamente
transportada para um novo planeta, onde objetos familiares são vistos sob uma luz
diferente”.255
Nesse sentido, quando as formas de vida que debatem e deliberam são
diferentes e quando os interesses que envolvem as partes são de tal forma dessemelhantes, o
que se verifica é quase um diálogo de surdos, no qual não se encontram bases significativas
para o entendimento.
Aqui se estaria diante do que se chama de discurso incomensurável. A noção
de incomensurabilidade só vem demonstrar que, diante de formas de vida diferentemente
estruturadas, as descrições efetuadas de um lado e de outro não tem solo firme para terem sua
validade ou verdade aferidas.
Isto impediria a comunicação inter paradigmática, pelo que a comparação entre
os paradigmas não poderia se dar sobre bases estabelecidas, advindo daí a noção de
254 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2003, p. 219. 255 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2003, p. 146.
113
incomensurabilidade entre paradigmas diferentes. Não há, destarte, parâmetros objetivos para
se decidir entre duas teorias científicas, senão dentro de um mesmo paradigma, onde há
critérios consensualmente estabelecidos para resolução de problemas, de quebra-cabeças.
Uma excelente metáfora serve para exemplificar a incomensurabilidade na
visão de Kuhn:
Consideremos um jogo de quebra-cabeças cujas peças são selecionadas ao acaso, em duas caixas contendo peças de jogos diferentes. Tal problema provavelmente colocará em xeque (embora isso possa não acontecer), o mais engenhoso dos homens e por isso não pode servir como teste para determinar a habilidade de resolver problemas.256
Evidentemente, esta visão da incomensurabilidade vem fazer frente à idéia de
que poderiam existir critérios prévios e definidos objetivamente, que, de forma
descontextualizada, definiriam a racionalidade do ambiente discursivo. Quando se tenta
encontrar critérios de correção das decisões, sejam eles procedimentais, ou mesmo de
conteúdo, tal postura invoca um universalismo inaceitável a uma teoria pragmatista.
Desta forma, os paradigmas científicos superados não podem simplesmente ser
taxados de a-científicos, ou mesmo ilógicos. Isto porque não há como se medir a validade dos
dois paradigmas conflitantes com base numa linguagem meta-filosófica.
Pensar numa tal linguagem é imaginar uma descrição fora do seu contexto, é
pensar num argumento incondicional. A tese acima exposta apresenta um caminho
nitidamente wittgensteiniano, no sentido de que supera o enfoque epistemológico da busca
pela verdade independente do contexto, e traz a lume uma postura de visualização das
necessidades e interesses humanos concretos e contextualizados.
O uso da linguagem pelo ser humano tem suas regras definidas segundo as
necessidades e o contexto dos utilizadores da linguagem. A “evolução” humana é, portanto,
uma sucessão de formas de vida, expressas nos jogos de linguagem, donde se torna
256 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2003, p. 146.
114
impossível pensar que há algo fora de um jogo de linguagem, que sirva de parâmetro para
aferir qual descrição, dentre as conflitantes, pode ser considerada verdadeira ou correta.
Assim sendo, “pronunciar uma frase sem um lugar fixo num jogo de linguagem
é, tal como disseram com razão os positivistas, pronunciar algo que não é verdadeiro nem
falso”.257 Nesse sentido, os critérios que foram utilizados, por exemplo, para aferir a validade
das descrições feitas por Galileu, quando o vocabulário por si inaugurado estava em vigor,
simplesmente não existiam quando ele foi levado a julgamento pela Igreja.
“Nenhuma epistemologia concebível, nenhum estudo da natureza do
conhecimento humano” 258, podia ter concebido tais critérios, antes que os mesmos tivessem
sido conquistados. Tais critérios estavam em formação, pois estava em formação o paradigma
no qual as descrições científicas teriam a sua validade aferida.
Não faria sentido pensar, pois, na possibilidade de confrontar descrições feitas
dentro de um paradigma superado com descrições feitas dentro de um paradigma vigorante.
Não faz sentido pensar que eram “falsas” as assertivas sobre o movimento feitas por Newton,
diante do surgimento das teorias da relatividade.
Portanto, não faz sentido perguntar “Qual a relação entre a mesa sólida do
senso comum e a mesa não-sólida da microfísica (sic)?” 259 Também não faz sentido perguntar
sobre a diferença entre as cores do arco-íris visto por um físico através de uma análise
espectroscópica (que revelaria que o mesmo não possui faixas de cores repartidas
uniformemente) e a análise do homem comum ao olhar para o mesmo arco-íris (com faixas
contínuas de cores diferentes).260
Tais perguntas não fazem sentido quando se passa a adotar a visão de que o
homem está sempre inserido num jogo de linguagem e as descrições só podem ter sua
257 RORTY, Richard. Contingência, ironia e solidariedade. Lisboa: Presença, 1994, p. 41. 258 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988, p. 258. 259 RORTY, Richard. Contingência, ironia e solidariedade. Lisboa: Presença, 1994, p. 27. 260 RABENHORST, Eduardo Ramalho. A normatividade dos fatos. João Pessoa: Vieira Livros, 2003, p. 57-58.
115
“veracidade” ou “correção” medidas por critérios de dentro de cada jogo, critérios estes que
estarão relacionados com a utilidade, eficácia ou coerência e plausibilidade das descrições
como forma de solução de problemas humanos.261
Seguindo a noção de Kuhn, tem-se que diferentes paradigmas científicos
sobrevivem contemporaneamente e são, em tese, todos eficazes nos tratos com os problemas
humanos que se pretendem resolver, apesar de as asserções retiradas de um e de outro serem,
a princípio, incompatíveis, não faz qualquer sentido perguntar sobre qual das duas seria
“correta” ou “verdadeira”, se não dentro de um mesmo contexto linguístico.262
Procurar, portanto, critérios de decisão, seja moral, teórica, política ou estética
em um lugar objetivo (na representação do mundo), ou na subjetividade humana (razão) ou
em regras universais e transcendentes do discurso (razão comunicativa) é empresa inútil, pois
esquece a contingência do homem e de sua linguagem. Esquece que o homem age jogando
lingüisticamente, donde não há como se encontrar a essência das coisas, mas tão somente
analisar as mudanças que ocorrem nos vários jogos de linguagem do qual o homem participa.
A tendência a procurar estes critérios é a tendência em procurar uma essência.
Trata-se da tentativa de encontrar a linguagem ideal, privilegiando uma entre as várias
linguagens nas quais o homem atua. Enquanto se pense em algo como uma natureza intrínseca
da moralidade ou da verdade, continuará em voga a busca por um vocabulário universal que
possibilite algo chamado de “racionalidade humana”.263
261 RORTY, Richard. “Introdução: pragmatismo como anti-representacionismo”. MURPHY, Jonh. O Pragmatismo: de Peirce a Davidson. Porto: Edições Asa, 1993, p. 10. 262 Em Kuhn, tem-se a opinião de que as crenças dos cientistas determinado paradigma anteriormente existente não podem ser comparadas às crenças de paradigmas atuais, mas tão somente às crenças dos cientistas contemporâneos ao paradigma analisado. KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2003, p. 22. 263 RORTY, Richard. Contingência, ironia e solidariedade. Lisboa: Presença, 1994, p. 27.
116
3. A distinção comensurabilidade-incomensurabilidade como questão de grau: incomensurabilidade como impedimento temporário à comunicação
O problema da incomensurabilidade, a princípio, é: como os paradigmas se
modificam? Como uma frase “sem lugar no jogo” pode, posteriormente, ser considerada uma
frase com sentido? Como falar em comensurabilidade, em jogos de linguagem, em ambientes
lingüísticos nos quais a certeza existe e, ao mesmo tempo, imaginar a mudança de
vocabulários? Afinal, os paradigmas são ambientes fechados e impenetráveis?
Pretende-se, como forma de responder a tais perguntas, apresentar as noções de
comensurabilidade e incomensurabilidade como tipos ideais, que serviriam para medir o grau
de objetividade com que as regras e critérios de correção das decisões podem ser
identificados, no campo específico de tratamento deste trabalho, qual seja, o dos processos de
decisão jurídica.
Assim sendo, deve-se tentar pensar a comensurabilidade como uma
característica dos discursos proferidos em um ambiente no qual o grau de consenso sobre as
bases da comunicação é suficiente a se encontrar critérios claramente estabelecidos para a
solução de controvérsias.264
Quando o nível de dissenso existente entre os participantes do discurso é tão
alto, que os colocam sem a definição objetiva de critérios que possam ser usados para a
solução das controvérsias, está-se diante de um discurso incomensurável. Quando, ao
contrário, é possível identificar bases de entendimento sobre critérios para solução de
controvérsias, tal discurso é comensurável.
O que se quer, pois, é destacar que esta diferença não pode ser estabelecida
com base numa linha bem definida. A diferença entre discursos comensuráveis e
incomensuráveis seria, então, uma diferença de grau, donde quanto maior for o grau de
264 Rorty deixa claro que não concorda que há discursos plenamente incomensuráveis. RORTY, Richard. Pragmatismo, una versión: antiautoritarismo en epistemología e ética. Barcelona: Ariel Filosofia. 2000, p. 101.
117
consenso existente entre os utilizadores da linguagem sobre os critérios para solução de
controvérsias, maior grau de comensurabilidade possuem os discursos.
É evidente que Kuhn está a tratar da questão específica da evolução científica
ao usar a noção de paradigma. Mas o que se propõe nesse trabalho é trazer esta expressão para
um uso mais amplo, amparado na sua semelhança com a noção de jogo de linguagem.
Aplicando-a na questão da definição de critérios de decisão no direito, ao usar as noções de
comensurabilidade e incomensurabilidade, apresentando-se o processo decisório como
ambiente cujos falantes possuem interesses distintos.
Assim, tem-se o problema da comensurabilidade pura: como se muda um
vocabulário, sem perder a comunicabilidade? Como surgiu o vocabulário da física quântica,
se todos os cientistas falavam, antes, a linguagem newtoniana, por exemplo? Como pôde
surgir a noção de família baseada na afetividade, se antes ninguém sequer cogitava da
possibilidade da existência de família fora do casamento?
Seguindo o mesmo raciocínio, tem-se o problema da incomensurabilidade:
como dois povos, que possuem formas de vida distintas, conseguem se reunir em uma
deliberação jurídica? Como se pode pensar em “conversa” entre os trabalhadores de
movimentos sociais que lutam por reforma agrária e os fazendeiros? Como pensar que ambos
podem, em conjunto, manter um diálogo inteligível sobre a interpretação do direito de
propriedade previsto na Constituição brasileira?
Estas perguntas ficariam sem respostas, caso se pensasse na
incomensurabilidade como não-comunicabilidade entre paradigmas, ou se pensasse em
comensurabilidade como imutabilidade de critérios.
Os paradigmas não surgem do nada, mas se originam do vocabulário de algum
outro paradigma. Eles se modificam com base um vocabulário anterior. O que se considera
uma metáfora num determinado paradigma, pode vir a se tornar literalidade em um paradigma
118
diferente. Também a diversidade de vocabulários contemporâneos pode formar um novo
vocabulário diferente. As regras do jogo não são “nada de fixo, dado de uma vez por todas;
mas antes novos tipos de linguagem, novos jogos de linguagem, como poderíamos dizer,
surgem e outros envelhecem e são esquecidos”.265
Isto quer dizer que a incomensurabilidade entre os paradigmas ou vocabulários
não é algo intransponível. As revoluções artísticas, morais, políticas ou jurídicas ocorrem
quando se percebe que dois ou mais dos vocabulários estão a interferir um com o outro. As
revoluções científicas e as influências morais entre culturas diversas se dão através de
interferências entre os vocabulários que, gradualmente, formam um novo vocabulário. 266
A criação desses novos vocabulários não se dá por critérios pré-fixados e
externos aos jogos de linguagem, trata-se, na verdade, da invenção de novos instrumentos
para solução de problemas: “Introduzir um vocabulário desses é mais como pôr de parte
alavanca e o calço por se ter tido a idéia da roldana, ou como pôr de parte o gesso e a têmpera
por se ter imaginado o modo de lidar adequadamente com a tela”.267
Por outro lado, numa visão pragmatista, pensar que todas as linguagens sejam
traduzíveis umas nas outras não significa que tais equivalências possam ser encontradas
simplesmente:
Significa apenas que não podemos atribuir sentido à pretensão de que existem mais do que impedimentos temporários para o nosso know-how – a pretensão de que algo chamado ‘um esquema conceptual diferente’ nos impede de aprender a conversar com o utilizador de outra linguagem. Não afasta também a intuição por detrás da falsa pretensão romântica de que os grandes poemas são intraduzíveis. Eles são, evidentemente, traduzíveis; o problema é que as traduções não são elas mesmas grandes poemas.268
265 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. (IF 23) 266 RORTY, Richard. Contingência, ironia e solidariedade. Lisboa: Presença, 1994, p. 34. 267 RORTY, Richard. Contingência, ironia e solidariedade. Lisboa: Presença, 1994, p. 27. 268 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988, p. 276. (verificar a página)
119
“Impedimentos temporários” para o entendimento. A incomensurabilidade,
para o pragmatista, não pode significar um impedimento definitivo à comunicação. Isto seria
negar a idéia de que nada é incondicional, nada é não-relacional. Portanto, a
incomensurabilidade em alto grau, é impedimento temporário ao entendimento, que pode ser
superado, desde que se possibilite a continuidade da conversação.
Nesse sentido, “podemos saber como responder a uma observação crítica num
jogo de linguagem diferente, sem que saibamos qual é a frase do nosso jogo de linguagem
ordinário que, materialmente, equivale a esta observação”269. Daí que a comunicação inter-
paradigmática é possível.
Isto quer dizer que, de um lado, nem se podem ver os processos de decisão
como ambientes absolutamente regrados, nos quais seria possível encontrar critérios de
solução de controvérsias de forma objetiva, nem, de outro lado, o inverso disso, ou seja, que
não haveria critérios, dada a inexistência de bases fixas para solução de controvérsias.
Assim é que, constatar a comensurabilidade não implica em defesa do
relativismo ou da arbitrariedade na formação dos critérios de decisão, já que, como visto, os
paradigmas se modificam, e um ambiente que hoje é comensurável, amanhã pode vir a se
tornar incomensurável, dadas as mudanças paradigmáticas, sempre contingentes. Assim,
constatar a comensurabilidade é, ao mesmo tempo, contatar a incomensurabilidade. Perceber
que os processos de decisão são ambientes mais ou menos regrados somente corrobora a tese
de que tais regras e critérios são contextuais e não são definitivos.
4. O receio do relativismo e a crítica à noção de comensurabilidade
O receio do relativismo é causado pela idéia de que o ambiente discursivo
contextualizado possa levar a “qualquer decisão”. Uma postura relativista que, em
269 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988, p. 276.
120
substituição às teorias da verdade como correspondência, apresentaria a visão de que a
evolução do conhecimento seria a modificação do próprio mundo, uma teoria da
“maleabilidade” do mundo.
Assim, quando se tenta superar a visão tradicional de que deve haver algo além
do contexto que possa justificar as crenças humanas, imediatamente se tem a impressão de
que se está tentando deixar o mundo à mercê do homem e, por conseguinte, a visão de que se
trata a decisão jurídica como uma mera questão de “vontade”.
É a noção segundo a qual “onde não existem objetos para corresponder não
temos esperança de racionalidade, mas apenas gosto, paixão e vontade”.270 Se não há critérios
objetivos para decidir sobre a correção das decisões, qualquer argumento jurídico seria tão
válido quanto outro, qualquer descrição seria tão boa quanto outra.
Putnam, nesse sentido, critica diretamente a abordagem de Rorty quanto à
incomensurabilidade, tachando-a de relativista. Identificar a verdade com o que os “pares
culturais” concordam, quando se está em um discurso normal, ou seja, comensurável, poderia
tornar qualquer tese justificável como verdadeira. “Tomada nesse sentido, ela diz que a
verdade numa língua – em qualquer língua – é determinada por aquilo que a maioria dos
falantes dessa língua diria”.271
A questão das críticas relativistas é que elas mesmas se baseiam na
possibilidade de que haja qualquer coisa independente do contexto, qualquer coisa
incondicional. Putnam, seguindo esta linha de raciocínio, apresenta idéias de nítido caráter
pragmatista, que corroboram a tese de que os argumentos são sempre condicionais e que,
dependendo do grau de incomensurabilidade, não se consegue encontrar critérios bem
definidos para a solução de controvérsias.
270 RORTY, Richard. Conseqüências do pragmatismo. Lisboa: Piaget, 1999, p. 236. 271 PUTNAM, Hilary. Renovar a filosofia. Lisboa: Piaget, 1998, p. 100.
121
No mesmo capítulo em que critica o que chama de relativismo em Rorty,
Putnam afirma que “como o relativismo, mas de uma maneira diferente, o Realismo é uma
maneira impossível de ver o mundo de Nenhures”.272 Ou seja, para além de suas desavenças
filosóficas com Rorty, parece que o ponto central do presente trabalho pode sofrer
contribuições do “realismo de rosto humano”, no sentido de que seria impossível analisar o
mundo senão dentro de um contexto lingüístico.
Isto, todavia, não significa dizer que “o homem faz o mundo”, ou que “a
cultura faz o mundo”, ou mesmo que qualquer dessas formas de “mundo” seria tão boa quanto
outra. Esta visão parece estar ligada ao fato de Kuhn, por exemplo, utilizar frases como aquela
citada neste mesmo trabalho, segundo as quais os cientistas de diferentes paradigmas estariam
em “mundos diferentes”:
Kuhn tinha razão em dizer que ‘um paradigma filosófico iniciado por Descartes e desenvolvido ao mesmo tempo pela dinâmica newtoniana’ precisava ser derrubado, mas permitiu que esta noção do que contava como ‘paradigma filosófico’ fosse determinada pela noção kantiana de que o único substituto para uma descrição realista de um espelhar bem sucedido era uma descrição idealista da maleabilidade do mundo espelhado.273
Quando o pragmatista diz “que uma noção depende dos interesses não significa
dizer que todos os interesses são igualmente aceitáveis”.274 Isto que dizer que “a nossa
imagem do mundo não pode ser ‘justificada’ por nada a não ser o seu sucesso julgado pelos
interesses e valores que evoluem e são modificados ao mesmo tempo e em interação com a
nossa imagem em evolução do próprio mundo”.275 Por isso nem o “mundo”, nem os “valores”
(em se mantendo o dualismo fato-valor) podem ser considerados “criação” do homem. 276
272 PUTNAM, Hilary. Realismo de rosto humano. Lisboa: Piaget, 1999, p. 103. 273 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988, p. 254. 274 PUTNAM, Hilary. Renovar a filosofia. Lisboa: Piaget, 1998, p. 99. 275 PUTNAM, Hilary. Realismo de rosto humano. Lisboa: Piaget, 1999, p. 103. 276 RORTY, Richard. Truth and progress: philosophical papers. New York: Cambridge University Press, 1999, p. 45.
122
Sobre esta discussão é que parece se manter a controvérsia entre Putnam e
Rorty. Ambos parecem concordar que a “verdade” ou “assertabilidade” das descrições não
pode ser aferida fora de um contexto. O problema é que Putnam não consegue se livrar da
assertiva de que “O fato de uma declaração ser garantida ou não é independente da maioria
dos nossos pares culturais dizer que são garantidas ou não”.277
Todavia, o que Putnam parece querer deixar claro é que a medida das
descrições não é arbitrária, e, por isso, não pode ser simplesmente modificada por uma
maioria:
Não podemos escolher os interesses que temos. A linguagem que falamos reflete quem somos e aquilo que somos, e reflete em especial o gênero de interesses que temos. Desde que conheçamos o tipo de interesses que as pessoas realmente têm, seremos capazes de ouvir declarações que parecem contraditórias e entendê-las de uma maneira que não é contraditória.278
Ao defender sua posição, invoca a tese de que as bases da linguagem não
surgem do nada, mas são objeto de uma história. Daí a impossibilidade imediata de que um
determinado grupo social forje a verdade ao seu bel prazer. Destaca, portanto, que não se
podem escolher as crenças que se tem. Daí que não é a maioria que define a verdade, mas o
uso da descrição dentro do jogo, que não está simplesmente a mercê dos pares culturais, não
podendo ser modificado pela simples “vontade” destes. Deve-se destacar, assim, que a
mudança das regras que orientam o jogo e medem a função das palavras não são feitas
arbitrariamente.
Quer-se, portanto, abandonar a visão de uma comunidade privada peirceana,
cuja função seria a de definir as regras de racionalidade. Quer-se deixar de lado a idéia
habermasiana de que, mesmo que não se possa sair do jogo de linguagem a que o ser humano
277 PUTNAM, Hilary. Realismo de rosto humano. Lisboa: Piaget, 1999, p. 96. 278 PUTNAM, Hilary. Renovar a filosofia. Lisboa: Piaget, 1998, p. 98.
123
está vinculado, “na relação com a realidade não se pode perder o nexo com algo que
independe de nós e que é, nesse sentido, transcendente.” 279
5. A contingência da linguagem jurídica e a multiplicidade dos processos de decisão: por um progressivo desuso da noção de racionalidade pela Filosofia do Direito
A noção de incomensurabilidade como questão de grau leva ao entendimento
de que o direito apresenta uma multiplicidade de processos de decisão jurídica, cada um com
um maior ou menor grau de comensurabilidade. Assim é que, nos casos de ambientes
jurídicos de elevado grau de incomensurabilidade, seria impossível pensar-se em um critério
objetivo para a correção das decisões jurídicas.
De outro lado, mesmo em ambientes nos quais se podem encontrar critérios
mais objetivos para a correção das decisões, não se pode afirmar que tais critérios sejam
imutáveis, já que a interpretação dos mesmos estará sempre sujeita às modificações de
paradigma jurídico, contingentes e imprevisíveis.
A contingência da linguagem jurídica é claramente demonstrada pela mutação
revolucionária do sentido dos critérios de decisão. No caso do direito, tem-se a mudança na
interpretação dos textos normativos. Imagine-se, por exemplo, como se operou a mudança na
noção de “família” no direito civil brasileiro, ou mesmo a mudança no sentido da palavra
“democracia” ou “igualdade”.
Da mesma maneira, o que se dizia serem direitos universais e inalienáveis do
homem à época em que Locke escreveu os Tratados sobre o governo certamente é diferente
daquilo que se diz atualmente sobre um meio ambiente equilibrado ser um direito humano
universal e incondicional.
279 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia I: entre faticidade e validade. São Paulo: Tempo Brasileiro, 1997, p. 32.
124
E a preocupação com o meio ambiente jamais poderia ter vindo à tona antes do
surgimento de, por exemplo, análises científicas sobre o efeito estufa e o descongelamento das
geleiras, ou o problema da escassez dos recursos naturais não-renováveis. O que se dizia
sobre a propriedade como um direito humano incondicional, hoje não mais se diz.
Um exemplo de ambiente decisório com algo grau de incomensurabilidade se
pode encontrar tanto nas deliberações legislativas quanto naquelas implementadas nas cortes
constitucionais. Em ambos os tipos de procedimento decisório o que se têm são deliberações
sobre temas de alta complexidade e que envolvem interesses sempre adversos.
Isto porque, em ambos os casos, está-se diante da interpretação da constituição,
que encerra, no seu texto, a proteção de princípios e garantias, quase sempre contraditórios.
Assim é que, ao proteger a propriedade privada, a Constituição brasileira, por exemplo, impõe
a função social da propriedade. Da mesma forma, ela protege a livre iniciativa, mas estabelece
como uma das metas governamentais a redução da desigualdade. Assim também, o mesmo
texto normativo estabelece o princípio da igualdade, de um lado, e permite a discriminação
ativa, de outro (vide a discussão sobre a questão das cotas raciais em universidades).
De outro lado, existem processos de decisão jurídica em que o grau de
incomensurabilidade não é tão elevado quanto aquele presente na interpretação constitucional.
Em ambientes como os que decidem questões de direito administrativo e tributário, por
exemplo, o modelo de decisão se assemelha muito pouco com uma postura tópica, tendo
nítido caráter sistemático e com grande presença de noções como a legalidade.
Numa postura pragmatista, destarte, diante da multiplicidade de ambientes
lingüísticos que se apresentam para a decisão das controvérsias jurídicas, seria impossível se
pensar em um modelo ideal de processo decisório em direito. Seria incabível a idéia de que
pode haver qualquer tipo de algoritmo capaz de medir algo como a “racionalidade” das
decisões jurídicas.
125
De outro lado, o pragmatismo que aqui se apresenta, não quer defender a
decisão jurídica é fruto de um acaso, ou que o decididor escolhe arbitrariamente qual a será a
solução para uma controvérsia jurídica. Uma perspectiva relativista neste campo efetivamente
justificaria a tese de que qualquer decisão seria possível, e que os critérios para resolução de
controvérsias jurídicas seria, simplesmente, arbitrário.280
Não é esta a leitura que se quer fazer do pragmatismo em Rorty ou em Putnam,
nem tampouco na noção de paradigma e de jogo de linguagem. O que se pretende é usar a
postura pragmatista para melhor visualizar os diferentes ambientes discursivos em que as
decisões jurídicas são tomadas, de forma a deixar de lado a noção de racionalidade
universalizante.
Pensar o processo decisório como jogo de linguagem, é vê-lo de acordo com os
fins a que se destina. Para isso deve-se ver a linguagem como forma de ação humana, donde o
processo será uma dessas formas de ação, com funções específicas. Identificar a noção de
processo com a de jogo de linguagem é encará-lo como conjunto de práticas lingüísticas que
servem a fins específicos, que se referem à satisfação de necessidades humanas. Daí que a
correção das decisões estará ligada as suas conseqüências práticas.
Assim, não se pode analisar o processo de decisão jurídica fora do contexto a
que ele serve, pois, como um tipo jogo de linguagem, suas regras servem a um determinado
fim. Dentro desse jogo é que as assertivas terão sua correção ou validade medidas, não se
fazendo sentido em buscar formas prévias de justificação, mesmo que procedimentais. A
contingência da linguagem impede que se encontrem formas prévias e incondicionais de
correção das decisões.
Em muitos casos as respostas dadas num determinado jogo de linguagem são
simplesmente incontroversas, dado o alto grau de comensurabilidade dos discursos
280 SOBOTA, Katharina. “Não mencione a norma!”. Anuário dos cursos de pós-graduação em direito, n. 7. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 1996, p. 80-93.
126
pronunciados. Todavia, tal situação não indica a possibilidade ou mesmo a necessidade de se
buscar algo mais, como um controle prévio, a que normalmente se dá o nome de
“racionalidade”.
Veja-se que o problema da irracionalidade na decisão só aparece quando se
deixa de lado a noção de que o processo é um ambiente regrado, e tais regras são contextuais
e modificáveis de forma contingente. Fazem parte de tais regras não só os textos normativos
dogmáticos, mas também as convenções lingüísticas presentes no corpo social que interpreta
os textos dogmáticos.
Isto não quer dizer, todavia, que o ambiente de decisão não admita controvérsia
quanto às regras. Mesmo num ambiente decisório com alto grau de incomensurabilidade, há
sempre um grau de controle, perpetrado pelas regras do jogo de linguagem, que, no caso do
direito, envolvem normas morais, políticas e jurídico-dogmáticas. Por isso a desnecessidade e
a inutilidade em se pensar num critério único ou último.
Primeiro porque os processos de decisão são contextualizados e envolvem
interesses diversos. Segundo porque existem ambientes cujo grau de incomensurabilidade é
tão alto que ficaria sem sentido se pensar num critério único para a solução de controvérsias.
E, finalmente, porque, mesmo diante da incomensurabilidade, o processo é ambiente regrado,
e tem a medida da correção de suas decisões nas conseqüências práticas geradas pelas
mesmas:
Un diálogo racional puede también conducir a dos o más respuestas igualmente bien fundamentadas. O, inversamente: no es posible indicar un criterio objetivo o “la razón última” de acuerdo con la qual pudiera sostenerse que una de las propuestas de interpretación estaría mejor argumentada que la otra. En cierto modo, el diálogo no puede salir de si mismo.281
Nessas considerações, Aarnio procura trazer para dentro do contexto
lingüístico a racionalidade das decisões jurídicas, enfocando-as como assertivas controláveis
281 AARNIO, Aulis. Lo racional como razonable. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p.247.
127
pela sua aceitabilidade. Assim, apesar de manter a necessidade de uso da noção de
racionalidade – ao afirmar que “la racionalidad, en esta perspectiva, es una presuposición
fundamental de nuestra manera de vida” – apresenta uma noção de racionalidade situada no
contexto de uma comunidade européia. 282
Nessa linha de raciocínio, defende o modelo de racionalidade procedimental,
nos moldes de Alexy, como mero critério de medida da racionalidade das comunidades reais,
ressaltando que uma audiência composta somente de pessoas que aderem ao princípio do
discurso racional é um estado de coisas ideal, não podendo ser confundido com um modelo
descritivo da realidade social. “La exigencia de un discurso racional sirve como herramienta
para la crítica”.283
Seguindo Aarnio, este trabalho apresenta a visão de que o controle da decisão
está muito mais ligado ao a posteriori, na medida que a decisão será, ou não, aceitável
socialmente. Neste sentido, “el concepto de aceptabilidad está conectado con la conclusión, es
decir, con el contenido material de la interpretación e con la forma del razonamiento o con las
propiedades del procedimiento justificatorio mismo”. 284
É justamente este controle posterior o que possibilita a mudança paradigmática
em direito, já que, muitas vezes, a substituição de uma interpretação tradicional se dá de
forma imprevisível, diante de um caso específico e inusitado, que desperta a mudança de
interpretação de determinadas regras. Assim é que passou a enquadrar, gradativamente, no
conceito de dignidade, a vedação ao racismo. Assim é que está a ocorrer a mudança do
sentido do termo família chegando a abarcar situações como a mãe solteira e seu filho, ou
mesmo casais homossexuais.
282 AARNIO, Aulis. Derecho, racionalidad y comunicación social: ensayos sobre Filosofía del Derecho. México: Distribuiciones Fontamara, 1995, p. 72 e 74. 283 AARNIO, Aulis. Derecho, racionalidad y comunicación social: ensayos sobre Filosofía del Derecho. México: Distribuiciones Fontamara, 1995, p. 30. 284 AARNIO, Aulis. Lo racional como razonable. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p.247.
128
Contudo, a visão de uma racionalidade, mesmo como mero critério ideal, ainda
que situado numa comunidade ocidental determinada no tempo histórico, não se coaduna com
a postura pragmatista que destaca o papel da contingência da linguagem e a multiplicidade
dos processos de decisão jurídica dentro das sociedades ditas pós-modernas. Como visualizar
uma “comunidade européia” diante da complexidade e da diversidade encontrada entre as
sociedades ditas periféricas?
Daí que talvez seja interessante um olhar pragmatista sobre as tentativas
perpetradas pelos teóricos da argumentação, passando-se a visualizar os procedimentos
racionalizantes como meras propostas de justificação das decisões tomadas, ou mesmo como
critérios a serem adotados em determinadas e específicas situações, sem a necessidade de
encará-los como definitivos ou abrangentes ao direito “como um todo”.
Interessante a posição de Alexy, quando, num epílogo ao seu “Teoria dos
direitos Fundamentais”, apresenta a opinião de que o critério que ele apresenta como marco
para o legislador em suas decisões sobre direitos fundamentais não pode ser aplicado em
todos os casos.285
A proposta da presente dissertação, todavia, vai além de Aarnio, propondo o
desuso da noção de racionalidade dos processos de decisão. “Racionalidade” poderia
designar, no máximo, uma espécie de “elogio” ao processo de decisão, ou à própria decisão.
Uma decisão boa, útil, que obedeceu a um processo interessante, coerente, que respeitara
valores democráticos, plausíveis, é o se chama, normalmente, de uma decisão “racional”.
Quer-se, pois, propor o progressivo abandono da noção de “racionalidade” na
Filosofia do Direito. Todavia, como uma palavra tão tradicional como esta não pode
simplesmente ser abandonada, propõe-se torná-la uma noção mais valorativa do que
285 ALEXY, Robert. “Epílogo a la Teoría de los Derechos Fundamentales”. Revista Española de Derecho Constitucional. Ano 22, n 66, 2002, p. 13-64.
129
cognitiva, não ligada a algo incondicional e, portanto, fora da conversação filosófica ou
política.
Pensar numa comunidade universal de utilizadores da linguagem – capazes de
definir critérios de racionalidade – parece uma tentativa de justificar crenças contextuais com
argumentos não contextuais. Assim é que a principal fonte de conflitos jurídicos envolve,
justamente, a idéia de que uma comunidade universal precisa ter um modelo, e que tal modelo
tem fundamento transcendente, universal.
É esta comunidade que precisa “incluir” aqueles que pertencem a uma
comunidade “alternativa”, não baseada nos princípios “racionais” previstos pelas teorias
“democráticas”.286
Evita-se, pois, o essencialismo em Filosofia do Direito, já que o uso da palavra
racionalidade num sentido incondicional pode levar a posturas até mesmo autoritárias. Nesse
sentido:
Aqueles que querem que a verdade tenha uma essência querem que o conhecimento, ou a racionalidade, ou a investigação, ou a relação entre o pensamento e o seu objeto, tenham uma essência. Mais ainda, querem ser capazes de usar o seu conhecimento de tais essências para criticar as perspectivas que consideram falsas, e apontar a direção do progresso para a descoberta de mais verdades.287
Ademais, na linha da filosofia terapêutica wittgensteiniana, o esquecimento da
noção de racionalidade aponta para a visão de que não há um verdadeiro problema filosófico
na questão da irracionalidade no direito. Não há um verdadeiro problema quanto ao
relativismo. Trata-se de um falso problema, que é facilmente superado quando se percebe que
as tentativas racionalizantes – sejam elas baseadas num incondicional de conteúdo (como as
propostas jusnaturalistas dos defensores de direitos humanos incondicionais); ou de
286 RORTY, Richard. Pragmatismo, una versión: antiautoritarismo en epistemología e ética. Barcelona: Ariel Filosofia. 2000, p. 114. 287 RORTY, Richard. Conseqüências do pragmatismo. Lisboa: Piaget, 1999, p. 233-234.
130
procedimento (como as teorias argumentativas procedimentalistas) – são tentativas de
apresentar uma proposta, entre tantas outras, de controle ou fundamentação das decisões.
A grande dificuldade em aceitar a tese do abandono da palavra racionalidade
reside na idéia de que a “racionalidade” não pode ter sido somente uma ilusão de todos os
filósofos e juristas que a tenha procurado ou defendido. É que o problema “dos argumentos
contra a utilização de um vocabulário familiar e consagrado pelo tempo está em esperar sejam
formulados nesse mesmo vocabulário”.288
Daí que a crítica ao racionalismo subjetivista, apesar de metaforizar o uso da
palavra “racionalidade”, está mantendo seu caráter universalista. Desta forma, imagina-se que
uma Filosofia do Direito de cunho pragmatista serve melhor aos interesses de uma sociedade
complexa e periférica como a brasileira, ou mesmo o mundo multifacetado e contingente que
a pós-modernidade está a vivenciar, sendo o propósito desse trabalho, o de despertar para a
contingência, como forma de melhor entendimento de um direito que serve a propósitos tão
distintos quanto os interesses que dele se utilizam.
288 RORTY, Richard. Contingência, ironia e solidariedade. Lisboa: Presença, 1994, p. 30.
131
BIBLIOGRAFIA:
AARNIO, Aulis. Lo racional como razonable. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991.
AARNIO, Aulis. Derecho, racionalidad y comunicación social: ensayos sobre Filosofía del Derecho. México: Distribuiciones Fontamara, 1995.
ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002.
________. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e na ciência. São Paulo: Saraiva, 2002.
________. O problema da legitimidade: no rastro do pensamento de Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989.
ALEXY, Robert. “Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales”. Revista Española de Derecho Constitucional. Ano 22, n 66, 2002.
________. “Problemas da Teoria do Discurso”. Anuário do mestrado em direito, n. 5. Recife: Editora Universitária da UFPE, 1982.
________. Teoría de la argumentación jurídica: la teoría del discurso racional como teoría de la justificación jurídica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997.
ARISTOTELES. “Rethoric”. The works of Aristotle. Col. Great Books of the Western World. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1990.
ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 2000.
BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995.
BOBBIO, Norberto; BOVERO, Michelangelo. Sociedade e estado na filosofia política moderna. São Paulo: Brasiliense, 1996.
CATÃO, Adrualdo de Lima. “Considerações sobre os conceitos fundamentais da teoria geral do processo: direito subjetivo, pretensão, ação material, pretensão à tutela jurídica e remédio jurídico processual”. CCJUR em Revista. N. 01. Maceió: Edufal, 2003.
Congresso Nacional Brasileiro: “Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997”. Juris Síntese Millenium. n. 34, Porto Alegre: Ed. Síntese, 2002, 1 CD-ROM.
CONDÉ, Mario Lúcio Leitão. Wittgenstein: linguagem e mundo. São Paulo: Annablume, 1998.
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. São Paulo: Saraiva, 1993.
DWORKIN, Ronald . O Império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
132
________. Taking rights seriously. Cambridge: Harvard University Press, 2001.
EDMONDS, Davids. EIDINOW, John. O atiçador de Wittgenstein. Rio de Janeiro: Difel, 2003.
FERES, Marcos Vinício Chein; ALVES, Marco Antônio Sousa. “Racionalidade ou razoabilidade? Uma questão posta para a dogmática”. Revista da Faculdade de direito da Universidade Federal de Minas Gerais, n. 39. Belo Horizonte: Faculdade de direito da UFMG, 2001.
FERRAZ JR, Tercio Sampaio. Função social da dogmática jurídica. São Paulo: Max Limonad, 1998.
________. Introdução ao estudo do direito. São Paulo: Atlas, 1994.
________. “O Judiciário frente à divisão de poderes: um princípio em decadência?” Anuário dos cursos de pós-graduação em direito, n. 11. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2000.
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I. Petrópolis: Vozes, 2002.
________. Verdade e método II. Petrópolis: Vozes, 2002.
GHIRALDELLI JR, Paulo. Richard Rorty: a filosofia do novo mundo em busca de mundos novos. Petrópolis: Vozes, 1999.
________. “Apresentação: pragmatismo e neopragmatismo”. RORTY, Richard. Para realizar a América: o pensamento de esquerda no século XX na América. Rio de Janeiro: DP&A, 1999.
GRAYLING, A. C. Wittgenstein. São Paulo: Edições Loyola, 2002.
GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do direito. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.
________. Direito e democracia I: entre faticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Universitário, 1997.
________. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
________. Racionalidade e comunicação. Lisboa: Edições 70, 1996.
________. Verdade e justificação. São Paulo: Loyola, 2004.
HACKER, P. M. S. Wittgenstein. São Paulo: Unesp, 2000.
HART, Herbert L. A. O conceito de direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.
HEIDEGGER, Martin. Carta sobre o humanismo. Lisboa: Guimarães. 1987.
133
________. Ser e tempo. Parte I. Petrópolis: Ed. Vozes, 2000.
________. Ser e tempo. Parte II. Petrópolis: Ed. Vozes, 2002.
IVO, Gabriel. “A incidência da norma jurídica: o cerco da linguagem”. RTDC, v. 4, 2000.
JAMES, William. Pragmatismo e outros ensaios. Rio de Janeiro: Lidador, 1967.
KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2003.
LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.
MARMOR, Andrei. Interpretation and legal theory. Oxford: Clarendon Press, 1994.
MATURANA, Humberto. Ontologia da realidade. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001.
MAXIMINIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 1999.
MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. São Paulo: Saraiva, 1999.
MORENO, Arley R. Wittgenstein: os labirintos da linguagem. Campinas: Universidade de Campinas, 2000.
NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. Rio de Janeiro: Forense, 1995.
NEVES, Marcelo. “A Interpretação Jurídica no Estado Democrático de direito”. GRAU, Eros Roberto; GUERRA FILHO, Willis Santiago. Direito Constitucional: estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2001.
OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São Paulo: Edições Loyola, 1996.
PEIRCE, Charles Sanders. “How to Make our Ideas Clear”. Selected writings (values in a universe of chance). Nova Iorque: Dover Publicatons. 1980.
________. Escritos coligidos. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
________. Semiótica. São Paulo: Editora Perspectiva, 2000.
PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado de direito privado. Tomo I. Campinas: Bookseller, 2002.
PUTNAM, Hilary. Razão, verdade e história. Lisboa: Dom Quixote, 1992.
134
________. Realismo de rosto humano. Lisboa: Piaget, 1999.
________. Renovar a filosofia. Lisboa: Piaget, 1998.
RABENHORST, Eduardo Ramalho. “A interpretação dos fatos no direito”. Prim@facie. Ano 02. N. 02. Disponível em <www.primafacie.com.br> Acesso em 17/11/2003.
________. A normatividade dos fatos. João Pessoa: Vieira Livros, 2003.
RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988.
________. “A pragmatist view of comtemporary analytic philosophy”. Site da Universidade de Stanford. Disponível em <www.stanford.edu/~rrorty/>. Acesso em: 05 de setembro de 2003.
________. “Analytic philosophy and transformative philosophy”. Site da Universidade de Stanford. Disponível em <www.stanford.edu/~rrorty/>. Acesso em: 05 de setembro de 2003.
________. Conseqüências do pragmatismo. Lisboa: Piaget, 1999.
________. Contingência, ironia e solidariedade. Lisboa: Presença, 1994.
________. El giro lingüístico: dificuldades metafilosóficas de la filosofía lingüística. Barcelona: Paidós Ibérica, 1990.
________. Esperanza o conocimiento? Una introducción al pragmatismo. Buenos Aires: Fundo de Cultura Económica, 2001.
________. “Introdução: pragmatismo como anti-representacionismo”. MURPHY, Jonh. O pragmatismo: de Peirce a Davidson. Porto: Edições Asa, 1993.
________. Objetivismo, relativismo e verdade: escritos filosóficos I. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002.
________. “Pragmatismo, filosofia analítica e ciência”. PINTO, Roberto Margutti Pinto; MAGRO, Cristina; ett ali. Filosofia analítica, pragmatismo, e ciência. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998, p. 15.
________. Pragmatismo, una versión: antiautoritarismo en epistemología e ética. Barcelona: Ariel Filosofia. 2000.
________. Philosophy and social hope. London: Penguim books, 1999.
________. “The Decline of a Redemptive Truth and the Rise of a Literacy Culture”. Site da Universidade de Stanford. Disponível em <www.stanford.edu/~rrorty/>. Acesso em: 05 de setembro de 2003.
________. Truth and progress: philosophical papers. New York: Cambridge University Press, 1999.
RUSSELL, Bertrand. The history of western philosophy. New York: Simon & Schuster, 1999.
135
SOBOTA, Katharina. “Não mencione a norma!”. Anuário dos Cursos de Pós-graduação em direito, n. 7. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 1996, p. 80-93.
SPANIOL, Werner. Filosofia e método no segundo Wittgenstein. São Paulo: Loyola, 1989.
STEIN, Ernildo. Pensar é pensar a diferença: filosofia e conhecimento empírico. Ijuí: INIJUÍ. 2002.
STEINER, G. After Babel: aspects of language and translation. New York: Oxford University Press, 1998.
STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.
STRUCHINER, Noel. Direito e linguagem: uma análise da textura aberta da linguagem e sua aplicação no direito. Rio de Janeiro: Renovar. 2002.
TEIXEIRA, João Paulo Allain. Racionalidade das Decisões Judiciais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002.
VATTIMO, Gianni. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
WARAT, Luiz Alberto. O direito e sua Linguagem. C/colab. Leonel Serevo Rocha. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1995.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Da certeza. Lisboa: Edições 70, 1998.
________. O livro azul. Lisboa: Edições 70, 1998.
________. Investigações Filosóficas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002.
________. Tractatus Lógico-Philosophicus. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002.