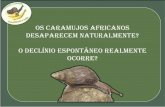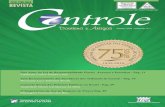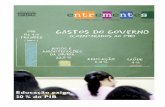Album de Fotografias Turma Economia UFAC/Sena Madureira - AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE DEPARTAMENTO DE … · de atividades no município de Sena Madureira...
Transcript of UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE DEPARTAMENTO DE … · de atividades no município de Sena Madureira...
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA CURSO DE ECONOMIA
ANÁLISE ECONÔMICA DA PRODUÇÃO FAMILIAR NO PAD BOA ESPERANÇA (Um diagnóstico do Nível de Vida das Famílias)
MARCOS DOS SANTOS MENDONÇA Matrícula nº 9533002
ORIENTADOR: Profª Robinson Antônio da Rocha Braga
RIO BRANCO, ABRIL DE 2002.
MARCOS DOS SANTOS MENDONÇA
ANÁLISE ECONÔMICA DA PRODUÇÃO FAMILIAR NO PAD BOA ESPERANÇA (Um diagnóstico do Nível de Vida das Famílias)
Monografia apresentada ao Departamento de Economia da Universidade Federal do Acre, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Economia.
ORIENTADOR: Profº Robinson Antônio da Rocha Braga
RIO BRANCO, ABRIL DE 2002.
SUMÁRIO
LISTA DE TABELAS ........................................................................................................................... v
LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................................ v
LISTA DE SIGLAS .............................................................................................................................. vi
RESUMO ................................................................................................................................................ 7
INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 8
I - SÍNTESE DO PROCESSO DE OCUPAÇÃO DAS TERRAS ACREANAS ............................ 10
1.1. Formação da Economia Extrativista ............................................................................................... 10 1.2. Ápice da Borracha .......................................................................................................................... 12 1.3. Crise da Borracha ........................................................................................................................... 13 1.4. Expansão da Agricultura no Estado do Acre na Década de 70 (setenta) ........................................ 14 1.5. A Luta Pela Posse da Terra ............................................................................................................. 17 1.6. Núcleos de Apoio Rural Integrado – Nari’s .................................................................................... 21
1.6.1. Formação Histórica das Terras dos Nari’s ......................................................................... 22 1.7. Projetos de Assentamentos Dirigidos Pelo Incra – PAD’s.............................................................. 23
2.1. Origem, Caracterização e Conceituação da Produção Familiar no Estado do Acre ................. 26
Origem ................................................................................................................................. 26
Caracterização e Conceituação ........................................................................................... 30 2.2. Aspectos Físicos e Sócio-Econômicos do PAD Boa Esperança .............................................. 32
2.2.1. Aspectos Físicos ................................................................................................................... 32
Situação, Limites e Extensão ................................................................................................ 32
Geologia ............................................................................................................................... 33
Relevo ................................................................................................................................... 33
Hidrografia .......................................................................................................................... 34
Vegetação ............................................................................................................................. 34
Clima .................................................................................................................................... 34
Solos ..................................................................................................................................... 35 2.2.2. Aspectos Sócio-Econômicos ................................................................................................. 36
Saúde e Saneamento ............................................................................................................. 36
Educação .............................................................................................................................. 37
Armazenamento .................................................................................................................... 38
Comunicação........................................................................................................................ 39
Eletricidade .......................................................................................................................... 39
Rede Bancária ...................................................................................................................... 39
Setor Produtivo .................................................................................................................... 39
III - ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÔMICO DAS UNIDADES FAMILIARES DO PAD BOA ESPERANÇA ..................................................................................................................... 43
3.1. Metodologia .................................................................................................................................... 43
Dimensionamento da Amostra ............................................................................................. 43
Elaboração do Questionário ................................................................................................ 44
Teste e Ajuste dos Questionários ......................................................................................... 44
Aplicação do Questionário .................................................................................................. 45
Crítica dos Questionários .................................................................................................... 45
Pesquisa de Preços .............................................................................................................. 45
3.2. Indicadores de Avaliação Considerados na Análise ....................................................................... 45 3.2.1. Determinação dos Resultados Econômicos ......................................................................... 45 3.2.2. Medidas de Eficiência ou Relação ....................................................................................... 48 3.2.3. Procedimento da Análise ..................................................................................................... 49
CONCLUSÃO ...................................................................................................................................... 53
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................................. 55
Anexo 1 - Projetos de Colonização, de Assentamento e Agro-Extrativista em execução .............. 58
Anexo 2 - Relação dos entrevistados do PAD Boa Esperança ......................................................... 62
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................................... 63
v
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - População urbana e rural do Acre ........................................................................................ 18
Tabela 2 - Assentamentos feitos pelo Incra até 05/04/83 ...................................................................... 24
Tabela 3 - Rede física e pessoal da área de saúde no município de Sena Madureira (1999)................. 37
Tabela 4 - Índice de analfabetismo, de evasão e reprovação dos jovens e adultos no município de Sena Madureira (1999) ........................................................................................................... 37
Tabela 5 - Rede escolar, localidade e nível de ensino no município de Sena Madureira (1999) .......... 38
Tabela 6 - Estabelecimentos industriais e números de empregados formais e informais por ramos de atividades no município de Sena Madureira no ano de 1999 ............................................ 40
Tabela 7 - Serviços públicos, governamentais e não governamentais, serviços privados por ramos de atividades no município de Sena Madureira no ano de 1999 ............................................ 41
Tabela 8 - Indicadores econômicos do PAD Boa Esperança................................................................. 49
Tabela 9 - Renda por produto no PAD Boa Esperança ......................................................................... 50
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - Renda Bruta por UPF ............................................................................................................ 50
Figura 2 - Composição da Renda Bruta (RB) das UPF 'S do PAD Boa Esperança ............................... 51
vi
LISTA DE SIGLAS
ASPF - Análise Econômica de Sistemas Básicos da Produção Familiar Rural no Vale do
Acre.
BASA - Banco da Amazônia.
CEBS - Comunidades Eclesiais de Bases
CIMI – Conselho Indigenista Missionário.
CNPT - Centro Nacional de Populações Tradicionais.
CNS - Conselho Nacional dos Seringueiros.
COLONACRE - Companhia de Desenvolvimento Agrário e Colonização do Acre.
CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura.
CPT – Comissão Pastoral da Terra
FUNTAC – Fundação de Tecnologia do Acre.
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
PROBOR – Programa de Incentivo à Produção de Borracha Vegetal.
PROTERRA – Programa de Distribuição de Terra e Estímulo à Agroindústria do Norte e
Nordeste.
RESEX - Reserva Extrativista.
SUDAM - Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia.
UNI – União Nacional Indígena.
UPF’s - Unidades de Produção Familiar.
7
RESUMO
No primeiro capítulo do trabalho procura-se fazer uma síntese do processo de ocupação
territorial do Acre e de sua formação, baseada no extrativismo da borracha, mostrando o
ápice e declínio do extrativismo, como também as transformações econômicas que
ocorreram na década de 70. Tais modificações foram marcadas pelo processo de
transferência das terras do Estado, dos seringalistas para os pecuaristas, agravando-se o
processo de concentração fundiária, que representou profundas transformações nas
relações sociais no uso da terra e nas formas de produção.
No segundo capítulo, são abordadas a origem, conceituação e caracterização da
produção familiar no Estado do Acre, como também os aspectos físicos e sócio-
econômicos do PAD Boa Esperança.
Por fim, são apresentados os resultados da pesquisa mediante a análise do desempenho
econômico da produção familiar, especificamente do nível de vida das famílias que
vivem no PAD Boa Esperança, município de Sena Madureira – AC.
8
INTRODUÇÃO
O objeto da pesquisa são as Unidades de Produção Familiares (UPF’s) do PAD
Boa Esperança, projeto de assentamento agrícola dirigido pelo INCRA, localizado no
município de Sena Madureira – AC, na BR 364 – KM 16, estando aproximadamente a
154 KM de Rio Branco, capital do Estado do Acre. Tendo como base a agricultura
familiar caracterizada pelo trabalho não-assalariado de força-de-trabalho, onde a
unidade de produção é constituída pelos membros da família.
O objetivo da pesquisa é de analisar o nível de vida das famílias que vivem no
PAD Boa Esperança.
Na análise são mensurados os resultados econômicos (medidas de resultados
econômicos e medidas de eficiência ou de relação), a fim de gerar informações sobre a
situação econômica das famílias que vivem no projeto.
A hipótese do trabalho é de que na forma de Organização da Produção
Familiar, no PAD Boa Esperança, as famílias estão conseguindo se manter através das
atividades desenvolvidas em suas unidades produtivas.
O problema a ser solucionado com a pesquisa é:
Qual o nível de reprodução1 familiar dos produtores que vivem no PAD Boa Esperança?
O presente trabalho, está dividido em três capítulos. No primeiro procura-se
fazer uma sinopse do processo de ocupação territorial e de formação econômica das
terras acreanas, evidenciando o extrativismo da borracha, desde do processo de geração,
expansão e declínio da atividade. Destacamos também, com a crise da economia da
borracha os novos rumos que a economia acreana passou a percorrer – a partir da
década de 70 – atrelada pela expansão do capitalismo no País, que passou a incorporar a
região Amazônica a sua fronteira capitalista, aliados aos incentivos financeiros e fiscais,
sem, entretanto, deixar de mencionar alguns fatores peculiares à região, que foram
essenciais no despertar dos empresários do centro-sul, destacando-se o preço baixo da
terra, ocasionado pela desestruturação da economia da borracha; o caráter especulativo
fundiário, com aquisição de áreas de terras, com única intenção de especulação
financeira. Os “paulistas” ao ingressarem na economia em definitivo, em caráter
especulativo, expulsaram os seringueiros, originando um êxodo rural, onde estes se
dirigiam para regiões mais próximas; para os seringais da Bolívia, principalmente, para
1 Necessidade de subsistência ou sobrevivência da família.
9
as periferias dos centros urbanos do Estado, concentrando-se a sua maioria na capital,
Rio Branco, vindo engrossar a população marginalizada de desempregados e
subempregados. A partir de 1975, os seringueiros começam a se conscientizar e
organizar-se lutando pelos seus direitos, surgindo os conflitos de disputas pela posse da
terra. Assim, os conflitos se agravaram, sendo preciso o Governo Federal intervir, no
intuito de amenizar as tensões sociais no campo, surgindo a partir daí, os núcleos de
assentamentos dirigidos pelo o INCRA para resolução da questão agrária de terras no
Estado.
No segundo capítulo analisa-se a questão a respeito da produção agrícola
familiar, abordando a cerca da origem, conceituação e caracterização dessa forma de
organização da produção que utiliza a força-de-trabalho proveniente da família, sendo o
assalariamento inexistente e o nível de exploração da unidade de produção determinada
pelo nível de necessidades de reprodução. Essa organização de trabalho baseada na
família é a forma encontrada na economia agrícola do Estado, nos projetos de
assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, por
isso a importância do entendimento de seu conceito e dinâmica. Neste capítulo
destacamos também, os aspectos físicos e sócio-econômicos do PAD Boa Esperança, ou
seja, a situação, limites e extensão geográfica, como também apresentam-se dados
caracterizando o perfil social e econômico do projeto.
E por último, no terceiro capítulo, descreve-se a metodologia e apresenta os
resultados da pesquisa com a avaliação econômica.
10
I - SÍNTESE DO PROCESSO DE OCUPAÇÃO DAS TERRAS ACREANAS
O objetivo do presente capítulo é evidenciar de forma resumida o processo
histórico territorial da formação econômica da economia acreana, baseada no
extrativismo da borracha.
Analisa também, a partir da década de 70, o processo de corrida pelas terras do
Acre, o processo de reconcentração fundiária, no desenvolvimento da pecuária, que
proporcionou diversos conflitos pela posse da terra. Como também a intervenção do
Governo e INCRA na tentativa de cessar os conflitos por terras no Estado.
1.1. Formação da Economia Extrativista
A partir da segunda metade do séc. XIX, correspondendo um período de
profundas transformações, tanto no campo científico como no tecnológico, onde as
relações entre a ciência e a tecnologia imprimiram uma nova feição e um ritmo mais
intenso ao desenvolvimento industrial do período. Sendo que a relação do papel da
ciência, frente ao avanço tecnológico, abre os espaços para a utilização de novos
materiais, incluindo, em conseqüência novas matérias-primas no circuito da produção
de mercadorias.
Entre os diversos inventos que marcaram a expansão industrial européia, um
deles, ao final do século XIX, teve significado singular para o Brasil, o automóvel, que
necessitava de borracha para o revestimento das rodas, riqueza em potencial na
Amazônia.
A Amazônia era o maior reservatório mundial de árvores lactíferas, no entanto,
seu acesso era difícil, e foi por isso que sua ocupação ocorreu inicialmente, no baixo
curso dos Rios, mas quando os seringueiros observavam que a produção dessa área caía,
eles penetravam cada vez mais no interior da floresta.
A borracha, matéria-prima de grande importância na utilização industrial, por
longo tempo apresentou dificuldades na sua utilização, em decorrência de sua própria
estrutura química. Somente no contexto dos avanços apresentados pela indústria
química, foram superados os problemas que a borracha apresentava, quando submetida
ao calor ou frio, que inviabilizava seu uso para uma grande parcela de produtos. Em
1844, Charles Goodyear, nos Estados Unidos, e Thomas Hancock, na Inglaterra,
registraram a patente do processo de vulcanização que romperia as barreiras à ampla
11
utilização da borracha pela indústria. Além do largo segmento da indústria que passou,
imediatamente, a utilizar a borracha, esta se pôs como pressuposto de um segmento
produtivo que promoveria uma verdadeira Revolução dos transportes rodoviários: a
indústria automobilística.
A borracha, pelas suas múltiplas utilidades, tornara-se imprescindível a
nascente indústria automobilística. Para Silva (1982, p.15), “[...] quando a borracha
passou a funcionar como matéria-prima fundamental na explosão industrial européia e
Norte-americana, foi o capital monopolista internacional que comandou todo o processo
de formação e expansão da economia gomífera da Amazônia, bem como a utilização do
trabalho compulsório nos seringais”. O capital monopolista gera uma economia da
borracha fundada em relações sociais de produção específicas – o aviamento, sistema
que aprisionava o seringueiro pelas dívidas.
O processo de expansão capitalista representou um papel relevante para as
transformações na região amazônica. Muitas são as causas da grande corrente
migratória do Nordeste para a Amazônia, como por exemplo: a crise da economia
algodoeira, o fenômeno das secas, o desemprego estrutural, as ilusões de
enriquecimento rápido a que o “boom” da borracha expunha o nordestino, pela
propaganda e arregimentação realizada por seringalista do Pará e do Amazonas etc.
Neste sentido, Silva (1982, p.11), expõe que ainda havia uma causa bem maior que era a
presença e o interesse do capital estrangeiro, que foi o grande articulador e, sem dúvida
principal beneficiado com a expansão da produção da borracha silvestre na Amazônia.
Portanto, o processo de ocupação das terras da região Amazônica, deu-se
principalmente por causa da exploração da borracha, sendo que a mesma provocou a
expansão do povoamento em direção às altas bacias do Juruá e Purus, os chamados rios
da borracha, considerados zonas não descobertas, habitadas pelas tribos indígenas dos
panos e aruaques. Silva (1982, p.11), enfatiza que esse processo de ocupação tem início
a partir de 1877, na intensificação do fluxo migratório de nordestinos, que se dirigiram
para o Acre em busca de novas oportunidades de trabalho.
A ocupação Acreana não teve um sistema de colonização definido como
aconteceu no restante do país, foi feita de forma não planejada, formando os grandes
latifúndios.
Silva (1982, p.12), expõe essa situação afirmando com bastante clareza, “que a
economia Acreana estava centrada no extrativismo da borracha, ou seja, dependia de um
único produto de exportação, sujeita à imprevistas flutuações do mercado externo, e em
12
que a maior parte do excedente gerado internamente era carregado para fora, não se
verificando qualquer efeito multiplicador na própria região”.
1.2. Ápice da Borracha
Para Paula apud Silva (1982, p.197), “a chamada fase áurea da borracha,
caracterizada pelo monopólio natural, irá possibilitar a dinamização do potencial
exportador da economia Amazônica, e ao mesmo tempo, irá fortalecer suas relações
com o mercado interno, como fonte principal dessa matéria-prima. Com a procura
externa apresentando um rápido crescimento e com os preços numa trajetória
ascendente, o Brasil, que detinha, praticamente o monopólio da produção, não
conseguia acompanhar o mesmo ritmo, dadas suas características primitivas e a
deficiência de mão-de-obra na região Amazônia. A expansão da oferta só seria possível
em fase do caráter extrativo da produção, mediante a incorporação de novas áreas ao
processo produtivo e do aumento do efetivo de mão-de-obra à atividade extratora”.
A consolidação e expansão do capital monopolista enveredaram o processo de
ocupação das terras acreanas no Brasil, sendo que para muitos autores considerado
como a gênese da economia da borracha no Brasil.
No ápice da economia da borracha, os seringueiros eram proibidos de ter outra
atividade que não fosse a extração do látex nos seringais, o que fazia com que os
mesmos não tivessem tempo para produção dos alimentos, levando-os a tornarem-se
totalmente dependentes dos seringalistas. Conforme Silva (1982, p.17), [...] a
dependência se devia ao fato de que o seringueiro era obrigado a trocar produção de
borracha no barracão por mercadorias para sua sobrevivência, e essas mercadorias
tinham seus preços elevados, o que fazia o seringueiro sempre dever no barracão,
tornando-se assim sempre um prisioneiro do sistema.
A borracha permaneceu em alta durante toda a primeira década do séc. XX,
sendo que o volume comercializado crescia com o recrutamento da força-de-trabalho
para os seringais. Segundo Oliveira (1982, p.22), a participação da borracha na pauta de
exportação do Brasil, que estivera em uma média anual de 28% no período de 1901–
1910, alcançou a quase 40%, chegando a um nível quase semelhante do café. Em 1912
o volume de exportação da borracha atingiu o nível mais alto, correspondendo a 42 mil
toneladas. Sendo que a partir daí subseqüentemente a produção começou a cair e a
economia começou a entrar em crise.
13
1.3. Crise da Borracha
Silva (1982, p.22) expõe que a Amazônia era possuidora do maior reservatório
de borracha do mundo e, possuía praticamente, a exclusividade do mercado
internacional. Assim, toda produção da Amazônia era absorvida pelo mercado externo.
Em 1876 os ingleses contrabandearam sementes para a Malásia e lá formaram
plantações racionais. Com o início do séc. XX, a borracha vinda das colônias Asiáticas,
começa a aparecer no mercado internacional, mas em volume tão pequeno que não
amedrontou a produção gomífera brasileira, que já atingia 35 mil toneladas, e a
cultivada registrava uma produção de apenas 145 toneladas. No ano de 1910, a
produção do Oriente apresentava-se aos mercados consumidores com 8.200 toneladas.
O ano de 1912 registraria o clímax da produção nacional, com 42.410 toneladas e
também assinalaria o fim da hegemonia brasileira como principal fornecedor daquela
matéria-prima no mercado mundial, pois já em 1913 a borracha cultivada superava a
produção da Amazônia. Estava definitivamente quebrado o monopólio brasileiro.
Segundo Silva (1982, p.24), “a perda da supremacia brasileira deveu-se,
fundamentalmente à ausência de progresso técnico no extrativismo, ao sistema arcaico
empregado na extração do látex, com baixa produtividade do trabalho e, portanto,
elevados custos de produção”. O Governo brasileiro nada fez para enfrentar a
concorrência com outros produtores, pois só pensavam na supremacia que possuíam.
Com a perda dessa hegemonia, a economia da Amazônia sofre um forte abalo.
Conforme Oliveira (1982, p.24) “o declínio da borracha pôs em cheque o
funcionamento de toda a economia regional, que gravitava na produção e
comercialização da produção gomífera. No Acre e no Amazonas as cidades esvaziaram-
se, perdendo sua funções de entrepostos comerciais e observou-se uma acentuada
decadência das cidades e vilas que desenvolveram-se durante o auge extrativo”. E ainda
mais que, os seringais foram abandonados, os seringalistas não tinham a quem vender,
as casas aviadoras não compravam, os coronéis de barracos não conseguiam
mantimentos para seus barracões, em conseqüência, uma grande parte da força-de-
trabalho abandonou os seringais, paralelamente ao êxodo de inúmeros seringalistas que
entregavam seus negócios a gerentes, comboieiros, outros empregados e,
principalmente, às chamadas casas aviadoras.
14
Em 1913, com o interesse dos capitais estrangeiros voltados para a Malásia, a
economia Amazônica, principalmente a acreana experimenta um longo período de
retrocesso e estagnação. Com a desativação dos seringais nativos, os seringueiros que
ficaram, começaram a concentrassem em outras atividades extrativistas, como a coleta
da Castanha-do-Brasil, à caça, pesca e a agricultura de subsistência, desse modo
impedindo o esvaziamento demográfico da região.
A partir daí, a economia da região amazônica, em particular a acreana,
desaparecia numa grave crise, o preço da borracha que no seu período áureo (1912) era
vendida a 412 libras a tonelada, passa a ser vendida em 1931 a 32 libras.
Conforme Costa Filho (1995, p. 05), “Nem mesmo quando os japoneses
ocuparam os seringais de cultivo no sudeste asiático, na Segunda Guerra Mundial,
forçando os aliados a, sob o comando dos Estados Unidos, promoverem uma verdadeira
operação de guerra para restabelecer a produção gumífera na Amazônia (acordos de
Washington), que fosse capaz de atender as necessidades de guerra, nem assim
verificou-se a recuperação economia local. Através dos acordos de Washington, em
1942 foi instituído o monopólio estatal das operações finais de compra e venda da
borracha amazônica, operação que vai perdurar até 1967. Assim, o Estado passa a
ocupar o papel que o capital monopolista internacional exerceu no passado, na cadeia de
aviamento”.
Deste modo, com a decadência e estagnação dos seringais nativos da floresta
Amazônica, por volta da década de 70 deste século, a economia passa a percorrer
caminhos diferentes, baseados especificamente nas relações de produção desempenhada
no campo. Sendo que os seringueiros que permaneceram em terras acreanas,
procuraram adaptar-se às novas condições econômicas, sendo que essa adaptação deu-se
por dois caminhos: a busca de novos produtos de exportação e a substituição de
importação de gêneros pela produção de subsistência local.
1.4. Expansão da Agricultura no Estado do Acre na Década de 70 (setenta)
O processo de ocupação das terras do Acre se insere no contexto do
movimento de ocupação da Amazônia através de mecanismos adotados pelo Governo
Federal implementados a partir da década de 70, como principais: os incentivos fiscais
e financeiros, imigração de mão-de-obra nordestina. Silva (1982, p.38), comenta que:
15
A expansão do capitalismo na área dinâmica do país, onde a acumulação do capital se dá, é que vai explicar o surgimento de condições objetivas à corrida pela terra no Acre. O Governo passa, então, a criar mecanismos que estimulassem a penetração do grande capital nacional e estrangeiro, na Amazônia, a fim de incorporar a região ao processo geral de acumulação de capital.
A Amazônia passou a fazer parte dos planos de um capital mais concentrado.
A ocupação da fronteira Amazônica tornou-se, portanto, diferente da ocupação ocorrida
no período da economia extrativista da borracha, sendo que no final do século XIX,
passe-se a fazer parte do processo de expansão do capitalismo, unificando-a, ao
mercado nacional. Dessa forma, Oliveira (1982, p.47) expõe:
Os grandes e médios grupos que foram atraídos para a Amazônia oriundas predominantemente do Centro – Sul, o foram no contexto da expansão capitalista no Brasil, na articulação dependente da economia nacional com espaço produtivo capitalista internacional e na decorrente rearticulação das regiões internas em relação ao mercado nacional e, por intermédio deste, no mercado mundial em sua fase monopolista.... a Amazônia, agora vista como fronteira do capital, incorpora-se ao processo de expansão capitalista no Brasil em função das características da acumulação nas demais regiões brasileiras. A Amazônia, por esta perspectiva, é ocupada em linha de continuidade com o processo de unificação do mercado nacional.
Desse modo, o capital monopolista consegue manobrar todo tipo de ação
através do aparato estatal, ou seja, consegue buscar para si todos os mecanismos
possíveis para alcançar o seu objetivo, seja através de leis, decretos, projetos, etc.
Segundo Silva (1982), nesse bojo de transformações à economia Amazônica,
em particular no caso do Estado do Acre existiram outros fatores particulares à região
que foram de grande importância para despertar os interesses dos capitalistas da região
Centro - Sul, em especial, o baixo preço relativo das terras à perspectiva de especulação
fundiária, o crédito fácil, barato e abundante dos programas em âmbito nacional e as
facilidades desenvolvidas pelo o Governo Estadual.
A expansão da agricultura na década de 70 no Estado do Acre, diferentemente
do restante do país, foi impulsionada pelo Governo Federal, que através da diferença de
preços das terras, e pelos incentivos governamentais, principalmente nos projetos de
colonização e assentamento, fez com que migrassem para região pequenos, médios e
grandes produtores do Centro – Sul.
16
Os antigos seringais foram em geral vendidos aos grandes capitalistas do
Centro – Sul, que se transformaram ou em reserva de valor para futuras especulações ou
para desenvolver nova atividade, como é no caso da pecuária extensiva.
Silva (1982, p.37), coloca que “a incorporação da região acreana à fronteira
extensiva do capitalismo no Brasil tem sido marcada por intenso processo de
transferência de terras a compradores do Centro – Sul do país, sem interesse aparente
em preserva e assegurar a exploração dos seringais nativos”.
A partir de 1975, conforme Silva (1982, p.57), com o novo Governo estadual,
Geraldo Mesquita, houve uma inversão nas políticas locais, que objetivavam criar
obstáculos para desestímulo à corrida às terras acreanas e a adoção de uma política de
reorientação da questão fundiária, como por exemplo a criação dos Núcleos de Apoio
Rural Integrado – NARI’S e os Projetos de Assentamentos Dirigidos – PAD’S, políticas
voltadas para amenizar os problemas sociais, criando condições para conter o êxodo
rural e garantir a permanência do homem no campo.
A intervenção do Governo estadual, na implantação de novas políticas de
assistência ao homem do campo, a pecuária prosseguia expandindo, gerando grandes
transtornos a classe dos seringueiros, passando a serem expulsos pela própria
característica da pecuária extensiva, que utiliza grandes desmatamentos para a formação
de pastos. Conforme Silva (1982, p.52), outro método utilizado é o desmatamento
próximo da casa do seringueiro, deixando-o sem espaço para o plantio, com objetivo
direcionado simplesmente para sua expulsão.
Assim, esta população expulsa de suas colocações, de acordo com Oliveira
(1985, p.39/40), pela própria cultura adquirida nos seringais, não levou em conta
questões de propriedade e titulação das terras urbanas, passando a invadir as áreas
periféricas da cidade. Contudo, não estavam livres do risco de novas expulsões, só que
neste momento, para benefício de especuladores urbanos. O resultado deste processo é
uma população migrante marginalizada, sem assistência legal e sem qualquer
qualificação para as atividades urbanas, são lançadas ao desemprego ou ao subemprego,
caracterizado pelos biscates ocasionais. A única forma de sobrevivência era
proporcionada pela sua própria força-de-trabalho, a única mercadoria que poderia
vender.
A expulsão dos seringueiros intensificava-se cada vez mais, exigindo a tomada
de providência em prol da categoria. Segundo Silva (1982, p.58/59), notou-se o
surgimento de organização e fortalecimento dos movimentos de oposição dos
17
trabalhadores rurais. Este movimento foi fruto de todo um processo de conscientização
dos trabalhadores quanto aos seus direitos em relação à terra, que vinha sendo realizado
pela Igreja, através do trabalho da Comissão Pastoral da Terra – CPT, bem como pela
ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais da Agricultura – CONTAG,
que passou a organizar a formação dos sindicatos dos trabalhadores rurais em todos os
municípios do Estado do Acre, um sindicato livre, não assistencialista e que defende o
direito da terra.
Os trabalhadores rurais conscientes de seus direitos e organizados em
sindicatos passam a reagir contra a expulsão e os desmatamentos efetuados pelos
empresários e fazendeiros, assim, a ação dos paulistas para expulsão encontrava séria
resistência onde os trabalhadores estavam organizados, surgindo daí, os conflitos de
disputas pela posse da terra, o qual analisaremos no item a seguir.
1.5. A Luta Pela Posse da Terra
Diante deste processo violento de concentração fundiária e de expulsão dos
ocupantes da terra, o comportamento dos seringueiros foi dos mais variados.
Conforme Duarte (1987, p.66), inicialmente, por não estarem organizados, por
não conhecerem seus direitos e não terem forças suficientes para resistir, a atitude dos
seringueiros foi de resignação. Muitos acolheram as condições dos seringalistas
aceitando indenizações injustas de suas posses e benfeitorias, outros simplesmente se
submeteram às intimidações e deixaram a terra sem nenhuma indenização, dirigindo-se
em grande parte para as cidades. Outros recorreram a novos patrões seringalistas e
continuaram com a atividade extrativista da borracha, no sistema tradicional, como
seringueiro cativo ou sujeito ao seringalista.
Segundo Duarte (1987, p.66), grande parte da população rural expulsa pela
pecuária ou pela especulação se dirigiu para as cidades. Por um paradoxo, o Estado do
Acre, apesar de ser uma das frentes de expansão da fronteira econômica, em vez de
atrair contingentes populacionais de regiões mais povoadas, pelo contrário, através da
pecuária e da especulação, tornou-se uma área de repulsão da população rural. Em 1960,
sua população rural constituía 78,89% da população total, em 1970, reduziu para
72,45% e em 1980, chegou a 56,18%, sendo que só então a partir do ano 2000, a
população urbana superou a rural, cresceu duas vezes mais, chegando a urbana a
66,41% contra apenas 33,59% da rural. (ver tabela 01).
18
Tabela 1 - População urbana e rural do Acre
ANO
TOTAL
URBANA
ABSOLUTA %
RURAL
ABSOLUTA %
1960
158.852
33.534 21,11 125.318
78,89
1970
215.299
59.307 27,55 155.992
72,45
1980
301.605
132.174 43.82 169.431
56,18
2000
557.526
370.267 66,41 187.259
33,59
FONTE: Censo Demográfico/IBGE 2000.
Portanto, a região que mais gerou êxodo rural foi a do Alto Purus, que
corresponde à porção oriental do Acre. Sendo que, a área servida pelas rodovias BR-364
e BR-317, foi a preferida pela pecuária, destacando-se como área mais afetada pelas
expulsões.
No período de 1970 a 1980, a cidade de Rio Branco passou por uma verdadeira
inchação. Duarte (1987, p.67), coloca que a cidade de Rio Branco cresceu de 39,48%
para 66,17% da população urbana do Estado. Com isso, agravaram-se os problemas
sociais desta cidade, principalmente devido a sua precária infra-estrutura. As famílias
expulsas dos seringais passaram a viver em condições infra-humanas nos barrancos dos
rios, bairros alagadiços, que sofrem inundações freqüentes, ficando sujeitas a mudanças
constantes. Esta situação levou muitas famílias a ocuparem terrenos vagos em lugares
mais altos. Porém, novamente depois de expulsas dos seringais, passaram a ser
ameaçadas de expulsão dos terrenos que passaram a ocupar na periferia da cidade.
Outro grave problema enfrentado pelos migrantes na cidade de Rio Branco foi
o desemprego. Por serem analfabetos e desqualificados, tinham sua serventia para
serviços braçais, dificultando encontrar emprego na cidade. Quando encontravam era
temporário e mal remunerado. Por isso, neste período aumentou a delinqüência e a
prostituição, principalmente de menores.
É importante situar também, que grande número de seringueiros expulsos dos
seringais acreanos, não obtendo outras colocações no Acre e nem querendo aumentar o
excedente de força-de-trabalho nas cidades, emigraram para a Bolívia, em busca de um
pedaço de terra onde pudesse continuar a atividade que exerceram durante a sua vida
toda.
19
Duarte (1987, p.68) faz uma sinopse, expondo que:
No caso do Acre, o que existiu foi uma Superpopulação Relativa Latente2, que existiu desde a primeira crise do extrativismo, depois de 1912, com exceção do período da chamada Batalha da Borracha, durante a 2ª guerra mundial, sempre houve uma população supérflua (em termos de relações capitalistas) que passou a ocupar também de atividades de subsistência ou migrar as cidades ou outras regiões. No caso do Acre, o que estamos analisando não foi o desenvolvimento de um progresso técnico no campo, na região, nem as circunstâncias favoráveis de transferências para a indústria que provocaram o fluxo. Foi a intensificação de investimento de capital na região, através da pecuária ou da especulação fundiária, que mudou o uso do solo e provocou as expulsões desta população.
Esta situação sofreu um refluxo quando os seringueiros que bravamente ainda
permaneciam na terra passaram a enfrentar o capital e a luta pela posse da terra.
Neste sentido, os seringueiros foram se articulando e passaram a resistir de
forma organizada. Assim, Costa Sobrinho (1991, p.228) relata que “o trabalhador vai
tomando consciência da necessidade de se opor à violência dos paulistas, abandona a
sua condição de agente passivo do processo, e se agrupa para de modo coletivo,
organizar as formas de resistência e luta pela posse da terra”.
No ano de 1974 ocorrem os primeiros conflitos, tornando incontrolável a partir
de 1977. Assim, na medida em que os seringueiros foram se organizando, os exemplos
de resistência e a luta pela terra foram multiplicando. Portanto, algo precisava ser feito
para conter os conflitos entre seringueiros e paulistas que se intensificavam cada vez
mais. Neste contexto, Costa Filho (1995, p.12), expõe que os seringueiros que
bravamente ainda permaneciam na terra, passaram a ter aliados. Podemos considerar as
forças – o Estado regional, a Igreja e CONTAG, contribuíram para por freio na
avassaladora corrida pelas terras do Estado do Acre.
A aliança dessas forças com os seringueiros começa a apresentar resultados na
amenização dos conflitos. As primeiras Comunidades Eclesiais de Bases – CEB’s, vão
tomar partido, ao lado dos seringueiros, na questão agrária do Acre, criando um boletim
“NÓS IRMÃOS” e através dele divulgava a ação religiosa e pastoral da prelazia,
orientava as CEB’s, cumprindo papel de meio de integração e unificação do trabalho.
2 Superpopulação Relativa Latente – Ocorre quando a produção capitalista se apodera da agricultura. Á medida que se acumula o capital que funciona na agricultura, diminui a procura de força de trabalho rural.
20
Este boletim passou a divulgar os conflitos de terra, denunciar a violência dos
fazendeiros, informar e orientar os trabalhadores quanto aos seus direitos.
A CONTAG contribuiu principalmente na implantação de delegacias e
sindicatos em todo Estado do Acre, realizando campanhas como também ações
organizadas, que tinham como função esclarecer os trabalhadores de seus direitos e
incentivá-los a permanecerem em suas terras.
Segundo Costa Filho (1995, p.13), “[...] o Governo do Estado do Acre passou
a defender os interesses tradicionais do Acre, realizando várias ações para o
fortalecimento da economia regional, sobretudo da economia rural. Ainda sob a
orientação do Governo local, o INCRA passa a ter uma ação restritiva quanto à
transação de terras do Estado, alertando quanto às escrituras irregulares e buscando
garantir o direito dos posseiros”.
As ações dessas forças conseguiram modificar a correlação de forças que
existia no início da década de 70, promovendo uma pausa no intenso fluxo de transação
com terras no Acre. Neste sentido, Silva apud Costa Filho (1995, p.13), “ressalta que
esse bloqueio se dá quando praticamente todas as terras, sobretudo no vale dos rios
Acre e Purus, já tinham sido transacionadas e num momento de crise econômica
nacional”.
É importante situar que a resistência de forma organizada no Acre deu-se e
continua se dando de várias maneiras, desde a resistência através de “EMPATES”3 de
fixação na terra, até o enfrentamento com os proprietários. Pois devido a demanda de
organização que o homem do campo, com a ajuda da Igreja e da CONTAG, criou os
sindicatos de trabalhadores rurais, justamente para defender seus interesses. Em seguida
fundaram o Conselho Nacional dos Seringueiros – CNS que, juntos com os índios,
através da União Nacional Indígena – UNI e a Conselho Indigenista Missionário –
CIMI, conseguiram defender de forma organizada as Reservas Extrativistas e Indígenas
em toda região Amazônica, vinculando a viabilidade econômica à preservação do meio
ambiente.
Daí então, o Estado, através do governo Geraldo Gurgel Mesquita (1975 a
1979), Delegacia Regional do Trabalho e principalmente o INCRA passou a intervir
efetivamente na questão fundiária, ou seja, a luta de classes no Estado toma outra
direção, isso porque assume o governo Geraldo Gurgel de Mesquita, que passou a atuar
3 EMPATES. Sig – Método pacífico em que os seringueiros impediam a queima e derrubada para formação de pastos.
21
de forma contraditória ao que vinha fazendo seu antecessor (Wanderley Dantas), que
incentivou a vinda dos paulistas, e não implementou medidas no sentido de coibir a
violência no campo, diferentemente Mesquita logo toma partido na questão da terra no
Estado, com políticas agrárias na desapropriação de terras, criando os Núcleos de
Apoio Rural Integrado – NARI’S e posteriormente os Projetos de Assentamentos
Dirigidos pelo o INCRA – PAD’S os quais analisaremos no item a seguir.
1.6. Núcleos de Apoio Rural Integrado – Nari’s
O governo do estado em convênio com INCRA no sentido de regularizar e
garantir a propriedade da terra aos posseiros remanescentes de antigos seringais
desativados, decidiu-se criar os Núcleos de Apoio Rural Integrados – NARI’S, num
sistema de serviços que possibilitaria a incorporação do produtor de baixa renda a uma
infra-estrutura voltada para o mercado, implantando serviços de assistência técnica e
extensão rural, crédito rural, educação, armazenamento, saúde, mecanização agrícola e
revenda de insumos.
Lima apud Costa (1993, p.33) ratifica expondo que “a idéia básica do projeto
visava a possibilidade de criar um espaço tradicional entre o seringal e a cidade, ou
seja, um núcleo onde o seringueiro seria instalado e teria acesso a inovações técnicas e
uma estrutura urbana como: posto médico, escola, armazéns, etc, e que ao mesmo
tempo manteria uma característica rural, evitando o choque da saída do seringal
diretamente para a cidade, portanto o estado forneceria esta estrutura física, dando
condições para implantação das unidades produtivas, para que estas fossem
capitalizadas e modernizadas, objetivando a criação de uma bacia leiteira e dos pólos de
produção agrícola em torno de Rio Branco e dos maiores municípios, onde cada NARI
funcionaria como núcleo regional.”
O primeiro NARI implantado foi a colônia Jarbas Passarinho, servindo como
modelo para implantação de novos núcleos em Rio Branco, como o NARI Calafate,
Aquiles Peret, Panorama, Barro Vermelho e Bujari, em seguida implantou-se o NARI
Beija Flor em Brasiléia , o Aquidaban em Xapuri e os Igarapé Preto e Assis Brasil,
ambos em Cruzeiro do Sul.
22
1.6.1. Formação Histórica das Terras dos Nari’s
O processo de regularização da situação jurídica de áreas de antigos seringais
adquiridos e loteados pelo governo, como se pode averiguar no histórico da ocupação
das terras dos NARI’S feito pela Comissão Estadual de Planejamento Agrícola –
CEPA/ACRE em 1981, como segue:
“Em 1921 o intendente municipal de Xapuri adquiriu parte do seringal Porto Manso,
comprado de A. Braga & cia. Nove anos mais tarde, o intendente adquiriu naquele
município, 5.699.700 ha do antigo seringal Futuro”.
Em 1931, Francisco de Paula Assis Vasconcelos, interventor federal do território...
comprou outro quinhão de terras do seringal Porto Manso, nesse mesmo ano, adquiriu,
também, uma área em Cruzeiro do Sul, pertencente ao seringal Recordação [...].
Em 1942, o governo Oscar Passos comprou, ao redor da cidade de Rio Branco, 80.000
ha do seringal Empresa [...].
O major José Guiomard dos Santos, governador do território, sob a alegação de que
somente estimulando a colonização de seringueiros, e por meio de experiências de
novos processos para explorar as fontes de vida deste território e sob conveniência de
amparar-se também a extração da borracha e da castanha de maneira que o trabalho se
torne mais compensador, reduzindo-se as despesas de produção, com fomento à
agricultura nos seringais, baixou o decreto nº 83 de 03 de Maio de 1947 cujo artigo
primeiro afirmava:
‘A grande área de terras denominada seringal Empresa, pertencente ao território será
dividida em lotes, os lineamentos da legislação vigente’.
[...] Na gestão do governador Guiomard Santos, foram adquiridas mais terras num
montante de 7.529 ha. [...] Na gestão Fontenele de Castro, foram adquiridas mais 9.810
ha. O governo Kalume adquiriu mais 23.000 ha para fins de colonização.
Iniciada portanto a ocupação real das terras, no sentido produtivo, houve, em resposta
às pressões (SIC), a necessidade de intervenção do estado para legitimar aquela posse.
Num primeiro momento a ação pública se restringiu à compra das terras aos antigos
proprietários para assegurar aos interessados a ocupação definitiva. Em conseqüência
dessa ação, deu-se início ao processo de regularização jurídica das propriedades.”
(CEPA/AC apud COSTA 1993, p.35 e 36).
23
1.7. Projetos de Assentamentos Dirigidos Pelo Incra – PAD’s
Na tentativa de solucionar esses conflitos e amenizar as tensões sociais no
campo, surgem também além dos NARI’S os núcleos de assentamentos, dirigidos pelo
INCRA, que são grandes áreas de terra desapropriadas, sendo demarcadas e
transferidas não só aos posseiros e seringueiros, mas, também, a pequenos produtores e
trabalhadores rurais expropriados em outras regiões do país.
Os conflitos continuavam e nada era feito para a amenização do problema em
terras acreanas, assim um recurso utilizado pelo Governo para diminuir as forças de
tensão foi a desapropriação de terras por interesse social. Neste sentido, Duarte (1987,
p.77), expõe que:
As primeiras desapropriações ocorreram em 1976 pelo decreto nº. 79.048/76 foram desapropriados 292 mil hectares em Sena Madureira, com a finalidade de implantar o projeto BOA ESPERANÇA, para plantio de seringueiras. Este projeto foi implantado em convênio com a SUDAM, INCRA e Governo do Estado do Acre. Pelo decreto nº. 79.049/76, foram desapropriadas 408 mil hectares, incluindo os seringais Bagaço, Triunfo, União, São Vicente, Floresta, Campo Belo e Bom Destino, atingindo os municípios de Rio Branco, Plácido de Castro e Senador Guiomard. O objetivo desta desapropriação foi a implantar o projeto de Assentamento dirigido – PAD PEDRO PEIXOTO. Os posseiros localizados na área deveriam ter sua situação regularizada de acordo com o estatuto da terra.
Em 1989, mais 05 (cinco) decretos foram assinados, desapropriando vários
seringais. Duarte (1987, p.78), expõe “do seringal Catuaba, que desde 1974, vinha
sendo palco de conflitos, foi desapropriada uma parte, perfazendo 33.600 ha. Os
seringais Quixadá, Belmonte e São João, em Brasiléia, totalizando 54.112 ha., foram
desapropriadas com a finalidade de implantar o PAD Quixadá, cujo objetivo principal
foi reduzir a emigração para a Bolívia e absorver as famílias que já encontravam
naquele país. No entanto, até 1983, apenas 10% das famílias ali assentadas eram
procedentes da Bolívia. A fazenda Santo Antônio, com 10 mil hectares, desmembrada
do seringal Nova Empresa em Rio Branco e o seringal Porvir Novo, de 29.386 ha,
localizado em Xapuri e parte em Brasiléia, foram desapropriados para regularizar a
situação fundiárias de seus ocupantes. Também o seringal Santa Quitéria, de 71.985
ha., entrou neste rol de desapropriações. Alguns meses depois, ainda em 1980, outro
decreto desapropriou, em Rio Branco, o seringal Humaitá, de 63.861 ha. Neste seringal,
240 posseiros estavam em conflitos com sua proprietária. Ali foi implantado o PAD
24
Humaitá. Em 1981, houve outro decreto desapropriando o seringal Belo Horizonte, em
Cruzeiro do Sul, de 28.000 ha., com a finalidade de regularizar a posse de terra de 56
famílias e fazer assentamento de outras”.
Assim, o INCRA implantou até o ano de 1983, 05(cinco) projetos de
assentamentos dirigidos – PAD’S, num total de 5.704 famílias assentadas, conforme
tabela 02.
Tabela 2 - Assentamentos feitos pelo Incra até 05/04/83
PAD LOCALIZAÇÃO ÁREA (HA) ASSENTAMENTO
REALIZADO
Pedro Peixoto Rio Branco, Plácido de Castro
e Senador Guiomar
317.588 3.815
Boa Esperança Sena Madureira 275.646 442
Humaitá Rio Branco 63.861 809
Quixadá Brasiléia 126.097 520
Santa Luzia Cruzeiro do Sul 69.700 118
TOTAL ----- 852.892 5.704
FONTE: INCRA – Coordenadoria Especial da Amazônia Ocidental.
Observando a tabela acima, percebe-se até o ano de 1983, que o projeto que
assentou mais colonos foi o PAD Pedro Peixoto, com quase 4.000 famílias. Segundo
Duarte (1987, p.78), “[...] este projeto serviu também de válvula de escape para as
expropriações ocorridas no sul do país. Este projeto abrigou inclusive os sem-terra do
Paraná, principalmente os arrendatários que foram desabrigados pela hidrelétrica de
Itaipu. Em 1981, começou a mudança destes colonos paranaenses. Foram para o Acre e
cheios de promessas e de esperanças”.
O Governo Federal através do INCRA assentou quase 6.000 famílias no
período de 1980 a 1983, na tentativa de amenizar os conflitos, mas, deparou-se com
outro grave problema, a falta de estruturação nos projetos de assentamentos, ou seja, o
Governo não havia implantado os serviços de saúde, educação, transporte e assistência
técnica. Grande parte destes problemas são encontrados ainda hoje, colocando em risco
o sucesso desses projetos.
25
De 1983 a 1999, o INCRA implantou 61 projetos de assentamentos,
desapropriando no geral uma área de 1.572.531 ha., com capacidade total de assentar
19.544 famílias no Estado do Acre. (Ver Anexo 1).
Com todo esse processo de desapropriações, a terra ainda continua sendo um
dos problemas centrais à economia do Estado. O Governo do Estado como também o
INCRA, vem na tentativa de cessar os conflitos por terras, visando a fixação dos
trabalhadores rurais em atividades agrícolas, implantando novos projetos de
assentamentos, dando assistência técnica e financeira, proporcionando facilidades para
a comercialização dos produtos e beneficiando os lotes com infra-estrutura,
principalmente com a abertura de estradas vicinais.
26
II - PRODUÇÃO FAMILIAR E PAD BOA ESPERANÇA
No presente capítulo apresenta-se a origem, conceituação e caracterização da
produção baseada no trabalho familiar no Estado do Acre.
Ressalta-se ainda no capítulo os aspectos físicos e sócio-econômicos do PAD
Boa Esperança.
2.1. Origem, Caracterização e Conceituação da Produção Familiar no Estado do Acre
Origem
Como foi visto no capítulo anterior, a economia acreana foi organizada em
função do extrativismo vegetal da borracha, em grandes unidades de exploração –
seringal – tendo sua produção destinada ao comércio para o comércio externo4, que era
o objetivo básico do proprietário da terra - seringalista.
A produção da borracha sempre foi feita de forma rústica, proporcionando
elevação da produção através do aumento de mão-de-obra utilizada, pelo o aumento do
número de horas trabalhadas ou pela aquisição/incorporação de novas terras – estradas
de seringa – àquelas já exploradas. A economia extrativista tinha como base o sistema
de aviamento, através do qual o seringalista mantinha o seringueiro sempre endividado.
O seringueiro ao começar sua atividade no seringal, já assumia uma dívida com o
patrão, que correspondia a todas suas despesas, entregando toda a sua produção de
início no barracão para começar pagar sua dívida.
Assim, o seringueiro tinha por obrigação produzir cada vez mais borracha para
tentar pagar seu débito junto ao barracão, o que nunca acontecia, pois, os preços das
mercadorias que adquiria eram controlados pelo seringalista.
Outro aspecto concorre o endividamento do seringueiro não acabar. Foi a
questão do mesmo está totalmente submetido à produção de borracha, não podendo
disponibilizar parte de seu tempo a outras atividades econômicas, como por exemplo à
agricultura, o seringueiro poderia prover-se de gêneros alimentícios comercializados
pelo seringalista do barracão. E, esse “desperdício” de tempo por parte do seringueiro,
na atividade agrícola, executado numa pequena parcela de terra – roçado – poderia
4 A produção tanto era destinada à indústria nacional quanto ao mercado internacional, porém, em relação ao mercado internacional, era destinada a maior parte do volume da produção.
27
diminuir a sua produção de borracha, o que não interessava ao seringalista, pois, este
não estaria vendendo suas mercadorias e ao mesmo tempo perdendo parte de seus lucros
com a comercialização da borracha.
Com as crises que concorrem no decorrer da sua existência, a economia da
borracha torna-se frágil, e o seringalista, não obtendo seus ganhos através do aviamento
do seringueiro, começa a permitir o plantio de pequenos roçados dentro do seringal,
sendo o excedente de consumo vendido ao seringalista que revenderia a outros
seringueiros, tornando-se, assim, uma atividade econômica complementar em épocas de
crises do extrativismo da borracha.
E, como também, em outras regiões do país em que a atividade econômica está
voltada para o mercado externo, a produção familiar surge somente em momentos de
crise do mercado do produto exportado, sendo reduzida nos momentos em que a
conjuntura comercial seja favorável a este produto de exportação.
Nos períodos, correspondentes as décadas de 40 e 60, ocorre um fato social e
econômico importante para a caracterização da economia acreana: o êxodo rural
provocado pela crise da economia da borracha e a reivindicação pelo o já direito a terra
junto ao Governo, por parte dos seringueiros.
Guerra apud Calaça (1983, p.121), enfatiza em sua análise que: “a fixação do
homem ao solo tem merecido ultimamente a atenção dos seringalistas que procuraram
planejar de modo sistemático a sua ocupação efetiva e os problemas correlacionados
com a produção agrícola e pecuária; e , assim, esta transformação, criando a lavoura,
reduz o nomadismo agrícola da população rural, habituada a plantar aqui e ali, o
necessário para o sustento próprio, e, isso, mesmo quando encontrava boa vontade da
parte do proprietário de terras dando-lhes consentimento para cultivar o solo.”
Com o processo de expulsão dos seringueiros e posseiros do campo,
pressionam o Governo em busca de terras como forma de reivindicar uma
compensação, por seus serviços durante o auge do extrativismo da borracha, e, aliado a
isto, há o aumento da demanda por alimento em virtude do crescimento urbano recente,
principalmente, após a segunda guerra mundial. É quando começam a surgir núcleos de
povoamento em torno do seringal empresa5 e núcleos de colonização em torno dos
centros urbanos já existentes.
5 Com essa iniciativa surge a produção familiar no Estado do Acre.
28
Neste sentido, Calaça (1983, p.121), enfatiza que “[...] a transformação deste
seringal em área de colonização data de 1941, tendo sua implantação retardada pela
reativação do extrativismo durante a II guerra mundial, sendo efetivamente implantado
a partir de 1947”.
Apesar do surgimento dos núcleos de colonização e com a preocupação com a
agricultura, esta não se desenvolveu a contento, tanto para o sustento dos camponeses
quanto para a comercialização dos produtos com as cidades. Isso ocorria por dois
motivos básicos: não criou-se uma infra-estrutura assistencial que orientasse os colonos
quanto ao uso adequado das terras; os colonos, ex-soldados da borracha e nordestinos
que fugiam das condições adversas da sua região de origem, não mantinham consigo,
apesar de rudimentares, as técnicas de cultivo da terra, e , além disso, de as condições
naturais serem bem diferentes, e, também, porque a sistemática econômica e social
imposta pela economia da borracha (aviamento) impediu o seringueiro de desenvolver
técnicas de cultivo adaptadas à região.
Calaça (1983, p.122), expõe que sistemas de cultivo nos núcleos de
colonização criados são basicamente os mesmos que eram praticados na época do
seringal, isto é, uma agricultura itinerante, baseada na derrubada, na queimada, sendo
plantado no primeiro ano agrícola pequenas áreas de arroz, milho e feijão, aproveitando
a área após a colheita para cultivo de mandioca. Após a colheita da mandioca a terra é
abandonada, até a recomposição natural do solo pelo crescimento da vegetação
secundária, a capoeira, desmatando-se nova área para o cultivo.
Na década de 70, ocorreram transformações fundamentais na estrutura de
propriedade e uso da terra do Acre, tendo importante reflexos no processo de formação
da produção familiar.
A solução dos conflitos pela posse da terra, dava-se também através de acordos
firmados entre os proprietários e posseiros ou seringueiros, pelo pagamento de certa
quantia (irrisória) em dinheiro, que seria uma espécie de indenização, ou em terra na
periferia da propriedade, porém, comumente o que acontecia era a expulsão violenta
daqueles que não concordavam com estas propostas.
Na tentativa de amenizar esses conflitos no campo, surgem os núcleos de
assentamentos, dirigidos pelo INCRA, que são grandes áreas de terras desapropriadas,
sendo demarcada e transferidas não só aos posseiros e seringueiro, mas, também, a
pequenos produtores e trabalhadores rurais expropriados em outras regiões do país.
29
A transformação ocorrida na fase atual na formação da produção familiar
diferem muito da ocorrida até o final dos anos 60. Neste momento, o que ocorre é, que
através da compra de antigos seringais e sua transformação em fazendas e pelo caráter
especulativo da aquisição das terras acreanas provocado pelo baixo preço da terra no
Acre, a presença do seringueiro e posseiro é incompatível com os interesses dos
proprietários e não mais como antes, com a simples liberação da mão-de-obra dos
seringais por conta de crises da economia da borracha, provocadas pela perca de
importância do produto brasileiro no mercado internacional.
Com a aquisição de terras acreanas (antigos seringais) por parte de
“investidores” e especuladores advindos de outras regiões do país, a terra passa a ter um
valor expressivo, pois através da titularidade podiam utilizar-se dos incentivos fiscais,
creditícios e financeiros, implantados pelo Governo Federal, na tentativa de desenvolver
e integrar a região Amazônica, ao sistema econômico brasileiro, coordenado sempre
pelo grande capital.
A respeito da localização, os núcleos formados em épocas de crise da borracha
(de colonização), situam-se próximos aos centros urbanos, enquanto, atualmente, os
núcleos mais recentes (de assentamentos), são formados mais afastados das cidades,
porém, próximos às fazendas, resguardando dessa forma, o contingente de reserva de
mão-de-obra. Sem a posse de direito, a não ser de pequenas áreas que fornecem um
espaço físico suficiente apenas para a produção de autoconsumo deste produtor, esta
mão-de-obra está livre para ser utilizada em grandes projetos agropecuários a um custo
baixo, já que são dispensadas as despesas com alimentação, transporte e habitação, por
isso, a proximidade desses núcleos às grandes propriedades.
Outro aspecto que deve ser observado é que anteriormente, os pequenos
produtores dedicavam-se à agricultura voltada a produção de subsistência, que surgia
em momentos de crise da economia da borracha. Agora, os colonos são orientados a
produzir, além de gêneros de subsistência, culturas permanentes destinadas a
comercialização, onde destacam-se o cacau, palmito, café e a seringueira que ainda é
um produto de grande importância comercial.
Calaça (1983, p.130), também expõe que “[...] a recriação da produção familiar
no Acre ocorre com a diversificação da produção, cultivando, além dos produtos
tradicionais desta categoria de produtores, aqueles destinados à exportação”.
O ressurgimento da pequena propriedade produtiva propícia a produção de
bens destinados ao consumo familiar, assim como, também produtos a serem
30
comercializados. Porém, na maioria dos casos, ocorre que uma parte dos recursos
oriundos da comercialização dessa produção fica com aqueles que compram esses
produtos quando de sua chegada no centro urbano, já que o agricultor não teria uma
disponibilidade de tempo suficiente para vender seus produtos direto ao mercado. Assim
sendo, sua produção é vendida aos marreteiros por um preço inferior ao efetivamente
praticado no mercado, e, ao intermediário destina-se o diferencial do preço obtido com a
revenda dos produtos.
Então, conforme os argumentos de Calaça a produção familiar surge no Estado
do Acre subordinada ao capital mercantil, agora como antes, submetida a um sistema de
intermediação no processo de comercialização, semelhante ao sistema de aviamento que
prevaleceu no extrativismo.
Caracterização e Conceituação
A agricultura familiar tem como principal característica o trabalho não-
assalariado de força-de-trabalho, onde a unidade produtiva é formada pelos membros da
família, todos participando ativamente de todo o processo produtivo. O nível de
exploração da unidade familiar depende exclusivamente do tamanho da família,
determinando assim a super ou sub-utilização da força-de-trabalho. O objetivo do
trabalho das unidades de produção familiar é atender as necessidades de sustento da
família, sendo o excedente comercializado no mercado.
Segundo TAVARES et al. (1997, p.10) “[...] o conceito de agricultura familiar,
é entendida como aquela em que a família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos
meios de produção, assume o trabalho no estabelecimento produtivo”.
A agricultura familiar tem sua autonomia própria, sendo que a mesma se
expressa pela capacidade de promover a subsistência do grupo familiar, em dois níveis
complementares: a subsistência imediata, isto é, o atendimento as necessidades do
grupo doméstico, e a reprodução da família pelas gerações subseqüentes. Da conjugação
destes dois aspectos resultam suas características fundamentais a especificidade de seu
sistema de produção e a centralização da constituição do patrimônio familiar.
Silva (1996) apud Bezerra (2000), caracteriza a produção familiar como a
produção que a mão-de-obra no processo produtivo, executa suas atividades destinando
com finalidade primeiramente em atender ao consumo da família e secundariamente ao
mercado.
31
Neste sentido destacam-se alguns aspectos importantes para a caracterização da
unidade de produção familiar, tais como:
A escala de produção da unidade familiar é mínima, isso porque atende apenas o
nível de consumo da família;
O número de trabalhadores, sendo determinado pelo tamanho da família;
O produtor ou chefe da família ou gerente da unidade de produção pratica trabalho
direto, ou seja, o produtor comanda e executa as atividades exigidas no processo
produtivo; e
A produção visa a reprodução da família, não o lucro.
Blum (1999) apud Bezerra (2000), também visualiza a produção familiar
levando em conta a propriedade que acopla a produção, definindo como a propriedade
que é explorada diretamente pelo agricultor e sua família, observando toda a força de
trabalho, garantindo a sobrevivência e a possibilidade do progresso social e econômico,
com delimitação da área (unidade de produção) e todo tipo de exploração, e
eventualmente conta com a ajuda de terceiros.
O agricultor familiar é todo aquele que tem na agricultura sua principal fonte de renda (+80%) e cuja força-de-trabalho utilizada no estabelecimento venha fundamentalmente de membros da família. É permitido o emprego de terceiros temporariamente, quando a atividade agrícola necessitar. Em caso de contratação de força-de-trabalho permanente externo a familiar, a mão-de-obra familiar deve ser igual a 75% do total utilizado no estabelecimento. (BLUM 1999, p.62).
Existe também a produção familiar que prioriza o mercado, como expõe Lima
et al. (1995, p.30) que a produção familiar é determinada também pelo nível de capital
de exploração, que produz prioritamente para o mercado.
Mas, o objeto de estudo analisado, exclusivamente ao Estado do Acre é a
produção familiar que não se enquadra às características básicas da produção
capitalista, ou seja, ao trabalho “livre”, assalariado e dissociado dos meios de produção.
Assim, Neves (1995) apud Bezerra (2000) enumera alguns pontos abaixo que
diferencia a produção voltada à reprodução familiar da produção na unidade capitalista:
A produção familiar não apresenta assalariamento de sua força-de-trabalho. Sendo
esse o principal aspecto da produção capitalista;
A força de trabalho não é dissociada dos meios de produção na produção familiar.
Juntamente com o assalariamento, a dissociação da força-de-trabalho dos meios de
32
produção é fundamental para a expansão, via exploração do trabalho, do capital na
unidade capitalista de produção;
Não existe mais-valia (apropriação do excedente do trabalho) na produção familiar,
pois o trabalho empregado não é assalariado. Produz-se até ser satisfeita as
necessidades de reprodução básicas da família. O trabalho excedente apropriado
pela produção capitalista, para ampliar os meios de produção, não é realizado na
produção familiar;
A produção familiar visa a satisfação imediata da unidade de produção, ou seja, o
consumo imediato dos bens produzidos, havendo a reprodução simples do capital,
sem expandir os meios de produção da unidade, diferentemente a unidade
capitalista produz para obter rendimentos no mercado.
Então, a produção familiar aqui analisada, não se enquadra à situação de
mercado na forma de exploração puramente capitalista dos recursos, pois não se baseia
no trabalho assalariado e o executor das tarefas é também o dono dos meios de
produção, ou seja, não há alienação do trabalho. Além disso, o objetivo da exploração
dos recursos na propriedade familiar é a satisfação das necessidades da família, não o
lucro, como ocorre na unidade de produção capitalista.
Com base nas definições apresentadas, verifica-se um ponto comum na
definição e caracterização da produção familiar no Estado do Acre, que não há
prioridade ao mercado e que a utilização da força de trabalho familiar no processo
produtivo, ocorrem sem assalariamento, onde a produção visa atender as necessidades
básicas da família e o chefe da família é o responsável pelo gerenciamento da
produção.
2.2. Aspectos Físicos e Sócio-Econômicos do PAD Boa Esperança
2.2.1. Aspectos Físicos
Situação, Limites e Extensão
A área que compreende o PAD Boa Esperança corresponde 275.646 ha., com
capacidade de assentar 2.756 famílias, sendo que no ano de 1999, estavam assentadas
1.401 famílias.
33
O PAD Boa Esperança está localizado no município de Sena Madureira,
Estado do Acre na BR 364 – KM 16, estando aproximadamente a 154 KM de Rio
Branco, capital do Estado.
Abrange uma superfície de cerca de 275.646 ha, e tem como limites a BR 364,
o rio Caeté e linha seca que liga o KM 192 da aluída rodovia ao ponto de confluência
dos rios Caeté e Canamari.
Geologia
A geologia está representada pelo período terciário, através da formação
solimões, que é a responsável pela a origem dos solos mais representativos da área do
projeto.
A formação solimões é resultante de uma deposição pliopleistocênica,
caracterizada por variações faciológicas proeminentes. São sedimentos típicos de
planície de inundação, com litologia e estruturas sedimentares características.
O período duaternário também se faz representar, embora em pequenas áreas,
restritas ao longo dos rios, através de aluviões indiferenciados.
Em termos de ocorrências minerais, assinala-se, conforme informações do
“Projeto Radam Brasil”, a presença de gipsita em boa parte da área do PAD Boa
Esperança.
Relevo
O relevo se apresenta relativamente homogêneo e sem grandes desníveis
altimétricos. A área do projeto corresponde a uma pequena parte da unidade
morfoestrutural denominada “depressão rio Javari”. Essa unidade representa uma
altimetria média de 200m, constituindo assim o nível mais baixo da região.
Ocorrem na área do projeto, basicamente, três classes de relevos: plana, suave-
ondulada e ondulada. A primeira aparece nas planícies aluvionores, onde se observa a
ocorrência de solos hidromóficos indiscriminados, e, as duas últimas, apresentam-se nos
locais não atingidos pela água dos rios, durante o período de maior pluviométrica, onde
aparecem as demais unidades pedológicas da área.
34
Hidrografia
A rede hidrográfica da área do PAD Boa Esperança é representada pelo rio
Caeté e seus afluentes, pela margem esquerda sendo o principal deles o denominado
Igarapé Xiburema, que constitui importante via de acesso à área, pois, na época das
chuvas, as estradas existentes ficam praticamente interrompidas.
Os rios constituem, tradicionalmente, o mais importante meio natural de
comunicação e transporte do projeto, e, ao longo de suas margens, localiza-se a maioria
dos povoados. O rio Caeté, após cortar a BR 364, no sentido sul-norte, lance-se no rio
Iaco, bem nas periferias da sede do município de Sena Madureira, sendo este rio
navegável na maior parte do ano.
Vegetação
A vegetação que recobre a área do PAD Boa Esperança é representada pelas
espécies características da região fitoecológica denominada “região da floresta tropical
aberta”.
As espécies econômicas mais representativas da área são: a seringueira (Hevea
Brasieliensis) e a castanheira (Bertholletia Excelsa). A seringueira é uma das principais
espécies usadas no extrativismo. Ocorrem na área outras espécies econômicas, como o
jatobá (Hymenenea Coubaril), o cedro (Cedrela Oderata), a maçaranduba (Manilkara
Huberi), a andiroba (Carapa Guianensis) e mogno (Swietenia Macrophylla).
Na região fitoecológica, ocorre com grande freqüência o gênero bambusa, que
também se faz presente na área do projeto.
De modo geral, a área do PAD Boa Esperança abrange uma superfície que
reúne boas condições para exploração florestal, sendo que as melhores são localizadas
nos terreços(terrenos) aluviais.
Clima
As condições climáticas da área enquadram-se no tipo Ami, que se caracteriza
por elevada pluviosidade e alta temperatura, com pequeno período seco.
A elevada pluviosidade, que é uma característica não só da área do projeto
mas, de toda região, está em torno da isoieta dos 2000 mm. O período chuvoso inicia-se
35
em setembro, prolongando-se até maio, sendo que o maior acúmulo de chuvas verifica-
se nos primeiros meses do ano.
As temperaturas médias anuais apresentam variações em torno de 24ºC, e das
médias das mínimas em torno de 19ºC.
A unidade relativa do ar é bastante elevada e a média anual fica em torno da
isohigra de 90%.
De acordo com INCRA (1996) o balanço hídrico efetuado para a localidade de
Sena Madureira, verifica-se que devido à ausência de chuvas somente nos meses de
julho e agosto existe deficiência de água. Por outro lado, observa-se, que em geral, os
excedentes hídricos ocorrem no período de outubro a maio. O período de seca constado
não representa fator limitante para o desenvolvimento das plantas cultivadas, tendo em
vista não somente a dominância de solos de textura argilosa, como também a
uniformidade da distribuição pluviométrica. O acontecimento oposto, ou seja, a
ocorrência de períodos com excesso de unidade é, sem dúvida, o fator que apresenta um
risco mais real ao cultivo de vegetais ainda não suficientemente adaptados à área.
Solos
Os solos da área do projeto são comuns à Amazônia, ou seja, um tanto
meteorizados, pertencentes aos grandes grupos dos podzólicos vermelhos e amarelos e
hidromórficos, com características um tanto similares denotando-se um inter-
relacionamento muito estreito entre eles.
Os podzólicos vermelhos e amarelos denominam as superfícies onde está
havendo dissecação, enquanto os hidromórficos prevalecem ao logo dos rios,
principalmente às do rio Caeté.
Assim ocorrem na área as seguintes unidades pedológicas:
a) Hidromórficos Indiscriminado – São solos desenvolvidos a partir de
sedimentos aluviais, de depósito de baixadas e acumulação orgânica residual, que
constituem formações do holoceno.
O uso deste solo é bastante limitado pela sua drenagem deficiente e pela baixa
fertilidade, não sendo, portanto, aconselhado seu uso para fins agropastoris.
Recomenda-se conservar a vegetação como reserva florestal.
b) Laterita Hidromórfica distrofica, moderadamente drenada, floresta
tropical úmida e relevo plano.
36
São solos bastantes meteorizados, fortemente ácidos, com drenagem moderada
devido à natureza do material originário, da presença de substrato lentamente permeável
e da posição do relevo.
Estes solos são originados a partir da meteorização de sedimentos do terciário e
do quaternário. Apresentam relevo plano, e podem ocorrer em terraços moderadamente
drenados, em cotas relativamente altas, como também fazer parte de áreas baixas, que
sofrem inundações estacionais das cheias dos rios ou das águas de precipitações.
c) Vertisol – esta classe compreende solos minerais com alto conteúdo de
argila do grupo montmorilonita. Apresentam geralmente microrelevo (Gilgai) e, na
estação seca, fenda superficiais, resultante da contração de argilas expansivas. No
período de chuvas, o solo reumedece, dilata-se, fica muito plástico e pegajoso, tornando
muito difícil ou mesmo impraticável o uso de máquinas agrícolas.
2.2.2. Aspectos Sócio-Econômicos
Saúde e Saneamento
Um dos indicadores que expressam com maior nitidez as condições de saúde e
de vida de uma população é a taxa de mortalidade infantil. Nesse aspecto as condições
do município de Sena Madureira são ruins, pelo fato dos índices de mortalidade infantil
serem elevados. Conforme SEBRAE/AC (2000) o índice atinge 59,25% (por mil
nascidos).
Esse índice reflete, em grande medida, as condições precárias de saneamento
básico, de nutrição, de higiene e limpeza e o colapso da estrutura e do atendimento em
termos de saúde pública e medicina preventiva, que é problema geral não só no
município, mas em todo País.
De acordo com o SEBRAE/AC (2000) o município conta com os seguintes
estabelecimentos e profissionais conforme tabela abaixo:
37
Tabela 3 – Rede física e pessoal da área de saúde no município de Sena Madureira (1999)
FONTE: SEBRAE (PRODER – ESPECIAL) – 1999.
Em relação ao PAD Boa Esperança, caracteriza-se a saúde como um problema,
principalmente devido o acesso dos colonos ser difícil, os ramais serem intrafegáveis e a
inexistência de profissionais para executarem os serviços. De acordo com a tabela acima
existem 66 postos de saúde, distribuídos em toda zona rural do município, sendo que 21
estão situados no PAD Boa Esperança. Quanto aos recursos humanos para prestar
assistência médica, raramente existe um agente de saúde, tendo apenas 13 parteiras
leigas para toda zona rural, ficando a população do projeto totalmente depende do
centro urbano de Sena Madureira.
Educação
Na área de educação o que mais chama atenção é o alto índice de
analfabetismo que atinge 29% da população do município de Sena Madureira acima de
10 anos. Quando se agrega a esse dado os índices de evasão e reprovação no ensino
fundamental, que são 32,26% e 15,24% respectivamente, e a defasagem idade/série, que
atinge 61,30% no ensino fundamental, então o quadro sombrio da educação se
completa, conforme tabela baixo
Tabela 4 – Índice de analfabetismo, de evasão e reprovação dos jovens e adultos no município de Sena Madureira (1999)
MUNICÍPIO ÁREA EVASÃO REPROVAÇÃO
URBANA RURAL
SENA MADUREIRA
- POPULAÇÃO
-ANALFABETOS
-ANALFABETOS (%)
9.263
1.626
17,60
7.718
3.291
42,60
2.309 1.091
FONTE: Coordenadoria de Estatística Educacional – SEE/INEP/MEC.
Área Hospital/Maternidade Centro
de
Saúde
Posto
de
Saúde
Lab. de
Análise
Cons.
Odont.
Profissionais da Área Médica
Und. Leitos Méd. Enfer.
Aux.
Enfer.
Ag. de
Saúde
Parteiras
Leigas
Urbana
Rural
01
-
58
-
02
-
-
66
02
-
03
-
06
-
06
-
32
-
35
-
-
13
Total 01 58 02 66 02 03 06 06 32 35 13
38
Conforme SEBRAE/AC (2000) pelo lado do magistério, registrou-se que no
ensino fundamental do Município existe apenas 01 professor com formação superior
com licenciatura completa. A qualificação dos docentes é baixa e precisa ser revertida,
35% dos professores têm apenas o 1º grau e 65% o 2º grau. São aproximadamente 85
professores com essa formação, responsáveis pela educação de 10.160 alunos no ensino
fundamental espalhados entre 132 escolas no município. A tabela abaixo ilustra o perfil
da rede escolar no município:
Tabela 5 – Rede escolar, localidade e nível de ensino no município de Sena Madureira (1999)
REDE LOCAL Nº DE
ESCOLAS
NÍVEL DE ENSINO TOTAL
Pré-
Escolar
Alfabetização Fundamental
Médio Especial Supletivo
Estadual Rural
Urbana
47
08
20
432
-
-
1.278
2.842
-
1.069
-
41
23
500
1.321
4.884
Municipal Rural
Urbana
70
07
38
327
-
27
1.706
1.580
-
-
-
-
24
253
1.768
2.187
TOTAL 132 817 27 7.406 1.069 41 800 10.160
FONTE: COORDEE/INEP/MEC – 1999.
As escolas na zona rural, 50% das mesmas estão situadas no PAD Boa
Esperança que praticamente suspendem o ensino no período de intensas chuvas, devidos
os ramais se tornarem intrafegáveis.
Armazenamento
Não existe no projeto estrutura para armazenamento de grãos, que é feito
quando necessário, na Companhia e Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre –
CAGEACRE, tendo até o ano de 2000 três armazéns com capacidade total de 3.600
toneladas, todos na cidade de Sena Madureira.
39
Comunicação
A comunicação no PAD Boa Esperança, como em todo município de Sena
Madureira, tem como predominante o sistema de radiodifusão por meio da Rádio
Difusora Sena Madureira e da Fundação Cultural Comunicação Elias Mansour,
enquanto que o sistema televisionado tem sua programação distribuída pelas emissoras
de Rio Branco. O serviço de correio e telegrafo é feito pela Empresa Brasileira de
Correio e Telégrafo, jornais escritos da capital e telefonia da Teleacre.
Eletricidade
O PAD Boa Esperança não tem energia elétrica. Com a privatização da
Companhia de Eletricidade do Acre – Eletroacre, a responsável pelo fornecimento de
energia na cidade de Sena Madureira é a empresa Guascor do Brasil Ltda.
Rede Bancária
Funciona no município de Sena Madureira 01 posto do Banco do Brasil e 01
posto do Banco da Amazônia – BASA. Sendo que outros bancos como: Bradesco, Itaú,
HSBC/Bamerindus, Real, Bilbao Viscaya e Finasa, só são encontrados na capital.
Setor Produtivo
a) Primário
A estrutura de apoio à produção é bastante deficiente no contexto geral, por
haver pouco empenho do Estado e instituições privadas no processo produtivo
agroextrativista. No município de Sena Madureira até ao ano de 2000 existia cinco
Projetos de colonização e assentamento extrativista, sendo o que cumpre assinalar em
relação a esses projetos são dificuldades de produção e reprodução social dos
parceleiros assentados, onde muitos deles simplesmente abandonam ou vendem suas
glebas, devido à precariedade e a falta de condições dignas para sobrevivência. Mas
com todas as dificuldades, é o setor que gera mais empregos no município, pelo fato de
existir 2.310 famílias assentadas, e além do mais cumpre registrar, que as pequenas e
40
médias propriedades são as grandes responsáveis pela produção de alimentos no
município.
b) Secundário
O setor de transformação industrial na economia do município, destaca os
ramos madeireiros e cerâmicos/oleiros como os principais. Conforme SEBRAE/AC
(2000) o município comporta 66 estabelecimentos, sendo que 50% desses são
madeireiros (serrarias, movelarias e marcenarias), conforme tabela abaixo:
Tabela 6 – Estabelecimentos industriais e números de empregados formais e informais por ramos de atividades no município de Sena Madureira no ano de
1999
Ramos de Atividades Estabelecimentos
Empregados
Formais Informais
Ind. Madeireira* 40 112 70
Ind. Laticínios 02 08 -
Fábrica de gelo 02 06 -
Panificadoras 03 18 -
Sorveterias 06 08 30
Confecções 07 07 -
Benef. de arroz 02 02 -
Cerâmicas/olarias 04 23 15
Total Geral 66 184 115
FONTE: SEBRAE/AC / PRODER – Especial – 1999.
* Engloba: serrarias, movelarias e marcenarias.
A quase totalidade dos estabelecimentos industriais se caracterizam como
pequenas e micro empresas e, grande parte delas, operam sem nenhum registro e sem
aval dos setores competentes. São estabelecimentos de “fundo de quintal”, trabalhando,
por assim dizer, na semi-clandestinidade, em completa informalidade.
41
c) Terciário
Segundo a teoria econômica, o setor de serviços cresce e se desenvolve em
conseqüência do desempenho dos setores produtivos (primário e secundário). A
debilidade dos setores produtivos na cidade de Sena Madureira se expressa também no
setor de comércio e serviços.
O setor terciário é o principal setor que indica o volume financeiro no
município, e ocupa a 2º colocação em termo de pessoas ocupadas , tendo sua
performance hegemonizada pelo serviço público. As instituições públicas, nos três
níveis de governo, são as grandes responsáveis pelo pessoal empregado, conforme
tabela abaixo:
Tabela 7 – Serviços públicos, governamentais e não governamentais, serviços privados por ramos de atividades no município de Sena Madureira no ano de 1999
Especificação dos Serviços Estabelecimentos Empregados
Formais
Informais
Serv. Público Gov. Federal:
- Instituições bancárias
- Outras instituições
Instituições Estaduais
Instituições Municipais
02
04
12
06
13
57
826
382
07
-
09
-
Total Geral 24 1.278 16
Serv. Público não
Governamentais (terceiro
setor):
- Sindicatos
- Cooperativas
- Associações
- ONG’S
- Cons. Municipais
- Clube de Serviço
- Outros
04
03
43
?
04
01
01
04
06
-
?
01
01
01
-
-
-
-
-
-
-
Sub-total 56 13 -
42
Serv. Privados:
- Hotéis
- Restaurantes
- Consultórios Médicos
- Cons. Odontológicos
- Clínicas
- Laboratórios Clínicos
- Esc. Advocacia
- Esc. Contabilidade
- Posto de Lavagem e
Lubrificações
- Oficina de Autos
- Oficina de Bicicletas
- Oficinas Eletrônicas
- Clubes Sociais
06
13
02
02
01
02
01
05
03
10
20
08
03
12
20
02
02
01
02
01
05
03
20
20
10
03
06
06
-
-
-
-
-
-
-
10
20
06
03
Sub-total 71 101 51
TOTAL GERAL 151 1.392 67
FONTE: SEBRAE/AC / PRODER – Especial – 1999.
O município dispõe de 151 estabelecimentos prestadores de serviços, a maioria
no serviço privado com 71 estabelecimentos empregando 101 pessoas, e serviço público
não governamental com 56 estabelecimentos empregando 13 pessoas, enquanto o
serviço público governamental federal apesar de existir apenas 24 estabelecimentos é o
serviço que aloca mais pessoas no mercado de trabalho no centro urbano com 1.278, em
maioria nas instituições estaduais.
43
III - ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÔMICO DAS UNIDADES FAMILIARES DO PAD BOA ESPERANÇA
No presente capítulo apresentam-se os aspectos relacionados com a
metodologia utilizada para obtenção dos resultados, desde do dimensionamento da
amostra até a análise do projeto.
O estudo debruça-se principalmente em analisar o nível de vida dos produtores
que vivem no PAD Boa Esperança. Compreendendo na análise a avaliação do
desempenho econômico das famílias, com base nos resultados econômicos (medidas de
resultados econômicos e de eficiência ou de relação).
3.1. Metodologia
A metodologia utilizada no trabalho foi formulada e desenvolvida pelo projeto
ASPF (Análise Econômica de Sistemas Básicos da Produção Familiar Rural no Vale do
Acre), coordenado pelo departamento de economia da UFAC, sendo caracterizada pelo
aspecto participativo, onde os produtores contribuíram também para o desenvolvimento
da pesquisa e para identificar melhor a realidade. O referido projeto tem como principal
objetivo analisar e comparar o desempenho econômico dos sistemas de produção
agrícola, extrativista e agroflorestal, predominantes na região do Vale do Acre e
conforme essa análise propor alternativas de desenvolvimento sustentável para a região.
No entanto, a presente pesquisa compromete-se apenas a avaliar uma parcela do sistema
de produção agrícola, mediante o estudo do desempenho econômico das UPF’s do PAD
Boa Esperança, localizado no município de Sena Madureira – AC.
Além da utilização dos dados produzidos pelo projeto ASPF, realizou-se
também coleta de dados secundários junto ao INCRA e SEBRAE/AC.
Conforme Rego et al. (1996), a pesquisa desenvolvida pelo Projeto ASPF
percorreu o seguinte processo:
Dimensionamento da Amostra
Determinou-se a amostra considerando 10% (36 produtores) da população
total, onde efetuou-se uma estratificação da área do projeto por conglomerados (ramais),
de acordo com o nível de desenvolvimento, tendo como critérios para essa
44
identificação: o volume de produção, infra-estrutura, acesso ao mercado, organização
comunitária e associabilidade do produtor ao projeto.
Mediante discussões com a comunidade do projeto, houve a identificação dos
níveis de desenvolvimento (alto, médio e baixo) na região alvo da pesquisa. Depois,
juntamente com os técnicos do INCRA através do mapa da região do projeto, houve
uma identificação dos ramais (conglomerados), e feito uma seleção aleatória das
famílias (antes, houve uma enumeração dos lotes e seleção via tabela de números
aleatórios), tendo como critério trabalharem com produção familiar e associados ao
projeto, havendo a exclusão de fazendas e unidades de produção habitadas por caseiros.
(ver anexo 02 a relação dos produtores selecionados e entrevistados).
Elaboração do Questionário
A partir da metodologia de análise econômica, houve uma listagem dos termos
da metodologia do projeto que foram transformados em perguntas. Elaborando-se um
roteiro com temas básicos a serem incluídos no questionário, assim, houve uma
discussão com a comunidade local do projeto PAD Boa Esperança, para adequar o nível
das perguntas no roteiro ao entendimento da comunidade, ou seja, à linguagem do
produtor.
O período de análise da pesquisa foi decidido junto com as famílias do PAD
Boa Esperança, sendo estabelecido coletar informações da safra passada, que começou
em maio de 1996 e encerrou em abril de 1997, seguindo o calendário agrícola, período
em que o plantio e colheita ou manutenção das cultuas e colheitas ocorrem.
Teste e Ajuste dos Questionários
Para ter uma noção prática da eficiência das formulações contidas no
questionário, houve aplicação de questionários preliminares dentro da comunidade do
PAD Boa Esperança, para mensurar sua eficiência. Ou seja, foram realizadas algumas
entrevistas na comunidade a ser pesquisada, para ajuste do questionário. Essa atividade
foi bastante útil para melhor adequar a coleta das informações requerida pela pesquisa.
45
Aplicação do Questionário
A aplicação dos questionários ocorreu nos meses de novembro/97 a
fevereiro/97, quando foram aplicados 36 questionários, conforme o dimensionamento a
partir da estratificação dos níveis de desenvolvimento no PAD Boa Esperança.
Crítica dos Questionários
Com o término de todas entrevistas em fevereiro de 1998, começou o trabalho
de críticas aos questionários preenchidos, cuja finalidade foi de padronizar os termos e
códigos dos questionários, excluir dados absurdos e substituí-los pela média dos
questionários aplicados, com informações mais coerentes.
Pesquisa de Preços
A pesquisa de preços ocorreu no mês de abril/98, no centro comercial do
município de Sena Madureira. Foram coletados os preços de todos os itens contidos nos
questionários, com o objetivo de atribuir valor monetário às informações contidas nos
questionários.
3.2. Indicadores de Avaliação Considerados na Análise 3.2.1. Determinação dos Resultados Econômicos
Medidas de resultado econômico são índices que, dados os custos de produção,
permitem medir o desempenho econômico do sistema de produção. Desempenho
econômico é a diferença entre os valores de saída (produção) e os de entrada (custos), as
diversas relações entre valores de saída e de entrada e as flutuações dos valores de saída
do sistema de produção.
Resultado Bruto (RB): Entende-se como sendo a renda obtida com a produção
destinada ao mercado. Indica a escala da unidade de produção, sendo obtida pela
fórmula:
RB = Qm . pp ,
Sendo:
RB = Renda Bruta
Qm = qv + qe
46
Qm = quantidade do produto destinada ao mercado
qv = quantidade do produto vendida
qe = quantidade do produto do exercício em estoque
pp = preço unitário ao produtor
Renda Líquida (RL) – Corresponde o valor excedente apropriado pela unidade
de produção, ou seja, é o indicador de eficiência econômica e das possibilidades de
reprodução da unidade de produção familiar. Se RL maior que zero, há elevação do
patrimônio. Sendo RL igual a zero, a unidade de produção se reproduz sem alterar seu
patrimônio. E, RL menor que zero, a unidade de produção só se reproduz com perda de
patrimônio. É dada pela seguinte fórmula:
RL = RB – DE Sendo:
RL = renda líquida
RB = renda bruta
DE = despesas efetivas
Lucro da Exploração (LE): É o chamado lucro puro, sendo que indica a fração
da Renda bruta absorvida pelo produtor, depois de pago os custos totais. Esse índice
retrata o nível de acumulação. É determinado pela fórmula:
LE = RB - CT,
Sendo:
LE = lucro da exploração
RB = renda bruta
CT = custos totais (Custos Fixos e variáveis)
Margem Bruta Familiar (MBF): É o resultado líquido específico e próprio para
indicar o valor monetário disponível para subsistência da família, inclusive uma
eventual elevação do nível de vida, se o montante for suficiente. A sua magnitude
incorpora a parcela de valor do produto correspondente ao consumo familiar obtida por
via do mercado. Em situações favoráveis, poderá ser suficiente para ressarcir custos
fixos, especialmente as exigências mínimas de reposição do patrimônio. Cumpridas
47
estas funções, a disponibilidade restante pode ser usada como capital de giro. É
calculado pela fórmula:
MBF = RB - (CV - Vbcc)
Sendo:
RB = renda bruta
CV = custos variáveis
n
Vbcc = (Qbcc)u . pu
u = 1
Vbcc = valor dos bens de consumo comprados
Qbcc = quantidade de bens consumo comprados u
pu = preço unitário de um bem de consumo comprado
u = itens de bens de consumo (u = 1, 2, ... , n)
Margem Líquida Familiar (MLF): É o parâmetro que tem como função:
indicar o valor monetário disponível para a subsistência da família do produtor, depois
de pago amortização anuais de empréstimo. Ou seja, indica a situação financeira da
unidade de produção, pela fórmula:
MLF = MBF - AA,
Sendo:
MBF= margem bruta familiar
AA = amortizações anuais de empréstimos.
Nível de Vida (NV): Compreende no indicador do padrão de vida do produtor,
agregando todos os recursos absorvidos pelo produtor para sua reprodução, deduzindo
custos de amortizações anuais de empréstimos.
NV = (MBF + AC + Cjicc) - AA
Cjicc = juros imputados ao capital circulante.
AA = amortizações anuais de empréstimos.
48
n
AC = (Qbcp)v . pv
v = 1
Sendo:
AC = autoconsumo
(Qbcp)v = quantidade do bem de autoconsumo produzido v
pv = preço unitário do bem de autoconsumo produzido v
v = itens de bens de autoconsumo produzidos (v = 1, 2, ..., n)
3.2.2. Medidas de Eficiência ou Relação
Índice de Eficiência Econômica - Determina o desempenho e analisa a
possibilidade de as unidades de produção familiares realizarem lucro e, por
conseqüência, acumularem. O índice é determinado pela fórmula:
IEE = RB/CT ,
Sendo:
RB = resultado bruto
CT = custo total
IEE > 1, a situação é de lucro
IEE < 1, a situação é de prejuízo
IEE = 1, a situação é de equilíbrio.
Relação MBF/RB - Mostra que percentagem de renda bruta a unidade de produção
é capaz de converter em margem bruta familiar. Ou seja, qual a percentagem da renda
destinada a subsistência da família. Uma relação superior a 50% é considerada
favorável. Ou seja, indica a situação econômica da família.
49
3.2.3. Procedimento da Análise
Resultados e Análise Econômica do PAD Boa Esperança
A análise compreende em analisar o nível de vida dos produtores do PAD Boa
Esperança no período de maio/96 a abril/97, ano agrícola considerado na pesquisa.
Na análise apresentam-se as medidas de resultados definidas na metodologia,
sendo que os indicadores mensuram o desempenho econômico da produção agrícola do
PAD Boa Esperança. Foi utilizado como parâmetro de comparação o salário mínimo de
cento e vinte reais (R$120,00), vigente na época da pesquisa.
Unidades de Produção Familiares (UPF’s)
Tabela 8 - Indicadores econômicos do PAD Boa Esperança
Indicadores Unidade Resultados medianos - UPF RB R$/mês 125,26 RL R$/mês -12,69 LE R$/mês -14,27 MBF R$/mês 89,99 AC R$/mês 176,52 NV R$/mês 306,81 IEE Und. 0,81 MBF/RB % 0,73 MLF/RB % 0,85
Obs: RB – Renda Bruta Familiar; RL – Renda Líquida Familiar; LE – Lucro da Exploração; MBF –
Margem Bruta Familiar; AC – Autoconsumo; NV – Nível de Vida; IEE – Índice de Eficiência
Econômica.
FONTE: Banco de dados ASPF/UFAC (2000).
Resultado Bruto (RB)
No PAD Boa Esperança, 55% das famílias obtiveram uma Renda Bruta (RB)
superior a R$ 120,00 ao mês – que corresponde a um salário mínimo vigente na época
da pesquisa – sendo que 45% obtiveram uma renda abaixo de R$ 120,00 mensais
(figura 1). O valor mediano da RB verificado foi de R$ 125,26 ao mês, demonstrando
que os produtores arrecadam um valor baixo com a produção comercializada, (tabela
08).
50
Figura 1 - Renda Bruta por UPF
Conforme tabela 9 e gráfico 02 abaixo, nas UPF’s com rendimento bruto
acima de R$ 120,00/mês, predomina a comercialização dos produtos advindos da
agricultura, com 62,81% do total gerado. Quando observadas aquelas UPF’s com RB
inferior a de R$ 120,00/mês, predomina a comercialização dos produtos gerados do
extrativismo, com 4,69% e das criações com 32,50%. Na composição da renda por
produto nas duas categorias (acima e abaixo de R$ 120,00/mês), a RB média das UPF’s
do sistema está diretamente relacionada com a participação dos produtos agrícola nas
atividades do produtor, pois com o aumento destas (lavoura branca) ocorre a elevação
da renda bruta média da UPF’s. Inversamente, com a participação dos produtos
extrativos da floresta e as criações, ocorre a redução da renda bruta média.
Tabela 9 – Renda por produto no PAD Boa Esperança Produtos Percentual (%) Agricultura 62,81% Arroz 17,51% Feijão 15,30% Farinha de mandioca 11,54% Milho 7,37% Banana 3,45% Melancia 2,57% Outros 5,07% Criações 32,50% Bovinos 22,62% Porco 4,73% Aves 4,10% Outros 1,05% Extrativismo 4,69% Castanha 2,30%
Renda abaixo de R$ 120,00
Renda acima de R$ 120,00
55%
45 %
51
Madeira 2,22% Outros 0,17% FONTE: Banco de dados ASPF/UFAC (2000).
Figura 2 - Composição da Renda Bruta (RB) das UPF 'S do PAD Boa Esperança
Renda Líquida (RL), Lucro da Exploração (LE) e Índice de Eficiência (IEE)
A Renda Líquida (RL) e o Lucro da Exploração (LE) das UPF’s, tiveram
valores negativos, sendo que aproximadamente 75% das famílias no PAD Boa
Esperança perderam patrimônio no processo de reprodução do capital investido. Os
valores do Índice de Eficiência Econômica (IEE) foram em maioria menores que um
(IEE<1), sendo que 84,21% das famílias estavam em situação de prejuízo. O valor da
mediana para esta medida foi de 0,81, isto é, a cada R$ 1,00 investido o produtor
recebeu apenas R$ 0,81, demonstrando que o valor obtido não foi suficiente para cobrir
os gastos despendidos, impedindo os produtores de realizarem lucro e,
conseqüentemente de acumular.
Margem Bruta Familiar (MBF)
É o melhor indicador para mensurar o desempenho da produção familiar,
representando o valor monetário disponível para a subsistência da família na medida em
que incorpora a parcela de valor do produto correspondente ao consumo familiar obtido
por via de mercado.
O valor apropriado pelas famílias observado pelo resultado apresentado pela
MBF para aquisição de bens e serviços no mercado (subsistência), foi em mediana de
R$ 89,99 reais por mês, ou seja, o valor representado, corresponde a um nível baixo de
62,81%
4,69%
32,50%
Agricultura Extrativismo Criações
52
recursos destinados para subsistência das famílias adquiridos via mercado, já que esse
valor é inferior no percentual de 33,35% do salário mínimo vigente no período da
pesquisa.
Relação Margem Bruta Familiar/Renda Bruta (MBF/RB)
Indica quantos por centos do valor gerado na produção familiar são destinados
a MBF, ou seja, quanto da renda bruta é destinada a subsistência da família. Uma
relação superior a 50% é considerada favorável.
Os resultados alcançados na amostra pesquisada no PAD Boa Esperança,
através da mediana indicam um percentual de 73%, ou seja, para cada unidade
monetária de valor gerado, a família se apropria de R$ 0,73, demonstrando assim, uma
relação superior a 50%, haja vista, que mais da metade da renda gerada com as
explorações são apropriadas pelas famílias para subsistência. Sendo que de 36 famílias
pesquisadas, 31 obtiveram um valor superior a 50%.
Autoconsumo (AC) e Nível de Vida (NV)
As famílias do PAD Boa Esperança estão produzindo bens para o próprio
consumo (Autoconsumo), num valor mediano de R$ 176,52 reais/mês,
aproximadamente 47,10% superior ao salário mínimo mês de R$ 120,00 de um
trabalhador assalariado urbano.
As famílias se apropriaram em termos monetários, representados pelo Nível de
Vida (NV), de um valor mediano de R$ 306,81 reais ao mês, demonstrando para um
padrão de vida superior ao da maioria dos trabalhadores assalariados urbanos do Estado
do Acre (os trabalhadores que auferem apenas de um a dois salários mínimos/mês para
sua sobrevivência).
Além do mais, os assalariados urbanos têm acesso mais fácil aos serviços
públicos (saúde e educação) do que as famílias que vivem no PAD Boa Esperança.
Nenhuma família apresentou padrão de vida (em termos monetários) menor
que um salário mínimo (R$ 120,00). Entre as 36 famílias pesquisadas, a que apresentou
maior padrão de vida foi de R$ 753,32 reais/mês, quanto ao menor padrão, foi de R$
146,64 reais/mês.
53
CONCLUSÃO
No presente trabalho, o estudo centrou-se principalmente em analisar a
produção familiar que acontece no PAD Boa Esperança, cidade de Sena Madureira –
AC, ou seja, analisou o nível de vida das famílias que vivem no projeto.
Para a concretização dos objetivos, optou-se pela utilização de um modelo
desenvolvido por uma equipe de professores participante do projeto Análise Econômica
de Sistemas Básicos da Produção Familiar Rural no Vale do Acre – ASPF,
desenvolvido pelo Departamento de Economia da UFAC. Opção essa que se deu
principalmente pelo fato da metodologia ser específica para análise de produções
familiares (que é o caso da produção praticada na área objeto de estudo) e, também, por
ter sido elaborada por uma equipe de pesquisadores com conhecimentos detalhados da
realidade da agricultura familiar no Estado. Além disso, como apresentado no início do
trabalho, na análise econômica, foram mensurados em termos monetários, como
também em percentual, os resultados econômicos (medidas de resultados econômicos e
medidas de eficiência ou de relação).
Assim, o presente estudo possibilitou os seguintes resultados: que a produção
gerada no projeto é destinada para reprodução familiar, ou seja, é designada para
subsistência das famílias, já que a renda propiciada através da comercialização da
produção é baixa, conforme os indicadores econômicos analisados. A Renda Bruta (RB)
gerada é de apenas R$ 125,26 reais por mês, demonstrando que os produtores
arrecadam um valor baixo com a produção comercializada, traduzindo assim, um
percentual de 4,38% acima de um salário mínimo (R$ 120,00) vigente no período da
pesquisa. Com a dedução das despesas e dos custos, as famílias obtiveram uma Renda
Líquida (RL) de R$ -12,69 e o Lucro de Exploração (LE) de R$ -14,27 por mês, valores
esses negativos, e o Índice de Eficiência (IEE)<1, com valor de 0,81, isto é, a cada R$
0,81 centavos de renda existiu aproximadamente R$ 1,00 real de custo, ocasionando
assim, aos produtores, a não geração de excedente, proporcionando perda de
patrimônio no processo de reprodução do capital investido, e acima de tudo a terem
prejuízos, por não realizarem lucro. A Margem Bruta Familiar (MBF) foi de R$ 89,99
reais por mês, valor esse da renda bruta obtido via mercado destinado para subsistência
das famílias. Demonstrando um valor baixo, devido a baixa renda bruta gerada no
projeto, provocando portanto, uma mortiça aquisição de bens e serviços no mercado.
54
No Autoconsumo as famílias obtiveram, conforme a mediana um valor de R$
176,52/mês, considerado satisfatório, já que apresentou um percentual de 47,10%
superior que um salário mínimo no período.
O resultados do Nível de Vida no PAD Boa Esperança foi significativo, já que
a mediana em termos monetários foi de R$ 306,81 reais por mês, sendo que das 36
famílias, a que apresentou o maior padrão de vida, foi de R$ 753,32/mês e o menor
padrão, foi de R$ 146,64/ mês. Demonstrando assim, que o padrão de vida no PAD Boa
Esperança, conforme a mediana de R$ 306,81/mês é superior que o padrão de vida da
maioria dos trabalhadores assalariados urbanos do Estado do Acre, que ganham de um a
dois salários mínimos(R$ 120,00 a R$ 240,00)/mês para seus sustentos.
Como o objetivo principal do trabalho foi analisar o nível de vida das famílias
que vivem no PAD Boa Esperança, cidade de Sena Madureira – AC, e a hipótese em
análise é de que na forma de Organização da Produção Familiar, no PAD Boa
Esperança, as famílias estão conseguindo se manter através das atividades
desenvolvidas em suas unidades produtivas. Confirmou-se que os resultados mostraram-
se satisfatórios a realidade do projeto, principalmente devido ao fato da avaliação ter
respondido a questão de pesquisa formulada, já que as principais conclusões apontadas
pela avaliação realizada foi que os rendimentos líquidos obtidos pelas famílias no PAD
Boa Esperança com aquelas produções destinadas ao mercado são inexistente, em todas
atividades, como na agricultura, que nem os custos cobrem. Demonstrando-se assim,
que as famílias do PAD Boa Esperança, apesar das dificuldades, estão alcançando suas
reproduções, ou seja, sua subsistência, devido o significativo nível do autoconsumo,
com percentual de 73,81%, o que faz elevar o nível de vida das famílias no projeto, fato
este que explica, que apesar de todas as dificuldades, a manutenção e permanência
dessas famílias no PAD Boa Esperança.
55
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BEZERRA, Rogério Gonçalves. Análise Econômica dos Sistemas Agroflorestais do Projeto RECA. Rio Branco:UFAC, 2000. Monografia de conclusão do Curso de Economia.
BUENO, F. S da et al. Dicionário Escolar da Língua Portuguesa. ,11. ed. – Rio de Janeiro: FENAME, 1983.
CALAÇA, Manoel. Características da Pequena Produção no Estado do Acre. Rio Claro: 1983. Dissertação de Mestrado.
CASTELO, Carlos Estevão Ferreira. Avaliação Econômica da Produção Familiar na Reserva Extrativista Chico Mendes no Estado do Acre. Porto Velho: Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal de Rondônia, 1999. Dissertação de Mestrado, (mimeo).
CAVALCANTE. Ormifran P. A Polêmica em torno do conceito de Reservas Extrativistas enquanto atividade econômica sustentável. Rio Branco: UFAC/Dep. de Economia, 1995. Monografia (Graduação em Economia.
COSTA FILHO, Orlando Sabido da. Reservas Extrativistas: desenvolvimento e qualidade de vida. Belo Horizonte: UFMG/CEDEPLAR, 1995. Dissertação de Mestrado. (mimeo).
COSTA SOBRINHO, Pedro Vicente da. O Sindicalismo no Acre. São Paulo: PUC, 1991.
DUARTE, Élio Garcia. Conflitos pela Terra no Acre: A Resistência dos Seringueiros de Xapuri. Rio Branco/Ac: Casa da Amazônia, 1987.
ENCONTRO DE PESQUISA SOBRE A QUESTÃO AGRÁRIA NOS TABULEIROS COSTEIROS DE SERGIPE, 2., 1997, Aracajú. Anais: agricultura familiar em debate. Aracajú: Embrapa, 1997.
HENRIQUE POPP, José. Geologia Geral. São Paulo: LTC, 1988.
LIMA, A . P. do et al. Administração da Unidade de Produção Familiar: Modalidades de Trabalho com Agricultores. Rio Grande do Sul. Ijuí: UNIJUÍ, 1995.
LIMA, Mário José de. Acumulação de Capitais, Distribuição da Renda e a Pequena Produção: Um Esboço de Interpretação Teórica. Fortaleza, UFC, 1982.
MARTINELLO, Pedro. A Batalha da Borracha na Segunda Guerra Mundial e suas conseqüências para o Vale Amazônico. Cadernos da UFAC: Rio Branco-Ac, Série “C”, n.º 1, 1988.
56
OLIVEIRA. Luiz Antônio P. O Sertanejo, o Brabo e o Posseiro: Cem anos de andanças da População Acreana. Rio Branco: Governo do estado do Acre, 1985.
REGO, J. F do et al. Análise Econômica de Sistemas de Produção Familiar no Vale do Acre. Rio Branco: UFAC/Dep. de Economia, 1996 (mimeo).
SANTOS, Roberto. História Econômica da Amazônia (1800-1920). São Paulo: T. A. Queiroz, 1980.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS PEQUENAS E MICROS EMPRESAS. Levantamento das Potencialidades Econômicas e Vantagens Competitivas. Rio Branco: 2000.
SILVA, Adalberto Ferreira da. Ocupação Recente das Terras do Acre: Transferência de Capitais e Disputa pela Terra. Rio Branco: FDRHCD, 1982.
SILVA, José Graziano da. A Nova dinâmica da Agricultura Brasileira. Campinas: UNICAMP, 1996.
TAVARES, E. D do et al. Agricultura Familiar em Debate. In: ENCONTRO DE PESQUISA SOBRE A QUESTÃO AGRÁRIA NOS TABULEIROS COSTEIROS DE SERGIPE, 2., 1997, São Paulo. Anais... São Paulo: UNICAMP/ IFCH, 1997.
58
Anexo 1 - Projetos de Colonização, de Assentamento e Agro-Extrativista em execução
Nº NOME DO PROJETO ACESSO MUNICÍPIO
(SEDE)
ÁREA
(HA)
CAPAC.
FAMÍLIA
ATO DE CRIAÇÃO
RESOLUÇÃO/PORTARIA
FORMA DE AQUISIÇÃO
FAMÍLIAS
EXISTENTE
NO PROJETO
FASE
1.
PC. Pedro Peixoto BR 364 – Km 61 Senador Guiomard 317.588 4.025 Resolução/176/31-10-77 Desapropriação 4.025 4
2.
PC. Boa Esperança BR 364 – Km 16 Sena Madureira 275.646 2.756 Resolução/177/31-10-77 Desapropriação 1.401 4
3.
PC. Quixadá BR 317 – Km 26 Brasiléia 76.447 952 Resolução/65/13-04-81 Desapropriação 952 4
4.
PC. Humaitá AC 10 – Km 30 Porto Acre 63.861 951 Resolução/117/08-06-81 Desapropriação 951 4
5.
PC. Santa Luzia BR 364 – Km 42 Cruzeiro do Sul 69.700 629 Resolução/242/30-08-82 Desapropriação 629 4
6.
P.A Espinhara BR 364 – Km 24 Bujari 1.700 31 Portaria/730/23-09-86 Desapropriação 31 4
7.
PA. Figueira AC 090 – Km 60 Rio Branco 25.973 395 Portaria/083/29-01-87 Desapropriação 395 4
8.
PA. Vista Alegre BR 364 – Km 25 Rio Branco 997 35 Portaria/167/25-02-87 Desapropriação 33 4
9.
P.A .E. Remanso BR 317 – Km
100
Capixaba 39.570 435 Portaria /472/04-06-87 Desapropriação 144 4
10.
P. A . E Stª Quitéria BR 317 – Km 96 Brasiléia 44.205 223 Portaria /886/24-06-88 Desapropriação 223 4
11.
P.A São Pedro BR 364 – Km 05 Rodrigues Alves 27.698 244 Portaria /887/24-06-88 Arrecadação 244 4
12.
P.A . E Chico Mendes BR 317 – Km 70 Epitaciolândia 24.898 68 Portaria /158/08-03-89 Desapropriação 68 4
13.
P.A. Pavão Rio Juruá – 40 -
Km
Rodrigues Alves 5.474 50 Portaria /263/24-04-89 Arrecadação 50 4
14.
P.A .E. Riozinho BR 364 – Km 75 Sena Madureira 35.896 120 Resolução/39/20-10-89 Desapropriação 116 4
15.
P.A . E. Porto Dias BR 364 – Km 15 Acrelândia 22.145 83 Resolução/40/20-10-89 Desapropriação 83 4
16.
P. A. Carão AC 090 – Km 40 Rio Branco 11.256 263 Resolução/41/11-07-91 Desapropriação 263 3
17.
P. A . E. Porto Rico BR 317 – Km 50 Epitaciolândia 7.530 46 Resolução/43/11-07-91 Desapropriação 46 4
18.
P.A São João do
Balanceio
AC 401 – Km 25 Acrelândia 18.919 264 Resolução/44/11-07-91 Desapropriação 264 3
19.
P.A . Stº Antº. do Peixoto BR 364 – Km 25 Acrelândia 14.893 212 Resolução/229/24-09-92 Arrecadação 212 3
59
20.
P.A . Cumarú BR 364 – Km 43 Acrelândia 6.097 83 Resolução/230/24-09-92 Arrecadação 83 3
21.
P.A . Nazaré BR 364 – Km 02 Manoel Urbano 7.154 100 Resolução/264/21-10-92 Desapropriação 100 3
22.
P. A . Benfica AC 040 – Km 10 Rio Branco 5.127 300 Portaria/082/29-12-94 Desapropriação 300 3
23.
P. A . Novo Destino BR 364 – Km 10 Tarauacá 27.749 277 Portaria /035/10-05-95 Arrecadação/Desapropriação 240 3
24.
P. A . Colibrí AC 010 – Km 22 Rio Branco 1.356 42 Portaria /65/31-10-95 Desapropriação 40 3
25.
P. A . Favo de Mel BR 364 – Km 18 Sena Madureira 11.405 213 Portaria /66/31-10-95 Desapropriação 194 3
26.
P. A . Baixa Verde BR 317 – Km 30 Rio Branco 5.000 165 Portaria /40/06-10-96 Desapropriação 165 2
27.
P. A . São Gabriel BR 317 – Km 81 Capixaba 8.869 161 Portaria /41/28-06-96 Desapropriação 161 2
28.
P. A . Amônia Rio Amônia 01
Km
Mal. Thaumaturgo 26.000 260 Portaria /44/25-07-96 Arrecadação 260 2
29.
P. A . Tracuá Rio Juruá - 50
Km
Cruzeiro do Sul 5.029 100 Portaria /48/23-08-96 Arrecadação 100 2
30.
P. A . Lucatan Rio Juruá - 08
Km
Rodrigues Alves 873 41 Portaria /49/13-09-96 Arrecadação 39 2
31.
P. A . Nova Cintra RioJuruá –
20 Km
Rodrigues Alves 1.345 57 Portaria /50/13-09-96 Arrecadação 53 2
32.
P.A . Rio Azul RioJuruá / Rio
Azul
Mâncio Lima 6.800 97 Portaria /58/04-11-96 Arrecadação 67 2
33.
P.A . Amena BR 364 – Km 18 Feijó 1.900 19 Portaria /61/26-12-96 Arrecadação 19 2
34.
P.A . São Domingos BR 364 – Km 05 Mâncio Lima 1.665 116 Portaria /63/26-12-96 Arrecadação 116 2
35.
P.A . Envira Rio Envira –
20 Km
Feijó 5.380 250 Portaria /64/26-12-96 Desapropriação 250 2
36.
P.A . Havaí BR 364 – Km 50 Rodrigues Alves 34.000 320 Portaria /08/10-03-97 Arrecadação 0 2
37.
P.A . Caquetá BR 364 – Km 18
BR 317 – Km 72
Porto Acre 28.686 516 Portaria /09/10-03-97 Desapropriação 516 2
38.
P.A . Paraná dos Mouras BR 364 – Km 40 Rodrigues Alve 22.500 320 Portaria /10/10-10-97 Arrecadação 320 2
39.
P.A .E. Canary BR 364 – Km 87 Bujari 8.053 27 Portaria /11/10-03-97 Desapropriação 21 2
60
40.
P.A . Triunfo AC 40 - Km
68 a 80
Plácido de Castro 11.965 239 Portaria /12/10-03-97 Desapropriação 239 2
41.
P.A . Boa Àgua Est.Quixada –
Km 20
Rio Branco 4.067 150 Portaria /24/30-05-97 Desapropriação 149 2
42.
P.A . Tarauacá BR 364 – Km 15 Tarauacá 12.918 250 Portaria /31/07-07-97 Desapropriação 226 2
43.
P.A . Porto Acre Ramal Bujari -
Km 22
Porto Acre 2.000 50 Portaria /38/30-10-97 Desapropriação 39 dois
44.
P.A.Gal Moreno Maia Rio Acre– Ramal
Riozinho -Km 22
Rio Branco 18.300 366 Portaria /39/30-10-97 Desapropriação 359 2
45.
P.A . Tocantins BR 364 – Km 22
AC-10 – Km 29
Bujarí/Porto
Acre/Boca do Acre
26.087 521 Portaria /42/14-11-97 Desapropriação/Arrecadação 507 2
46.
P.A . Santa Rosa Rio Purus 150
Km
Santa Rosa do
Purus
37.460 370 Portaria /43/14-11-97 Arrecadação 60 2
47.
P.A . Vitória Rio Juruá Km 02 Porto Walter 497 38 Portaria /44/14-11-97 Arrecadação 28 2
48.
P.A . Orion BR 364 – Km
100 – AC 401 –
Km 15
Acrelândia 16.494 319 Portaria /01/22-01-98 Desapropriação 319 2
49.
P.A .E. Limoeiro BR 364 – Km 86
Rio Antimary –
26 Km
Bujari 11.150 37 Portaria /11/19-03-98 Arrecadação 29 2
50.
P.A . Casulo H. Pimenta AC –10 – Km 19 Rio Branco 138 34 Portaria /44/21-08-98 Desapropriação 34 2
51.
P.A . Oriente AC – 90 Km 130 Sena Madureira 5.650 108 Portaria /45/09-09-98 Arrecadação 92 2
52.
P.A . Limeira BR 317 – Km 12
Ramal Limeira –
Km 06
Senador Guiomard 1.845 128 Portaria /46/11-09-98 Arrecadação 128 2
53.
P.A. Taquari BR 364 – Km
135
Tarauacá 56.950 412 Portaria /47/16-09-98 Arrecadação 385 2
54.
P.A . Liberdade BR 364 – Km 07 Manoel Urbano 27.393 273 Portaria /56/10-11-98 Arrecadação 268 2
55.
P.A . Espinhara II BR 364 – Km 52 Bujari 6.341 132 Portaria /57/19-11-98 Desapropriação 154 2
61
56.
P.A . Alcobrás BR 317 – Km 18 Capixaba 11.331 374 Portaria /58/24-11-98 Desapropriação 374 2
57.
P.A . Três Meninas BR 317 – Km 20 Brasiléia 1.520 43 Portaria /02/03-02-99 Desapropriação 43 2
58.
P.A . Pão de Açúcar BR 317 – Km 40 Brasiléia 6.530 108 Portaria /03/03-02-99 Desapropriação 101 2
59.
P.A . Treze de Maio Rio Juruá – 5
Km
Rodrigues Alves 3.221 100 Portaria /04/03-02-99 Desapropriação 100 2
60.
P.A . Princesa BR 317 – Km 20 Brasiléia 1.315 21 Portaria /05/03-02-99 Desapropriação 21 2
61.
P.A . Porto Alonso BR 317 – Km 85 Porto Acre 9.975 225 Portaria /11/11-03-99 Desapropriação 178 2
TOTAL 1.572,531 19.544 17.007
FONTE: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Ágraria - INCRA - Divisão de Assentamento – SR 14/AC
P.C. = Projeto de Colonização 2 = Implantação
P.A. = Projeto de Assentamento 3 = Consolidação
P.A .E. = Projeto de Assentamento Agroextrativista 4 = Emancipação
62
Anexo 2 - Relação dos entrevistados do PAD Boa Esperança
Nº NOMES DOS ENTREVISTADOS 1 ADÃO ARARIPE SANTANA 2 ADILSON DA SILVA 3 ALDEMAR CAVALCANTE DE MORAIS 4 ALVARO ARAÚJO RODRIGUES 5 ANTONIO FERREIRA LIMA 6 ANTONIO GOMES DA SILVA 7 ANTONIO RIBA DA ROCHA 8 ARISTIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA 9 ARMADO JOSÉ DE LOPES
10 CARLOS GÁRCIA MARTINS 11 DIUZA DA ENCARNAÇÃO NASCIMENTO 12 EDSON ANTONIO LUIZ GÁRCIA 13 EDUARDO FERREIRA DE SOUZA 14 ELICI SILVA DE ARAÚJO 15 FRANCISCO RIBEIRO DE LIMA 16 GENILSON OLIVEIRA 17 HENRIQUE BASÍLIO DA SILVA 18 HERMES RODRIGUES DA SILVA 19 JAIR BARBOSA DO NASCIMENTO 20 JOÃO FERREIRA DE MORAES 21 JOASE DA SILVA 22 JOSÉ BALBINO PINHEIRO 23 JOSÉ COSTA DA SILVA FILHO 24
JOSÉ DE OLIVEIRA ESTEVES
25 MARIA LÚIZA ARAÚJO DE SOUZA 26 MAURIZETE GONÇALVES DA SILVA 27 MIGUEL COSTA 28 MIGUEL LOPES PINHEIRO 29 MISTE NOGUEIRA DE LIMA 30 PAULO JOSÉ DE FREITAS 31 RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS 32 RENATO RODRIGUES DE LIMA 33 ROSENILDO DA SILVA 34 VALCIMAR MASTIDES DE OLIVEIRA 35 VALDEMIRO FRANCISCO DA SILVA 36 WANDERLEI QUESTER DE SOUZA
FONTE: Banco de Dados UFAC/ASPF (2000).
63
GLOSSÁRIO
1) ALUVIÕES – Detritos ou Sedimentos clássicos de qualquer natureza carregados e
depositados pelos rios.
2) ALUVIONORES – Solo composto de cascalho e areia formados por ação das águas.
3) AMI – Quimicamente, corresponde a um silicato de magnésio hidratado.
4) BAMBUSA – Vegetação de mata de bambus, o mesmo que bambuzal.
5) FACIOLÓGICAS – Conjunto de caracteres de ordem Geológica que permite
conhecer as condições em que realizam os depósitos.
6) FITOECALÓGICA – Pequenas pedras oriundas da decomposição de calcário.
7) GIPSITA – Mineral monoclínico, sulfato de calcário hidratado.
8) HOLOCENO – Quaternário recente ou aluvião em oposição ao pleistocênio ou
quaternário antigo – último período do topo da coluna Geológica.
9) LITOLOGIA – Parte da Geologia que se ocupa do estudo das rochas.
10) METEORIZADOS – Solos densos, firmes e rochosos.
11) MICRORRELEVO (GILGAI) – Pequenas saliências de rochas. O oposto de
macroforma ou macrorrelevo.
12) MONTEMORILONITA – Pertence ao grupo dos minerais e argila, exigindo para sua
formação um ambiente alcalino com a presença de Camg Fe – Trivalente, sendo
típico de climas secos.
13) MORFOESTRUTURAL – Relevo de uma região caracterizada por um certo processo
evolutivo nas formas estruturais.
64
14) PEDOLÓGICAS – Relativo a Pedologia, ciência que estuda os solos.
15) PODZÓLICOS – (Solos) grupo zonal de solos de coloração cinza que possui uma
camada orgânica e um mineral lixiviado e descorado, assentado sobre um horizonte
iluvial.
16) PLIOPLEISTOCÊNICA – Terrenos que formam o sistema superior da era Terciária,
onde há fósseis de formação mais recentes.
17) PLUVIOMÉTRICA – Camada de água da chuva que cai em certo lugar e em
determinado tempo.
18) QUATERNÁRIO – Era geológica atual; que compõem de quatros elementos ou
corpo simples.
19) TERCIÁRIO – Era geológica, que segue à Mesozóica ou secundária, em que surge a
predominância dos mamíferos; o mesmo que Cenozóico.