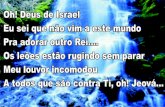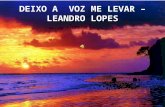UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL PROGRAMA DE...
Transcript of UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL PROGRAMA DE...
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOENÇAS TROPICAIS
DANIELLE DE LIMA SARAIVA
INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO HOSPITALAR EM PORTADORES DO
HIV: ESTUDO COMPARATIVO COM PACIENTES NÃO-HIV
BELÉM
2008
DANIELLE DE LIMA SARAIVA
INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO HOSPITALAR EM PORTADORES DO
HIV: ESTUDO COMPARATIVO COM PACIENTES NÃO-HIV
Dissertação apresentada para a obtenção do grau de Mestre em Doenças Tropicais, Núcleo de Medicina Tropical, Universidade Federal do Pará. Área de Concentração: Patologia das Doenças Tropicais. Orientadora: Profa. Dra. Rita Catarina Medeiros Sousa. Co-Orientadores: Ms. Dilma Costa de Oliveira Neves e Ms. Lourival Rodrigues Marsola.
Belém 2008
Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação ( CIP)
Saraiva, Danielle de Lima
Incidência de Infecção hospitalar em portadores do HIV: Estudo comparativo com pacientes Não-HIV / Danielle de Lima Saraiva; orientadora, Rita Catarina Medeiros Sousa;co-orientadores, Dilma Costa de Oliveira Neves e Lourival Rodrigues Marsola.– 2008.
83 f.
Trabalho de Conclusão de Curso (Mestrado) – Universidade Federal Pará, Núcleo de Medicina Tropical, Mestrado em Doenças Tropicais, Belém, 2008.
1. HIV 2. AIDS 3. Infecção Hospitalar 4. Pneumonia I. Título. CDU: 616.988
Catalogação na Fonte: Luciene Dias Cavalcante CRB2/1076
DANIELLE DE LIMA SARAIVA
INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO HOSPITALAR EM PORTADORES DO
HIV: ESTUDO COMPARATIVO COM PACIENTES NÃO-HIV
Dissertação apresentada para a obtenção do grau de Mestre em Doenças Tropicais, Núcleo de Medicina Tropical, Universidade Federal do Pará. Área de Concentração:
Patologia das Doenças Tropicais.
Data de aprovação:___/___/___
Banca Examinadora:
_____________________________ - Orientadora Dra. Rita Catarina Medeiros Sousa _____________________________ Dra. Marília Brasil Xavier _____________________________ Dra. Irna Carla do Rosário Carneiro _____________________________
Dra. Lúcia Helena Messias Sales
Belém 2008
Às minhas três famílias constituídas por...
laços genéticos e amorosos,
meus pais, irmãos, priminhos, noivo e Deus;
à equipe do Hospital Ophir Loyola,
pela afinidade, apreço e gratidão;
e à equipe do Hospital Universitário João de Barros Barreto,
pela amizade, ajuda e trabalho.
Sem vocês esta obra não valeria a pena.
À Profª. Drª. Rita Catarina Medeiros Sousa, minha admiração e especial gratidão pelo valioso auxílio na orientação deste trabalho.
À Drª. Dilma Costa de Oliveira Neves, pela disponibilidade ilimitada em compartilhar seus conhecimentos em Epidemiologia, a alma deste trabalho.
Ao Dr. Lourival Rodrigues Marsola, pela inquestionável experiência em Infecção Hospitalar, a qual foi de grande importância para a pesquisa.
À eficiente equipe de controle de infecção hospitalar: Dr. Raimundo Leão, Dr. Alessandre Beltrão, Enfª Irene Silva, Enfª Vera Cecim, Farm. Margarida Menescal e Admin. Sônia Marieta, por contribuírem na construção desse conhecimento.
À equipe da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB): Dr. Lourival Marsola, Drª. Débora Sousa, Drª. Gabriela Bahia, Enfª Jucirema Nogueira, Enfª Aidê Carvalho, Enfª Anne Carolline Marsola e Wilma Santana pela ajuda no campo de pesquisa.
À administração do HUJBB que proporcionou o aprimoramento científico, e minha liberação para o curso de mestrado, além da autorização para desenvolver a pesquisa nesse hospital.
À equipe da Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias do HUJBB que permitiu o acesso as informações clínicas sobre pacientes.
À Coordenação do Curso de Mestrado, que o conduziu com empenho.
Às Bibliotecárias do HOL, Luciene Dias Cavalcante e Jovenila de Lima, e do HUJBB, Glória Martins e Vera Lúcia Carvalho, que ajudaram significativamente na pesquisa bibliográfica on line.
A todos os pacientes que aceitaram participar da pesquisa e acreditaram nessa proposta, principalmente àqueles que não estão mais conosco.
Aos professores que contribuíram com a busca do saber.
Aos colegas de turma, que compartilharam de experiências e participaram desse processo de aprendizado.
A todos que direta ou indiretamente colaboraram para a realização deste trabalho.
"A Enfermagem é uma arte; e para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto à obra de qualquer pintor ou escultor; pois o que é tratar da
tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do espírito de Deus? É uma das artes; poder-se-ia dizer, a mais bela das artes!"
Florence Nightingale
RESUMO
Pacientes portadores do HIV/AIDS podem ser expostos aos mesmos riscos para aquisição de Infecção Hospitalar (IH) que os não infectados. Contudo, fatores relacionados à imunodepressão desses pacientes, representam papel importante na patogênese relacionada ao desenvolvimento da infecção nosocomial. O estudo investigou e comparou a incidência de infecções entre pacientes portadores do HIV e pacientes admitidos com outras doenças que não HIV/AIDS, internados na Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital Universitário João de Barros Barreto, e relacionou-o aos procedimentos invasivos (ventilador mecânico, sonda vesical de demora e cateter vascular central). A metodologia utilizada baseou-se em estudo analítico, observacional, prospectivo, realizado no período de fevereiro a dezembro de 2007, mediante visitas diárias aos pacientes desde a sua internação até a alta, na busca de infecções. Dentre as 1.130 saídas e 20.276 pacientes-dia, 40 pacientes evoluíram com IH, sendo 17 (42,5%) pacientes não-HIV e 23 (57,5%) pacientes HIV positivos, na qual desenvolveram 19 (39,6%) e 29 (60,4%) infecções hospitalares, respectivamente. 11 (55%) pacientes HIV positivos apresentaram contagem de células TCD4<100cél/mm3 e 15 (65,22%) evoluíram a óbito associado à IH. A incidência de infecção hospitalar foi maior para os pacientes HIV positivos, com 3,09 episódios por 1000 pacientes-dia, que para os pacientes não-HIV (1,74 episódios por 1000 pacientes-dia), assim como a pneumonia, topografia mais freqüente, a qual teve uma incidência de 1,6 episódios por 1000 pacientes-dia. Quanto à influência do procedimento invasivo, a infecção do trato urinário (ITU) foi maior nos pacientes não-HIV com 12,11 episódios de ITU relacionada à sonda vesical de demora (SVD) por 1000 SVD-dia. Os resultados deste estudo sugerem que os pacientes HIV positivos são mais predispostos a evoluir com IH, provavelmente pelo seu estado imunológico associado aos procedimentos invasivos, o que justifica a necessidade de medidas preventivas direcionadas para esta população.
Palavras-chave: HIV. AIDS. Infecção Hospitalar. Pneumonia.
ABSTRACT
HIV/AIDS patients may be exposed to the same risks for acquisition of nosocomial infections than non-HIV/AIDS patients, however, factors related to the immune suppression of former patients represent important paper in the pathogenesis for the development of nosocomial infections. This study investigated and compared the incidence of infections between HIV infected inpatients and non-infected inpatients in the Infectious Diseases Service of Hospital Universitário João de Barros Barreto. Nosocomial infections were related to invasive procedures (mechanical ventilation, urinary and central vascular catheter). It was an analytical, observational and prospective study, accomplished from February to December, 2007. Daily visits were performed by infection control team and the researcher from the first day in the Hospital to his discharge. There were reported 1.130 exits and 20.276 patients-day; 40 patients developed nosocomial infections and 17 (42,5%) non-HIV patients had 19 (39,6%) infections and 23 (57,5%) HIV patients developed 29 (60,4%) infections; eleven (55%) of these 23 patients had T4 cells counts less than 100cells/mm3 and 15 (65,22%) deaths were related to nosocomial infections. Hospital infections rates in HIV patients were higher than in non-HIV patients (3.09 versus 1.74 infections by 1000 patients-day). Pneumonia was the most frequent infection site an its incidence was 1,6 episodes for 1000 patients-day. Urinary tract infection in non-HIV patients was 12,11 episodes by 1000 urinary catheters-day compared to 4,41 episodes by 1000 urinary catheters-day in HIV positive patients. In conclusion, HIV patients are more susceptible to acquire nosocomial infections probably because of immune suppression related to HIV infection and invasive procedures and preventive and control measures should be directed to this patient population.
Word-key: HIV. AIDS. Nosocomial Infection. Pneumonia.
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1 - Distribuição mundial da infecção pelo HIV.................................................... 19
Figura 2 – Esquema simplificado do ciclo de vida do HIV-1.......................................... 23
Figura 3 - Entrada do HIV na célula hospedeira............................................................ 23
Gráfico 1 - Infecção Hospitalar por topografia ocorrida em pacientes internados na
Clínica de DIP/HUJBB, Belém/PA, fevereiro a dezembro de 2007.............. 54
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Procedimentos invasivos-dia e taxa de utilização de procedimentos invasivos por 1000 pacientes-dia internados na Clínica de DIP/HUJBB, Belém/PA, fevereiro a dezembro de 2007.................................................... 51
Tabela 2 - Pacientes HIV positivos e HIV negativos em relação à ocorrência de infecção hospitalar internados na Clínica de DIP/HUJBB, Belém/PA, fevereiro a dezembro de 2007...................................................................... 52
Tabela 3 - Características dos Pacientes HIV positivos e não-HIV que evoluíram com Infecção Hospitalar segundo o sexo e faixa etária, internados na Clínica de DIP/HUJBB, Belém/PA, fevereiro a dezembro de 2007. ......................... 52
Tabela 4 - Infecção hospitalar associada ou não associada a procedimento invasivo em pacientes HIV e não-HIV internados na Clínica de DIP/HUJBB, Belém/PA, fevereiro a dezembro de 2007.................................................... 53
Tabela 5 - Indicadores epidemiológicos de infecção hospitalar dos pacientes HIV positivos e não-HIV internados na Clínica de DIP/HUJBB, Belém/PA, fevereiro a dezembro de 2007...................................................................... 54
Tabela 6 - Incidência de Infecção Hospitalar de acordo com a topografia por 1.000 pacientes-dia internados na Clínica de DIP/HUJBB, Belém/PA, fevereiro a dezembro de 2007....................................................................................... 55
Tabela 7 - Incidência de Infecção Hospitalar (IH) por Topografia associada ao procedimento invasivo em pacientes HIV positivos e HIV negativos da Clínica de DIP/HUJBB, Belém/PA, fevereiro a dezembro de 2007.............. 56
Tabela 8 - Contagem de células TCD4, segundo o tipo de alta hospitalar nos pacientes HIV positivos internados na Clínica de DIP/HUJBB, Belém/PA, fevereiro a dezembro de 2007...................................................................... 57
LISTA DE ABREVIATURAS AIDS - Acquired Immunodeficiency Syndrome / Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
APECIH - Associação Paulista de Estudo e Controle de Infecção Hospitalar
ARV - Terapia Antiretroviral
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
CDC - Centro de Prevenção e Controle de Doenças
CEP - Comitê de Ética em Pesquisa
CTI - Centro de Terapia Intensiva
CVC - Cateter Vascular Central
CVC-dia - Cateter Vascular Central-dia
DAME - Divisão de Arquivo Médico e Estatística
DIP - Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias
DNA - Ácido Desoxirribonucléico
EUA - Estados Unidos da América
FR - Fatores de Risco
HAART - Terapia Antiretroviral Altamente Ativa
HIV - Vírus da Imunodeficiência Humana
HUJBB - Hospital Universitário João de Barros Barreto
ICS - Infecção de Corrente Sangüínea
ICSC - Infecção de Corrente Sangüínea Primária Clínica
ICSL - Infecção de Corrente Sangüínea Primária Laboratorial
IH - Infecção hospitalar
IRA - Insuficiência Renal Aguda ITU - Infecção do Trato Urinário
HTLV-III - Vírus de Leucemia (linfotrópico) Humana da Célula T-III
NNISS - National Nosocomial Infection Surveillance System
OMS - Organização Mundial da Saúde
Pac-dia - Paciente-dia
PCIH - Programa de Controle da Infecção Hospitalar
PN - Pneumonia
RNA - Ácido Ribonucléico
SIDA - Síndrome de Imunodeficiência Adquirida
SIM - Sistema de Informações sobre Mortalidade
SVD - Sonda vesical de demora
SVD-dia - Sonda vesical de demora-dia
UNAIDS - Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS
UTI - Unidade de Terapia Intensiva
VM - Ventilador mecânico
VM-dia - Ventilador mecânico-dia
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO .................................................................................. 14
1.1 JUSTIFICATIVA ................................................................................ 16
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................... .................................. 19
2.1 INFECÇÃO PELO HIV E AIDS ......................................................... 19
2.2 INFECÇÃO HOSPITALAR ................................................................ 25
2.3 INFECÇÃO HOSPITALAR X HIV...................................................... 30
2.4 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS INFECÇÕES ........................ 34
2.5 CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS PARA INFECÇÃO HOSPITALAR.... 36
3 OBJETIVOS ...................................... ................................................ 43
3.1 GERAL .............................................................................................. 43
3.2 ESPECÍFICOS .................................................................................. 43
4 METODOLOGIA .................................... ........................................... 45
4.1 TIPO DE ESTUDO ............................................................................ 45
4.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO............................................................... 45
4.3 LOCAL DE ESTUDO ......................................................................... 46
4.4 COLETA DE DADOS ........................................................................ 47
4.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS ....................................... 49
4.6 ASPECTOS ÉTICOS ........................................................................ 49
5 RESULTADOS....................................... ............................................ 51
6 DISCUSSÃO ..................................................................................... 59
7 CONCLUSÃO....................................... ............................................. 66
REFERÊNCIAS................................................................................. 67
APÊNDICES...................................................................................... 73
ANEXOS ........................................................................................... 79
13
Florence Nightingale (1820 – 1910) - Enfermeira britânica, famosa por priorizar a higiene e
limpeza no hospital, com o objetivo de diminuir o risco de Infecção hospitalar.
14
1 INTRODUÇÃO
A propagação da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)
no país revela uma epidemia de múltiplas dimensões que vem, ao longo do tempo,
sofrendo transformações significativas em seu perfil epidemiológico. De epidemia
inicialmente restrita a algumas metrópoles nacionais (São Paulo e Rio de Janeiro) e
marcadamente as pessoas do sexo masculino, atingindo também hemofílicos,
depara-se hoje, com um quadro marcado pelos processos da heterossexualização,
da feminização, da interiorização e da pauperização. O aumento da transmissão por
contato heterossexual resulta em crescimento substancial de mulheres infectadas, o
que vem sendo apontado como o mais importante fenômeno para o atual momento
da epidemia (BARROS et al, 2003; RODRIGUES JÚNIOR; CASTILHO, 2004).
Segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS
(UNAIDS) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2007), essas alterações do
perfil epidemiológico dos casos de infecção pelo HIV constituem-se na atualidade,
um sério problema de Saúde Pública a nível mundial, sobre o qual se estima que
33,2 (30,6 – 36,1) milhões de pessoas no mundo vivam com HIV, 2,5 (1,8 – 4,1)
milhões se tornaram recentemente infectados com o HIV, enquanto
aproximadamente, 2,1 (1,9 – 2,4) milhões já morreram em 2007.
No Brasil, foram notificados 433.067 casos da Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) até junho de 2006, sendo que 62,3% (269.910
casos) se concentram na região Sudeste, 17,9% (77.639 casos) na região Sul, 11%
(47.751 casos) no Nordeste, 5,6% (24.086 casos) no Centro-Oeste e 3,2% (13.681
casos) no Norte. De 1980 a 2005, foi registrado um total de 183.074 óbitos por AIDS
no Brasil, com 11.026 óbitos em 2005, reduzindo ligeiramente a taxa de mortalidade
de 6,2/100.000 hab. em 2004, para 6,0/100.000 hab. em 2005 (BRASIL, 2006a).
Apesar do aumento de casos desde o início dos anos 80, vem ocorrendo
uma melhora no prognóstico evolutivo dos indivíduos acometidos pela doença,
graças ao surgimento de novos medicamentos antiretrovirais no decorrer dos anos.
Todavia, a resistência viral, a toxicidade das drogas e a falta de adesão ao
15
tratamento permanecem como importantes barreiras ao sucesso prolongado da
terapia (RENAULT, 2003; BRASIL, 2006b).
Por conseguinte, a infecção por HIV inicia um processo de progressiva
destruição da população de linfócitos TCD4+, que desempenha importante papel na
geração e manutenção do sistema imune. Os linfócitos TCD4+ atuam na indução da
atividade celular citotóxica, ativação de macrófagos e indução de células B,
responsáveis pela imunidade humoral (TENORE, 2001).
O prejuízo do sistema imune caracterizado por uma depleção de linfócitos
TCD4+ abaixo de 200 cél/mm3, tem um risco aumentado para o desenvolvimento de
infecções causadas por outros vírus, bactérias, fungos e protozoários (CRAVEN;
CRAVEN; ROSA, 2004). Por estas razões ocorre um aumento proporcional de
hospitalizações de pacientes portadores do HIV, com suscetibilidade para a
ocorrência de infecções hospitalares.
As infecções hospitalares resultam geralmente de um desequilíbrio entre
a microbiota humana normal e os mecanismos de defesa do homem. Em condições
normais, várias áreas do organismo são colonizadas por microrganismos. Os
padrões de colonização dependem de fatores do próprio indivíduo (endógenos), de
fatores exógenos e dos próprios microrganismos. A pele, as membranas mucosas
da orofaringe, nasofaringe, trato gastrintestinal e parte do trato genital têm sua
microbiota característica (ZANON, 2003).
Os ecossistemas existentes em nossos tecidos também sofrem as
conseqüências de nosso modo de vida. Do desequilíbrio ecológico entre as
comunidades microbianas que habitam nossas superfícies epiteliais e os
mecanismos de defesa antiinfecciosa, pode se desenvolver a infecção hospitalar
(IH), na qual muitas vezes os procedimentos invasivos (cateter como porta de
entrada para invasão de agentes nos tecidos do hospedeiro) e o uso de
antimicrobianos (selecionam microorganismos resistentes), associados às alterações
decorrentes da patologia do paciente, favorecem a sua ocorrência (FERNANDES;
RIBEIRO FILHO, 2000).
A infecção hospitalar, devido a sua freqüência e graves conseqüências
associadas, enquadra-se como um dos principais problemas mundiais que envolvem
os hospitais (WILCOX; DAVE, 2000; BARBOSA, 2002). Nos Estados Unidos,
estima-se que ocorram dois milhões de casos por ano, com taxas de até 50% de
infecção na corrente sangüínea em pacientes de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
16
(PÓ, 2006). Segundo a Associação Paulista de Estudo e Controle de Infecção
Hospitalar (APECIH) (2005), no Brasil, foi realizado o primeiro estudo sobre a
magnitude das infecções hospitalares em 99 hospitais terciários (100 a 299 leitos)
situados nas capitais estaduais e Distrito Federal, em cujo estudo foram detectadas
1.340 (15,5%) infecções ativas em 1.129 (13%) pacientes internados.
Em estudo realizado em um Hospital de São Paulo, sobre a incidência de
infecção hospitalar em pacientes portadores do HIV foi detectado nas 195
internações, 29 (14,9%) infecções hospitalares (TENORE, 2001).
Pacientes infectados pelo HIV e pacientes com AIDS parecem apresentar
os mesmos riscos para aquisição de infecção hospitalar que os não infectados como
o uso de dispositivos invasivos e tempo de internação hospitalar. Contudo, fatores
de risco relacionados à imunodepressão desses pacientes, representam papel
importante na patogênese no desenvolvimento de Infecção Hospitalar (IH), além da
desnutrição, neutropenia, alteração da flora microbiana pelo uso de antimicrobianos
profiláticos e apresentação atípica de algumas doenças, levando a atraso no
diagnóstico e internações prolongadas (DE MORAES et al, 2000; TENORE, 2001;
CRAVEN; CRAVEN; ROSA, 2004).
1.1 JUSTIFICATIVA
A infecção pelo HIV na região Norte apresenta altas taxas de
morbimortalidade por doenças oportunistas, o que revela um percentual
considerável de pessoas com imunodeficiência avançada. Muito têm sido descrito na
literatura sobre a incidência de infecção hospitalar, bem como os fatores de risco na
população em geral, contudo pouco tem sido documentado em relação aos
pacientes HIV positivos, principalmente em nível de Brasil e Amazônia. Em razão da
diversidade de Patologias Tropicais, os resultados encontrados nessa população
podem ser um diferencial. O Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB)
é referência para o Estado do Pará no atendimento a pacientes HIV/Aids, destinando
28 leitos para esse fim. A taxa de permanência hospitalar é elevada, com um tempo
médio de 22,38 dias e uma taxa de mortalidade de 26,24% contra 18,61 dias e
17,98% para pacientes não-HIV. O tempo de internação e a alta morbidade, aliados
17
à utilização de procedimentos invasivos como, sondagem vesical, cateter vascular
central e ventilação mecânica, que requerem cuidados intensivos, podem favorecer
a ocorrência de infecção hospitalar nos pacientes portadores do HIV, uma vez que a
capacidade de lidar com o processo infeccioso é deficiente. Além disso, a Comissão
de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do HUJBB ainda não apresenta
indicadores epidemiológicos específicos nessa população. Os dados coletados em
2006 na Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias, onde internam pacientes
portadores do HIV e não-HIV, referentes à taxa de infecção hospitalar bruta,
corresponderam a 4,74% e a taxa de pacientes com infecção hospitalar 4,27%,
sendo a segunda maior em relação às outras clínicas. Dessa forma, este estudo
constituirá como importante instrumento para evidenciar a importância da vigilância
direcionada a pacientes portadores do HIV, identificando e comparando os
indicadores de infecção hospitalar entre estes pacientes com outros não-HIV em
relação aos procedimentos invasivos.
19
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 INFECÇÃO PELO HIV E AIDS
O HIV é uma mistura complexa de diversas epidemias existentes nas
regiões e entre elas e em países do mundo devido às mudanças temporais,
distribuição geográfica, a magnitude e diversidade virótica e o modo de transmissão,
conforme ilustra figura abaixo.
Em 2007 ocorreu uma redução em 16% (30.6–36.1 milhões) do número
de pessoas que vivem com HIV, mundialmente, quando comparado com a
estimativa de 2006 (34.7–47.1 milhões), devido ao avanço da metodologia de
estimações aplicada para a epidemia do HIV (UNAIDS, OMS, 2007).
Figura 1 - Distribuição mundial da infecção pelo HIV. Fonte: UNAIDS, OMS, 2007.
20
Contudo, a África Sub-Saara continua sendo a região mais afetada pela
pandemia da AIDS. Em média dois em cada três (68%) adultos e quase 90% das
crianças estão infectados com HIV, e três em cada quatro (76%) morrem de AIDS,
ilustrando a necessidade do tratamento antiretroviral.
Apesar da redução de casos no mundo, algumas regiões mantêm uma
alta prevalência de HIV como, o Sudeste da Ásia (Indonésia, Vietnã e Índia), Ásia
Central e Europa Oriental (República Russa, Ucrânia) (UNAIDS, OMS, 2007).
No Brasil foram notificados 433.067 casos de AIDS até junho de 2006, do
total de casos notificados 67,2% eram do sexo masculino (290.917 casos) e 32,8%
do feminino (142.138 casos). A razão de sexo vem diminuindo sistematicamente,
passando de 15,1 homens por mulher em 1986, para 1,5 homens por mulher em
2005. O maior número de casos encontra-se na faixa etária dos 20 aos 49 anos,
representando 85,9% dos casos masculinos e 81,5% dos casos femininos (BRASIL,
2006a).
Tem-se descrito a AIDS no Brasil como sendo uma pandemia
multifacetada, que é composta por várias subepidemias não possuindo um perfil
epidemiológico único em todo o território brasileiro, mas um mosaico de
subepidemias regionais que são motivadas pelas desigualdades socioeconômicas
(BRITO; CASTILHO; SZWARCWALD, 2000).
Um estudo ecológico realizado por Rodrigues Júnior e Castilho (2004) nos
municípios brasileiros observou essa diversidade, na qual as regiões Centro-Oeste,
Sudeste e Sul apresentaram proporções maiores de casos de usuários de drogas
injetáveis que compartilham agulhas e/ou seringas, devido a oferta e acesso às
drogas ilícitas freqüentes nestas regiões, facilitadas pela rota de escoamento do
tráfico. Os Estados de São Paulo e Santa Catarina participam deste cenário,
diferente do Estado de Pernambuco, que apresentou um perfil semelhante àquele do
início da epidemia no Brasil, com um pequeno número de casos de usuários de
drogas (2% em 2000) e alta proporção de casos por transmissão homossexuais/
bissexuais (54% em 1991 e 29% em 1998).
Em relação ao Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), no ano
de 2005 foi registrado um total de 11.026 óbitos por AIDS, representando taxa de
mortalidade de 6,0/100.000 habitantes, variando de acordo com a região de
residência: 2,9 para a Região Nordeste (1.473 óbitos), 3,9 para a Região Norte (566
óbitos); 4,5 para o Centro-Oeste (580 óbitos); 7,6 para o Sudeste (5.984 óbitos) e
21
9,0 para a região Sul (2.423 óbitos). Percebe-se um aumento persistente das taxas
de mortalidade nas regiões Norte e Nordeste, um decréscimo na região Sudeste e
uma estabilização das taxas nas regiões Sul e Centro-Oeste (BRASIL, 2006a).
2.1.1 Etiopatogenia
O HIV é um retrovírus da família Retroviridae, subfamília Lentivirinae. Em
1983, em Paris, foi denominado vírus linfadenopático (LAV); em 1984, nos Estados
Unidos da América (EUA), vírus de leucemia (linfotrópico) humano da célula T-III
(HTLV-III). Em maio de 1986, uma subcomissão do comitê internacional sobre a
taxonomia dos vírus propôs que os retrovírus da AIDS fossem oficialmente
denominados HIV. Atualmente se conhecem dois tipos de HIV: HIV-1, prevalente em
nosso meio, e o HIV-2, encontrado principalmente em algumas regiões da África e
da Península Ibérica (MIOLA; GARBELLOTTO; MELLO, 2000; GRANT; DE COCK,
2001; BRASIL, 2002).
O vírus HIV-1 é dividido em três grupos, M (principal), N e O. Estes
grupos provavelmente resultam de eventos distintos de transmissão dos primatas
não humanos ao homem durante o século XX. O HIV-1 tem uma diversidade de
subtipos, além de várias formas recombinantes circulantes (ex. A/E=CRF01;
A/G=CRF02). A diversidade viral depara-se com um desafio, o desenvolvimento de
uma intervenção terapêutica e preventiva específica, embora as conseqüências
clínicas das variações de subtipo permaneçam obscuras. Em termos de diversidade
viral, o vírus de subtipo C predomina no mundo, com um percentual de 55–60% das
infecções por HIV-1 no mundo (SIMON; HO; KARIM, 2006).
O ciclo de vida do HIV-1 é complexo e sua duração e resultado depende
do tipo de célula e da ativação celular. O genoma do HIV-1 é constituído por duas
fitas iguais de Ácido Ribonucléico (RNA) de cadeia simples envolto por uma capa
protéica, o capsídeo viral. Além das cópias de RNA, o capsídeo viral contém
enzimas importantes para replicação do HIV: transcriptase reversa, integrase e
protease. Ele ganha acesso às células sem causar danos letais imediatos, mas o
processo de entrada pode estimular sinal intracelular de cascatas que em troca
22
podem facilitar a replicação virótica, Figura 2 (A) (SIMON; HO; KARIM, 2006;
TEMESGEN; WARNKE; KASTEN, 2006).
O HIV-1 possui duas moléculas no envelope, a glicoproteína externa
(gp120) e a proteína transmembrana (gp41) que formam uma espícula na superfície
do vírus. Durante o processo de entrada, a gp120 se fixa na membrana da célula
através do receptor de CD4+. Subseqüentes interações entre vírus e co-receptores
de quimiocinas (ex. CCR5, CXCR4) ocorrem (Figura 3). O evento de fusão atual
acontece dentro de minutos através da formação do poro e liberação do genoma
virótico no citoplasma da célula, Figura 2 (B). Depois que o envelope se desfaz, o
genoma virótico é transcrito em Ácido Desoxirribonucléico (DNA) por ação da
enzima viral transcriptase reversa, Figura 2 (C). É relatado ainda que podem ser
geradas variantes viróticas distintas durante este processo, uma vez que a
transcriptase reversa é propensa a erro e não tem nenhuma atividade. O ponto
central da infecção se dá quando a proteína viral integrase atua integrando o DNA
proviral no DNA hospedeiro Figura 2 (D). Após o processo de transcrição e tradução,
as proteínas virais neoformadas são transportadas para a membrana da célula. O
vírus egresso da célula não é lítico e a vantagem do caminho vesicular (ESCRT-I, II,
III) é que normalmente medeia a formação de endossomas em multivesicular. O
HIV- 1 acessa esta proteína pelo TSG101 que liga por seu domínio recente, uma
sucessão curta em p6 de Gag. O estímulo da poliproteína Gag-Pol pela protease
viral produz vírions infecciosos maduros, Figura 2 (E, F) (SIMON; HO; KARIM, 2006;
TEMESGEN; WARNKE; KASTEN, 2006).
Desde moléculas citoplasmáticas de produtor de células e componentes
de superfície lipídica celular são incorporados na nova partícula viral, características
dos vírions de células nas quais eles foram produzidos. Incorporado às moléculas do
hospedeiro podem determinar o fenótipo do vírus em diversos modos (Ex. modelo
de características replicativas no próximo ciclo de infecção ou ativação imune
mediada do espectador celular). (SIMON; HO; KARIM, 2006).
23
Figura 2 - Esquema simplificado do ciclo de vida do HIV-1.
A – Entrada do vírus à célula. B – Evento de fusão. C – Ação da enzima transcriptase reversa. D – Ação da proteína virótica integrase. E – Migração das proteínas viróticas para a membrana celular. F – Produção de vírions infecciosos maduros. Fonte: TEMESGEN; WARNKE; KASTEN, 2006.
Figura 3 – Entrada do HIV na célula hospedeira. Fonte: TEMESGEN; WARNKE; KASTEN, 2006.
Interação
Fusão Interação
Célula
Ligação CD4
Ligação
24
2.1.2 Resposta Imune e a Contagem de Linfócitos T C D4+
O HIV tem uma predição especial pelas células auxiliares e infectam
algumas delas. As infectadas tornam-se produtoras de vírus e são eventualmente
destruídas. A reprodução viral aumenta quando o linfócito T é ativado. Os vírus
recém-produzidos são liberados por germinação para fora da célula hospedeira e
infectam novas células. A presença do HIV em algumas células auxiliares pode
também provocar uma resposta auto-imune contra células auxiliares não infectadas,
causando posteriormente a destruição destas (MIOLA; GARBELLOTTO; MELLO,
2000).
Uma vez esgotadas as células auxiliares, os linfócitos B são insuficientes
para proporcionarem “ajuda” às células auxiliares e, assim, produzir anticorpo
específico. A atividade da célula T de produzir linfocina também é prejudicada,
resultando em uma diminuição da capacidade do sistema imune em destruir as
células neoplásicas e as células infectadas por vírus. Alguns macrófagos, que
também têm receptores especiais, semelhantes àqueles encontrados nas células
auxiliares, podem ser diretamente infectados pelo HIV (MIOLA; GARBELLOTTO;
MELLO, 2000).
Instalada a infecção pelo HIV, a manifestação final da doença pode
depender da presença de um ou mais fatores adicionais. A presença desses vários
co-fatores pode explicar por que alguns indivíduos contaminados pelo HIV
sucumbem à AIDS, enquanto outros permanecem assintomáticos.
Desde a sua descrição a AIDS tem sido correlacionada com a diminuição
de linfócitos T CD4+ (auxiliares). Muitos testes são usados para avaliar o estado do
sistema imune de pacientes infectados pelo HIV, nesse caso considera-se
especialmente a contagem de linfócitos T CD4+ e a carga viral de HIV (GRANDO et
al, 2002).
A contagem de linfócitos T CD4+ permite estimar o estado do sistema
imune de indivíduos infectados pelo HIV e reflete uma prévia da história da doença.
A contagem CD4+ também indica a necessidade de profilaxia para evitar a
ocorrência de infecções oportunistas e auxilia na evolução inicial da terapia
antiretroviral (GRANDO et al, 2005). Essa contagem deve ser refeita pelo menos a
cada 6 a 12 meses se o valor estiver acima de 500cél/mm3. Se a contagem for mais
25
baixa ou estiver rapidamente decrescente ou próxima de um valor crítico, aconselha-
se a retestagem com maior freqüência (CRAVEN; CRAVEN; ROSA, 2004).
Diversos estudos demonstraram a correlação entre a contagem de
linfócitos TCD4+ e infecções oportunistas, pois quanto menor essa contagem, maior
o número de infecções (CAVALCANTE, 2000; MICHELIM, 2004; GRANDO ET AL,
2005), conforme observado por Michelim et al. (2004), que verificaram a ocorrência
de doenças dermatológicas em pacientes infectados pelo HIV que aumenta de
acordo com a progressão da doença e/ou diminuição da imunidade, servindo como
indicador do sistema imunológico do paciente; e Stroud et al. (1997) demonstraram
que pacientes infectados pelo HIV têm alto risco para adquirir infecção de corrente
sangüínea com contagem de CD4+ ≤ 200 céll/mm3.
Infecções virais agudas, como herpes simples ou varicela-zoster, podem
baixar a contagem de CD4 por algum tempo. Embora o efeito das infecções agudas
causadas por fungos, bactérias ou por protozoários sejam menos claros, as
contagens de CD4 são obtidas de forma ideal na ausência de doença aguda
(CRAVEN; CRAVEN; ROSA, 2004).
2.2 INFECÇÃO HOSPITALAR
A infecção hospitalar é tão antiga quanto a origem dos hospitais. As
primeiras referências à existência de hospitais remontam a 325 d.C. Durante
séculos, os doentes eram internados em hospitais sem separação quanto à
nosologia que apresentavam, facilitando, dessa forma, a disseminação das doenças
infecciosas. Em razão da elevada prevalência de doenças epidêmicas na
comunidade (peste, varíola e febre tifóide) como causa de internação e das
precárias condições sanitárias nos hospitais, com abastecimento de água de origem
incerta, manejo inadequado de alimentos e até com camas partilhadas por mais de
dois pacientes, era alta a incidência de infecções adquiridas no hospital. Apenas na
primeira metade do século XIX a questão da IH passou a ser enfocada pelos
profissionais da saúde (MARTINS, 2001; COUTO, 2003).
26
Em 1997, a Lei Federal 9.431 de 06 janeiro de 1997 regulamentada pela
Portaria 2.616/1998, obriga os hospitais a manterem um Programa de Controle da
Infecção Hospitalar (PCIH), estabelece a vigilância epidemiológica para identificação
da ocorrência de infecções e suas causas e possibilita a proposição de medidas
administrativas coerentes e oportunas, obrigando também a ter um controle dos
procedimentos invasivos, a aplicação efetiva de técnicas de limpeza, desinfecção,
anti-sepsia, esterilização e isolamento (BRASIL, 1997; BRASIL, 1998).
A definição sobre infecção hospitalar, segundo a Portaria nº 2.616, é
aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifesta durante a
internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou
procedimentos complementares (BRASIL, 1998).
A infecção hospitalar pode resultar de agentes infecciosos provenientes
da flora endógena, microorganismos que fazem parte do próprio paciente,
geralmente imunodeprimido, corresponde a, aproximadamente, dois terços das
infecções; ou da flora exógena, microorganismos estranhos ao paciente, sendo
veiculados pelas mãos da equipe de saúde, nebulização, uso de respiradores,
vetores, por medicamentos ou alimentos contaminados (SILVESTRI, 1999; SILVA,
2004; BREATHNACH, 2005).
Infecção broncopulmonar, de ferida cirúrgica, do trato urinário e sepses
(primária e secundária) representam 80% das complicações infecciosas
hospitalares. Entre as menos freqüentes estão: gastroenterites (3%); supuração de
úlcera de decúbito (2%); infecção intra-abdominal em paciente não operado (1%);
impetigo (1%); conjuntivite (1%); otite (1%) e outras. A maioria das complicações
infecciosas hospitalares está associada a um procedimento de risco (CAVALCANTI;
HINRICHSEN, 2004).
Um conceito que se confunde com infecção hospitalar é a contaminação,
que segundo Fernandes; Ribeiro Filho; Barroso (2000, p. 216) consiste na:
presença transitória de microorganismos em superfícies sem invasão tecidual ou relação de parasitismo. Pode ocorre tanto com objetos inanimados como em hospedeiros. Por exemplo: flora transitória da mão. Ao contrário da Colonização, que é o crescimento e multiplicação de um microorganismo em superfícies epiteliais do hospedeiro, sem expressão clínica ou imunológica. Por exemplo: microbiota humana normal.
Os microorganismos colonizantes são classificados em permanentes e
transitórios. Segundo Fernandes e Ribeiro Filho (2000) a microbiota permanente
27
(também chamada de residente) é praticamente constante em determinada
topografia e faixa etária. Após seu estabelecimento e em condições normais, não é
alterada, e quando isto ocorre é prontamente restabelecida por si só, atuando como
barreia antiinfecciosa, mas pode ser veiculada nos procedimentos hospitalares,
atingindo novas topografias onde não está ecologicamente adaptada, podendo
desencadear um processo infeccioso. Enquanto que, a microbiota transitória pode
colonizar tecidos temporariamente por algumas horas, dias ou semanas, não se
restabelecendo por si só. Geralmente, origina-se do meio ambiente ou de outros
tecidos do hospedeiro, e não representa problema se a microbiota residente
permanecer inalterada, mas pode originar doenças na sua alteração. A ruptura da
integridade tegumentar induzida por trauma, doença ou terapia favorece a invasão
microbiana, podendo ocasionar infecções a partir da colonização.
Quando se trata de infecção constatada ou incubada na admissão do
paciente, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital,
esta é denominada de infecção comunitária. Também são comunitárias as infecções
associadas com complicação ou extensão de infecção já existente por ocasião da
admissão, a menos que haja troca de microorganismos com sinais ou sintomas
fortemente sugestivos da aquisição de nova infecção em recém-nascidos, cuja
aquisição por via transplacentária é conhecida ou foi comprovada e que se tornou
evidente logo após o nascimento, e as infecções de recém-nascidos associadas com
bolsa rota superior a 24 horas (CAVALCANTI; HINRICHSEN, 2004).
A freqüência das complicações infecciosas hospitalares varia de acordo
com a causa da internação, o estado do paciente e o tipo de assistência que recebe.
Dessa forma, Cavalcanti e Hinrichsen (2004) consideram que a suscetibilidade à
infecção pode ser de origem congênita ou adquirida após o nascimento (AIDS,
algumas viroses, pré-maturidade, trauma, neoplasias malignas, desnutrição,
diabetes, sarcoidose, fibrose cística e envelhecimento). Receptores de órgãos são
suscetíveis à infecção hospitalar devido a supressão da imunidade celular. A
suscetibilidade também pode ser induzida por medicamentos como antibióticos,
corticóides e imunossupressores.
Nesse processo, a transmissão de um agente infeccioso a partir de um
reservatório para o hospedeiro suscetível se dá através de uma cadeia
epidemiológica definida por vários elos envolvidos na transmissão (FERNANDES;
RIBEIRO FILHO; BARROSO, 2000).
28
As bactérias constituem os principais agentes infecciosos responsáveis
pelas infecções hospitalares, seguidas pelos fungos e vírus. Atualmente, um dos
grandes problemas nos hospitais é a emergência de microorganismos resistentes a
antimicrobianos (MACHADO, 2001). Esses agentes se localizam em reservatórios,
local onde o microorganismo habita, metaboliza e se reproduz. O paciente, devido
às conseqüências de sua doença e da manipulação sofrida, torna-se o principal
reservatório e vítima das infecções hospitalares. Esta colonização ocorre por
pressão seletiva sobre a flora do paciente ou pela aquisição de microorganismos
hospitalares. Os profissionais de saúde podem ser colonizados por estes agentes e
tornarem-se disseminadores, por descamação cutânea ou geração de aerossóis. E o
meio ambiente como, sistemas de água quente, equipamentos de ventilação
(umidificadores, nebulizadores), soluções, dispositivos médicos, sistemas de ar
condicionado, entre outras podem ser reservatórios desses agentes (FERNANDES;
RIBEIRO FILHO; BARROSO, 2000).
O mecanismo de transmissão de microorganismos em nível hospitalar
envolve a transmissão direta, através do contato físico entre os profissionais de
saúde e os pacientes, ou mesmo entre os próprios pacientes; a transmissão indireta
por veículo comum acontece pela participação de objetos contaminados; e a
transmissão aérea, por microorganismos que se agregam às partículas em aerossol
e podem percorrer distâncias maiores que 40 cm, até cerca de 2m, ou podem
permanecer suspensos no ar e serem carreados por partículas de poeira
(MACHADO, 2001).
Os microorganismos penetram no hospedeiro, principalmente, através da
pele ou de membranas mucosas do trato respiratório, gastrointestinal e geniturinário.
A introdução de procedimentos invasivos com objetivos terapêuticos, diagnóstico ou
de monitorização de sinais, representa uma via de acesso de microorganismos que
podem levar à infecção, o que determinará a sua ocorrência será a resposta do
hospedeiro frente à invasão do microorganismo (JARVIS, 1991; BARBOSA, 2002).
Admite-se, portanto, que todo indivíduo imunologicamente comprometido
está sujeito a um risco previsível de apresentar uma ou mais infecções na vigência
desse estado patológico, antes, durante e mesmo após a internação, logo, o
processo infeccioso não depende apenas do ambiente hospitalar, mas da doença
responsável pela internação e do tratamento a que o paciente foi submetido
29
(FERNANDES; RIBEIRO FILHO; BARROSO, 2000; CAVALCANTI; HINRICHSEN,
2004).
Conforme Couto e Pedrosa (2003), os fatores de risco (FR) podem ser
divididos em FR intrínseco e FR extrínseco. O risco intrínseco é a predisposição
para infecção determinada pelo tipo e gravidade da doença de base do hospedeiro,
sua modificação se faz pela terapêutica habitual da doença. E o risco extrínseco
pode ser dividido em: (1) estrutura: conjunto de recursos materiais à disposição do
trabalhador para que ele possa prestar assistência (máquinas, equipamentos,
insumos, n° de pessoas, área física); (2) agressões ao hospedeiro: em terapia
intensiva, por exemplo, as agressões de importância epidemiológica são: o cateter
vascular central (CVC), a sonda vesical de demora (SVD) e os ventiladores
mecânicos (VM); e (3) a qualidade do processo de trabalho ou cuidado dispensado
ao paciente pela equipe de assistência. A qualidade do cuidado ou processo de
trabalho com o paciente, com o meio e com os métodos invasivos é o único fator de
risco sujeito à intervenção do serviço de epidemiologia hospitalar.
O risco intrínseco, predisposição para infecção determinada pela
gravidade e tipo da doença de base, pode ser medido indiretamente pela
permanência média do paciente no hospital. Esta reflete a gravidade do hospedeiro.
O tempo de permanência média na unidade de terapia intensiva tem associação
estatisticamente significativa com as taxas de infecção hospitalar (JARVIS, 1991;
BARBOSA, 2002).
A influência da permanência média em centro de terapia intensiva (CTI)
pode ser transferida às taxas, usando o denominador pacientes-dia (Pac-dia). Este
denominador é a soma do tempo de permanência de cada paciente internado numa
unidade em um determinado período (BRASIL, 1994).
A forma encontrada para se medir a quantidade de agressão em CTI foi a
soma dos dias de uso de sonda vesical de demora, cateter vascular central e
ventilação mecânica numa unidade, num determinado tempo. Passou-se a calcular a
incidência de infecção relacionada a estas agressões: pneumonia relacionada ao
uso da ventilação mecânica (PNM rel. VM), infecção do trato urinário relacionado à
sonda vesical de demora (ITU rel. SVD) e infecção de corrente sangüínea
relacionada ao cateter vascular central (ICS rel. CVC), tendo como denominador o
tempo de uso do método relacionado àquele sítio de infecção (JARVIS, 1991;
BRASIL, 1994).
30
A incidência de infecção hospitalar, assim analisada, se transformou em
item de controle de qualidade de assistência ao paciente.
Para se identificar e classificar a infecção hospitalar é necessário utilizar
critérios previamente estabelecidos e descritos, que deverão valorizar informações
oriundas de evidência clínica, derivada da observação direta do paciente ou da
análise de seu prontuário, resultados de exames de laboratório, ressaltando-se os
exames microbiológicos, a pesquisa de antígenos, anticorpos e métodos de
visualização realizados; evidências de estudos com métodos de imagem,
endoscopia, biópsia e outros.
2.3 INFECÇÃO HOSPITALAR X HIV
A AIDS é uma manifestação clínica avançada da infecção pelo vírus da
HIV. Geralmente, a infecção pelo HIV leva a uma imunossupressão progressiva,
especialmente da imunidade celular, e a uma desregulação imunitária. Tais
desregulações e supressões imunitárias acabam por resultar em infecções
oportunistas, neoplasias e/ou manifestações que são definidoras de AIDS (MIOLA;
GARBELLOTTO; MELLO, 2000).
Estudos sugerem que esses pacientes têm alto risco para adquirir
infecção hospitalar, devido o comprometimento de seu sistema imunológico. A
ocorrência da infecção é influenciada pela doença de base e pelo tipo de tratamento
ao qual o paciente é submetido, ocorrendo um desequilíbrio da relação existente
entre a microbiota humana normal e os mecanismos de defesa do hospedeiro
(GOETZ et al, 1994; CRAVEN; CRAVEN; ROSA, 2004).
Tenore (2001) evidenciou uma incidência de infecção hospitalar para
estes pacientes de 14,9%, a qual os levou a um aumento no tempo de permanência
hospitalar em aproximadamente 26 dias e uma alta taxa de letalidade atribuída de
55%. Os fatores de risco associados ao desenvolvimento das infecções foram: o uso
de cateter vascular central, anemia e níveis de linfócitos TCD4+ inferiores a 50
cél/mm3.
31
Em análise realizada por Petrosillo et al. (1999) em estudo multicêntrico
envolvendo 19 hospitais italianos, 2662 pacientes com 4330 admissões foram
acompanhados em um período de um ano. A taxa de IH em pacientes HIV positivos
encontrada foi de 6,3%, o tempo médio de permanência foi de 12,5 dias e a
presença de IH prolongou em aproximadamente 17 dias o tempo de internação
hospitalar, além disso, 74,9% dos pacientes apresentavam contagem de linfócitos
TCD4+ inferiores a 200 cél/mm3.
Dados nacionais confirmam a hipótese de que indivíduos infectados pelo
HIV/AIDS apresentavam maiores taxas de infecção hospitalar quando comparados a
um grupo controle, visto que a principal infecção encontrada foi a Infecção de
corrente sangüínea, seguida de infecções do trato urinário e pneumonias
(PADOVEZE; TRABASSO; BRANCHINI, 2002). Estas infecções hospitalares são as
mais comuns associadas a procedimentos invasivos, conforme descrito abaixo.
2.3.1 Infecção de Corrente Sangüínea (ICS)
A ICS relacionada a cateter ocorre quando o microorganismo presente no
local de inserção invade o compartimento vascular com ativação de inúmeros
mecanismos de defesa para eliminar o agente agressor, resultando em bacteremia,
que quando não contida, provoca infecção com grave comprometimento clínico,
podendo resultar em septicemia. A sepse é uma resposta sistêmica a esta infecção,
e suas manifestações clínicas são devidas à reação do paciente às toxinas e outros
componentes microbianos (BONVENTO, 2007).
As ICS nos pacientes com infecção pelo HIV/AIDS podem ser primárias
ou secundárias, relacionadas às infecções de pele e tecidos subcutâneos,
pneumonias, infecções no trato gastrintestinal e geniturinário. Apesar da maioria
destas infecções serem causadas por microrganismos gram-positivos e gram-
negativos, as ICS também podem ser causadas por micobactérias e fungos (DUSE,
1999).
O risco de ICS relacionado ao cateter vascular central, está associado à
localização do acesso, solução infundida, experiência do profissional que realiza o
32
procedimento, tempo de permanência, tipo e manipulação do cateter, entre outros.
Tais fatores constituem pontos estratégicos importantes para ações preventivas
dessas infecções como a criação do Grupo de Cateter sugerido por Mesiano e
Merchán-Hamann (2007) para padronização de rotinas para a inserção, manutenção
e retirada do mesmo, além de orientação quanto ao uso criterioso do cateter e
aderência, por parte dos profissionais da assistência aos protocolos. Outro fator
importante é a incorporação do conhecimento à prática de lavagem das mãos, o que
favorece a redução das infecções.
Os mecanismos de colonização do cateter podem ocorrer de duas
formas: através da superfície externa do cateter, túnel subcutâneo e a pele
circunvizinha podem ser colonizados através da microbiota própria da pele, das
mãos dos profissionais e dos anti-sépticos contaminados; ou através da superfície
interna do cateter com a propagação de bactérias pela manipulação inadequada do
canhão do cateter (hub) e contaminação das soluções de infusão (BONVENTO,
2007).
Stroud et al. (1997), encontraram para ICS uma taxa de 31% para os
pacientes HIV positivos, contra 20% na população em geral. Das ICS, 63% estavam
associadas ao uso de CVC, com menor freqüência em pacientes com níveis de
linfócitos TCD4+ inferiores a 200 cél/mm3, e o patógeno mais encontrado foi o
S.aureus. Isto é provável devido ao uso de sulfametoxazol-trimetropim como
terapêutica profilática para pneumocistose, que reduz a colonização nasal por
S.aureus.
Tumbarello et al. (2000), compararam a ocorrência de bacteremia em dois
períodos distintos, antes e após a introdução da Terapia Antiretroviral Altamente
Ativa (HAART) lançados em 1995, que é composta pela associação de três ou mais
medicamentos antiretrovirais (incluindo a classe dos inibidores da protease ou o
efavirenz, da classe dos inibidores da transcriptase reversa não análogos de
nucleosídeos). A incidência de bacteremia declinou de maneira significativa, de 11,8
por 1000 pacientes-ano para 6,3 (p=0,0001). O mesmo foi observado para
bacteremia nosocomial, de 5,8/1000 pacientes-ano para 2,4 (p=0,0005). A taxa de
mortalidade foi de 31% e 23% nos períodos pré e pós HAART respectivamente.
Atualmente com o uso disseminado de esquemas antiretrovirais de alta
potência é provável que a taxa de mortalidade continue a declinar e que à medida
que aumenta a sobrevida desses pacientes, menor a necessidade de internações.
33
2.3.2 Infecção do Trato Respiratório
Infecção do trato respiratório inferior é a resposta inflamatória do
hospedeiro à invasão e multiplicação incontrolada dos microorganismos nas vias
aéreas distais, ocorrendo quando um germe particularmente virulento ou um grande
inóculo alcança os espaços inferiores, sobrepujando os mecanismos de defesas
locais (FERNANDES; RIBEIRO FILHO, 2000).
Rossi et al. (2004) dizem que 73% das pneumonias que ocorrem em
pacientes com AIDS são infecções hospitalares, correspondendo a 7,4
episódios/100.000 população. A letalidade encontrada foi de 11,2% diferentes dos
dados notificados por Goetz et al. (1994) que relataram 60%, quanto às pneumonias
nosocomiais identificou sete em 32 (22%) infecções hospitalares; e Petrosillo et al.
(1999) encontraram 7,7% de pneumonia nosocomial, sendo a terceira infecção
hospitalar mais freqüente em seu estudo.
Os patógenos mais encontrados nesta topografia de infecção por Stroud
et al. (1997) foram os Gram negativos, seguidos por S.aureus.
A pneumonia bacteriana ocorre geralmente quando a contagem de
células TCD4 declina, sabe-se que elas têm importante ação na patogênese da
infecção causada por patógenos intracelulares como micobactérias, salmonela,
fungo e toxoplasma, além de afetar a imunidade humoral que aumenta a
suscetibilidade para infecções pelo S.pneumoniae, H.influenzae e pneumonia por
P.carinii (DUSE, 1999).
Alguns fatores contribuem para altas taxas de pneumonia bacteriana com
bacteremia secundária nestes pacientes, tais como, uso de drogas intravenosa
(PURO, et al.; 2005), neutropenia e exposição prévia a antimicrobianos (CRAVEN;
CRAVEN; ROSA, 2004).
A profilaxia para pneumocistose com sulfametoxazol-trimetropim reduz o
risco de desenvolvimento de pneumonias comunitárias, o mesmo não podendo ser
aplicado para as pneumonias nosocomiais, por outro lado pode aumentar a
colonização e infecção por bactérias resistentes, principalmente pneumococo
(LAING, 1999).
34
2.3.3 Infecção do Trato Urinário (ITU)
A ITU é uma das doenças mais freqüentes na população adulta,
configura-se na presença de bactérias na urina. Inclui a infecção sintomática, a
bacteriúria assintomática e outras infecções do trato urinário (FERNANDES;
RIBEIRO FILHO, 2000).
A cateterização urinária representa fator de risco importante para o
desenvolvimento de ITU, sendo descrito por Petrosillo et al. (1999) 105 episódios de
ITU e 79% destes relacionados ao cateterismo vesical em pacientes HIV/AIDS. As
principais causas de cateterização foram: incontinência urinária, retenção urinária
aguda, bexiga neurogênica e controle de diurese. Os microorganismos mais
freqüentes foram P.aeruginosa e E.coli.
À medida que aumenta a sobrevida da população infectada pelo HIV,
aumenta também a probabilidade do uso de sonda vesical de demora, tanto nas
internações hospitalares por doença avançada, quanto por distúrbios vesicais.
Assim, atenção especial deve ser dada a estes pacientes quando da necessidade
deste procedimento (CRAVEN; CRAVEN; ROSA, 2004).
2.4 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS INFECÇÕES
Hinrichsen (2004) define como vigilância epidemiológica um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual e coletiva,
com finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das
doenças e agravos.
O método de coleta de dados poderá ser do tipo passivo (preenchido por
profissionais não pertencentes à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar –
CCIH) ou ativo (busca ativa prospectiva de casos internados pelos componentes da
CCIH) ou no período pré-alta (com maior sensibilidade, mais acurado, que analisa
os fatores de risco) (HINRICHSEN, 2004).
35
Os métodos de vigilância das IH desenvolvidos pelo sistema NNISS são
usados segundo a escolha da população hospitalar a ser estudada. Os principais
métodos são: vigilância global (monitoramento das infecções em todas as
topografias e em todos os pacientes hospitalizados, sendo validado, eficientemente,
mas exigindo uma racional demanda de tempo e recursos, com baixa efetividade de
medidas de intervenção), vigilância dirigida (monitora apenas os pacientes
internados em determinados setores, por serviço específico, por sítio de infecção
específico), vigilância rotatória e vigilância por objetivos é feita a partir dos
resultados a serem lançados, que podem ser baseados na identificação de
pacientes de maior risco de infecção (FERNANDES, 2000).
Na presente pesquisa foi utilizada a vigilância global, sendo adaptada
para a vigilância de procedimentos invasivos, realizada no componente de terapia
intensiva devido o freqüente uso dos procedimentos invasivos (VM, SVD, CVC)
pelos pacientes na clínica de estudo.
A metodologia NNISS padroniza os métodos de vigilância, compara os
seus resultados com os de outros hospitais e sistematiza o controle de infecções,
direcionando-os para os grupos de pacientes, serviços e áreas de maior risco
(HINRICHSEN, 2004).
Segundo esta metodologia é importante definir alguns conceitos e
critérios para a realização da vigilância, segundo Garner et al (1988) e Brasil (1994)
como:
1) Infecção hospitalar é aquela que ocorre em pacientes com admissão NNISS após
48 horas de sua internação e que não esteja presente no momento da admissão
do paciente ou no período de incubação bem com aquela infecção que ocorre até
48 horas após a alta hospitalar.
2) São considerados pacientes NNISS todos aqueles que são internados em uma
data distinta da sua saída hospitalar, isto é não recebem alta no mesmo dia que
internam.
3) Para aqueles doentes que ficam internados mais de um dia, não são
considerados os que têm como razão primária de hospitalização o atendimento
psiquiátrico, reabilitação e “casas de repouso”.
36
4) São considerados pacientes NNISS da unidade de terapia intensiva adulto e
infantil, qualquer paciente que preencha os critérios NNISS e seja admitido em
área que realize observação intensiva, diagnóstico e procedimentos terapêuticos
para adultos e crianças gravemente doentes. Estas unidades podem ser
subdivididas, caso prestem atendimento especializado. Devem ser excluídas as
áreas que prestam cuidados intermediários, apenas monitorização à distância e
unidades de transplante de medula.
5) Um paciente é considerado sob ventilação mecânica quando recebe uma
respiração continuamente assistida através de traqueostomia ou intubação
endotraqueal. A utilização de pressão respiratória intermitente positiva, pressão
final nasal positiva, pressão aérea nasal contínua não são consideradas
ventilação, exceto se administradas via intubação ou traqueostomia.
6) Um acesso vascular central é aquele que termina no coração ou em um grande
vaso. O cateter umbilical é incluído neste grupo.
7) Cateter urinário ou sonda de Foley é um tubo de drenagem inserido na bexiga do
paciente via uretra, que é mantido conectado a um sistema coletor. Neste grupo
não é incluída a sondagem de alívio.
8) Uma infecção é associada à ventilação ou ao cateter central caso se manifeste
após 48 horas do seu início ou de sua remoção. No caso da sonda vesical de
demora este período é estendido para sete dias.
9) Diariamente, são contados quantos pacientes foram admitidos no dia anterior, o
total de pacientes presentes no momento da vigilância e ainda, os casos com
sondagem vesical; ventilação mecânica e cateter vascular central.
10) Na virada do mês, são contados os pacientes egressos do mês anterior e
somadas as suas diárias.
2.5 CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS PARA INFECÇÃO HOSPITALAR
Com o objetivo de uniformizar os conceitos e critérios, Garner et al. (1988)
através do Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) de Atlanta
estabeleceram parâmetros para a classificação das infecções hospitalares. Estes
critérios são utilizados pela CCIH do HUJBB e serviram de parâmetro para a
37
pesquisa considerando as principais topografias: infecção de corrente sangüínea,
infecção do trato urinário e pneumonia (UFPA, 2004).
2.5.1 Infecção de Corrente Sangüínea Primária Labor atorial (ICSL) : Em maiores
de 2 anos de idade
- Critério I - Patógeno isolado em hemocultura não relacionado a outro sítio
reconhecido, exceto cateter vascular central.
- Critério II - Um ou mais dos seguintes sinais ou sintomas sem outra causa
reconhecida: febre ≥ 37°C (axilar), calafrio e/ou hipotensão.
E um dos seguintes:
- Duas ou mais hemoculturas positivas, colhidas em ocasiões
diferentes onde foram recuperados germes contaminantes comuns
(difleroides, Bacilos sp, Propioniobacterimu sp, estafilococos
coagulase negativa) não relacionados com nenhum outro foco
(exceto cateter vascular central);
- Antígeno positivo no sangue não relacionado a outro sítio (exceto
cateter vascular central);
- Uma hemocultura positiva para contaminantes comuns e o médico
institui terapêutica para situação de risco.
2.5.2 Infecção de Corrente Sangüínea Primária Clíni ca (ICSC) - Em Maiores de 2
Anos de Idade
- Critério III - Hemocultura não realizada ou microorganismo não isolado e
ausência de foco infeccioso definido (exceto cateter vascular central).
Dois ou mais dos seguintes sinais sem outra causa r econhecida:
- febre> 37,5ºC (axilar), hipotermia < 35,5° C (axi lar), hipotensão (PA
sistólica < 90 mm Hg), necessidade do uso de drogas vasoativas
(dopamina, noradrenalina, dobutamina, etc) para manter
estabilidade hemodinâmica, CAV>3, alteração das medidas
38
hemodinâmicas sugestivas de infecção (débito cardíaco elevado,
resistência periférica baixa).
2.5.3 Bacteremia Secundária
- Critério IV - Presença de patógeno isolado em uma hemocultura,
correlacionado a um foco infeccioso em outro sítio, se houver patógeno
isolado em sítio infeccioso primário, este deve ser coincidente, se não houver
agente etiológico isolado no foco primário, considerar o microorganismo da
hemocultura como o agente etiológico.
2.5.4 Infecção do Trato Urinário Sintomática (ITUS) - Em Maiores de 2 Anos de
Idade
- Critério I - cultura de urina ≥105 UF colônias/ml (até 2 microorganismos). Um
ou mais dos seguintes sinais ou sintomas: febre ≥ 37,5º C (axilar), disúria,
urgência miccional, freqüência miccional, dor supra-púbica, aumento da
espasticidade muscular (nos casos neurológicos).
- Critério II - Dois ou mais dos seguintes sinais ou sintomas sem outra causa
reconhecida: febre ≥ 37,5° C (axilar), disúria, urgência miccional, fre qüência
miccional, dor supra-púbica, aumento da espasticidade muscular (nos casos
neurológicos).
E um dos seguintes:
- Duas culturas positivas com o mesmo microorganismo
(≥100col/ml), piúria (≥ 104 leucócitos ou ≥10 leucócitos/campo),
novo microorganismo (≥ l05 colônias/ml) na vigência de tratamento
para ITU prévia, presença de microorganismo no gram, médico
institui tratamento com uma cultura positiva < 105col/ml.
39
2.5.5 Bacteriúria Assintomática - Em Maiores de 2 A nos de Idade
- Critério III : uma cultura de urina ≥ 105 col/ml colhida por punção do cateter
vesical; cultura positiva colhida por punção supra púbica.
Observação : A presença de três ou mais microorganismos na cultura de urina será
considerada contaminação.
2.5.6 Pneumonias
Os critérios utilizados para Pneumonia foram baseados segundo Horan e
Gaynes (2004), que se ajusta aos pacientes imunocomprometidos.
É classificada segundo o sítio principal Pneumonia (PNEU) e em sítios
específicos: PNU 1 (pneumonia definida clinicamente), PNU 2 (pneumonia com
isolamento de bactérias comuns, fungos filamentosos, vírus, Legionella, Chlamydia,
Mycoplasma, outros patógenos incomuns e achado laboratorial específico) e PNU 3
(pneumonia em pacientes imunocomprometidos).
Os critérios são baseados em exames radiológicos, clínicos (sinais e
sintomas) e laboratoriais.
a) Critério Radiológico : compreende PNU 1, 2 e 3.
Consiste em duas ou mais radiografias com no mínimo um dos seguintes
critérios: novo ou progressivo e persistente infiltrado, consolidação ou cavitação. Em
pacientes sem doença de base pulmonar ou cardíaca (por exemplo, DPOC), uma
radiografia de pulmão pode ser aceitável.
b) Critério Clínico: compreende PNU 1 e PNU 2.
Consiste no mínimo um dos seguintes critérios: febre de origem
desconhecida (>38ºC), leucopenia (<4.000 céls/mm3) ou leucocitose (≥12.000
céls/mm3) e para adultos ≥ 70 anos de idade com alteração mental sem causa
conhecida.
40
E, no mínimo um dos seguintes critérios para PNU 2, e dois dos seguintes
critérios para PNU1: surgimento de nova secreção purulenta ou mudança de
característica do mesmo ou da necessidade de aspiração; novo acesso ou piora da
tosse ou dispnéia ou taquipnéia; creptantes; piora da gasometria (exemplo:
dessaturação de O2 – PAO2/FiO2 ≤ 240, aumento da necessidade de O2 ou aumento
da demanda ventilatória).
O PNU 3 compreende pelo menos um desses critérios citados acima
incluindo hemoptise ou dor pleurítica.
c) Critério Laboratorial : Consiste PNU 2 e PNU 3.
PNU 2 - Consiste no mínimo um dos seguintes critérios: hemocultura
positiva sem relato de outra fonte de infecção; cultura positiva do líquido pleural;
cultura quantitativa positiva de espécime minimamente contaminada (por exemplo,
lavado broncoalveolar ou escovado protegido); ≥ 5% células contendo bactéria
intracelular – obtida por lavado broncoalveolar, no exame microscópico direto (por
exemplo, Gram); exame histopatológico mostrando pelo menos uma das seguintes
evidências de pneumonia: formação de abscesso ou foco de consolidação com
pneumonia intensa acumulada em bronquíolos e alvéolos, cultura quantitativa
positiva do parênquima do pulmão, evidência de invasão de parênquima por hifa ou
pseudohifa.
Consiste no mínimo um dos seguintes critérios: cultura positiva para
vírus ou Chlamydia de secreção respiratória; detecção positiva de antígeno ou
anticorpo viral de secreção respiratória; aumento de 4 vezes em sorologias pareadas
(IgG) – exemplo, influenza, vírus, Chlamydia; PCR positiva para Chlamydia ou
Mycoplasma; micro-IH positiva para Chlamydia, cultura positiva ou visualização por
micro-IF para Legionella spp. de secreção do trato respiratório; detecção de
antígenos Legionella pneumophila sorogrupo 1 em urina por RIA ou EIA; ou
aumento de 4 vezes na dosagem do título de anticorpo de Legionella pneumophila
em soro pareado por IFA indireta.
PNU 3 - Consiste no mínimo um dos seguintes critérios: Cultura de
sangue ou secreção respiratória com Candida spp.; evidência de fungos ou P.carinii
de espécimes do trato respiratório inferior minimamente contaminado (por exemplo,
41
lavado broncoalveolar ou escovado protegido) de um dos seguintes critérios: exame
microscópico direto ou cultura positiva de fungos; e qualquer um dos seguintes
critérios laboratoriais definidos em PNU 2.
Observação: A confirmação de embolia, bronquiectasia, atelectasia ou
neoplasia invalida a classificação de pneumonia.
Os microorganismos isolados em escarro e secreção traqueal não podem
ser considerados como agentes etiológicos de pneumonia, e sim como germes
colonizantes, exceto Micobactérias, Legionellas, Paracoccidioides brasiliensis,
Histoplasma capsulatum, Criptococcus neoformans e P. carinii.
43
3 OBJETIVOS
3.1 GERAL
Comparar a incidência de Infecção hospitalar em portadores do HIV/AIDS
com pacientes admitidos com outras doenças que não seja HIV/AIDS, internados na
Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP) do HUJBB.
3.2 ESPECÍFICOS
- Identificar e comparar os indicadores de IH em portadores do HIV e pacientes
admitidos com outras doenças que não seja HIV/AIDS;
- Determinar a incidência de IH segundo os procedimentos invasivos (sonda
vesical de demora, cateter vascular central e ventilador mecânico).
44
Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865) foi um médico conceituado por ser o precursor da
epidemiologia hospitalar.
45
4 METODOLOGIA
4.1 TIPO DE ESTUDO
Estudo analítico, observacional, prospectivo.
4.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO
A população de estudo consistiu em duas coortes clínicas de pacientes de
ambos os sexos, com idade igual ou superior a 13 anos, que foram:
- Pacientes portadores do HIV/AIDS (HIV positivos), com diagnóstico
laboratorial confirmado;
- Pacientes admitidos com outras doenças que não sejam HIV/AIDS
(não-HIV).
Os critérios de exclusão considerados foram: pacientes admitidos com
infecção de outro hospital, pacientes transferidos para outras clínicas e pacientes
com tempo de internação inferior a 48 horas.
As coortes foram acompanhadas durante todo seu período de internação
até a alta, na busca de infecção hospitalar.
As variáveis independentes para as duas coortes foram: o uso de
procedimentos invasivos (sonda vesical de demora, cateter vascular central central e
ventilador mecânico), a ocorrência de infecção hospitalar segundo a topografia
(infecção do trato urinário, infecção de corrente sangüínea, pneumonia e outras) e a
letalidade associada à infecção hospitalar.
A variável dependente para a coorte de pacientes HIV positivos foi a
contagem de células TCD4.
46
4.3 LOCAL DE ESTUDO
O Estudo foi realizado no Hospital Universitário João de Barros Barreto
(HUJBB) construído com definição de sanatório de Belém para a hospitalização de
pacientes com tuberculose em 1957, participou da Campanha Nacional de
Tuberculose como Hospital especializado em Infectologia e Pneumologia Sanitária,
no decorrer dos anos sofreu alterações conforme exigências da situação de saúde
do Estado passando em 1976 a chamar-se Hospital Barros Barreto. Estruturado
para servir de apoio hospitalar para doenças classificadas como Tropicais
emergentes e reemergentes, considera-se o único serviço especializado para
atendimento a portadores da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA),
exerceu papel importante no controle da epidemia de Cólera no Estado e finalmente
em 1990 foi cedido a Universidade Federal do Pará passando a chamar-se Hospital
Universitário João de Barros Barreto e ser considerado como referência na região
Norte para doenças infecciosas e parasitárias (adulto e pediátrico), e doenças
pulmonares (adulto e pediátrico), além de realizar atendimento a pacientes clínicos
(adultos) e cirúrgicos (adultos). Está situado na cidade de Belém do Pará, dispondo
de 260 leitos.
Possui uma Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP) que se
localiza no 3º andar e possui duas alas denominadas, 3º Leste e 3º Oeste, onde foi
realizada a pesquisa. Atende portadores do HIV/AIDS, disponibilizando para esta
patologia 20 leitos masculinos e 08 femininos, e pacientes com doenças infecciosas
e parasitárias de outras etiologias com 22 leitos masculinos e 14 femininos. Possui
quatro isolamentos localizados no 3º Leste, onde ficam internados os pacientes com
doenças transmissíveis (por aerossóis, gotículas ou contato) e pacientes graves que
requerem assistência intensiva com uso de medidas de suporte de vida (VM, SVD,
CVC). O hospital conta com uma UTI de 10 leitos a qual atende pacientes cirúrgicos
e clínicos, adultos e pediátricos.
A Clínica de DIP tem uma equipe de saúde composta de 14 médicos
infectologistas, um pneumologista, 12 enfermeiros e 59 técnicos de enfermagem.
Recebe visitas diárias do médico infectologista e da enfermeira da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), os quais realizam a vigilância das infecções
hospitalares e notificam em formulário próprio os pacientes que preenchem os
47
critérios de definição do CDC/NNISS para alguma topografia de infecção (GARNER
et al, 1988). A CCIH do HUJBB é composta por um núcleo executivo de três médicos
infectologistas e três enfermeiras.
4.4 COLETA DE DADOS
Os dados da pesquisa foram coletados, no período de fevereiro a
dezembro de 2007, a partir de informações colhidas pela CCIH através da vigilância
das infecções hospitalares. O mês de janeiro não foi incluído na pesquisa, pois
durante este mês foi realizado o estudo-piloto, que permitiu testar os impressos
utilizados pela CCIH/HUJBB e criar outros, realizando adequações quanto à
diferenciação entre pacientes HIV e Não-HIV para o alcance dos objetivos
propostos.
A pesquisadora compôs, juntamente com demais membros executores, a
equipe da CCIH responsável pela busca ativa das IH e vigilância dos procedimentos
invasivos realizados na Clínica de DIP.
A equipe da CCIH realiza a vigilância epidemiológica ativa e prospectiva
entre outras ações contempladas no Programa de Controle de Infecção Hospitalar.
Utilizam a metodologia por componentes adaptada do sistema NNISS/CDC, esta
metodologia possui quatro componentes que são: global ou de enfermaria; de
terapia intensiva adulto e pediátrica; cirúrgico e berçário de alto risco. No HUJBB,
apenas os três primeiros componentes são utilizados (BRASIL, 1994). A fonte de
dados para a busca ativa das infecções consiste em: dados do prontuário do
paciente, visita diária com avaliação clínica dos doentes, inspeção de procedimentos
invasivos, discussão com a equipe de saúde, relatórios do laboratório de
microbiologia e fichas de solicitação de antimicrobianos.
Para a pesquisa foi criado um formulário específico para registrar
informações sobre os pacientes internados como leito, nome do paciente,
diagnóstico de admissão, procedimentos invasivos realizados e episódios de
infecção notificados, objetivando identificar com facilidade dados sobre a população
em estudo (Apêndice C).
48
Durante as visitas foram contabilizados diariamente o número de
pacientes HIV positivos e não-HIV que estavam com os procedimentos invasivos
monitorados. No final de cada mês esses dados eram totalizados. Para esta coleta
foi feita uma adaptação no Formulário de Vigilância ativa NNISS de Procedimentos
Invasivos da CCIH, classificando os pacientes em HIV e não-HIV (Apêndice D).
Quando era identificado um paciente submetido a SVD, CVC ou VM fazia-
se o Registro na Ficha da Relação de Procedimentos Invasivos (Anexo B) anotando
a data de instalação e a data de retirada dos dispositivos, além das informações
sobre o paciente como a data de admissão, a data de alta, a matrícula e a
enfermaria/leito. Esta ficha permitiu acompanhar o tempo de uso dos procedimentos.
Nos pacientes com diagnóstico de infecção hospitalar era preenchida a
Ficha de Notificação de Infecção Hospitalar (Anexo A) utilizada pela CCIH do
HUJBB, segundo os critérios diagnósticos do CDC (GARNER et al, 1988). A partir
dessa ficha foram coletados para a pesquisa informações incluindo dados gerais
sobre o paciente (nome, registro, sexo, idade, data de admissão, leito), a topografia
da infecção e os fatores de risco relacionados, e a contagem de linfócitos TCD4+
dos pacientes portadores do HIV.
A CCIH recebe diariamente as fichas de solicitação de antimicrobianos
procedentes da farmácia, que são preenchidas pelos médicos assistentes quando
iniciam o tratamento antimicrobiano; além dos exames microbiológicos com
resultados de culturas encaminhados pelo laboratório. A solicitação de
antimicrobianos e os resultados microbiológicos serviram como fontes de dados para
a pesquisa.
Utilizou-se também como fonte de coleta de dados o censo diário, o
prontuário do paciente e as informações obtidas diretamente da equipe de saúde.
O número de Pac-dia portadores de HIV e o não-HIV foram obtidos na
Divisão de Arquivo Médico e Estatística (DAME) para o cálculo dos indicadores de
infecção hospitalar.
Foi utilizado como instrumento de coleta de dados as seguintes fichas:
a) Relação dos pacientes internados na DIP (Apêndice C);
b) Ficha de notificação de infecção hospitalar (Anexo A);
c) Formulário de vigilância ativa NNISS dos procedimentos invasivos
(Apêndice D);
d) Relação dos procedimentos invasivos (Anexo B).
49
4.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
Os indicadores calculados foram: a incidência de pacientes com infecção
hospitalar, a incidência de infecção hospitalar conforme a topografia, a incidência de
infecção hospitalar relacionada com o procedimento invasivo, a taxa de utilização de
procedimento invasivo, a taxa de mortalidade e a taxa de letalidade associada à
infecção hospitalar (número de óbitos ocorridos de pacientes com infecção
hospitalar no período considerado pelo número de pacientes que desenvolveram a
infecção hospitalar no período), de acordo com as fórmulas normatizadas pelo
Ministério da Saúde, metodologia NNISS (BRASIL, 1994).
Os denominadores utilizados foram: número de saídas (altas, óbitos e
transferências), número de Pac-dia (soma dos dias totais de permanência de todos
os pacientes no período considerado) e o número de procedimentos invasivos-dia
(soma dos dias totais de permanência dos procedimentos invasivos no período
considerado).
Para efeito de análise estatística, foi gerado um banco de dados no
programa Excel 7.0 para a construção de tabelas e gráficos, e para os cálculos dos
testes estatísticos, o Software Bio Estat 5.0.
Foi utilizado o Teste Qui-quadrado e o Teste t, utilizando-se um intervalo
de confiança (IC) de 95%, erro de 5% e valor do p<0,05.
4.6 ASPECTOS ÉTICOS
Em consonância com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº
196/96 que trata de pesquisa envolvendo seres humanos, foi mantido sigilo e
anonimato dos nomes dos pacientes que participaram da pesquisa. No caso de
impedimento do paciente, foi solicitado o consentimento de familiares (Apêndice A).
Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) em
seres humanos do HUJBB e aprovado a realização da pesquisa (Apêndice B).
50
Ignaz Philipp Semmelweis orientando a lavagem das mãos com água clorada antes de procedimentos cirúrgicos, a fim de reduzir a mortalidade materna por febre puerperal.
51
5 RESULTADOS
Durante o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2007 foram
acompanhados 451 pacientes HIV e 679 pacientes não-HIV, com um total de 1.130
saídas da Clínica de DIP do HUJBB. Em relação aos pacientes-dia, que corresponde
à soma dos dias totais de permanência de todos os pacientes no período
considerado, encontrou-se 9373 pacientes-dia HIV + e 10903 pacientes-dia não-HIV.
Quanto ao tempo médio de permanência em comparação ao grupo não-
HIV, os portadores desse vírus passaram mais tempo internados, de 19,42 dias
contra 15 dias para o não-HIV.
A taxa de utilização de procedimentos invasivos-dia por Pac-dia foi 0,06
que corresponde ao tempo de exposição dos pacientes submetidos a estes
procedimentos. Os 1130 pacientes utilizaram 640 sondas vesicais de demora-dia
(SVD-dia), 155 ventiladores mecânicos-dia (VM-dia) e 533 cateteres vasculares
central-dia (CVC-dia). A taxa de utilização de SVD-dia foi maior para os pacientes
HIV negativos (0,04) comparados aos HIV positivos (0,02). Para o VM-dia não houve
diferença entre os grupos, assim como o uso de CVC-dia que não foi significativo
(Tabela 1).
Tabela 1 – Procedimentos invasivos-dia e taxa de utilização de procedimentos invasivos por 1000 pacientes-dia internados na Clínica de DIP/HUJBB, Belém/PA, fevereiro a dezembro de 2007.
Fonte: Pesquisa da autora p <0,05 (Teste t) Nota: Pacientes-dia HIV= 9373, Pacientes-dia não-HIV= 10903. Taxa= Nº procedimentos invasivos-dia /Pacientes-dia
Procedimentos Invasivos-dia
HIV + Taxa Não-HIV Taxa TOTAL Valores p
Sonda vesical de demora-dia
227 0,02 413 0,04 640 0,01
Ventilador Mecânico-dia
93 0,01 62 0,01 155 0,41
Cateter vascular central-dia
309 0,03 224 0,02 533 0,25
52
Entre as 1.130 altas, 40 pacientes evoluíram com infecção hospitalar
sendo que destes 23 (57,5%) eram pacientes HIV positivos e 17 (42,5%) pacientes
HIV negativos (p=0,021) (Tabela 2). No total de 48 episódios de infecção hospitalar
notificados, 29 (60,4%) ocorreram no grupo HIV positivo e 19 (39,6%) nos não-HIV.
Tabela 2- Pacientes HIV positivos e HIV negativos em relação à ocorrência de infecção hospitalar internados na Clínica de DIP/HUJBB, Belém/PA, fevereiro a dezembro de 2007.
PACIENTES
HIV NÃO-HIV TOTAL
Com Infecção Hospitalar*
23 17 40
Sem Infecção Hospitalar
428 662 1090
Total 451 679 1130 Fonte: Pesquisa da autora *p=0,021 (Teste Qui-quadrado)
O sexo masculino representou 61% do grupo HIV positivo e 59% para o
não-HIV, apesar de não ter sido significativo (p= 0,6193), assim como a faixa etária
que variou entre os intervalos de idade (Tabela 3).
Tabela 3 - Características dos Pacientes HIV positivos e não-HIV que evoluíram com Infecção Hospitalar segundo o sexo e faixa etária, internados na Clínica de DIP/HUJBB, Belém/PA, fevereiro a dezembro de 2007. Características HIV (n=23) % Não-HIV (n=17) %
Sexo* Feminino 9 39 7 41 Masculino 14 61 10 59
Faixa Etária ♦♦♦♦ 13├19 0 0 2 12 20├ 30 3 13 1 6 30├ 40 10 44 1 6 40├ 50 7 30 6 35 ≥ 50 3 13 7 41
Fonte: Pesquisa da autora * p=0,6193 (Teste Qui-quadrado) ♦♦♦♦ p=0,08 (Teste t)
53
A Tabela 4 demonstra a ocorrência das infecções hospitalares nos
pacientes HIV e não-HIV em relação à presença ou não de procedimentos invasivos
(VM, SVD, CVC), conforme a topografia.
Observou-se que não houve significância quanto à presença destes para
o desfecho do processo infeccioso.
Tabela 4 – Infecção hospitalar associada ou não associada a procedimento invasivo em pacientes HIV e não-HIV internados na Clínica de DIP/HUJBB, Belém/PA, fevereiro a dezembro de 2007.
IH associada a procedimento invasivo
IH não associada a procedimento invasivo
Topografia IH HIV NÃO-HIV Valores p HIV NÃO-HIV Valores p
PN 3 0 0,07 12 6 0,24
ITU 1 5 0,15 5 3 0,56
ICS 0 0 - 1 0 0,30
TOTAL 4 5 - 18 9 -
Fonte: Pesquisa da autora p <0,05 (Teste t)
A Tabela 5 mostra os indicadores epidemiológicos de infecção hospitalar
encontrados no estudo sendo a taxa de infecção hospitalar por saídas superior para
os pacientes HIV positivos com 6,43% (29/451) contra 2,8% (19/679) no grupo não-
HIV (p=0,009), contudo sem significância estatística para o indicador incidência de
episódios de infecção hospitalar por 1000 Pac-dia.
Considerando a taxa de pacientes com IH, este indicador também foi
superior para os pacientes HIV positivos com 5,1% (23/451) contra 2,5% (17/679).
Quanto ao tipo de alta, a letalidade associada à IH foi maior para os
pacientes HIV positivos (65,22%) que nos pacientes HIV negativos (23,53%).
54
Tabela 5 - Indicadores epidemiológicos de infecção hospitalar dos pacientes HIV positivos e não-HIV internados na Clínica de DIP/HUJBB, Belém/PA, fevereiro a dezembro de 2007.
Fonte: Pesquisa da autora *p<0,05 (Teste Qui-quadrado), ♦♦♦♦p<0,05 (Teste t) Saídas HIV= 451, Saídas não-HIV= 679, Pacientes-dia HIV= 9373, Pacientes-dia não-HIV= 10903. Nota: Infecção Hospitalar Bruta= Nº Infecções/Saídas x 100 Paciente com infecção hospitalar= Nº pacientes com infecção/Saídas x 100 Infecção Hospitalar = Nº Infecções/Pacientes-dia x 1000 Paciente com infecção hospitalar= Nº pacientes com infecção/ Pacientes-dia x 1000 Mortalidade= Nº óbitos/ Saídas x 100 Letalidade= Nº óbitos associados à infecção hospitalar/ Pacientes com infecção x 100
Quanto às topografias das infecções hospitalares a mais freqüente foi a
pneumonia (n=21) com 44%, seguido da infecção do trato urinário (n=14) com 29%,
outras infecções (n=12) com 25% sendo estas as infecções de pele, sítio cirúrgico,
olho, ouvido, trato genital feminino e abdominal; e infecção de corrente sangüínea
(n=1) com 2% (Gráfico 1).
29%
25%
2%
44%
PN ITU ICS OUTRAS IH
Gráfico 1 - Infecção Hospitalar por topografia ocorrida em pacientes internados na
Clínica de DIP/HUJBB, Belém/PA, fevereiro a dezembro de 2007.
HIV NÃO-HIV INDICADORES n Taxa n Taxa
Valores p
Infecção hospitalar bruta por 100 saídas♦♦♦♦ 29 6,43 19 2,8 0,009
Paciente com Infecção Hospitalar por 100 saídas♦♦♦♦ 23 5,1 17 2,5 0,0128
Infecção Hospitalar por 1000 Pacientes-dia♦♦♦♦ 29 3,09 19 1,74 0,0527
Paciente com Infecção Hospitalar por 1000 Pacientes-dia♦♦♦♦ 23 2,45 17 1,56 0,0631
Mortalidade♦♦♦♦ 99 21,95 113 16,64 0,3519
Letalidade associada à Infecção hospitalar* 15 65,22 04 23,53 0,009
55
Quando se compara a incidência de infecção hospitalar por 1.000 Pac-dia
de acordo com a topografia entre os grupos estudados, percebemos que a
pneumonia foi mais incidente em pacientes HIV positivos (1,60‰) p=0,04, em
relação aos pacientes não-HIV (0,55‰), ao contrário das outras topografias que não
foram significativos (Tabela 6).
Tabela 6 – Incidência de Infecção Hospitalar de acordo com a topografia por 1.000 pacientes-dia internados na Clínica de DIP/HUJBB, Belém/PA, fevereiro a dezembro de 2007.
HIV NÃO-HIV TOPOGRAFIA n ‰ n ‰
Valores p
Pneumonia 15 1,60 6 0,55 0,04 Infecção do Trato Urinário 6 0,64 8 0,73 0,57 Infecção de Corrente Sangüínea 1 0,11 0 0,00 0,34 Outras Infecções 7 0,75 5 0,46 - Total 29 3,1 19 1,74 - Fonte: Pesquisa da autora p<0,05 (Teste t) Pacientes-dia HIV= 9373, Pacientes-dia não-HIV= 10903. Nota: Pneumonia = Nº Pneumonias/Pacientes-dia x 1000 Infecção do trato urinário = Nº Infecção do trato urinário /Pacientes-dia x 1000 Infecção de corrente sangüínea= Nº Infecção de corrente sangüínea /Pacientes-dia x 1000 Outras Infecções= Nº Outras Infecções /Pacientes-dia x 1000
A pneumonia associada à VM foi registrada somente em pacientes HIV
positivos. Dos 15 episódios de pneumonia, três foram associados ao procedimento
invasivo (32,26 episódios por 1000 VM-dia) (Tabela 7).
Verificou-se que a ITU associada a SVD não foi significativo entre os
grupos, apesar de ter sido mais utilizada pelos pacientes HIV negativos (413 SVD-
dia) do que pelos pacientes HIV positivos (227 SVD-dia), p=0,01.
Quanto à utilização de cateter vascular central, este não influenciou na
ocorrência de infecções, visto que ocorreu somente uma ICS em um paciente HIV
positivo não sendo relacionada ao uso de CVC, p=0,34 (Tabela 7).
56
Tabela 7 - Incidência de Infecção Hospitalar (IH) por Topografia associada ao procedimento invasivo em pacientes HIV positivos e HIV negativos da Clínica de DIP/HUJBB, Belém/PA, fevereiro a dezembro de 2007.
TOPOGRAFIA DA IH HIV Taxa NÃO-HIV Taxa Valores p
PN por Pacientes-dia 15 1,60 6 0,55 0,04
PN associada VM-dia 3 32,26 0 0 -
ITU por Pacientes-dia 6 0,64 8 0,73 0,57
ITU associada SVD-dia 1 4,41 5 12,11 0,13
ICS por Pacientes-dia 1 0,11 0 0 0,34
ICS associada CVC-dia 0 0 0 0 -
Fonte: Pesquisa da autora p < 0,05 (Teste t) Nota: Taxa de Pneumonia = Nº Pneumonias/ Pacientes-dia x 1000 Taxa de Pneumonia associada à VM= Nº Pneumonias associados à VM/ VM-dia x 1000 Taxa de ITU = Nº ITU/ Pacientes-dia x 1000 Taxa de ITU associada à SVD= Nº ITU associados à SVD/ SVD-dia x 1000 Taxa de ICS = Nº ICS/ Pacientes-dia x 1000 Taxa de ICS associada à CVC= Nº ICS associados à CVC/ CVC-dia x 1000
Na Tabela 8 está representada a contagem de células TCD4 dos pacientes
HIV positivos que evoluíram com infecção hospitalar (n=20), segundo o tipo de alta
hospitalar. Três pacientes HIV positivos não foram incluídos por não terem realizado
o exame laboratorial em razão do diagnóstico recente da doença com posterior
evolução a óbito.
Observou-se que 11 (55%) dos pacientes que desenvolveram infecção
hospitalar apresentavam uma contagem de CD4 abaixo de 100 cél/mm3, e em
relação à letalidade, 69,2% (n=9) desses pacientes evoluíram a óbito (p=0,06); 15%
(n=3) apresentavam CD4 entre 100-200 cél/mm3 e 30% (n=6) tinham o CD4 maior
que 200 cél/mm3, sendo que estes dois últimos a letalidade foi igual a 15,4% (n=2)
sem valor significativo (p=0,22 e p=0,45, respectivamente) (Tabela 8).
57
Tabela 8 - Contagem de células TCD4, segundo o tipo de alta hospitalar nos pacientes HIV positivos internados na Clínica de DIP/HUJBB, Belém/PA, fevereiro a dezembro de 2007.
CD4 Vivos % Óbitos % Total % Valores p
<100
2 28,6 9 69,2 11 55 0,0684
100-200
1 14,3 2 15,4 03 15 0,2285
> 200
4 57,1 2 15,4 06 30 0,4569
Total 7 100% 13 100% 20 100% - Fonte: Pesquisa da autora p<0,05 (Teste t)
58
A evolução da Medicina com a inclusão de novas técnicas laboratoriais, tratamento
medicamentoso, métodos diagnósticos e terapêuticos.
59
6 DISCUSSÃO
Na presente pesquisa, a maioria dos pacientes estudados (HIV e não-
HIV) que evoluíram com infecção hospitalar era do sexo masculino, com faixa etária
maior de 30 anos como evidenciado também por Afessa e Green (2000) e Lisboa et
al. (2007) que relataram uma prevalência do sexo masculino, em ambos trabalhos, e
faixa etária média de 57 anos.
A taxa de infecção hospitalar bruta por saídas foi maior nos pacientes HIV
positivos, ao contrário da incidência de IH por 1000 Pac-dia que não foi significativo
entre os dois grupos. Em outros estudos este indicador predominou em pacientes
HIV positivos com uma incidência variando de 3,6 (PETROSILLO et al, 1999) a 8,6
(PADOVEZE; TRABASSO; BRANCHINI, 2002) episódios por 1000 pacientes-dia.
Essa proporção tem decrescido após a era HAART, devido à redução de
hospitalizações de pacientes HIV positivos (TUMBARELLO et al, 2000; CRAVEN;
CRAVEN; ROSA, 2004; PURO, 2005).
Fatores de risco para IH específicos à população de pacientes HIV/AIDS
devem ser considerados e incluem: anormalidade na imunidade celular e humoral;
disfunção das células fagocíticas; baixa contagem de linfócitos TCD4; neutropenia
secundária às drogas (ex. zidovudine, ganciclovir) ou à doença; flora microbiana
alterada devido medicamentos profiláticos que aumentam a freqüência de
colonização ou infecção prévia por agentes multiresistentes as drogas; presença de
doenças atípicas que resultam na demora do diagnóstico com exposição crescente
para outros pacientes; uso de procedimentos invasivos e respostas imprevisíveis
para antibióticos e vacinas (DUSE, 1999; AFESSA, MORAES, WEAVER, 2001).
Entretanto na pesquisa em questão não foi evidenciado estatisticamente a
influência do procedimento invasivo para a ocorrência de infecção hospitalar.
Em relação à imunidade, a imunodepressão acentuada (CD4 menor que
100 cél/mm3) foi evidenciada em mais da metade dos pacientes HIV positivos que
evoluíram com infecção hospitalar na amostra estudada, o que poderia ser um fator
contribuinte ao maior risco de desenvolvimento de IH, contudo, acredita-se que a
60
maioria destes pacientes que internam tenha como diagnóstico admissional uma
doença oportunista, o que se espera que a contagem de células TCD4 seja baixa.
De fato, Tenore (2001), acompanhando pacientes HIV positivos,
encontrou uma taxa de infecção hospitalar por saídas de 14,9%, cujos resultados
associaram-se à imunodeficiência avançada (76,3% com linfócitos TCD4 inferiores a
200 cél/mm3, sendo que destes, 31,3% eram inferiores a 50 cél/mm3) e ao tempo
médio de permanência de 47 dias (p<0,0000001), em que a presença de infecção
hospitalar aumentou em aproximadamente 27 dias o tempo de internação. No
presente estudo, o tempo médio de permanência nos pacientes HIV positivos foi
superior aos HIV negativos (19,42 versus 15 dias), porém o desenho do estudo não
permitiu avaliar se este tempo mais prolongado foi efeito da ocorrência de IH.
A partir de um modelo de regressão logística multivariável, Petrosillo et al
(1999) evidenciaram também entre as variáveis significativas para a ocorrência de IH
em pacientes HIV positivos a contagem de linfócitos TCD4 < 200 céls/mm3 (74,9%
das admissões), além de outros trabalhos que associaram a baixa contagem de
células TCD4 em relação às infecções respiratórias (DONATI et al, 2000; MIGUEZ-
BURBANO et al, 2006) e as ICS (TACCONELLI, 2000; AFESSA; MORALES;
WEAVER, 2001).
A pneumonia foi a topografia de IH que predominou, sendo mais
observada entre os pacientes HIV positivos com associação à ventilação mecânica
exclusiva nestes pacientes, contudo com pouca influência deste procedimento na
incidência de IH. Outro estudo também identificou baixa associação entre a
pneumonia e a ventilação mecânica (TENORE, 2001), isto pode refletir a dificuldade
em estabelecer diagnóstico de pneumonia decorrente de IH e outras doenças
oportunistas (pneumocistose, entre outras).
No relatório de IH de 2001 a 2007 elaborado pela CCIH do HUJBB (2007)
evidenciou-se que esta infecção é a mais notificada entre as clínicas do hospital, das
quais foi mais freqüente nas Clínicas Cirúrgica, Médica e DIP, com uma incidência
geral de 1,75 episódios por 1000 pacientes-dia, representando a IH mais importante
do hospital, o que reflete os resultados encontrados na pesquisa.
Estudo recente, realizado no próprio hospital para identificar fatores
associados com maior risco de desenvolvimento de pneumonia em pacientes que
61
recebem ventilação mecânica na UTI, verificou o uso de paralisantes musculares
(curares) em pacientes ventilados por mais de 48 horas, agindo como agentes
bloqueadores neuromusculares; e o uso de medicações em aerossóis, pela
manipulação do material utilizado neste procedimento e pela possibilidade de
aspiração de microorganismos presentes em biofilmes (tubo endotraqueal, conexões
de respirador mecânico) ou em secreções de orofaringe (MARSOLA, 2005). Tais
fatores poderiam ter influenciado a ocorrência de pneumonia em pacientes HIV
positivos na presente pesquisa.
Outros pesquisadores relatam fatores de risco como nutrição enteral e
presença de sonda nasoenteral, broncoscopia, coma, índice de gravidade e
traqueostomia para aquisição de pneumonias em pacientes com ventilação
mecânica (HEYLAND et al, 1999; ELWARD; WARREN; FRASER, 2002).
Considera-se que os pacientes críticos submetem-se a terapêutica
ventilatória por períodos prolongados de tempo, aumentando o risco de adquirir
pneumonia de 6 a 21 vezes mais, apesar de as bacteremias e infecções ligadas a
cânulas venosas serem menos comuns que as infecções respiratórias, as primeiras
estão associadas com altas taxas de mortalidade (PADOVEZE; DANTAS; ALMEIDA,
2003).
Em uma UTI de um hospital público, verificou-se o acometimento de
pacientes críticos com uma prevalência de 26,6% para pneumonia, sendo que
destes 88% estavam relacionados com o ventilador mecânico. A clientela acometida
consistiu em 16% pacientes oncológicos, 36% pacientes cirúrgicos submetidos à
intubação orotraqueal e 48% pacientes clínicos graves com diagnóstico de admissão
de insuficiência respiratória aguda, determinantes para a dependência de suporte de
oxigênio invasivo (SARAIVA, 2006).
Segundo o DAME do HUJBB (2007), o diagnóstico de admissão mais
freqüente nos pacientes internados na Clínica DIP (HIV e não-HIV) no período do
estudo consistiu em doenças neurológicas (31%), dentre as quais temos a
neurotoxoplasmose, neurocriptococose, meningotuberculose e meningites (fúngica,
bacteriana e viral). Estas doenças provocam mudanças no nível de consciência, com
desorientação e comprometimento da memória; convulsões, estado torporoso,
confusão mental e déficits motores, tendo como conseqüências a depressão
respiratória, fatores de risco para PN.
62
Infecções simultâneas com outros organismos gram negativos, P.carinii,
citomegalovírus ou Candida sp é uma freqüente causa de morte em pacientes com
AIDS. Por outro lado, pneumonia causada por organismos entéricos gram negativos
ocorrem mais frequentemente em pacientes hospitalizados com infecção pelo HIV
(DUSE, 1999). A não avaliação no presente estudo do agente etiológico das
pneumonias impossibilita a relação causal com a letalidade.
A ITU foi a segunda topografia mais freqüente, com maior incidência nos
pacientes não-HIV, entretanto sem significância estatística, apesar disto a influência
da sonda vesical de demora pode estar associado como fator de risco nesse grupo
de pacientes.
Padoveze, Trabasso e Branchini (2002) realizaram um trabalho
semelhante, em que acompanharam, durante um ano, pacientes de uma Clínica de
Doenças Infecciosas cujo número de ITU foi superior em pacientes HIV negativos
(sete casos), do que em HIV positivos (três casos), embora este último tenha
utilizado mais a sonda vesical de demora. Essa infecção é pouco relatada nos
pacientes HIV positivos, apesar da doença (AIDS) causar proteinúria, hematúria
microscópica e nefropatia em alguns casos.
Citam-se como fatores de risco para ITU a presença da SVD, que foi
relevante na pesquisa, além da função anormal da bexiga e a idade elevada
(CRAVEN; CRAVEN; ROSA, 2004), conforme observado no estudo, a faixa etária foi
maior de 50 anos nos pacientes não-HIV. Nunes et al (2007) também refere a alta
prevalência da ITU com o passar da idade (acima de 60 anos) principalmente
associado a co-morbidades como hiperplasia prostática e demência.
Quanto à ICS, esta foi evidenciada por Padoveze, Trabasso e Branchini
(2002) como principal sítio de infecção hospitalar (44%), com a notificação de 25
casos, prevalecendo nos pacientes HIV positivos com uma incidência de 18,4
episódios por 1000 CVC-dia, enquanto que para os pacientes HIV negativos foram
7,39 (p= 0,24). Ainda neste estudo, a população de pacientes portadores do HIV
teve freqüência de utilização de cateter vascular central maior que os não portadores
(596 CVC-dia versus 406 CVC-dia).
No presente estudo houve apenas um episódio de ICS e este não esteve
associado ao CVC. É importante ser citado que a utilização do procedimento
63
invasivo cateter vascular central teve uma baixa prevalência em ambas populações
de pacientes estudadas o que poderia refletir o número baixo das ICS associadas a
estes procedimentos.
Vale ressaltar que durante a pesquisa estava sendo realizado
concomitantemente outro trabalho, de cunho educativo na UTI do HUJBB, em que
Costa (2007) juntamente com a equipe da CCIH do hospital avaliou a eficiência do
Programa de Educação direcionada as medidas preventivas de inserção e
manipulação de cateter vascular central na incidência de infecção associada a esse
dispositivo, o que correspondeu a uma redução de 78% na incidência destas
infecções. A adesão a higienização das mãos, antes dos cuidados de manipulação,
e a realização do curativo do CVC teve uma melhoria significativa (49.5% para
98.5% e 15.4% para 96.9%, respectivamente) [p < .0001]. É possível que estas
ações tivessem reflexo sobre as demais clínicas com mudanças nas práticas de
assistência influenciando de forma positiva as condutas da equipe de saúde.
Outros estudos têm corroborado estes achados positivos a partir de ações
educativas usadas como ferramentas para reduzir ICS associadas à CVC
(SHERERTZ et al, 2000; WARREN et al, 2006; RASKIND et al, 2007).
A letalidade associada com infecção hospitalar foi maior nos pacientes
HIV positivos, sugerindo que nestes pacientes a IH contribui para o agravamento do
quadro clínico com piora do prognóstico e aumento da ocorrência de óbitos. Quando
se considera os diferentes níveis de linfócitos TCD4 o qual é marcador de depressão
da imunidade celular observa-se que a letalidade foi maior nos doentes com
contagens de linfócitos mais baixas. Contudo deve-se considerar que os pacientes
com AIDS têm como principais causas de internação as doenças oportunistas que
ocorrem com níveis de linfócitos TCD4 abaixo de 200 células/mm3 e assim para se
conhecer a real contribuição da IH no aumento da mortalidade destes pacientes
seria necessário estudo com delineamento para tal.
Apesar de ter sido evidenciado a alta incidência de infecção hospitalar em
pacientes HIV positivos em relação aos pacientes não-HIV, um número de limitações
está presente neste estudo.
64
Primeiro, a amostra deveria ser maior, assim como o tempo de estudo
para que fosse encontrado resultados significativos e curvas endêmicas com seus
limites de infecção.
Segundo, não foram avaliados os fatores de risco para IH como, doenças
oportunistas dos pacientes HIV positivos, uso de cateter vascular periférico-dia, co-
morbidades, presença de doenças dermatológicas, tempo médio de ocorrência de
infecção, uso de antimicrobianos e etc.
Terceiro, não houve análise multivariada dos fatores de risco em relação
aos pacientes HIV positivos e negativos.
Quarto, o desenho do estudo não permitiu confirmar a relação da IH com
a imunodepressão acentuada dos pacientes HIV positivos, bem como a letalidade
associada à infecção havendo a necessidade de se ter um grupo controle.
Quinto, não foi realizado avaliação microbiológica dos episódios de
infecção bem como a análise do perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos.
65
Aliança Mundial de Segurança do Paciente - Uma assistência limpa é uma assistência segura. Organização Mundial de Saúde, 2005-2006.
66
7 CONCLUSÃO
- Os pacientes HIV positivos foram mais predispostos a evoluir com infecção
hospitalar que os pacientes não-HIV, de acordo com a taxa de infecção hospitalar
bruta e a taxa de pacientes com infecção hospitalar.
- A letalidade associada à infecção hospitalar foi maior para os pacientes HIV
positivos que nos pacientes não-HIV, apresentando uma contagem de células TCD4
<100célls/m3.
- A ventilação mecânica foi um fator de risco para a ocorrência de pneumonia em
pacientes HIV positivos.
- A incidência de IH nos pacientes HIV positivos reforça o conceito da alta
susceptibilidade desses pacientes às infecções, apesar das condições ambientais e
cuidados assistenciais terem sido semelhantes para os dois grupos, já que foram
admitidos na mesma Clínica e, isto, direciona as medidas preventivas de infecção
hospitalar para os pacientes de risco.
67
REFERÊNCIAS
AFESSA, B.; GREEN, B. Clinical course, prognostic factors, and outcome prediction for HIV patients in the ICU. Chest. 118. 1. p.138-45, july, 2000.
AFESSA, B.; MORALES,I.; WEAVER,B. Bacteremia in hospitalized patients with human immunodeficiency vírus: A prospective, cohort study. BioMed Center Infectious Diseases, 1:13, 2001.
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ESTUDOS E CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - APECIH. Infecções hospitalares no Brasil : uma medida de sua magnitude nos anos 1990 e comparação com os índices europeus. Junho, 2005. Disponível em: <http://www.apecih.org.br/infeccoes_hospitalares.htm>. Acesso em: 5 abr. 2008.
BARROS, C. V. et al. Distribuição dos casos de infecção pelo HIV, de SIDA e de óbitos por essa doença no Estado do Pará de 1985 a 2002. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical , v. 36, p. 474, 2003. suplemento I.
BARBOSA, G.L. Infecção Hospitalar no Centro de Tratamento Intensi vo Geral de um Hospital Escola da Região Sul do Brasil . 2002, 180f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade de Passo Fundo, Porto Alegre, 2002.
BONVENTO, M. Acessos vasculares e Infecção relacionada a cateter. Revista Brasileira de Terapia Intensiva. v. 19, nº 2, p. 227-230, abril-junho, 2007.
BRASIL. Ministério da Saúde. Vigilância Epidemiológica por componentes NNISS. Brasília, 1994.
BRASIL, Ministério da Saúde. Congresso Nacional. Lei nº 9431, de 6 de janeiro de 1997. Dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de programa de controle de infecções hospitalares pelos hospitais do País. Diário Oficial da União ; Poder Executivo, Brasília, DF, 7 jan. 1997.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2616, de 12 de maio de 1998. Controle de Infecção Hospitalar. Diário Oficial da União ; Poder Executivo, Brasília, DF, 13 maio 1998.
BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Guia de vigilância epidemiológica. 5. ed. Brasília: FUNASA, 2002. v. 1.
BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico - AIDS e DST, Brasília, Ano II, n. 1, jan./jun., 2006a.
68
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e AIDS. Recomendações para terapia antiretroviral em adulto s e adolescentes infectados pelo HIV . Brasília, DF, 2006b. 85p.
BREATHNACH, A. S. Nosocomial infections . Disponível em: <http://www.2005.themedicinepublishingcompanyltd>. Acesso em: 30 out. 2006.
BRITO,A.M; CASTILHO, E.A.; SWARCWALD,C.L. AIDS e infecção pelo HIV no Brasil: uma epidemia multifacetada. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. 34: 207-17, 2000.
CAVALCANTE, N. J. F. AIDS e Infecção Hospitalar. In: FERNANDES, A.T. (Ed.). Infecção Hospitalar e suas interfaces na área da sa úde . São Paulo: Atheneu, 2000. p. 683-9.
CAVALCANTI, I.; HINRICHSEN, S. L. Infecção hospitalar: importância e controle. In: HINRICHSEN, S. L. Biossegurança e Controle de Infecções : Risco sanitário hospitalar. Rio de Janeiro: MEDSI, 2004. p. 249-63.
COSTA, M.H.A. Impacto na incidência de infecção relacionada a cat eter vascular central após medidas de educação na Unidad e de Terapia Intensiva do Hospital Universitário João de Barros Barreto. 2007, 124 f. Dissertação (Mestrado) – Núcleo de Medicina Tropical, Universidade Federal do Pará, Belém, 2007.
COUTO, R. C.; PEDROSA, T. M. G. Epidemiologia Hospitalar. In: COUTO, R.C. et al. Infecção Hospitalar e outras complicações não-infec ciosas da doença : Epidemiologia, Controle e Tratamento. 3. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003. p. 93-155.
COUTO, R. C. História do controle da infecção hospitalar no Brasil e no mundo. In: COUTO, R. C. et al. Infecção Hospitalar e outras complicações não-infec ciosas da doença : Epidemiologia, Controle e Tratamento. 3. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003. p. 3 -8.
CRAVEN, D. E.; CRAVEN, K. A.S.; ROSA, F.G. Healthcare-Associated infections in adults infected with human immunodeficiency virus. In: Mayhall, C. G., Hospital Epidemiology and Infection Control. 3. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004. p. 945-68.
DE MORAES, B. A. et al. Epidemiological analysis of bacterial strains envolved in hospital infection in a university hospital from Brazil. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo , v. 42 n. 4, p. 201-7, 2000.
DONATI, K.G. et al. Effect of highly active antiretroviral therapy on the incidence of bacterial pneumonia in HIV-infected subjects. International Journal of Antimicrobial Agents. 16, 357-60, 2000.
DUSE, A. G. Nosocomial infections in HIV infected / AIDS patients. Journal of Hospital Infection. , v. 43, S191-201, Dec. 1999. Suppl.
69
ELWARD, A. M.; WARREN, D. K.; FRASER, V. J. Ventilator-Associated Pneumonia in Pediatric Intensive Care Unit Patients: Risk Factors and Outcomes. Pediatrics , v. 109, n. 5, p. 758-64. 2002.
FERNANDES, A. T. Componentes de vigilância de acordo com a metodologia NNISS. In: FERNANDES, A. T. (Ed.). Infecção Hospitalar e suas interfaces na área da saúde. São Paulo: Atheneu, 2000, p. 1430-46.
FERNANDES, A. T; RIBEIRO FILHO, N. Infecção Hospitalar: Desequilíbrio Ecológico na Interação do homem com sua microbiota. In: FERNANDES, A. T. (Ed.). Infecção Hospitalar e suas interfaces na área da sa úde. São Paulo: Atheneu, 2000, p. 163-214.
FERNANDES, A. T; RIBEIRO FILHO, N.; BARROSO, E. A. R. Conceito, cadeia epidemiológica das infecções hospitalares e avaliação custo-benefício das medidas de controle. In: FERNANDES, A. T. (Ed.). Infecção Hospitalar e suas interfaces na área da saúde. São Paulo: Atheneu, 2000, p. 215- 65.
GARNER, J. S.; et al. CDC definitions for nosocomial infections, 1988. American Journal of Infection Control . v. 16, n. 3, p. 128-40. Jun. 1988.
GOETZ, A. M. et al. Nosocomial infections in the human immunodeficiency virus – infected patient: a two year survey. American Journal of Infection Control , v. 23, p. 334-39, 1994.
GRANDO, L. J. et al. Manifestações estomatológicas, contagem de linfócitos CD4+ e carga viral de crianças brasileiras e norte-americanas infectadas pelo HIV. Revista Pesquisa Odontológica Brasileira , v. 16, n. 1, p. 18- 25, 2002.
GRANDO, L. J. et al. Viral coinfection in the oral cavity of HIV-infected children: relation among HIV viral load, CD4+ T lymphocyte count and detection of EBV, CMV and HSV. Brazilian Oral Research , v. 19, n. 3, p. 228-34, 2005.
GRANT, A.; DE COCK, K. M. HIV infection and AIDS in the developing world. British Medical Journal . v. 322, n. 16, p. 1475-8, Jun. 2001.
HEYLAND, D. K.; et al. The effect of acidified enteral feeds on gastric colonization in critically ill patients: results of a multicenter randomized trial. Canadian Critical Care Trials Group. Critical Care Medicine , v. 27, n.11, p. 2399-2406. 1999.
HINRICHSEN, S. L. Vigilância epidemiológica. In: HINRICHSEN, S. L. Biossegurança e Controle de Infecções : Risco sanitário hospitalar. Rio de Janeiro: MEDSI, 2004. p. 282-85.
HORAN, T.C.; GAYNES, R.P. Surveillance of nosocomial infections. In: Hospital Epidemiology and Infection Control , 3. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004. p. 1659-1702.
HUJBB- HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO. Núcleo de Planejamento. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Relatório Vigilância NNISS Componente Global 2001 - 2007 . Belém, 2007.
70
HUJBB- HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO. Divisão de Arquivo Médico e Estatística. Censo . Belém, 2007.
JARVIS, W. R. et al. Nosocomial infection rates in adult and pediatric intensive care units in the United States. National Nosocomial Infections Surveillance System. American Journal Medical , v. 91, n. 3B, p. 185 S- 91S, Sep. 1991.
LAING, R. B. S. Nosocomial infections in patients with HIV disease. Journal of Hospital Infection. v. 43, p. 179-85,1999.
LISBOA, T. et al. Prevalência de Infecção Nosocomial em Unidades de Terapia Intensiva do Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Terapia Intensiva. 19:4; p. 414-20, 2007.
MACHADO, G. P. M. Aspectos epidemiológicos das Infecções hospitalares. In: MARTINS, M. A. (Coord.). Manual de Infecção Hospitalar – Epidemiologia, Prevenção e Controle. 2. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2001, p.27-31.
MARSOLA, L.R. Fatores de Risco para Pneumonia associada à Ventila ção Mecânica: Estudo de Caso Controle. 2005, 105 f. Dissertação (Mestrado) – Núcleo de Medicina Tropical, Universidade Federal do Pará, Belém, 2005.
MARTINS, M. A. Aspectos históricos gerais. In: MARTINS, M. A. (Coord.). Manual de Infecção Hospitalar – Epidemiologia, Prevenção e Controle. 2. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2001, p. 3-10.
MESIANO, E.R.A.B.; MERCHÁN-HAMANN, E. Infecções da corrente sangüínea em pacientes em uso de cateter venoso central em unidades de terapia intensiva. Revista Latino Americana de Enfermagem, 15(3), maio-junho, 2007.
MICHELIM, L. et al. Dermatoses em pacientes infectados pelo HIV com a contagem de linfócitos CD4. Revista de Saúde Pública , v. 38, n. 6, p. 758-63, 2004.
MIGUEZ-BURBANO, et al. Cellular immune response to pulmonary infections in HIV-infected individuals hospitalized with diverse grades of immunosuppression. Epidemiology and Infection . 134, p. 271-8, 2006.
MIOLA, C. E.; GARBELLOTTO, P. D.; MELLO, S. H. S. AIDS. In: SOUZA, M. Assistência de enfermagem em infectologia . São Paulo: Atheneu, 2000, p. 75-84.
MYLOTTE,J.M.; KAHLER,L.; MCCANN,C. Community-acquired bacteremia at a teaching versus a nonteaching hospital: Impact of acute severity of illness on 30-day mortality. American Journal of Infection Control , v.29, nº1, p.13-19, february, 2001.
NUNES, A.F. et al. Abordagem da ITU em idosos no Pronto-Socorro. Jornal Brasileiro de Medicina. 95 (5): 58-59, maio, 2007.
PADOVEZE, M. C.; TRABASSO, P.; BRANCHINI, M. L. M. Nosocomial infections among HIV- positive and HIV- negative patients in a Brazilian infectious diseases unit. American Journal of Infection Control. v. 30, n. 6, p. 346- 50, Oct. 2002.
71
PADOVEZE, M.C., DANTAS, S.R.P.E., ALMEIDA, V.A. Infecções hospitalares em unidade de terapia intensiva. In: CINTRA, E.A., NISHIDE, V.M., NUNES, W.A. Assistência de enfermagem ao paciente gravemente en fermo . 2º ed. São Paulo: Atheneu, 2003.
PETROSILLO, N. et al. Nosocomial Infections in HIV infected patients. AIDS. v.13, p. 599-605.1999.
PÓ, M. V. et al. O Controle de infecção hospitalar no Brasil e os co nsumidores. IDEC Consumidor, São Paulo, junho, 2006. Disponível em: <http://www.idec.org.br/arquivos/relatorio_ih.pdf>. Acesso em: 5 abr. 2008.
PURO, V. The epidemiology of recurrent bacterial pneumonia in people with AIDS in Europe. Epidemiology Infections. 133, p. 237-43, 2005.
RASKIND, C. H.; et al. Hand hygiene compliance rates after an educational intervention in a neonatal intensive care unit. Infection Control and Hospital Epidemiology , v. 28, n.9, p. 1096-1098, 2007.
RENAULT, C. et al. Perfil dos pacientes HIV positivos atendidos na unidade de referência especializada Casa Dia da Prefeitura Municipal de Belém. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical . v. 36, p. 458. 2003. Suplemento I.
RODRIGUES JÚNIOR, A.L.; CASTILHO, E.A. A epidemia de AIDS no Brasil, 1991-2000: descrição espaço-temporal. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. 37 (4): 312-17, jul-ago, 2004.
ROSSI, P.G. et al. The burden of hospitalized pneumonia in Lazio, Italy, 1997-1999. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 8 (5): 528-36, 2004.
SARAIVA, D.L. Vigilância por componente em Unidade de Terapia Int ensiva de um Hospital Oncológico – Contribuição da enfermagem no controle das infecções hospitalares. 2006. 86p. Monografia (Curso de Especialização em Prevenção e Controle de Infecções Hospitalares) – Universidade do Estado do Pará, 2006.
SHERERTZ, Robert J. et al. Education of Physicians-in-Training Can Decrease the Risk for Vascular Catheter Infection, Annals Internal of Medicine , v. 132, p. 641-648, 2000.
SILVA, L. A. A. Guia prático de terapia intensiva : para estudantes de enfermagem. Ijuí: Unijuí, 2004. 248p.
SILVESTRI, L. et al. Are most ICU infections really nosocomial? A prospective observational cohort study in mechanically ventilated patients. Journal of Hospital Infection, v. 42, p. 125- 133. 1999.
SIMON, V.; HO, D. D.; KARIM, Q. A. HIV/ AIDS: epidemiology, pathogenesis, prevention and treatment. v. 368, Aug. 2006. Disponível em: <http://www.thelancet.com>. Acesso em 30 out. 2006.
72
STROUD, L. et al. Nosocomial infections in HIV- infected patients: preliminary results from a multicenter survellance system (1989-1995). Infection Control and Hospital Epidemiology , v. 18, n. 7, p. 479-85, Jul. 1997.
SZWARCWALD, C. L. CASTILHO, E. A. Estimativa do número de pessoas de 15 a 49 anos infectadas pelo HIV, Brasil, 1998. Caderno de Saúde Pública , Rio de Janeiro, v. 16, p. 135-141. 2000. Suplemento 1.
TACCONELLI, E. et al. Morbidity associated with central venous catheter-use in a cohort of 212 hospitalized subjects with HIV infection. Journal of Hospital Infection , 44: 186-92. 2000.
TEMESGEN, Z.; WARNKE, D.; KASTEN, M. Current atatus of antiretroviral therapy. Expert Opinion Pharmacotherapy , v. 7, n.12, p. 1541- 54, 2006.
TENORE, S. B. Infecção Hospitalar em pacientes com infecção pelo vírus da Imunodeficiência Humana : Análise da incidência e dos fatores de risco. São Paulo. 2001. 102p. Dissertação (Mestrado em Doenças Infecciosas e Parasitárias) – Universidade Federal de São Paulo e Escola Paulista de Medicina, 2001.
TUMBARELO, M. et al. HIV associated bacteremia: how it has changed in the highly active antiretroviral therapy (HAART) era. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes , v. 23, p. 145-51. 2000.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. Hospital Universitário João de Barros Barreto. Coordenadoria de Atividades Acadêmicas, Divisão de Treinamento e Educação Continuada. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Manual de controle de infecção hospitalar . Belém, 2004. 188p.
UNAIDS, OMS. AIDS epidemic update , December, 2007. Disponível em: <http://www.unaids.org> Acesso em 22/01/08.
ZANON, U. Etiopatogenia das complicações infecciosas hospitalares. In: COUTO, R. C.; PEDROSA, T. M. G.; NOGUEIRA, J. M. Infecção hospitalar e outras complicações não-infecciosas da doença : Epidemiologia, controle e tratamento. Rio de Janeiro: MEDSI. 2003. p. 9- 36.
WARREN, David K. et al. A Multicenter Intervention to Prevent Catheter-Associated Bloodstream Infections. Infection Control and Hospital Epidemiology . v. 27, n. 7, p. 662-669, 2006.
WILCOX, M. H.; DAVE, J. The cost of hospital-acquired infection and the value of infection control. Journal of Hospital Infection. v. 45, p. 81-84, 2000.
74
APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARE CIDO
Título da pesquisa: “INFECÇÃO HOSPITALAR EM PACIENTES PORTADORES DO
HIV E NÃO HIV”. Instituições Envolvidas: Núcleo de Medicina Tropical (UFPA) e Hospital Universitário
João de Barros Barreto (UFPA). Esclarecimento da Pesquisa A AIDS é uma doença sexualmente transmitida, causada pelo vírus HIV, a qual determina baixa de resistência do organismo humano, permitindo assim a invasão de micróbios causadores de diversas doenças. Devido essa baixa da resistência e utilização de procedimentos ditos invasivos como, intracath, intubações e outros, a infecção hospitalar (IH) pode ser adquirida durante a internação do paciente no hospital e se manifestar durante esse período ou após a alta. A infecção hospitalar pode levar a um prolongamento no tempo de internação e tem como fatores de risco a gravidade da doença do paciente e a qualidade do tratamento que recebe incluindo a assistência à saúde e a realização de procedimentos invasivos como, sonda vesical de demora, cateter vascular central, cirurgias e etc. A pesquisa sobre incidência de infecção hospitalar em pacientes portadores do HIV visa um melhor conhecimento sobre o número e os tipos de infecções que ocorrem nesses pacientes. A investigação dessa incidência será feita a partir do levantamento de informações contidas no seu prontuário que servirão para o preenchimento de um questionário sobre as condições clínicas, exames laboratoriais e procedimentos invasivos realizados durante a internação. Nenhum exame será diferente daqueles rotineiramente realizados durante o seu acompanhamento. Em caso da contagem de CD4 não ter sido realizada nos três últimos meses, novo exame será solicitado, não havendo risco adicional para a sua saúde. Em nenhuma hipótese serão divulgados dados que permitam a sua identificação, e serão mantidas em segredo as informações relacionadas à sua intimidade. Da mesma forma, deixa-se claro que sua participação é de seu livre-arbítrio, não havendo pagamento pela mesma, podendo, em qualquer momento do estudo, recusar-se a responder quaisquer perguntas, permitir análise e divulgação dos dados contidos em seu prontuário ou de imagens relacionadas à sua pessoa ou a sua doença sem que haja prejuízo no seu atendimento médico e/ou laboratorial.
O(a) Sr(a) tem o direito de fazer qualquer pergunta sobre o estudo.
Danielle de Lima Saraiva COREN: 95522
Pesquisadora responsável Tel: 32016634 / 32891083 COREN: 95522
75
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Declaro que li as informações acima sobre o projeto de pesquisa, “INCIDÊNCIA DE
INFECÇÃO HOSPITALAR EM PACIENTES PORTADORES DO HIV E NÃO HIV”, e
que me sinto perfeitamente esclarecido sobre o conteúdo do mesmo, assim como
seus riscos e benefícios. Declaro ainda que, por minha livre vontade, aceito
participar da pesquisa cooperando com a coleta de dados, as quais só poderão ser
utilizadas em relatórios e publicações científicas.
Belém___/___/___
_________________________________________
Assinatura do sujeito da pesquisa ou do responsável
77
APÊNDICE C
RELAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NA DIP – 3º LESTE / 3º OESTE
LEITO NOME DIAGNÓSTICO PROCED. INFEC.
78
APÊNDICE D - Formulário de Vigilância Ativa NNISS d e Procedimentos
Invasivos
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO
CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
Formulário de Vigilância Ativa NNISS de Procediment os Invasivos
Mês e Ano: ________/___________
Pavimento: __________________ Clínica: ___________________________
...........................Nº de pacientes com:.... ......................
Sonda vesical Cateter Central Ventilador
Data HIV NÃO-HIV HIV NÃO-HIV HIV NÃO-HIV
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TOTAL
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________
_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________
_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________
_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________
_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________
80
ANEXO A - FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR
IH Nº_____ /____
Nome: _______________________________________________ Registro: _____________
Sexo: ( ) M ( ) F Idade: ___a ___m ___d Data de Admissão: ____/___/__ Enf: ______
Serviço: ( ) MED ( ) PED ( ) UTI ( ) CIR ( ) PNEU ( ) DIP
Infecções e Fatores de Risco Relacionados .
Data Infecção: ____/____/_______
AIDS: ( ) Sim ( ) Não
Clínico: ___________ Imunológico: ___________cels/mm3 Virológico: ________ cps/mm
3
ITU: ( ) BA ( ) ITUS ( ) OITU
Sonda vesical: ( ) SIM ( ) NÃO Tempo: ________(dias)
Outra Instrumentação: ( ) SIM ( ) NÃO
Pneumonia : RX: ( ) Confirmado ( ) Possível ( ) Não realizado ( ) Negativo
Ventilação: ( ) Sim ( ) Não Tempo: ________(dias)
ICS: ( ) LC ( ) SC
Cateter Central: ( ) SIM ( ) NÃO Tempo: ________(dias)
NPT: ( ) SIM ( ) NÃO Tempo: ________(dias)
ISC Sítio Específico: _______________________________ ( ) SCIS ( ) SCIP ( ) SCOE
Detectado durante: I ( ) PA ( ) RA ( )
Outras Infecções : Sítio principal: _____________________________
Sítio específico: ____________________________
Procedimento invasivo ( ) Sim ( ) Não Qual: ___________________
Infecção da Corrente Sangüínea Secundária ( ) Sim ( ) Não
Óbito ( ) Sim ( ) Não Relacionado a IH ( ) CO ( ) CA ( )NR ( ) DE
Causa Básica de Internação : ________________________________________________
Data da ( ) alta ou ( ) óbito: ___/___/___ ( ) Internado
81
DADOS LABORATORIAIS IH Nº ____/____ Diagnóstico Laboratorial: ( ) C ( ) A/S ( ) V ( ) N Espécime cultura: __________________________________________________________________
Antibiograma
Patógeno 1 _____________ Gram __________________ Fungo _________________
Patógeno 1 ________________ Gram _____________________ Fungo ____________________
Código do patógeno: ______ ______ Antibiótico
Ácido Nalidíxico (ANX) ______ ______ Amicacina (AMI) ______ ______ Amoxicilina (AMO) ______ ______ Amoxicilina+Clavulanato (CLA) ______ ______ Ampicilina (AMP) ______ ______ Ampicilina+Sulbactam (SUL) ______ ______ Aztreonam (ATM) ______ ______ Cefalotina (CFL) ______ ______ Cefazolina (CFZ) ______ ______ Cefepime (CPM) ______ ______ Cefotaxima (CTX) ______ ______ Cefoxitina (CFX) ______ ______ Ceftazidima (CTZ) ______ ______ Ceftriaxona (CFT) ______ ______ Ciprofloxacina (CIP) ______ ______ Clindamicina (CLI) ______ ______ Cloranfenicol (CLO) ______ ______ Colistina (COL) ______ ______ Eritromicina (ERI) ______ ______ Ertapenem (ERT) ______ ______ Gatifloxacina (GAT) ______ ______ Gentamicina (GEN) ______ ______ Imipenem (IMI) ______ ______ Levofloxacina (LEV) ______ ______ Linezolida (LIN) ______ ______ Metronidazol (MET) ______ ______ Meropenem (MER) ______ ______ Norfloxacina (NOR) ______ ______ Oxacilina(OXA) ______ ______ Penicilina (PEN) ______ ______ Piperacilina (PIP) ______ ______ Piperacilina + Tazobactam (TAZ) ______ ______ Quinupristina+Dalfopristina (QDP) ______ ______ Rifampicina (RIF) ______ ______ Ticarcilina-Clavulanato ((TCL) ______ ______ Teicoplanina (TEI) ______ ______ Tetraciclina (TET) ______ ______ Trimetoprim + Sulfametoxazol (SXT) ______ ______ Vancomicina (VAN) ______ ______
82
ANEXO B - RELAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INVASIVOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO
CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
RELAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INVASIVOS
Enfermeiro (a) gerente: _____________________________ Mês: ______/________ Unidade: ___________________
Sonda vesical Cateter Central Ventilação Mecânica
Data Admissão
Data Alta
Matrícula
Enf/Leito
Nome
Data Instalação
Data Retirada
Data Instalação
Data Retirada
Data Instalação
Data Retirad
a NOTA:
- Os procedimentos invasivos devem estar sob vigilância diária em comum acordo com o médico e equipe de enfermagem do setor. - A equipe de enfermagem, enfermeiro(a) ou técnico assistente ao paciente hospitalizado deve preencher os dados instalação ou retirada/dia. - Este impresso deve ser devolvido protocolado à CCIH ao término do preenchimento da mesma.