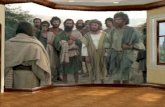UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE … · social, econômica e racial aprofundando o...
Transcript of UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE … · social, econômica e racial aprofundando o...
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL
INGRYD DAIANE SILVA DO NASCIMENTO SOUZA
COTAS RACIAIS: VIABILIDADE PARA O ACESSO À EDUCAÇÃO E OS
DESAFIOS PARA A PERMANÊNCIA DE DISCENTES NEGROS E POBRES DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE - CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE.
NATAL-RN
2017
INGRYD DAIANE SILVA DO NASCIMENTO SOUZA
COTAS RACIAIS: VIABILIDADE PARA O ACESSO À EDUCAÇÃO E OS
DESAFIOS PARA A PERMANÊNCIA DE DISCENTES NEGROS E POBRES DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE - CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE.
Monografia apresentada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como trabalho de conclusão de curso e requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Serviço Social. Orientador(a): Profª. Drª. Ilka de Lima Souza
NATAL-RN
2017
Catalogação da Publicação na Fonte.
UFRN / Biblioteca Setorial do CCSA
Souza, Ingryd Daiane Silva do Nascimento.
Cotas raciais: viabilidade para o acesso à educação e os desafios para a
permanência de discentes negros e pobres do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus São Gonçalo do
Amarante./ Ingryd Daiane Silva do Nascimento Souza. - Natal, RN, 2017.
95 f.
Orientadora: Profa. Dra. Ilka de Lima Souza.
Monografia (Graduação em Serviço Social) - Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Departamento de
Serviço Social.
1. Educação - Monografia. 2. Cotas raciais - Monografia. 3. Política de
assistência estudantil - Monografia. I. Souza, Ilka de Lima. II. Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. III. Título.
RN/BS/CCSA CDU 37:364.67
Dedico esta monografia aos meus amados pais
Iracilda de Oliveira Silva e Marcos Marcelino do
Nascimento, ao meu esposo Ronisson Parcelle e ao
nosso filho Levy ainda no ventre, por serem
coautores da realização desse sonho.
AGRADECIMENTOS
É justo que muito custe o que muito vale!
(Santa Terezinha do Menino Jesus)
Agradeço primeiramente ao meu bom Deus instituído nas três pessoas da
Santíssima Trindade. Por ser sempre o meu refúgio, minha fortaleza e por ter me
sustentado e me guiado até aqui. Pois até aqui ele me ajudou sempre com o seu
Braço Forte, e aqui estou para testemunhar todo o seu amor. Obrigada meu
paizinho e fiel amigo por ter sido o meu amparo e oásis de paz em todos os
momentos que pensei em desistir, nos dias tristes, nas noites mal dormidas e nas
situações de desânimo no decorrer da minha trajetória acadêmica, em ti encontrei e
encontro a paz. Gratidão por tudo!
Ao Espírito Santo por ter sido a minha força espiritual e humana, por iluminar
as minhas faculdades intelectuais e por ter sido a minha fonte de inspiração em cada
palavra contida neste trabalho. O seu sopro diário recriou em mim o desejo de
persistir e lutar pelos meus sonhos, desde o início da caminhada para o ingresso na
tão renomada Universidade Federal do Rio Grande do Norte até a conclusão do
Curso.
Aos meus pais e irmãos, pela confiança depositada. Por todo amor, zelo,
carinho, dedicação e atenção, sobretudo nessa reta final. E por todos os valores e
ensinamentos transferidos, o que sou hoje devo a vocês. Obrigada por tornarem a
minha vida melhor e por acompanhar-me em todas as etapas. Amo
demasiadamente vocês.
Ao meu esposo, amigo e confidente. Pela paciência, amor, cumplicidade,
carinho e compreensão. Por acalmar-me nas situações difíceis ao longo da trajetória
acadêmica, pelas palavras pacificadoras com toque de ânimo e incentivo sempre,
por cada abraço e pelo seu silêncio que tanto me trouxe respostas. Sou grata a ti por
tudo. Amo-te!
Aos meus amigos (as) de longas datas, por compreender as minhas
ausências e pelo apoio expresso em atos e palavras.
Ao meu trio de amigas fruto do curso de Serviço social: Giovana Valêda,
Elouyse Lira e Valessa Martins por tornarem as minhas tardes mais divertidas e pelo
laço de amizade construído que supera os muros acadêmicos.
À turma de Serviço Social 2013.2 (discentes e docentes) por proporcionar
coletivamente a construção de saberes fundamentais para o exercício profissional.
À minha orientadora Drª. Ilka de Lima Souza pela transferência e socialização
de conhecimentos indispensáveis para a consolidação deste trabalho e pela
paciência.
Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades.
(Boaventura de Souza Santos)
RESUMO O trabalho aborda a efetividade da política de cotas raciais para o acesso de estudantes negros, em condição socioeconômica desfavorável, à educação federal, em particular na modalidade de ensino integrado no interior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) campus São Gonçalo do Amarante. Evidencia, ainda, os desafios enfrentados pelos cotistas no tocante à permanência. Objetivou-se, de modo mais geral, apreender e analisar a viabilidade do acesso e desafios relacionados à permanência escolar de estudantes negros e cotistas da modalidade integrada categoria L2 de Institutos Federais do Rio Grande do Norte. Enquanto objetivos específicos delineou-se apreender e analisar um “perfil” socioeconômico dos estudantes entrevistados; identificar e analisar o nível de rendimento e frequência escolar dos estudantes cotistas; verificar e analisar a existência de atitudes discriminatórias no interior dos institutos em decorrência da raça/etnia e situação socioeconômica dos alunos e investigar e analisar os desafios, limites e possibilidades referentes ao sistema de Cotas Raciais quanto ao acesso e permanência de estudantes. A pesquisa teve como base a abordagem quanti-qualitativa, sendo realizadas revisão de literatura, aplicação de questionário socioeconômico e entrevista semiestruturada do tipo face a face com perguntas abertas a estudantes cotistas. Quanto aos resultados, destaca-se que a efetivação das cotas em favor dos negros significa um avanço no campo dos direitos humanos e sociais, bem como colabora com a desestruturação da hierarquização racial e classista instituída historicamente no país. No entanto, apreende-se que a universalização do sistema de cotas ainda não se consolidou, mas contribui com o processo de inclusão de estudantes negros. A política de assistência estudantil tem relação direta com as cotas, pois possibilita um caminho para a materialização do ingresso e permanência do discente cotista.
Palavras Chaves: Educação. Cotas raciais. Política de assistência estudantil.
ABSTRACT The paper discusses the effectiveness of the racial quota policy for the access of black students, in unfavorable socioeconomic conditions, to federal education, particularly in the form of integrated education within the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN) Campus São Gonçalo do Amarante. It also shows the challenges faced by the quotaholders regarding permanence. The objective of this study was to more comprehensively analyze and analyze the feasibility of access and challenges related to the school stay of black students and quota holders of the integrated modality category L2 of Federal Institutes of Rio Grande do Norte. While specific objectives were outlined to seize and analyze a socioeconomic "profile" of the students interviewed; Identify and analyze the level of income and school attendance of quota students; To verify and analyze the existence of discriminatory attitudes within the institutes as a result of the race / ethnicity and socioeconomic situation of the students and to investigate and analyze the challenges, limits and possibilities regarding the Racial Quotas system regarding student access and permanence. The research was based on the quanti-qualitative approach, being carried out literature review, application of socio-economic questionnaire and semi-structured face-to-face interview with questions open to quota students. As for the results, it is worth noting that the implementation of quotas in favor of the blacks means an advance in the field of human and social rights, as well as collaborating with the disorganization of the racial and class hierarchy established historically in the country. However, it is understood that the universalization of the quota system has not yet been consolidated, but contributes to the process of inclusion of black students. The student assistance policy is directly related to the quotas, as it provides a way for the materialization of the entry and stay of the quota student.
Keywords: Education. Racial quotas. Student assistance policy.
LISTA DE TABELAS, GRÁFICOS E QUADROS
TABELAS
Tabela 1 - Distribuição Percentual da População por Cor/Raça, segundo Situação de
Pobreza Definida com Base no Programa Brasil sem Miséria do ano de
2015............................................................................................................................21
GRÁFICOS
Gráfico 1 - Proporção da População de 10 anos ou mais de idade que cuida de
Afazeres Domésticos, por Sexo, segundo Cor/Raça no Brasil –
2015...........................................................................................................................30
Gráfico 2 – Grupo familiar e renda familiar bruta dos cotistas
entrevistados..............................................................................................................72
QUADROS
Quadro 1 - Vagas Diferenciadas IFRN – candidatos de escola
pública........................................................................................................................55
Quadro 2 – Ocupações do provedor da família dos entrevistados e participação
nos programas governamentais, segundo informações fornecidas no questionário
socioeconômico..........................................................................................................73
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IF’s Institutos Federais
IFRN O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Norte
IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira
MEC Ministério da educação
PAE Política de Assistência Estudantil
PNAES Programa Nacional de Assistência Estudantil
PNE Plano Nacional de Educação
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SESC Serviço Social do Comércio
SESI Serviço Social da Indústria
SGA São Gonçalo do Amarante
SUAP Sistema Unificado de Administração pública
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 12
1. UMA ANÁLISE SÓCIO HISTÓRICA DA POPULAÇÃO NEGRA NO CENÁRIO
BRASILEIRO .............................................................................................................. 20
1.1 DÍVIDA HISTÓRICA: BREVE ANÁLISE DOS ELEMENTOS SOCIAIS E
ECONÔMICOS TRANSVERSAIS À POPULAÇÃO NEGRA ........................................................... 23
1.2 O MITO DA DEMOCRACIA RACIAL NO BRASIL .................................................... 32
2. A AÇÃO AFIRMATIVA E AS COTAS RACIAIS ENQUANTO MECANISMO DE
INCLUSÃO DO JOVEM NEGRO E POBRE NOS INSTITUTOS FEDERAIS ........... 39
2.1 A EFETIVIDADE DO SISTEMA DE COTAS RACIAIS .................................................. 43
2.2 COTAS RACIAIS NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO
NORTE - IFRN ................................................................................................................................. 52
3. POLÍTICAS PÚBLICAS NO CAMPO DO NEOLIBERALISMO E A
INDISSOCIABILIDADE ENTRE ACESSO E PERMANÊNCIA DOS DISCENTES
COTISTAS DOS INSTITUTOS FEDERAIS ............................................................... 57
3.1 AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL E A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL: FOCALIZAÇÃO E SELETIVIDADE ......................................................................... 61
3.2 O “PERFIL” SOCIOECONÔMICO E AS CONDIÇÕES REAIS DE PERMANÊNCIA
NO COTIDIANO ESCOLAR DOS DISCENTES COTISTAS DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO
GRANDE – IFRN CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN ................................................. 68
3.3 OS DESAFIOS ORIUNDOS DA RAÇA E DA CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS
COTISTAS DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE – IFRN CAMPUS SÃO GONÇALO DO
AMARANTE......................................................................................................................................78
CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 82
REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 87
APÊNDICE 1- ROTEIRO PARA A ENTREVISTA ..................................................... 92
APÊNDICE 2- QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO ............................................. 93
12
INTRODUÇÃO
A parca representatividade do negro nas esferas da vida social vem sendo
posta historicamente a partir do incisivo rebaixamento desse segmento social no
início do período escravocrata. Perpassando décadas e anos posteriores centraliza-
se na contemporaneidade com novas características e aspectos peculiares ao
tempo presente. Conforme Amaro (1997, p. 22), “Da escravatura até os dias de hoje
poucas alterações foram feitas quanto à marginalização, segregação e condenação
do negro a condições inferiores”.
O que não transmuta é a raiz da problemática racial em torno do negro em
situação de vulnerabilidade sócio econômica, isto é, o negro imerso na pobreza,
pois, embora sejamos maioria no contingente populacional brasileiro ainda
integramos a mais alta parcela pobre. No país, em 2015, mais da metade (53,9%)
das pessoas se declararam de cor ou raça preta ou parda, enquanto o percentual
das que se declaravam brancas foi de 45,2% (IBGE, 2016).
Os inúmeros âmbitos sociais no Brasil funcionam como uma espécie de
segregação social e racial, no qual fomenta progressivamente a hierarquização
social, econômica e racial aprofundando o cerceamento da liberdade do negro, além
de funcionar como uma linha de impedimento para a sua integração. Contudo,
mesmo com esses entraves típicos da dinâmica histórica e social que tanto acomete
os negros, estes buscam com muito esforço atingir o direito de inserir-se nos
espaços da vida social a fim de alcançar patamares além da condição subalterna
nas quais estão historicamente circunscritos.
O campo educacional integra um desses campos, em que a população negra,
paulatinamente, vem alcançando maiores índices de inserção; se antes, em contexto
de escravidão, a educação era vista de maneira utópica e inatingível, por não haver
instituições educacionais destinadas aos negros, atualmente o acesso a instituições
de natureza pública federal torna-se uma possibilidade real, transversal às recentes
políticas públicas implementadas visando reduzir a desigualdade verticalizada de
cunho social e racial entre negros e brancos.
13
Devido às condições de vida desiguais, diminuem as chances de mobilidade
ascensional para os negros. Em vista disso, são poucos os que conseguem chegar
ao topo das carreiras governamentais, universitárias, militares, ou na iniciativa
privada (AMARO, 1997).
Particularmente, neste trabalho, enfocaremos a discussão em torno da
integração do estudante negro na esfera educacional federal por meio da lei
12.711/2012 (sistema de cotas raciais) considerando-a mecanismo primordial e de
incontestável relevância para os beneficiários dessa política, significando o portal de
acesso à educação pública de qualidade em face das violações históricas e
cotidianas contra a população negra.
Ou seja, objetiva-se neste trabalho enfatizar reflexões e análises acerca da
viabilidade das cotas raciais enquanto caminho possível e viável para a ascensão do
negro não apenas no âmbito educacional, mas também nas posições e cargos de
prestígio social, cargos públicos e etc; por oportunizar e abrir caminhos para a
participação e ingresso do negro nas instituições de ensino, as quais,
consequentemente, os preparam para o futuro, ou propiciam uma ampliação de
expectativas em torno deste relacionadas às condições objetivas e subjetivas de
vida.
As cotas raciais possibilitam a uma parcela de estudantes filhos da classe
trabalhadora o tão sonhado acesso à educação pública da rede federal, reconhecida
de alta qualidade, com estrutura e corpo docente qualificado. Todavia, o acesso
dissociado de políticas sociais de permanência e inclusão social não garante o êxito
escolar do cotista, tampouco a garantia de conclusão do curso almejado, existindo
uma longa trajetória para ser trilhada.
Assim, procuramos tecer análises sobre essa dinâmica um tanto contraditória
vivenciada por estudantes negros e pobres, os quais sofrem o peso da desigualdade
em razão de sua cor e condição socioeconômica e que, consequentemente,
encaram desafios na sua rotina escolar. Diante dos pressupostos, levantamos
algumas questões: as cotas raciais são medidas efetivas em favor dos negros? São
suficientes para garantir a permanência do estudante cotista na instituição federal?
Quais as dificuldades enfrentadas pelos discentes cotistas no cotidiano estudantil
14
para permanecer no instituto? A condição socioeconômica e raça/etnia do estudante
traz implicações na trajetória escolar?
Tal cenário sempre nos inquietou, despertando a ideia de discutir,
problematizar, e analisar a efetividade das cotas raciais, evidenciando a realidade
vivenciada por estudantes cotistas para permanecerem na instituição de ensino
federal e, assim, concretizarem o sonho de obter o diploma na perspectiva de
vislumbrar uma inclusão exitosa no mercado de trabalho e, desse modo, “melhoria
de vida”.
Imersa nesse universo enquanto estudante universitária – cotista – da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, enfrentamos, inicialmente,
dificuldades para acompanhar linearmente o ritmo didático-pedagógico no que tange
às leituras, atividades e conteúdos propostos pela instituição de ensino, em virtude
de ser egressa da rede de ensino municipal, ou seja, ter frequentado integralmente
um ensino fundamental público fragilizado.
Outro desafio ou limitações têm relação com o alto dispêndio financeiro, pois,
mesmo sendo uma instituição pública, há aspectos necessários e exigências no dia
a dia da universidade, tais como: custear as cópias de textos, impressões,
transporte, alimentação, e outras necessidades que circundam a trajetória
acadêmica, sendo esse cotidiano de exigências estendido a todos os estudantes.
Todavia, arcar com tais despesas é desafiador e dificultoso para àqueles
desfavoráveis economicamente.
Por outro lado, o acompanhamento das dificuldades enfrentadas por colegas
cotistas, vinculadas à condição econômica, desde a insuficiência de dinheiro para
realizar as impressões solicitadas até a ausência de orçamento para custear a
alimentação na academia, também colaborou para construir em nós inquietações e
motivações indutoras para a aproximação com a temática em tela.
Como resultado das inquietações e motivações pessoais apresentadas, o
objeto do presente trabalho desnuda as Cotas Raciais, evidenciando sua viabilidade
para o acesso à educação e os desafios para a permanência dos discentes negros e
pobres do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) campus São Gonçalo do
Amarante.
15
A delimitação da temática provém dos fatores mencionados e, ainda, da
experiência de estágio curricular supervisionado obrigatório em Serviço Social no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - campus São Gonçalo do
Amarante (SGA) - RN durante o ano de 2016. Nesse período, era comum o contato
com os estudantes cotistas participantes dos programas de assistência estudantil. O
campo de estágio possibilitou a percepção de elementos inerentes ao cotidiano
acadêmico de alguns cotistas, onde é notório e significativo o ingresso e acesso dos
alunos negros de origem popular à educação básica e tecnológica na modalidade
integrado, categoria L21, bem como algumas dificuldades para a sua permanência,
relatadas por alguns estudantes cotistas no setor de Serviço Social, tornando-se
mais evidente durante a entrevista socioeconômica (seleção para os programas de
assistência estudantil) e atendimento individual (demanda espontânea). Essas
aproximações associadas à inserção no campo de estágio colaboraram com a
delimitação do lócus da pesquisa.
Além do campus SGA tinha-se como pretensão prévia executar a pesquisa
também no Campus Zona Norte. A delimitação feita quanto ao IFRN – Campus Zona
Norte provinha da aproximação com uma colega estagiária em Serviço Social na
referida instituição, vista como facilitador de nosso acesso a esse espaço, e pelo alto
quantitativo de alunos cotistas no campus. Porém, essa projeção não foi possível em
razão de impedimentos relativos à dificuldade de comunicação entre a responsável
pela pesquisa, a colega estagiária e a assistente social, além do limitado tempo
previsto para a realização da pesquisa de campo.
Para o processo de sistematização e análise dos resultados da pesquisa
contidos nesse trabalho, elencamos alguns objetivos norteadores. De forma geral,
buscamos apreender e analisar a viabilidade do acesso e desafios relacionados à
permanência escolar de estudantes negros e pobres cotistas da modalidade
integrada categoria L2 de Institutos Federais do Rio Grande do Norte. E,
especificamente, tencionamos traçar e analisar um “perfil” socioeconômico dos
1 A categoria L2 engloba a oferta de vagas diferenciadas para os candidatos de escola pública, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas; com renda ≤ 1,5 salário-mínimo per capta.
16
alunos entrevistados; identificar e analisar o nível de rendimento e frequência
escolar dos alunos cotistas; verificar e analisar a existência de atitudes
discriminatórias no interior dos institutos em decorrência da raça/etnia e situação
socioeconômica dos alunos e investigar e analisar os desafios, limites e
possibilidades referentes ao sistema de Cotas Raciais quanto ao acesso e
permanência de estudantes.
Na perspectiva de melhor organizarmos os procedimentos metodológicos
vinculados à pesquisa desenvolvida, foram delineadas algumas etapas.
Inicialmente, a revisão de literatura visando à construção do conhecimento sobre o
debate teórico e estudos em torno da condição socioeconômica do negro sob o
ponto de vista histórico e social, dos direitos da população negra e da desigualdade
racial e econômica; da política de cotas raciais; da política de educação no Brasil; da
educação enquanto direito social; do acesso e permanência de estudantes de
origem popular à educação, assim como seus entraves entre os estudantes dos
Institutos Federais.
Em outro momento, no decurso da coleta de informações operacionalizamos
a entrevista semiestruturada do tipo face a face – gravadas conforme o
consentimento dos sujeitos entrevistados – favorecendo a interação entre o
entrevistador e o entrevistado, resultando em respostas espontâneas através da livre
participação dos entrevistados. Apreendemos que esse tipo de entrevista colabora
[...] muito na investigação dos aspectos afetivos e valorativos dos informantes que determinam significados pessoais de suas atitudes e comportamentos. As respostas espontâneas dos entrevistados e a maior liberdade que estes têm podem fazer surgir questões inesperadas ao entrevistador que poderão ser de grande utilidade em sua pesquisa (BONI; QUARESMA, 2005, P.75).
A aplicabilidade da entrevista semiestruturada com perguntas abertas
(Apêndice 1) foi fundamental para a aproximação da realidade dos estudantes
cotistas na direção dos objetivos traçados, desvelando a possível existência ou
inexistência de atitudes discriminatórias no interior dos institutos em decorrência da
raça/etnia e situação socioeconômica, além de possibilitar a identificação e posterior
análise dos principais desafios encarados por estes. Superando os objetivos
17
traçados, esse tipo de entrevista, como ressalta os autores acima, direcionou o
surgimento de questões inesperadas e relevantes para o adensamento da pesquisa,
bem como auxiliou no redirecionamento de alguns pontos levantados com cada
entrevistado.
Considerando as perguntas abertas nas entrevistas semiestruturadas, o
entrevistador tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. Por outro lado,
o pesquisador segue um roteiro com questões previamente definidas introduzindo-as
em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. Nessa
metodologia, o entrevistador pode dirigir e direcionar a discussão para o assunto do
seu interesse no momento que considerar oportuno, podendo realizar perguntas
adicionais para esclarecer questões que não ficaram claras na entrevista, caso o
entrevistador tenha “fugido” ao tema ou tenha dificuldades com ele (BONI;
QUARESMA, 2005).
Outra etapa dos procedimentos metodológicos direcionou-se para a aplicação
de questionário (Apêndice 2) concomitantemente com as entrevistas realizados
como os discentes, de modo a delinear e analisar o “perfil” socioeconômico destes.
Para a identificação da frequência e rendimento acadêmico dos entrevistados, no
início almejava-se consultar as informações resguardadas pelo sistema de registro
acadêmico do campus, através do Setor de Serviço Social, todavia, não obtivemos
êxito, pois no período a assistente social do campus estava com pouco tempo
devido à alta demanda.
No que se refere à delimitação dos sujeitos da pesquisa pretendia-se
entrevistar e aplicar o questionário a 3 (três) estudantes do 1º ano do curso de
informática modalidade integrada, categoria L2 (integrado) – haja vista o processo
de estranhamento com o qual se defrontam ao ingressarem no instituto – e 3 (três)
estudantes do 3º ano do mesmo curso, considerando os múltiplos desafios
enfrentados e superados ao longo dos três anos de ensino. Todos, estudantes do
turno vespertino de cada um dos campi supracitados, totalizando 12 (doze)
discentes. Em razão da impossibilidade de efetivação da pesquisa de campo no
campus da Zona Norte, conforme já mencionado, o quantitativo de entrevistados
sofreu uma redução, ou seja, projetamos a realização de entrevista com 6 (seis)
18
discentes do campus SGA do nível integrado de qualquer curso para agilizar a
sondagem e materialização da pesquisa, todavia, tivemos apenas a participação de
4 (quatro) estudantes cotistas. Pois depois de várias tentativas não conseguimos
entrar em contato com os demais, tendo em vista que ao contatá-los o telefone
encontrava-se indisponível. Os entrevistados serão identificados através da
identificação pela letra E padrão e sequência numérica, a saber: E1, E2, E3 e E4.
Em complementariedade e para adensamento da pesquisa, com o intuito de
fugir de toda e qualquer forma de análise meramente pontual utilizaremos a
perspectiva crítica, reflexiva e teórica através da abordagem qualitativa, pois
consideramos esse direcionamento mais viável para nos aproximarmos e
apreendermos aspectos sociais e particularidades inerentes à realidade dos sujeitos
entrevistados. Dessa forma, a referida abordagem metodológica é baliza
fundamental para bom aproveitamento da pesquisa.
Por conseguinte, as ponderações pertinentes neste trabalho pretendem
contribuir com as concepções relativas à condição de vida da população negra a
partir da interface racial versus social e seus desdobramentos na linha do
preconceito, discriminação, segregação, hierarquização e pobreza, e em seguida
sua integração na esfera da educação tecnológica, fomentando a apreensão dos
aspectos experienciados pelos negros em situação de vulnerabilidade social e
estudantes cotistas do Instituto federal no município de São Gonçalo do Amarante-
RN. Colaborando ainda para estudos posteriores na linha das cotas raciais,
enquanto efetivação do direito dos negros, confrontando-se com os desafios
enfrentados pelos estudantes negros e pobres da Rede Federal Tecnológica tanto
da dinâmica social quanto na educacional, posto a insuficiência de trabalhos
acadêmicos que discutam essa temática.
A organização do conteúdo deste trabalho, para além da introdução está
dividida em três capítulos, a saber: 1) refere-se a análise sócio histórica do negro no
cenário brasileiro, com uma breve reflexão acerca dos aspectos socioeconômicos
transversais à população negra no período colonial e na contemporaneidade, além
de apresentar as manifestações racistas que comprovam o mito da democracia
racial no país; 2) incidirá na discussão sobre a ação afirmativa e política de cotas
19
raciais como ferramenta de inclusão dos jovens negros nos institutos federais;
considerando a efetividade de tal política, além de analisá-la no âmbito do instituto
Federal do Rio Grande do Norte; 3) refere-se a análise e reflexão de modo geral do
funcionamento das políticas públicas no campo do neoliberalismo, especialmente a
política de assistência estudantil enquanto política pública no bojo das ações
focalizadas e seletivas, bem como problematizaremos a indissociabilidade entre o
acesso e permanência dos discentes nos institutos federais a partir da apresentação
e análises do resultado da pesquisa. E por fim, as considerações finais em que se
expõe uma síntese das reflexões e análises advindas dos resultados da pesquisa.
20
1 UMA ANÁLISE SÓCIO HISTÓRICA DA POPULAÇÃO NEGRA NO CENÁRIO
BRASILEIRO
Neste capítulo enfatizamos aspectos das condições socioeconômicas da
população negra sob um ângulo histórico analítico a partir da colonização do Brasil,
período fundamental para a análise de questões intrínsecas ao desenvolvimento
social do negro naquela época, bem como na contemporaneidade.
O período colonial marca as primeiras impressões identitárias oriundas do
segmento negro em termos de Brasil em tão alto grau que grandes contribuições
africanas no âmbito da cultura, dança, hábitos e alimentação prevalecem no
cotidiano dos brasileiros. Entretanto, embora a influência cultural negra seja
evidente, o lugar de subsunção ocupado pelos negros durante longos anos de
escravidão não se põe em evidencia no terreno sócio histórico hodierno –
observados no destrato dos governantes para as questões ligadas ao negro, no
discurso meritocrático difundido pela esfera pública e senso comum, etc. –
impedindo a ampliação da compreensão e discussão dos dilemas facejados pelos
negros.
Nesse tocante, é fundamental caracterizar a população negra não somente
considerando os elementos subjetivos, mas, sobretudo, analisando os elementos
objetivos no campo da objetividade do sujeito, a qual construiu e continua
construindo história alicerçada no plano dos condicionamentos. Conforme Marx
(1978), os homens fazem história, mas condicionados à realidade material,
econômica e social existente, isto é, “Os homens fazem sua própria história, mas
não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim
sob aquelas como se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado2”.
As condições objetivas são temporais, delimitam e predispõem o lugar
ocupado pelo negro na sociedade. Foi assim no regime escravista, onde o lugar do
(a) negro (a) era prioritariamente na senzala, nos porões, na cozinha
2 Considerações e afirmação de Karl Marx na obra “O 18 BRUMÁRIO DE LUÍS BONAPARTE”, CAPÍTULO I, p.6, 1978. Para maiores informações acessar a versão disponível em: https://neppec.fe.ufg.br/up/4/o/brumario.pdf.
21
desempenhando serviços domésticos; nas lavouras e em propriedades rurais ou
ainda em atividades relacionadas ao comércio (venda de doces, transporte de
pessoas e cargas) como era o caso dos escravos de ganho a mando dos seus
respectivos “senhores”.
O aprisionamento do negro não se deu apenas do ponto de vista humano
diante da manifestação da violência, mas, de antemão, insere-se no campo
simbólico (lutas, representações, afins) ao impedir por longos anos a participação
social livre e ativa do negro no contexto das relações sociais de modo desprendido
dos ditames senhoriais.
Por outro lado, as novas interfaces das condicionalidades para a ascensão
social e econômica do negro exprimem-se na era contemporânea como
descaminhos para a equidade econômica e racial. Neste ângulo, onde encontramos
a maior parcela negra? No abismo social representado pela linha da pobreza e
miséria.
Decerto, uma significativa massa da população brasileira lidera há anos o
Ranking da pobreza e taxas de analfabetismo, e esses sujeitos em sua maioria são
negros. Guimarães (2012) reitera que existe no Brasil uma equivalência de cunho
estatístico, ideológico e imaginário “entre o preto e a pobreza e entre o branco e a
riqueza”. Tal equivalência pode ser analisada conforme tabela com indicadores do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 2015, expressa a seguir:
TABELA 1 - Distribuição Percentual da População por Cor/Raça, segundo Situação de Pobreza Definida com Base no Programa Brasil sem Miséria
BRASIL 2015
Branca % Negra % Extrema pobreza 1,6 3,6
Pobre 2,0 5,3 Vulnerável 42,7 61,1
Não pobre 53,7 29,9 Total 100% 100%
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2015.
Assim, pretendemos apresentar a travessia do negro na perspectiva histórica,
econômica e social, tendo como ponto de partida as particularidades do modelo
22
escravista no campo do trabalho e demais espaços onde o negro esteve presente.
Posteriormente, a partir da categoria “trabalho” adentraremos no modo de produção
capitalista precursor do trabalho livre assalariado, assim como no modelo produtivo
vigente que carrega em suas nuances características similares ao escravismo. Com
isso, ressaltaremos a sua funcionalidade ideológica, produtiva e seus impactos na
vida da população negra no Brasil. Considerando-se, ainda, a ordem capitalista
enquanto máquina de desapropriação e desigualdade social, a qual atinge a vida
social do negro principalmente na esfera do mercado de trabalho e educação.
Por esse viés, o ciclo da desigualdade social que atinge a população negra
tem como vetor a condição de trabalho a que está submetida em comparação com
os considerados não negros, haja vista que é alarmante a diferenciação salarial e as
atividades exercidas por ambos os grupos, as quais devem ser analisadas também
sob a ótica do racismo e da discriminação ainda arraigados na sociedade.
É comum a notoriedade do ínfimo quantitativo de brasileiros negros nas
profissões formais, nos cargos de prestígio social e cargos políticos; além da
alfabetização tardia e em alguns casos nula, e como se não fosse o bastante o peso
da discriminação racial permanece uma realidade em pleno século XXI.
Posto isto, a discussão a seguir incidirá sobre a implantação da insidiosa
democracia racial no Brasil e suas contradições diante das relações sociais racistas.
Em outro ponto destacaremos a funcionalidade do racismo à brasileira, que deflagra
o mito da democracia racial no Brasil.
23
1.1 DÍVIDA HISTÓRICA: BREVE ANÁLISE DOS ELEMENTOS SOCIAIS E
ECONÔMICOS TRANSVERSAIS À POPULAÇÃO NEGRA
A historicidade do descobrimento e exploração do Brasil colônia pelos
europeus reveste-se de elementos e particularidades indispensáveis para a
compreensão da formação e organização social e econômica dos múltiplos grupos
populacionais brasileiros, particularmente o negro.
No período colonial, por volta do século XVI até o final do Século XIX,
predominava no Brasil o modo de trabalho escravo, o qual marca os anos iniciais da
formação econômica e social do país, demarcada pela atividade econômica
concentrada na extração da cana de açúcar, atividade mineradora, cultivo e
exportação de café.
No primeiro século era marcante a utilização do trabalho indígena, isto é, a
escravização do povo indígena, por meio da qual “cerca de trezentos mil indígenas
foram aprisionados e escravizados, dos quais uma terça parte transportada para
outras capitanias” (PINSKY, 1998, p.18). Em decorrência da dizimação indígena
devido aos intensos conflitos entre índios e portugueses, bem como outros entraves,
para manutenção da exploração ativa do território brasileiro e a exportação dos
produtos nativos foi instalado o tráfico negreiro3, dando início à escravidão negra no
Brasil como um negócio lucrativo, inicialmente embrionário e posteriormente
promissor para a expansão da indústria açucareira e diversas outras atividades em
desenvolvimento.
Com efeito, o tráfico negreiro representou por muitos anos a principal
ferramenta constitutiva do sistema de trabalho escravo brasileiro, onde um maciço
contingente de escravos negros africanos – originários de Guiné, Moçambique e
Angola – eram forçadamente retirados do país de origem e trazidos para o Brasil em
navios com condições deploráveis, para gerir o modo de produção escravista
comandado pelos europeus.
O episódio liminar em tela ficou conhecido como Escravidão, que se configura
como um tipo de exploração e privação da liberdade humana, ou seja, a sujeição
3 De acordo com a concepção de estudiosos no campo da escravidão trata-se da migração forçada de africanos para o Brasil por meio de navios em condições degradantes (PINSKY, 1998).
24
completa de um homem pelo outro, sendo o escravo não apenas propriedade do
senhor, como sua vontade sujeita à autoridade do dono e seu trabalho pode ser
obtido pela força (PINSKY,1998).
Nesse sentido, a escravidão induziu o processo de desenraizamento da
cultura, religião, crença, hábitos e linguagem do negro africano, visto que esse
conjunto de valores foram demasiadamente anulados ao desembocar num país
estranho e viver distante do seu habitat natural. Os senhores de escravos ao
subjugarem o cativo através da extração da força de trabalho involuntária, o trata
como “coisa” e “mercadoria barata”, e estabelece uma relação de poder desigual e
segregada no interior do modo de produção escravocrata. As relações sociais e fim
útil do trabalho que ali se desenrolam servem apenas como meio de subsistência –
para os cativos – e reprodução da mão de obra escrava em benefício dos
proprietários de fazenda, engenhos e lavouras. E, por outro lado, destituem os
escravos de direitos legais. Aliás, o negro não detinha direitos legais; era um ser
humano privado de direitos básicos para a manutenção da vida em sociedade.
Ao longo do Brasil colônia o escravo foi “usado” apenas como valor de uso4,
distintamente do trabalhador livre assalariado da era capitalista a posteriori, haja
vista que teve a sua liberdade anulada ao transformar-se em propriedade por
terceiros. Esse traço social e histórico reúne várias representações reais intrínsecas
ao modo de vida do negro na colônia e que, por sinal, ressurgem na
contemporaneidade com uma nova roupagem.
O escravo recebe em espécie os meios de subsistência necessários para a sua manutenção e essa forma natural está fixada, tanto por seu gênero, como por seu volume, em valores de uso. O trabalhador livre recebe-os sob a forma de dinheiro, de valor de troca, sob a forma social abstrata da riqueza (Marx, 1978, p.64)
Na lógica de apropriação exploratória, a forma de vida e as relações sociais
estabelecidas entre dono (senhor de escravos) e cativos acompanhavam um ciclo
4 O valor-de-uso é o conteúdo material da riqueza em qualquer sociedade, não importa que o produto seja pão ou droga, livro ou arma, e que sua utilidade no consumo leve à destruição; pouco importa ao capitalista seus apegos morais, os valores de uso são úteis! Por essa razão a referência ao valor-de-uso é a do diverso sobre o qual não há medida de comparação: trata-se de qualidade (característica, traço, propriedade, atributo) de um produto e, necessariamente, de variados trabalhos concretos (GRANEMANN, 2009, p.10).
25
de perseguição, maus-tratos, castigos, condenações, violência física, verbal e
psicológica, dentre outras formas de crueldade. Enfatizamos que nesse ciclo as
mulheres escravas sofriam com a exploração sexual comandada por seus
proprietários ao serem usadas involuntariamente como objeto de desejo, satisfação
sexual e procriação.
No eixo do trabalho a mão de obra escrava foi utilizada majoritariamente no
trabalho doméstico – executado pelas mulheres negras – na lavoura, moinhos
através do trabalho braçal, atividades manuais e afins. O trabalho excessivo
estendido por longas jornadas diárias era totalmente nocivo à saúde física e
psicológica do escravo, todavia, para os senhores de escravos isso não importava.
Segundo Pinsky (1998, p. 36), “[...]. Embora houvesse interesse em manter o negro
saudável e apto para o trabalho, não havia a preocupação com sua longevidade”.
Diante de tanta desumanização e injustiça surgiu em um certo momento o
inconformismo e a forte inadequação do negro à escravidão, indutores das revoltas
e constantes fugas. Nesse momento, a fuga surge como principal trampolim para o
alcance da liberdade dos escravos, além de contribuir para a formação de
quilombos5.
Em 13 de maio de 1888 a princesa Isabel sanciona a Lei Áurea com o intuito
de libertar os negros da escravidão. Contudo, no plano sócio histórico, de uma
sociedade alicerçada na desigualdade social e racismo, a legitimidade da primeira lei
em favor dos negros escravos não foi capaz de surtir os efeitos propostos já que não
houve uma preocupação com o futuro do escravo liberto, tampouco garantias legais
para a sua reinserção na sociedade. Isto é, percebe-se que no Brasil, a bússola do
tempo foi incapaz de romper plenamente, ao longo dos séculos, as profundas
marcas históricas das desigualdades social e racial que atinge a população negra,
gestadas em um contexto de escravidão.
Os traços do Brasil colônia retratam explicitamente a condição da população
negra, a qual foi submetida à extrema exploração, humilhação, trabalho excessivo e
escassez latente no que tange aos direitos, ou melhor, direito para as minorias não
5 Os quilombos eram aldeias escondidas e inacessíveis localizadas em pontos estratégicos, os quais reuniam e agrupavam os escravos fugidos das fazendas e casas de família. Os escravos se refugiavam nos quilombos para fugir da exploração e maus tratos os quais eram submetidos.
26
existia. O negro inserido no contexto colonial brasileiro detinha apenas e unicamente
a sua força de trabalho, utilizada como instrumento rentável para os europeus, visto
que os opressores se apropriavam da vida dos negros escravos em função de
interesses particulares.
Era nesse contexto marcado pela ofensiva à vida da população negra que a
sua subjetividade, crença, cultura, sonhos, identidade e direitos fundamentais foram
duramente atingidos ao longo dos anos e preservam-se até hoje, assumindo uma
nova interface. O que representa uma amarga realidade histórica, pois conforme
observa Ribeiro (2015), tivemos no Brasil 354 anos de escravidão, população negra
escravizada trabalhando para enriquecer a branca.
Posteriormente, ocorre uma mudança gradual do trabalho escravo para o
trabalho livre, o que nos permite aprofundar e identificar o lugar do negro brasileiro
na contemporaneidade a partir da análise de elementos que permanecem e de
avanços concretizados. Levando em consideração a herança do passado
escravocrata e sua perpetuação na cotidianidade do negro, bem como os vários
fatores legítimos atuais como o preconceito, a discriminação classista e racial, além
da falta de oportunidades que impedem a ascensão do sujeito negro nos múltiplos
espaços sociais, pois, na sociedade capitalista, o agravamento e propagação da
exclusão, pobreza, preconceito circunscrevem a vida cotidiana de vários sujeitos
sociais, principalmente o negro.
Para auxiliar na compreensão dessa dinâmica social temos o Trabalho como
categoria central e ontológica do ser humano, o qual é detentor do pôr teleológico
que o distingue dos animais.
[...] a vida genérica ou produtiva do ser humano torna-se apenas meio de vida para o trabalhador, ou seja, seu trabalho – que é sua atividade vital consciente e que o distingue dos animais – deixa de ser livre e passa a ser unicamente meio para que sobreviva (QUINTANEIRA; BARBOSA; OLIVEIRA, 2011, p. 50).
Logo, a sociedade capitalista marca o início de um novo processo de
trabalho e produção econômica marcada pela acumulação de capital e riqueza
27
socialmente produzida, criação de mais valia6, criação do exército industrial de
reserva7, alienação8, apropriação do trabalhador enquanto mercadoria e outros
elementos que culminam no acirramento da pobreza e manifestações da Questão
Social9, subsunção, exploração e alienação do trabalhador assalariado, que tem
como principal dirigente o capitalista. Tais questões foram bem observadas por Marx
ao afirmar que “O processo de trabalho é subsumido ao capital (é seu próprio
processo), e o capitalista se enquadra nele como dirigente, condutor; para este, é ao
mesmo tempo, de imediato, um processo de exploração de trabalho alheio (MARX,
1978, p. 51).
No interior do processo mencionado a força de trabalho é regulada através da
mais valia que visa extrair sobretrabalho do trabalhador, sendo capaz de inseri-lo no
ciclo de alienação ao distanciá-lo do objeto produzido, é o que Marx (1978)
denomina de estranhamento entre o trabalhador e sua produção. Assim, o
trabalhador trabalha exaustivamente para enriquecer ainda mais o capital, de modo
que preserva a sua condição de pobreza e de trabalhador assalariado, visto que são
inexistentes os meios concretos para a apropriação igualitária da riqueza produzida.
Outro fator estratégico do capital é o desemprego em grande escala, que alimenta o
exército industrial de reserva.
Nota-se que as transformações estruturais e o delineamento de estratégias
pelo capital no campo do trabalho ocorrem, porém, a ideologia da subsunção e
exclusão que direciona as relações trabalhistas entre capitalista e trabalhador é
6 A mais valia é a produção de valor excedente produzido pelo trabalhador. À luz da concepção de Marx (1988, p. 242, apud GRANEMANN, p. 12) [...] quando o trabalhador opera além dos limites do trabalho necessário, embora constitua trabalho, dispêndio de força de trabalho, não representa para ele nenhum valor. Gera a mais valia, que tem, para o capitalista, o encanto de uma criação que surgiu do nada, o qual apropria-se do valor excedente. 7 O exército industrial de reserva é resultado do processo de acumulação capitalista e congrega o conjunto de trabalhadores parcial ou temporariamente desempregados, isto é, os considerados sobrantes. 8 O fundamento da alienação, para Marx, encontra-se na atividade humana: o próprio trabalho. Ele ainda referencia às manifestações da alienação na sociedade capitalista. De acordo com Marx, o fato econômico é o estranhamento entre o trabalhador e sua produção e o seu resultado é o trabalho alienado (QUINTANEIRO, BARBOSA; OLIVEIRA, 2009). Por outro lado, Lessa (1999) a considera processo social onde a humanidade no seu processo de reprodução, produz sua própria desumanidade, ou seja, é o construto social de desumanidade pelo próprio homem. No Brasil o termo alienação é denominado de várias maneiras a partir da perspectiva teórica de cada autor. 9 Em resumo a Questão social é o conjunto das inúmeras expressões da desigualdade social advindas do modo de produção capitalista. Esse conceito é melhor discutida adiante no capítulo 3.
28
preservada e afeta de forma intensificada o segmento negro, sobretudo desde o
início da estruturação capitalista que durante o seu processo de formação priorizou e
valorizou o trabalhador branco ao invés de homens negros livres para a execução do
trabalho assalariado. Como afirma Martins (2012, p. 456),
[...]. Numa conjuntura em que o processo de constituição capitalista se efetivava, o trabalho assalariado se coloca numa direção essencialmente deformada e excludente, de valorização do trabalhador branco (o imigrante europeu) como símbolo da redefinição social e cultural do trabalho no país. Daí porque a constituição do capitalismo no país, ao imprimir a exploração como condição fundamental da lógica capitalista, imprimiu nessa lógica a discriminação racial como insígnia do modo de produção baseado no trabalho livre.
A exclusão produzida inicialmente pelo capital tem caráter essencialmente
cultural e racial, o qual visava disseminar a cultura do branqueamento e refazer o
Brasil nos moldes Europeus (MARTINS, 2012). De tal modo, que se tornam
pertinentes os efeitos e a propagação da exclusão, discriminação racial e
preconceito incisivo sobre o negro no mundo do trabalho e em outros âmbitos
sociais almejados, revelando o ranço do passado escravocrata e as nuances
discriminatórias do presente.
Ademais, mesmo com as mudanças temporais no mundo do trabalho, a
situação subalterna envolvendo a população negra na sociedade brasileira continua
em termos de acesso à educação, ao mercado de trabalho, à ocupação de cargos
considerados como de maior prestígio social e assim por diante. Como já dito, diante
da dinâmica social, pensar no negro em seu ciclo de desapropriação de bens
materiais e sociais para sua reprodução social sugere posicioná-lo não apenas na
dinâmica social escravocrata, mas também centralizá-lo nos espaços da vida social
e camadas sociais na contemporaneidade.
De acordo com dados recentes relativos ao ano de 2015 coletados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 53,9% dos brasileiros
se autodeclararam pretos ou pardos, enquanto que o percentual dos que se
declaravam brancos foi de 45,2% (IBGE, 2016). Esses indicadores apontam
29
estatisticamente o percentual de pretos e pardos10 constituintes do país, isto é, a
maioria da população brasileira é formada por sujeitos negros (pretos e pardos).
No entanto, embora o negro seja maioria no Brasil são recorrentes as
discrepâncias na desigualdade social e econômica entre brancos e negros, as quais
merecem bastante atenção para a compreensão da totalidade social. Os negros
ocupam múltiplas esferas sociais, algumas em maior e outras em menor grau.
Todavia, não basta apenas visualizar a ocupação do negro em certos espaços, urge
visualizá-lo no que tange à participação, protagonismo e ascensão nos distintos
espaços da sociedade.
Nessa linha, adentraremos na discussão acerca da inserção e posição do
negro em alguns espaços no cerne da realidade brasileira, as quais identificamos a
parca e contundente presença do negro no mercado de trabalho, em ocupações
evidenciadas na sociedade como de prestígio social e no campo educacional.
No mercado de trabalho a grande massa da população negra defronta-se
apenas com duas portas de ingresso para inserção no universo do trabalho: O
trabalho precário ou o desemprego. A maior parcela desempenha majoritariamente
funções informais com maior grau de precariedade desencadeando implicações para
o trabalhador através da isenção de garantias trabalhistas, vínculos frágeis, carência
e desmonte dos direitos trabalhistas, jornadas de trabalho extensas e baixa
remuneração, a saber: serviços domésticos, ambulantes, autônomos, serviços de
limpeza e demais atividades correlacionadas, e os demais compõem o exército
industrial de reserva em razão do desemprego.
Dentre as ocupações citadas, destacamos as atividades domésticas, que
anteriormente, na época escravocrata era assumida unicamente pelas mulheres
negras, de modo que as brancas ocupavam o patamar da nobreza. Na atual
conjuntura, nota-se a prevalência dos serviços domésticos exercidos em maior
10 A classificação racial atualmente empregada pelo IBGE distingue as variedades pela característica “cor da pele”, que pode ser branca, preta, amarela e parda, a única exceção sendo a categoria indígena, introduzida no Censo Demográfico 1991. Ela deriva da classificação usada no primeiro Recenseamento do Brasil, realizado em 1872, quando a forma mais comum para classificar pessoas segundo as raças era pela cor da pele, sendo preta, parda e branca as cores mais frequentes, razão de terem sido usadas assim naquele censo, que possuía, ainda, a categoria caboclo para identificar os indígenas. As categorias preta. Características Étnico-raciais da População: Classificações e identidades e parda eram as únicas aplicáveis à parcela escrava da população, embora pudessem também enquadrar pessoas livres, assim nascidas ou alforriadas. (OSORIO, 2013, p.87)
30
índice por mulheres negras. Vejamos o gráfico abaixo em índices percentuais
extraídos do IPEA.
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2015.
O IBGE (2014) demonstra que das pessoas de 16 anos ou mais de idade
ocupadas em trabalhos informais por cor ou raça no Brasil 48,4% são pretos e
pardos, enquanto 35,3% são brancos. A inserção do negro nas ocupações informais
sem carteira assinada associa-se aos elevados índices de analfabetismo e
insuficiência de oportunidades no mercado de trabalho, o que implica na
desigualdade de renda, isto é, na baixa remuneração e, consequentemente, na
ausência de garantia trabalhista legal e proteção social. E ainda atrelado a isto,
estes sujeitos podem vivenciar a precarização nas condições de vida nos mais
diversos sentidos: habitação, alimentação, saúde, educação, e etc.
Para ilustrar o exposto, em conformidade com o IBGE (2015), pretos ou
pardos representavam, em 2015, 75,5% das pessoas com os 10% menores
rendimentos (contra 23,4% de brancos), ao mesmo tempo em que eram apenas
17,8% das pessoas no 1% com os maiores rendimentos, contra 79,7% de brancos.
As oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho para cargos de chefia,
coordenação, atividades formais (carteira assinada) e afins tornam-se
cotidianamente limitadas e até mesmo escassas na vida social do negro, haja vista
85
86
87
88
89
90
Branca Negra
GRÁFICO 1 - Proporção da População de 10 anos ou mais de idade que cuida de Afazeres Domésticos, por
Sexo, segundo Cor/Raça no Brasil - 2015
Sexo Femino %
31
que o mercado é seletivo e excludente e tende a levar em conta a aparência física,
inclusive a cor, de modo que a população negra no mercado de trabalho vivencia
uma menor chance de ingresso, se comparado ao branco. Compreende-se que isso
ocorre por questões puramente discriminatórias e preconceituosas do ponto de vista
racial que redoma o cotidiano desses sujeitos. Ou seja, o racismo velado, ou não,
atrela-se às relações de trabalho e, com isso, contribui com a produção do
desemprego e a exclusão da classe trabalhadora negra em cargos elevados e em
profissões com maior reconhecimento social.
Em relação à educação, a presença do negro tem sido mostrada como
gradual e simultaneamente significativa, considerando-se alguns avanços atuais.
Porém, a luta é constante em vista dos muitos avanços que ainda precisam ser
atingidos para a inclusão igualitária e representativa do negro no âmbito
educacional. Pois, o sistema educacional frequentado pelo rico e branco é
completamente distinto da escola frequentada pelo pobre e negro, ambas oferecem
condições de ensino diferenciadas (PINSKY, 1998). Geralmente, este último insere-
se na rede escolar pública precária em vista da insuficiência de professores e
estrutura instável, o que resulta na construção de aprendizagem inadequada e
redução de possibilidades de construção de diferentes e variadas perspectivas de
vida, incluindo o ingresso no ensino superior e no mercado de trabalho seletivo e
competitivo.
Por outro lado, o primeiro grupo tem mais acesso às escolas de natureza
privada com professores quase sempre mais qualificados e disposição de estrutura
apropriada para a aprendizagem adequada do discente. Essas diferenças em nível
da educação formal são comuns e facilmente identificadas na ordem neoliberal
através da mercantilização da educação.
Em suma, a pobreza retrata o pano de fundo histórico da população negra,
com início no contexto colonial onde os escravos viviam no ciclo intermitente de
desapropriação de bens materiais e em péssimas condições de sobrevivência.
Enquanto que os europeus assumiam a posição do topo da pirâmide econômica ao
concentrar os bens produzidos, poder e dominação.
32
Com o avançar dos anos o negro não conseguiu romper com a pobreza, nem
com o abismo social entre estes e os brancos, seja na esfera pública ou privada da
dinâmica social, mas são reconhecidas algumas conquistas ávidas e históricas.
Desse modo, o movimento é de retrocessos e ao mesmo tempo de avanços, e com
isso desponta-se o fortalecimento da luta coletiva diante da atual condição da
população negra no Brasil.
1.2 O MITO DA DEMOCRACIA RACIAL NO BRASIL
O debate conceitual em torno da definição de “raça” feita por sociólogos,
antropólogos e intelectuais é de caráter extenso, distinto e por vezes complexo,
distanciando-se de uma definição unilateral.
Do ponto de vista científico biológico é compartilhada a ideia pautada na
inexistência de raças biológicas, isto é, defende-se a tese da existência de apenas
uma raça: A raça humana (homo sapiens). No entanto, para legitimar as
desigualdades de oportunidades e tratamento – dirigido ao negro pelo fato de ser
negro – preexistentes na sociedade brasileira é fundamental entender o peso efetivo
acerca da ideia de raça na sociabilidade brasileira (GUIMARÃES, 2012).
A ideia de raça defendida neste trabalho supera os pressupostos científicos
acerca do conceito de raça na linha biológica, haja vista que não há raças humanas.
Cabe aqui centralizar analiticamente a concepção de raça no universo social como
espaço imprescindível para a sua plena efetivação e materialização dos elementos
políticos e culturais que as constituem, além de auxiliar na classificação e
organização dos grupos sociais.
É no plano social que identificamos a existência dos multifários grupos
sociais, os quais assumem identidades raciais a partir de parâmetros derivados da
ideia de raça, assim a utilização da categoria raça com ênfase em seus marcadores
no plano sociológico é relevante posto que as desigualdades, hierarquias sociais,
discriminação e diferenças correspondem ao ideário de raça e alveja os grupos
oprimidos (GUIMARÃES, 2012).
33
De acordo com ponderações “superficiais” feitas por alguns autores, assim
como a propagação do senso comum, a definição de “Raça” ainda é a mesma de
séculos atrás ao classificá-la apenas como subdivisão de grupos humanos,
determinada pelo conjunto de características fenotípicas, principalmente a cor da
pele. Essa categorização estrita delimita o verdadeiro significado de raça no campo
sociológico.
Sobre o Brasil, entre os anos de 1930 a 1970, Guimarães (2012) observa que
as raças foram abolidas do discurso popular e, concomitantemente, houve o
crescimento da discriminação de cor. Em razão disso os negros elevaram o discurso
identitário e retomaram a categoria racial como mecanismo de combate e luta contra
o racismo.
Segundo Guimarães (2012) alguns intelectuais defendem a concepção de
que na América Latina e particularmente no Brasil predominam apenas “grupos de
cor”, ao contrário de grupos raciais, uma vez que a cor é posta como vetor
influenciador das atitudes preconceituosas com pessoas de cor negra e não pela
origem racial. Esse tendencioso ideário anula a existência do racismo11 ao dar
espaço ao antirracialismo12.
Todavia, Guimarães (2012) se opõe a tais concepções e argumenta que a
classificação dos sujeitos por grupo de cor é subsequente a uma ideologia em que a
cor compreenda algum significado. Ou seja, para que a cor de algum indivíduo
exista é fundamental a ideologia de “raça”.
Nas ciências sociais centraliza-se a categoria “raça” como conceito sócio
histórico e não meramente biológico criado ao final do século XV e início do século
XVI. Nesse período os europeus estabeleceram com outros povos a hierarquização
cultural e fenotípica, onde o primeiro ficava no topo e os demais eram distribuídos na
base. Em face da negação exacerbada da existência biológica de raças e a
disseminação do antirracialismo urge a necessidade de teorizar as “raças” visando a
11 Na visão de Guimarães (2009) É o estranhamento dos negros presentes em todas as classes sociais. Para ele a perpetuação do racismo ocorre através de restrições fatuais da cidadania, por meio da imposição de distâncias sociais criadas por disparidades de renda e educação, e ainda através das desigualdades sociais que cinde brancos de negros e ricos de pobres. 12 O antirracialismo consiste na visão que nega a existência da raça enquanto construção social.
34
ampliar o entendimento acerca do conceito e relacioná-la a uma forma de identidade
social.
Pois bem, é justo aí que aparece a necessidade de teorizar as “raças” como elas são, ou seja, construtos sociais, formas de identidade baseadas numa ideia biológica errônea, mas socialmente eficaz para construir, manter e reproduzir diferenças e privilégios. Se as raças não existem num sentido estrito e realista da ciência, ou seja, se não são um fato do mundo físico, elas existem, contudo, de modo pleno, no mundo social, produtos de formas de classificar e de identificar que orientam as ações humanas” (GUIMARÃES, 2012, p. 67).
Em outras palavras as diferenças fenotípicas por si só não classificam grupos
raciais do ponto de vista biológico, sendo imprescindível integrá-las na construção
socioculturais e condicionantes ambientais. Pois é a partir da ascensão intelectual e
reconceituação da categoria raça que se abre o leque dos determinantes e formas
de sustentação da segmentação de determinados grupos raciais pautado na
desigualdade de tratamento pela égide do racismo e discriminação racial.
O estudo das relações raciais no Brasil também compreende a cor e o status.
Assim, para a análise da discriminação e do racismo, adentrar no significado,
particularidades e nos pontos relacionais entre estas é ressignificar a relevância do
estudo da raça como um dos pressupostos da desigualdade social e racial,
manifestação racista e discriminação racial.
A definição de Cor no sentido ampliado ultrapassa a tonalidade de pele do
sujeito, ao abarcar outros traços físicos como tipo de cabelo, formato dos lábios,
nariz e congêneres, abstraídos da raça. Não obstante, no Brasil a conotação de cor
disseminada, compreendida e utilizada costumeiramente pela grande maioria da
população baseia-se exclusivamente no tom da pele.
Em 1872, nos primeiros dados censitários realizados no Brasil, o uso da cor
com vistas a classificar a população brasileira contemplou apenas quatro grupos de
cor: branco, preto, pardo e caboclo. Essa classificação manteve-se por longos anos
e somente a partir do ano de 1991, com a inserção da classificação de “cor ou raça”,
houve mudanças nos agrupamentos e a criação de uma nova composição que
compreende os considerados branco, preto, pardo, amarelo e indígena.
35
O significado analítico das categorias raça e cor perpassa as relações
hierárquicas infundidas no Brasil nas relações escravistas pertencentes ao sistema
de castas e na sociedade contemporânea por meio das classes sociais, ambas
estruturas sociais rígidas de segmentação, hierarquização e verticalização.
Guimarães (2009, p. 107), ao partir da concepção de Wanner afirma que “[...] tanto
classes quanto castas são camadas de uma estrutura vertical. As diferenças da
casta em relação à classe estão na (i) endogamia e (ii) na ausência de mobilidade
social”. A endogamia, referente à proibição de casamento ente os membros desses
dois grupos (classes sociais e castas), e a ausência de mobilidade social,
relacionada à “ausência de oportunidades para assunção dos integrantes do grupo
inferior para o superior, ou declínio dos integrantes do grupo superior para o inferior”.
Contudo, embora as bases relacionais das classes sociais sejam mais
flexíveis em comparação à sociedade de castas, a relação estabelecida entre ricos e
pobres, brancos e negros se apresenta de modo diferenciado e desigual em
consonância com as peculiaridades sócio históricas de cada grupo no cenário
brasileiro.
Logo, percebemos que a transversalidade entre raça, cor e classes logra a
inconsistência da democracia racial no Brasil, termo instituído numa tentativa de
anular a relevância do reconhecimento do racialismo no país, além de estabelecer a
ideologia de um país isento de racismo e discriminação racial. Nessa perspectiva,
seria
[...] falso afirmar que o Brasil não é um país racista. Viver nesta afirmação não se trata somente de “tapar o Sol com a peneira”, mas de continuar permitindo um quadro social que favorece uma população de elite e branca, ou, pelo menos, de pessoas que se identificam com isso (SILVA, 2014).
Como apresentado, no bojo das relações raciais o preconceito, discriminação
e racismo são ferrenhamente intitulados. Nesse sentido, Guimarães (1995) assevera
que o preconceito e a discriminação se referem à ideia de "raça" de forma central,
assim as outras diferenças possíveis são impressões representativas de "raça". A
hierarquia social não poderia manter um padrão discriminatório sem as diferenças
36
raciais, então, apenas nos casos que contemplam o preconceito e a discriminação a
partir de pressupostos raciais pode-se falar de racismo.
De maneira particular, o racismo brasileiro do século XXI tem origem no
sistema de sobreposição racial escravista, responsável pela elevação (material e
simbólica) do branco europeu e, em contrapartida, a subalternidade (material e
simbólica) dos negros. Na atual conjuntura, a manifestação do racismo ocorre em
qualquer hora e lugar não havendo regras duras capazes de contê-lo, pois as leis de
combate ao racismo são inoperantes.
Para ilustrar a discussão com intuito de embasar a afirmação de que o Brasil
é um país racista e bastante distante da democracia racial apresentaremos a seguir
três casos reais de vítimas do racismo estrutural no Brasil,13 que na época de suas
ocorrências tiveram grande repercussão midiática.
Caso A – Futebol e racismo: O Jogador de futebol “Aranha” durante a sua
participação em um jogo de futebol sofreu insultos racistas ao ser chamado de
“macaco” pelos torcedores, o caso ocorreu em 2014.
Caso B – Policial confundido com ladrão por ser negro: Policial militar foi vítima
de racismo em um supermercado em Vitória do Espírito Santo, sendo obrigado a
despir-se para provar que não havia roubado os vinhos que ele tinha comprado. A
vítima declarou que os seguranças o confundiram com ladrões, por ser negro e estar
usando bermuda e chinelo.
Caso C – Racismo e Emprego: O presidente da multinacional Bayer no Brasil
denuncia um caso de preconceito racial contra um amigo negro. O presidente
declarou que um colega ao se submeter a uma entrevista de emprego teve seu
currículo avaliado pelo entrevistador. Após a análise do currículo e verificação da
origem étnica do entrevistado, o entrevistador negou-se a continuar a entrevista
comentando com uma pessoa do RH que não sabia desse detalhe e que não
entrevistava negros.
13 Para a apreensão dos casos mencionados, utilizamos as seguintes fontes, a ver: \\http://exame.abril.com.br/brasil/5-casos-de-racismo-que-chocaram-o-brasil/ -http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1871118-nao-entrevisto-negros-a-vitima-da-denuncia-viral-que-expos-preconceito.shtml.
37
Dado o exposto, percebemos que de maneira fantasiosa, sob a percepção
europeia, estadunidense e francesa o Brasil foi visualizado como uma nação
ausente de impedimentos para a ascensão de pessoas negras, sendo assim,
também, um país isento de preconceito e discriminação racial, visto como o “paraíso
racial” – expressão anterior à democracia racial. Essa falsa percepção auxiliou a
difusão de um Brasil livre do racismo (GUIMARÃES, 2012).
A democracia racial continua a existir no Brasil apenas no plano abstrato, pois
no solo concreto das relações sociais a sua presença é quase nula numa sociedade
revestida de profundos ataques contra os negros e sobreposição de raças, cor e
classe social, os quais são materializados através de práticas cotidianas muitas
vezes naturalizadas e evidenciadas na diferenciação de tratamento entre negros e
brancos, pelas ofensas proferidas aos sujeitos com tom de pele escuro, pela
exclusão recorrente do negro nos espaços sociais em virtude de sua raça e outras
situações.
O modo natural como manifestações de racismo e de discriminação são
tratados no Brasil fomenta a hierarquização social entre os membros da sociedade,
elevando o prestígio e status dos brancos e inferiorizando a raça negra. Pois, [...]
quando a ideia de uma ordem natural limita formações sociais, emergem sistemas
hierárquicos rígidos e inescapáveis”, parecendo ser, o processo de naturalização de
fenômenos sociais “um traço comum a todas as hierarquias” (GUIMARÃES, 1995, p
31).
Pois bem, a vigência da ordem natural, bem como a sua disseminação na
sociedade delimita a suplantação da formação social aparente para a essência dos
elementos históricos e sociais inerentes ao processo de formação dos sujeitos, haja
vista que a naturalização e o pragmatismo das relações raciais no âmbito brasileiro
fortalece a desigualdade social e racial, elevando grupos raciais historicamente
aceitos e subordinando outros que permanecem nas bases sociais. Como bem
observa Guimarães (2012, p. 60), a respeito, “[...] a demonstração de que as
desigualdades sociais entre brancos e negros têm, no Brasil, um fundamento racial
inegável”.
38
Entende-se que a ideia de democracia racial brasileira em contraponto com o
racismo institucionalizado denota a incongruência imbuída na concepção acerca das
relações raciais no Brasil. Por isso, considera-se que a democracia racial no Brasil
configura-se como conceito mitológico (mito) num país que viola constantemente
não apenas os direitos do negro - sobre o qual o estigmatiza, o oprime e o acusa em
razão de sua raça/cor – mas, também dos demais grupos sociais (mulheres,
crianças, população LGBT, idosos, negros) vulneráveis à violência, ao desemprego
e ao preconceito.
Contudo, apesar das constantes violações contra os direitos e conquistas da
população negra, vem ocorrendo nos últimos anos, embora de forma gradual a
frequência de alguns sujeitos pertencentes ao grupo na educação de nível superior e
técnica. Essa inclusão representa uma conquista recente desencadeada pela luta do
segmento negro e iniciativa Estatal culminando na formulação e implantação da
política de ação afirmativa (nº 12.711/2012) sob a perspectiva de efetivar os direitos
humanos em favor do negro e corrigir as desigualdades sócio históricas
preexistentes. Dessa forma, a política de cotas para negros funciona como
mecanismo educacional integrativo nos institutos federais ao viabilizar a entrada de
sujeitos negros oriundos da classe trabalhadora.
39
2. A AÇÃO AFIRMATIVA E AS COTAS RACIAIS ENQUANTO MECANISMO DE
INCLUSÃO DO JOVEM NEGRO E POBRE NOS INSTITUTOS FEDERAIS
Para o debate acerca dos direitos e políticas no campo educacional,
sobretudo na educação técnica profissionalizante torna-se crucial realizar uma breve
apresentação sócio histórica da trajetória educacional brasileira, dos dilemas
enfrentados no processo de institucionalização da educação como direito universal,
assim como o surgimento das novas necessidades educacionais modernas
associadas às recentes políticas de inclusão das chamadas minorias.
Na década de 1940 a educação profissionalizante destinava-se
exclusivamente à classe trabalhadora e aos seus filhos, com o objetivo de formar
mão de obra especializada para o novo mercado de trabalho, as indústrias, e
setores de serviços e comércio. Nessa época, são implementadas as escolas
indústrias: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Social da
Indústria (SESI), Serviço Social do Comércio (SESC) e as Escolas de Aprendizes e
Artífices; instituições unificadoras do ensino profissionalizante no Brasil (SOUZA;
OLIVEIRA, 2016).
No interior dessas instituições circulava a perspectiva de educação
filantrópica e assistencialista direcionada às famílias menos favorecidas social e
economicamente, caracterizando-se como estratégia estatal em sintonia com as
indústrias a fim de alimentar a lógica de produção e reprodução das relações
capitalistas. Em contrapartida, os filhos da elite tinham acesso à educação
secundária, com maior embasamento intelectual à formação. Essa hierarquização
educacional desigual contribui para o enrijecimento das relações de poder e
superposição de uma classe em relação à outra, materializada na divisão de classe
(SOUZA; OLIVEIRA, 2016).
Para Souza e Oliveira (2016), somente em 1946 a educação de nível primário
amplia o seu acesso, ao aparecer pela primeira vez na Constituição Federal
Brasileira enquanto direito gratuito destinado a todos os cidadãos, isto é,
independentemente de possuir recurso financeiro ou não, sendo o Estado o órgão
responsável pelo provimento dessa educação aos estudantes menos favorecidos
40
social e economicamente. No marco legal brasileiro contemporâneo a educação
configura-se como direito de todos, dever do Estado e da Família. Ao contemplar a
educação enquanto direito social, a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 205,
ressalta:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988).
Tendo como ponto de partida o Art. 205 inerente à Constituição Federal de
1988, nota-se a responsabilidade educacional delegada à sociedade, à família e ao
Estado, cabendo de modo preliminar ao Estado a garantia efetiva da educação
cidadã, inclusiva e preparatória através de mecanismos legítimos, capazes de
contribuir com aprendizado intelectual e cidadão; os demais atores sociais
colaboram secundariamente com o desenvolvimento educacional dos sujeitos.
Nesse contexto formado por uma nova conjuntura e nova Constituinte, urge
também a necessidade de reelaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Brasileira (LDB/1961) com vistas a atender os novos interesses educacionais do
modelo de sociedade vigente, o qual passa a constituir o texto legislativo logo após a
sua aprovação no ano de 1996.
A LDB 9394/96 é a legislação que regulamenta o sistema educacional (público ou privado) do Brasil (da educação básica ao ensino superior). Na história do Brasil, essa é a segunda vez que a educação conta com uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que regulamenta todos os seus níveis. A atual LDB 9394/96 reafirma o direito à educação, garantido pela Constituição Federal, além de estabelecer os princípios da educação e os deveres do Estado em relação à educação escolar pública, definindo as responsabilidades, em regime de colaboração, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (PACIEVITCH, 2017).
Posteriormente, foi criado o Plano Nacional de Educação (PNE) respaldado
pela LDB/1996 e determinado de acordo com alguns princípios fundamentais que
revelavam as novas necessidades educacionais. O PNE é aprovado pela Lei n°
10.172, de 09 de janeiro de 2001, estando alguns de seus princípios
preliminarmente referenciados no Art. 214 da Constituição Federal de 1988 que
41
estabelece que o PNE terá duração decenal, visando à articulação e ao
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do
poder público:
I. erradicação do analfabetismo;
II. universalização do atendimento escolar;
III. melhoria da qualidade do ensino;
IV. formação para o trabalho;
V. promoção humanística, científica e tecnológica do país;
VI. estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em
educação como proporção do produto interno bruto.
Segundo Souza e Silva (2016), o PNE visa criar, traçar, metas e diretrizes
para atender às novas necessidades educacionais no âmbito nacional, estadual e
municipal, além de consolidar o processo de descentralização das responsabilidades
estatais entre os entes federativos da União.
A posteriori foi sancionada pela Ex-presidente Dilma Rousseff em 25 de
Junho de 2014 o novo Plano Nacional de Educação através da Lei 13.005 com
vigência por 10 (dez) anos. Na composição do novo documento enfatiza-se alguns
objetivos e prioridades direcionados à elevação global do nível de escolaridade da
população; a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das
desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, com
sucesso, na educação públicos, e etc.
Objetivando melhor responder às novas necessidades educacionais
identificadas na elaboração do PNE, observa-se a exigência de elaboração e
inserção de novas políticas públicas que contribuam para o sucesso educacional.
Nesse sentido, destaca-se a política de ação afirmativa voltada para os grupos
minoritários14, a qual salienta bem uma das prioridades do PNE ao pretender
minimizar as disparidades sociais no tocante à educação. Sendo essa disparidade
pertinente na realidade social dos grupos raciais historicamente excluídos e
economicamente vulneráveis.
14 Os grupos minoritários são grupos vulneráveis no interior da sociedade em razão da sua singularidade econômica, social, cultural, religiosa ou física.
42
Na trajetória escolar brasileira, cabe apresentar o itinerário dos sujeitos
pertencentes à raça negra. Assim, ao resgatar alguns acontecimentos históricos
vividos pela população negra na luta pela escolarização, Cruz (2005) atesta que
[...]. A luta das camadas negras pela sua inclusão no processo de escolarização oficial evidencia que mesmo à margem da cidadania os negros acompanharam os processos de compactação da nação brasileira e nele exerceram influência. Os mecanismos do Estado brasileiro que impediram o acesso à instrução pública dos negros durante o Império deram-se em nível legislativo, quando se proibiu o escravo, e em alguns casos o próprio negro liberto, de frequentar a escola pública, e em nível prático quando, mesmo garantindo o direito dos livres de estudar, não houve condições materiais para a realização plena do direito (CUNHA, 1999; FONSECA, 2000, apud CRUZ, 2005, p. 29).
Certamente na época da escravidão a inclusão do negro na educação era
proibida e, por outro lado, mesmo com o abolicionismo o negro liberto não conseguia
frequentar a escola pública em razão da ausência de condições reais, portanto, os
limitantes e o cerceamento no acesso à educação dos negros é um assunto factual
e remoto, o qual exprime a desigualdade escolar entre brancos e negros decorrente
da raça, da discriminação e do preconceito. Assim, são implementadas políticas de
ação afirmativa, na perspectiva de minimizar as desigualdades raciais e oportunizar
o acesso dos negros à educação e a outras áreas sociais.
A ação afirmativa consiste no conjunto de medidas compensatórias e
temporárias dirigidas aos grupos que sofrem o peso da exclusão social tanto no
passado quanto no presente e tenciona combater as segregações e desigualdades
sociais existentes, além de desconstruir a elitização de grupos e construir uma rede
social diversificada e plural no que tange às raças, etnia, religião e etc. A promoção
da igualdade também faz parte da ação afirmativa, ao abarcar políticas de promoção
à equidade dos negros no acesso a instâncias públicas, à ascensão social e a
postos de trabalho (cargos públicos).
Sob o ponto de vista de Piovesan (2005), a ação afirmativa é um poderoso
instrumento de inclusão social, como também são medidas compensatórias que
visam remediar as desvantagens históricas e aliviar o passado discriminatório vivido
pelo grupo social em questão, ou seja, as minorias étnicas raciais.
43
Nesse ponto, a ação afirmativa propõe acelerar o processo de igualdade
social e racial tão mutilado e esquecido no plano histórico brasileiro demarcado pela
diferença de tratamento ríspida e proposital desencadeada pelos privilégios e
ascensão econômica não concedida à população negra. A formulação da ação
afirmativa é realizada por meio de políticas materializadas por ações e programas
capazes de propiciar a integração e participação dos ditos grupos minoritários no
campo da educação, emprego, saúde e outros, as quais são executadas pelo setor
público ou privado.
No Brasil várias políticas de ação afirmativa vêm sendo deliberadas, tais
como: a lei nº 12.288 (2010), do Estatuto da Igualdade racial; a lei nº 12.711 (2012),
das cotas raciais; a lei nº 11.645 (2008) relativa à inclusão no currículo oficial da
rede de ensino da obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena” dentre outras. Entre estas, ao enfatizar o acesso ao direito à educação
sobressaem as cotas raciais como dispositivo indispensável para a inserção e maior
presença do negro nas universidades e institutos federais, cujo ingresso significa
para o grupo o passaporte para a ascensão política, cultural, econômica e social.
A implementação das cotas raciais na rede educacional pública colabora com
o processo de equidade social, no bojo das diferenças e resistências grupais
existentes, além de contrariar posições e ideias positivistas difundidas pelo senso
comum de alguns autores opositores às cotas raciais, os quais culpabilizam,
responsabilizam e atribuem aos sujeitos negros a posição social e econômica nas
quais se encontram.
2.1 A EFETIVIDADE DO SISTEMA DE COTAS RACIAIS
No Brasil a política de cotas enquanto ação afirmativa foi sancionada em
Agosto de 2012, através da Lei nº 12.711, com vistas a integrar, inserir e beneficiar
grupos minoritários, como a população negra, nas universidades e institutos
federais, bem como amenizar as desigualdades sociais relacionadas ao direito à
44
educação, a questões étnico-raciais e à condição de classe nas instituições de
ensino.
A Lei em questão dispõe em seus artigos acerca da reserva de vagas no
ensino superior e institutos federais destacando aspectos relacionados ao percentual
de vagas reservadas; a quais sujeitos as vagas são destinadas, além do
estabelecimento de critérios no tocante a renda familiar, autodeclaração do
candidato e destinação das vagas remanescentes.
Art. 1º As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1, 5 salário mínimo (um salário mínimo e meio) per capita. Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Parágrafo único. No caso de não preenchimento das vagas segundo os critérios estabelecidos no caput deste artigo, aquelas remanescentes deverão ser completadas por estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Art. 4º As instituições federais de ensino técnico de nível médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per capita. Art. 5º Em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, as vagas de que trata o art. 4º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual a de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
45
Parágrafo único. No caso de não preenchimento das vagas segundo os critérios estabelecidos no caput deste artigo, aquelas remanescentes deverão ser preenchidas por estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública (BRASIL, 2012).
Apresentados os parâmetros inerentes à política de cotas, nos últimos anos
as universidades de natureza pública e privada e os institutos federais demonstram
uma sólida adesão na utilização das cotas raciais (Art. 3º e Art. 5º) no processo de
seleção. No entanto, o reconhecimento e adesão por parte de uma parcela da
sociedade civil e alguns estudiosos – Seymour Martin Lipset, Bernardo Lewgoy, e
outros - contrários à política inclusiva ainda é algo bastante discutido, fomentando
debates acalorados, revestidos de discursos simplistas sob o ângulo da meritocracia
e na defesa de políticas universalistas. Em contrapartida, vários argumentos
corporificam a relevância, importância e redoma da política pública em favor dos
negros. É nessa linha de incompatibilidades de concepções e discursos que nos
ateremos.
A implementação das cotas raciais revela o reconhecimento da condição
desigual vivenciada por grupos étnicos raciais específicos, tais como os negros,
perpassada por séculos, posto que no país democrático e defensor da liberdade o
fator raça e cor ainda são preponderantes no manifesto da discriminação negativa,
mensurada cotidianamente pelos obstáculos calcados por esse segmento.
No escopo educacional, há alguns anos atrás, um dos obstáculos empíricos
correspondeu ao tradicional método de seleção nas entidades de ensino superior
pública e institutos federais, orientado pelo desempenho pessoal e princípio
meritocrático como única alternativa de ingresso comum a todos os concorrentes,
ignorando as particularidades dos grupos raciais em desprestígio e a condição
econômica e social de uma expressiva fatia dos concorrentes. Por muitos anos esse
modelo padrão manteve-se privilegiando, sobretudo, os filhos da elite,
preponderantemente brancos e com possibilidades de frequentar as melhores
escolas de nível infantil, fundamental e cursinhos preparatórios, livres de qualquer
obrigação domiciliar e ou de trabalho, a não ser cumprir a rotina de estudos para a
exitosa aprovação nos institutos federais.
46
No entanto, com a aplicabilidade da ação afirmativa emerge uma
possibilidade de expansão da democratização do acesso aos institutos federais aos
estudantes de origem popular, sobretudo os negros principais beneficiários das
cotas raciais, ao afirmar-se como política inclusiva responsável pela redefinição dos
critérios de seleção nas instituições federais.
Mas como vem sendo analisada as políticas de ação afirmativa, no sentido de
sua efetividade quanto ao acesso de estudantes de origem popular e,
consequentemente, quanto ao direito à educação? Nas palavras de Guimarães “[...]
políticas afirmativas visam corrigir, e não eliminar, mecanismos de seleção por
mérito, e garantir o respeito à liberdade e a vontades individuais” (2009, p.175).
Ou seja, a política de ação afirmativa não nega a legitimidade do mérito, pois
um dos requisitos de seleção é a submissão de todos os indivíduos a algum exame
avaliativo para fins de aprovação, em que neste os candidatos aplicarão os seus
conhecimentos e habilidades, fator fundamental para a avaliação pessoal que logo
definirá a sua aprovação ou reprovação. Desse modo, tanto os candidatos brancos
quanto os autodeclarados negros submetem-se à mesma prova. Portanto, o que a
política visa prevenir e corrigir são as distorções e beneficiamento por méritos
restritos a um determinado grupo racial.
Na definição dos critérios para o usufruto das cotas, a raça e a cor
reaparecem como categorias centrais para a classificação racial do sujeito através
da autodeclaração, em algumas instituições de ensino adeptas às cotas o sujeito
autodeclara-se negro (preto ou pardo) inicialmente no ato da inscrição do processo
seletivo e logo após reafirma o pertencimento racial na aprovação/convocação por
meio do preenchimento pessoal de um formulário de autodeclaração disponibilizado
pela instituição. “A autodeclaração é um critério adotado no qual a população negra
afirma seu pertencimento à identidade racial” (OLIVEIRA, 2016), sendo relevante na
autodeclaração os aspectos fenotípicos do sujeito consonante à subjetividade
identitária, não abarcando a ancestralidade ou afrodescendência.
Por tratar-se de uma política pública temporária e compensatória, as cotas
raciais despertam dúvidas e posicionamentos desfavoráveis quanto à sua
efetividade. Guimarães (2009, p.190) aponta que ainda há, entretanto, “aqueles que,
47
embora reconhecendo que os negros são discriminados e merecedores de políticas
compensatórias, creem que tais medidas não têm viabilidade histórica e não seriam
eficazes”. Nesse sentido, indagamos: será que realmente as cotas não estão sendo
eficazes, mesmo com o aumento significativo de negros nas universidades e
institutos federais nos últimos anos?15 Ou, ainda: é notória a efetividade dessa
política, porém com algumas deficiências típicas das políticas sociais no Brasil?
Entende-se que há muitas controvérsias, a primeira discorre sobre o papel
particularista das cotas raciais – ao beneficiar grupos raciais específicos e por não
constituir-se como política universalizada – associando-as apenas à condição de
classe, de modo que há os que alegam ser mais efetiva a reestruturação da
educação básica pública em termos de estrutura, contratação de profissionais
qualificados e afins, alcançando a todos e oferecendo condições educacionais
igualitárias, como forma de preparar os negros para o ingresso nas entidades
federais de ensino.
Segundo Munanga (2003a, apud BRITTAR; ALMEIDA, 2006, p. 145):
[...] Se por milagre o ensino básico e fundamental melhorar seus níveis para que os alunos desses níveis de ensino possam competir igualmente no vestibular com os alunos oriundos dos colégios particulares bem abastecidos, os alunos negros levariam cerca de 32 anos para atingir o atual nível dos alunos brancos.
A proposição acima referente a formulação de uma política universalista é
válida, todavia a sua efetividade em benefício dos negros demoraria anos, tendo em
vista que a luta pela ascensão do negro denota um problema racial secular
intrínseco ao socioeconômico, são anos de uma submissão norteada pela
hierarquização racial, inclusive no campo educacional (ensino superior), onde os
negros alcançaram a sua inserção apenas no final de 1970, período no qual se
percebe a ínfima presença de estudantes negros nas universidades públicas. A
questão racial é tão pertinente que nos leva à observância das formas de tratamento
15 Em 2015 (IBGE), 12,8% dos negros entre 18 e 24 anos chegaram ao nível superior enquanto que
em 2005 o percentual era de apenas 5,5%. Os dados foram constatados pela Síntese de Indicadores
Sociais - Uma análise das condições de vida da população brasileira 2016.
48
ao negro pobre e ao branco pobre, em que o segundo, mesmo sendo pobre, integra
a raça branca, melhor aceita pela sociedade, enquanto o primeiro detém dois
dispositivos de exclusão na sociedade moderna: a pobreza e a questão da cor/raça.
Por questões como essa, os fatores raciais devem ser considerados e analisados
em um país racista como o Brasil.
O que está em jogo é outra coisa: devem as populações negras, no Brasil, satisfazer-se em esperar uma “revolução do alto”, ou devem elas reclamar, de imediato e pari passu, medidas mais urgentes, mais rápidas, ainda que limitadas, que facilitem seu ingresso nas universidades públicas e privadas, que ampliem e fortaleçam os seus negócios, de modo que se acelere e se amplie a constituição de uma “classe média” negra? (GUIMARÃES, 2009, p. 189).
Por outro lado, é injusta a espera da população negra por uma revolução
educacional – bem difícil de ocorrer em um país regido por políticas públicas
seletivas, pontuais e focalizadas atreladas a um Estado que segue o ideário
neoliberal. Além disso, entende-se que a raíz da problemática do preconceito, da
discriminação racial transcende os limites educacionais, pois o racismo e
discriminação operam desde a escravidão como condicionantes sociais para a
população negra. Destarte, nada mais justo que a implantação das cotas, pois,
embora limitada, atua como facilitadora, diante de uma demanda urgente, e por mais
que seu alcance seja restrito, é perceptível a sua efetividade no que tange ao
ingresso nas instituições públicas de ensino.
Nesse ensejo, questiona-se a efetividade da política de cotas, por ser pontual
e particularista, porém não se indaga na mesma intensidade as demais políticas no
campo da assistência social, da saúde, da habitação, dentre outras, mantenedoras
das características acima mencionadas desde a sua formulação. Comprovando-se,
assim, um racismo velado na sociedade brasileira.
A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 5º a respeito do
princípio da igualdade, nos termos a seguir:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...] (BRASIL, 2011).
49
Em face da concepção formal que preza pelo princípio da igualdade, alguns
argumentos tentam pôr em xeque a constitucionalidade e dimensão jurídica das
cotas, ao contestar que a sua aplicação é ilegal, bem como fere a democracia do
país e a igualdade de direitos entre os sujeitos. Alegam, ainda, que o sistema de
cotas fomenta a desigualdade e a exclusão daqueles que são impedidos de utilizá-la
por não se enquadrar nos critérios. A aproximação com as vertentes da igualdade
possibilita o alargamento da concepção acerca desta, de modo que:
Destacam-se assim, três vertentes no que tange à concepção da igualdade: a. igualdade formal, reduzida à fórmula “todos são iguais perante a lei” (que no seu tempo foi crucial para a abolição de privilégios); b. igualdade material, correspondente ao ideal de justiça social e distributiva (igualdade orientada pelo critério socioeconômico); e c. igualdade material, correspondente ao ideal de justiça como reconhecimento de identidades (igualdade orientada pelos critérios gênero, orientação sexual, idade, raça, etnia e demais critérios) (PIOVESAN, 2005, p. 47).
A partir da classificação das concepções de igualdade, implica dizer que a
utilização da igualdade formal generalizada como instrumento argumentativo contra
as cotas raciais é insustentável, pois se trata de uma igualdade que não reconhece
as diferenças sócio históricas, raciais e econômicas entre os sujeitos, evidenciadas
na própria história da população negra, a qual nunca foi tratada de forma igualitária.
Na realidade nem todos são iguais perante o Estado e a sociedade, e existe
ferrenhamente distinção, pois o Estado não garante o princípio da isonomia para
todos, haja vista que os negros não usufruem os direitos fundamentais da mesma
forma que os brancos e os pobres da mesma forma dos ricos, ou seja, a igualdade
em termos de acesso à renda, a bens essenciais para a subsistência nunca foi
efetivada. Resultante disso, Piovesan (2005, p. 47) assegura que “Ao lado do direito
à igualdade, surge também, como direito fundamental, o direito à diferença. Importa
o respeito à diferença e à diversidade, o que lhes assegura um tratamento especial”.
O tratamento especial mediante o sistema de cotas é constitucional, pois
fomenta a possibilidade de igualdade material entre brancos e negros, de modo que
não se pode dispensar um tratamento formalmente igual aos que, de fato, são
tratados como inferiores. Sendo assim, políticas de ação afirmativa têm um
compromisso com o ideal de tratarmos todos como iguais. Por isso, é preciso em
50
alguns momentos e âmbitos sociais privilegiados, que aceitemos tratar como
privilegiados os desprivilegiados (GUIMARÃES, 2009).
Em outro ponto de argumento contrário às cotas contesta-se a ausência de
uma classificação racial rígida, além da dificuldade de identificação racial em um
país miscigenado como aberturas para oportunistas resultando em fraudes, por
vezes ocorridas em algumas universidades públicas brasileiras. Ou seja, “O que
preocupa [...] é a fraude de identidade – ou seja, que alguém que se identifique e
seja identificado, regularmente, como “branco”, passe a se definir como “negro” com
o objetivo pontual de obter um benefício” (GUIMARÃES, 2009, p. 208).
Em contraponto a essa assertiva, ressaltamos que o objetivo da ação
afirmativa é calcado na integração social do grupo pertencente à raça negra, a este
discorre o direcionamento e a razão de ser das cotas raciais, que por sinal têm
revelado sinais positivos quanto a sua apropriação e beneficiamento pelos negros,
por esta razão o gozo indevido por pessoas de outra raça não a torna ineficiente,
pois o resultado proposto pelas cotas supera as possíveis fraudes identitárias.
Nesse sentido, o recorte racial imbuído no sistema de cotas brasileiro
respalda-se em três categorias de cores, em conformidade com a classificação do
IBGE, a saber: preto, pardo, indígena, fundamentais para delimitação da
autoidentificação racial na qualidade de instrumento seletivo facilitador de
autoclassificação, bem como auxilia no pertencimento racial do indivíduo visto que a
cor torna-se importante para a identidade social do sujeito.
Ainda nesse tocante, como faz notar Guimarães (2009), mesmo com a
exigência do reconhecimento da identidade racial, o risco de fraude é real em
qualquer ação afirmativa, por isso o oportunismo é no mínimo esperado na política
de cotas raciais, desse modo não é plausível a satanização das cotas embasada
apenas em casos pontuais fraudulentos quando os seus principais beneficiários
estão sendo contemplados.
Diante do exposto, as diversas incongruências presentes no debate sobre as
cotas raciais revela ainda alguns limitantes e deficiências naturais na aplicabilidade
das cotas raciais no Brasil. Em primeiro lugar, deve-se levar em consideração o
território brasileiro na esfera econômica, política, social e cultural atrelado ao ideário
51
neoliberal, que assola e atinge as políticas públicas no campo de execução. Em
segundo lugar, o caráter provisório das cotas torna o seu alcance restrito a apenas
uma parcela da população negra, porém significativo e eficaz. Outra questão é o
papel de tal política apenas para o ingresso do sujeito negro, não dispondo de
dispositivos de permanência e ascensão do negro no interior da instituição após a
sua entrada em instituições de educação na esfera federal.
Entretanto, tais lacunas não são capazes de obscurecer a eficácia legítima
das cotas, instrumento que vem sendo responsável por traçar na vida de vários
negros uma nova perspectiva de vida baseada na apropriação intelectual, material e
ocupação em esferas sociais antes nunca vislumbradas, embora havendo caminhos
ainda a serem trilhados objetivando a ampliação de tais possibilidades na vida da
população negra.
A democratização do ensino através da política de cotas raciais colabora na
construção de novas perspectivas de vida para o negro e ganhar concretude com a
adesão efetiva das universidades públicas e institutos federais, os quais sofrem
adaptações no processo de seletividade devido o cumprimento e adequação à
novas regras de acordo com a legislação e definições da lei 12.711/2012. Nesse
sentido, discutiremos o funcionamento das cotas raciais no âmbito do Instituto
Federal do Rio Grande do Norte - IFRN.
52
2.2 COTAS RACIAIS NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO
NORTE - IFRN
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte (IFRN) tem como função social:
Ofertar educação profissional e tecnológica de qualidade – referenciada socialmente e de arquitetura político-pedagógica capaz de articular ciência, cultura, trabalho e tecnologia – comprometida com a formação humana integral, com o exercício da cidadania e com a produção e a socialização do conhecimento, visando, sobretudo, à transformação da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça sociais (IFRN 2017).
A busca pela competência técnica permeia todos os níveis de ensino
oferecidos – desde a formação inicial e continuada de trabalhadores, à formação
profissional de nível médio (integrados e subsequentes) e superior (licenciaturas,
cursos de tecnologia e pós-graduação).16 Além de propagar a educação pública,
gratuita, laica e de qualidade pautada na concepção de educação ampliada
superando o binômio ensino-aprendizagem.
Paralelamente, é possível observar outras atribuições relacionadas às
atividades educacionais desenvolvidas através dos objetivos institucionais,
responsáveis pela orientação das ações e práticas intrínsecas ao funcionamento
estrutural e relacional do Instituto.
• Ministrar cursos de formação inicial e continuada a trabalhadores, incluídos a iniciação, o aperfeiçoamento e a atualização. Em todos os níveis e modalidades de ensino;
• Ministrar educação de jovens e adultos, contemplando os princípios e práticas inerentes à educação profissional e tecnológica;
• Ministrar ensino médio, observadas a demanda local e regional e as estratégias de articulação com a educação profissional técnica de nível médio;
• Ministrar educação profissional técnica de nível médio, de forma articulada com o ensino médio, destinado a proporcionar habilitação profissional para os diferentes setores da economia;
16 Informações obtidas no site oficial do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). Sobre a função do IFRN, ver: < http://portal.ifrn.edu.br/institucional/default-page
53
• Ministrar ensino superior de graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, visando à formação de profissionais e especialistas na área tecnológica;
• Ofertar educação continuada, por diferentes mecanismos, visando à atualização, ao aperfeiçoamento e à especialização de profissionais na área tecnológica;
• Ministrar cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, nas áreas científica e tecnológica;
• Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções tecnológicas de forma criativa e estendendo seus benefícios à comunidade;
• Estimular a produção cultural, o empreendedorismo, o desenvolvimento científico e tecnológico e o pensamento reflexivo;
• Estimular e apoiar a geração de trabalho e renda, especialmente a partir de processos de autogestão, identificados com os potenciais de desenvolvimento local e regional;
• Promover a integração com a comunidade, contribuindo para o seu desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida, mediante ações interativas que concorram para as transferências e aprimoramento dos benefícios e conquistas auferidos na atividade acadêmica e na pesquisa aplicada.17
A Lei de Cotas adotada pelo IFRN foi introduzida nos processos seletivos
desde a publicação do Decreto Nº. 7.824 no ano de 2012, e aplicada também nos
editais de processos de ingresso discente lançados antes e depois da legislação, os
quais não tinham publicado seu resultado final. Para os cursos técnicos, a
implantação de todas as cotas previstas pela nova legislação ocorreu de imediato e
de forma integral. Em relação aos cursos superiores de graduação, a legislação
estabeleceu um prazo de até quatro anos para os institutos federais de educação,
ciência e tecnologia e universidades cumprirem integralmente as novas regras.
Atualmente, passado um pouco mais de quatro anos, consolida-se a integralização
dos critérios da legislação.
No tocante à reserva de 50% das vagas previstas na lei de cotas nº
12.711/2012 para alunos de escolas públicas no âmbito dos institutos federais em
cada curso, pelo menos metade das vagas deverá ser ocupada por estudantes que
cursaram todo o ensino fundamental ou médio na rede pública. Para exemplificar, se
um Curso Técnico oferta 20 vagas, 10 dos aprovados serão ex-alunos de escolas
públicas.
17 Informações retiradas do site oficial do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). Sobre os objetivos específicos do IFRN, ver: < http://portal.ifrn.edu.br/institucional/default-page
54
Entre a redistribuição das vagas para alunos oriundos de escola pública, a lei
12.711/2012 também determina que metade das vagas reservadas às cotas
educacionais, ou seja, 25% do total da oferta – serão preenchidas por alunos com
renda familiar bruta de um salário-mínimo e meio per capita, ou seja, por membro da
família. De acordo com os requisitos legais, os estudantes de escolas públicas
concorrerão com todos os demais concorrentes ao total de vagas ofertadas, o único
diferencial é que, pelo menos metade das vagas terão que ser preenchidas por ex-
alunos da rede pública, assim quando essa cota for preenchida, o restante (50%)
das vagas será distribuída entre todos os candidatos – independente de onde
estudaram – a partir das notas de cada um.
No que concerne às cotas raciais, as vagas reservadas para as cotas dos
egressos da rede pública, ou seja, 50% do total de vagas dos institutos federais,
será distribuída para pretos, pardos e indígenas, em proporção à soma da
composição dessa população na unidade da federação em que a instituição se
oferta a vaga. Essa proporção deve ser calculada a partir de dados do último Censo
do IBGE, de 2010. Na nossa zona geográfica, isto é, no Rio Grande do Norte,
57,81% da população é de pretos, pardos e indígenas; logo, 57,81% das vagas
reservadas dos IFRNs serão destinadas a pretos, pardos e indígenas. É importante
destacar que a identificação racial é feita mediante autodeclaração, isto é, basta que
o candidato identifique-se como pertencente à determinada cor ou raça e, assim, se
declare no ato da inscrição, fornecendo informações sob as quais deve se
responsabilizar por sua veracidade18.
Para o melhor entendimento, cabe ressaltar que as vagas diferenciadas para
os cursos técnicos de nível médio na forma integrada são divididas em quatro
categorias distintas. Para ilustrar segue o quadro e legenda abaixo:
18 Informações retiradas do site oficial do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). Perguntas e respostas importantes sobre a lei de cotas. Para maiores informações consultar: http://portal.ifrn.edu.br/ensino/links-importantes/perguntas-e-respostas-importantes-sobre-a-lei-de-cotas.
55
Quadro 1 - VAGAS DIFERENCIADAS IFRN – Candidatos de Escola
Pública
Renda ≤ 1,5 salário-mínimo
per capta
Qualquer Renda
L1 L2 L3 L4
Qualquer Etnia
Autodeclarados
Pretos, Pardos e
Indígenas
Qualquer Etnia
Autodeclarados
Pretos, Pardos e
Indígenas
Fonte: Edital l nº 26/2016-PROEN/IFRN Processo Seletivo para os cursos técnicos de nível médio na forma integrada – 1º semestre de 2017.
➢ A categoria L1 engloba a oferta de vagas diferenciadas para os candidatos de escola pública, de qualquer etnia; com renda ≤ 1,5 salário-mínimo per capta.
➢ A categoria L2 engloba a oferta de vagas diferenciadas para os candidatos de escola pública, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas; com renda ≤ 1,5 salário-mínimo per capta.
➢ A categoria L3 engloba a oferta de vagas diferenciadas para os candidatos de escola pública, de qualquer etnia; com qualquer renda.
➢ A categoria L4 engloba a oferta de vagas diferenciadas para os candidatos de escola pública, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas; com qualquer renda.
A funcionalidade das cotas raciais no campus São Gonçalo do Amarante –
RN orienta-se em conformidade com incisos e artigos contidos na Lei de cotas
12.711/2012, bem como são direcionadas de acordo com a discussão e modelo
normativo acima apresentado.
No campus a autodeclaração ocorre apenas no ato da inscrição por meio do
preenchimento do formulário de inscrição, após a aprovação do candidato não
exige-se a comprovação das informações prestadas mediante o preenchimento do
Termo de Autodeclaração. O preenchimento do termo citado é obrigatório apenas
em algumas universidades públicas brasileiras.
Caso não ocorra o preenchimento das vagas destinadas para pretos, pardos
e negros, no primeiro momento, segue a lista de aprovados autodeclarados no
momento da inscrição até o seu esgotamento. Não havendo mais candidatos e caso
56
as vagas não tenham sido preenchidas, estas são redirecionadas e deverão ser
preenchidas por estudantes que tenham cursado integralmente o ensino
fundamental em escola pública, conforme os critérios do paragrafo único da lei de
cotas.
Todo o processo de seletividade, contingência de gastos e delimitação de
vagas previstas nos editais para os processos seletivos dos IF’s emanam do caráter
singular das políticas públicas brasileira no interior da ordem neoliberal. Nos
institutos federais, a vinculação indissociável entre a política de cotas raciais e a
política de assistência estudantil desvelam os limites do acesso isolado, de medidas
que propiciem a permanência do cotista. Isto posto, apesar da viabilidade das cotas
raciais, o caminho percorrido para a permanência do estudante apenas torna-se
viável com o auxílio da política de assistência estudantil.
57
3. POLÍTICAS PÚBLICAS NO CAMPO DO NEOLIBERALISMO E A
INDISSOCIABILIDADE ENTRE ACESSO E PERMANÊNCIA DOS DISCENTES
COTISTAS DOS INSTITUTOS FEDERAIS
O presente capítulo retrata aspectos da constituição das políticas sociais na
conjuntura atual capitalista brasileira com ênfase na política de educação, que tem
como instrumento primordial para sua formulação a Constituição Federal de 1988, a
qual a inseriu no âmbito de política social pública e criou mecanismos legais como
campo de acesso e direito. Contudo, as políticas públicas perpassam por
contradições oriundas do sistema capitalista aliado à lógica do neoliberalismo, que é
via de impedimento para a emancipação dos usuários e demandantes das políticas.
Para dissertar a respeito do papel das políticas sociais públicas brasileiras é
indispensável tecer algumas ponderações acerca de sua gênese e estruturação,
vinculada ao recrudescimento da questão social. O quadro sócio histórico é peça
primordial para a análise e dinâmica da formulação das políticas sociais brasileiras,
visto que a conjuntura histórica e suas transformações interferem, perpassam e
adentram diretamente a estruturação e materialização das políticas públicas.
Inicialmente, cabe lembrar que o modo de produção capitalista é responsável
pela produção e apropriação excessiva e desigual da riqueza produzida, isto é,
concentrada nas mãos da burguesia, enquanto que a classe trabalhadora, ao gerar
bens para a burguesia através do valor excedente – denominado de mais-valia –
não tem acesso, tampouco usufrui de tal feito. Esse processo produz e aprofunda
em larga escala as desigualdades sociais e a precarização nas condições de vida
dos trabalhadores.
Mundialmente, ao final do século XVIII e meados do XIX, emerge a Revolução
industrial, fase conhecida como do capitalismo industrial. O novo sistema de
produção ao promover a elevação de altas jornadas de trabalho, condições de
trabalho insalubres e afins, atinge negativamente as condições de vida dos
trabalhadores e seus familiares.
No século XIX, ao passo que a produção capitalista pautada nas grandes
indústrias cresce, contraditoriamente desenvolve-se, também, na mesma proporção,
58
o pauperismo, considerado a gênese da “questão social”. Nesse plano, Netto (apud
SANTOS, 2012, p. 28) destaca,
Numa palavra, a pobreza acentuada e generalizada no primeiro terço do século XIX – o pauperismo – aparecia como nova precisamente porque ela se produzia pelas mesmas condições que propiciavam os supostos, no plano imediato, da sua redução, e, no limite, da sua supressão.
Desse modo, a conceituação da “questão social” é expressa pelo conjunto de
desigualdades sociais e pobreza advindas da lógica capitalista, que emerge a partir
da revolução industrial no século XIX, e “[...] têm sua existência fundada pelo modo
de produção capitalista (SANTOS, 2012, p.28).
Ainda a respeito do sentido da questão social, a autora Iamamoto (2007) a
define como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista
madura, que têm uma raiz comum produtora de resultados incongruentes, onde a
produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente
social, enquanto a apropriação dos seus frutos se mantém privada, monopolizada
por uma parte da sociedade.
Nessa perspectiva, as desigualdades sociais e ou materiais resultam de uma
raiz fixa: O modo de produção capitalista. Além de deter peculiaridades observadas
e produzidas na própria dinâmica do sistema. Ou seja, as bases fundantes da
pobreza nas organizações produtivas anteriores ao sistema capitalista distinguem-se
entre si, pois, apesar de haver pobreza no sistema feudal e no escravismo, a sua
emersão era favorecida por formas diferenciadas de propriedade privada, de forças
produtivas e exploração de trabalho insuficientes para reduzir a escassez da
população da época, distintamente do desenvolvimento da pobreza e desigualdade
oriundas do sistema capitalista, o qual é detentor de forças produtivas capazes de
erradicar a pobreza e miséria, todavia, alimenta a lógica inversa ao aprofundá-la.
Como faz notar Santos,
[...] a pobreza existente antes do capitalismo era determinada socialmente pela divisão entre classes, mas se devia, principalmente, ao baixo desenvolvimento das forças produtivas que deixavam, por exemplo, a produção agrícola inteiramente vulnerável às pragas que acometiam as plantações ou outras catástrofes naturais, produtoras de longos períodos de fome e epidemias nos países do “velho mundo” (2012, p. 29).
59
A crescente industrialização e urbanização proveniente da égide capitalista
deu origem ao empobrecimento exacerbado da classe trabalhadora, e ao mesmo
tempo as conscientizou acerca da sua situação de opressão, subordinação e
exploração, levando-a a uma organização classista. Nesse momento, a classe
operária migra da classe em si para a classe para si, pautada no protagonismo e
consciência política dos trabalhadores, como bem assinala Santos,
Isso significa a passagem do que eram as primeiras percepções do proletariado, reconhecendo-se como tal em sua condição econômica, ao reconhecimento da necessidade política do seu protagonismo, como classe, no enfrentamento daquelas condições (2006, p. 39).
A migração da classe em si para a classe para si, representa a organização
política dos trabalhadores manifestada através da luta coletiva e reivindicações
mediante greves, mobilizações paralisações por condições dignas de trabalho e
sobrevivência, proveniente de uma consciência social e política acerca dos
malefícios e entrelinhas do sistema capitalista implantado.
Portanto, apreender o entendimento da “questão social” é considerar a
exploração do trabalho pelo capital, e ainda a participação organizada e ativa dos
trabalhadores materializadas nas lutas sociais em face desta premissa central à
produção e reprodução do capitalismo (SANTOS, 2006).
No Brasil a “questão social” e suas “velhas” manifestações e ou atuais
reveste-se de algumas particularidades, que de acordo com alguns estudiosos da
área, tal como Santos (2006), é premissa considerar as peculiaridades históricas,
nacionais e culturais no capitalismo brasileiro. Por tratar-se de uma análise
macrossocial não adentraremos nessa discussão, todavia, levantaremos
pontualmente algumas questões fundamentais para a análise das políticas sociais
brasileiras.
No Brasil a legitimidade da questão social ocorre na primeira metade de 1930,
com o crescimento e protagonismo político da classe operária e luta pelo seu
reconhecimento enquanto classe pelo Estado. Como descrito por Yazbek,
60
[...]. No país, aos poucos, com o desenvolvimento dos processos de urbanização e industrialização e com a emergência da classe operária e de suas reivindicações e mobilizações, que se expandem a partir dos anos 30, nos espaços das cidades, a “questão social” passa a ser o fator impulsionador de medidas estatais de proteção ao trabalhador e sua família. Considerada legítima pelo Estado a questão social circunscreve um terreno de disputa pelos bens socialmente construídos e está na base das primeiras políticas sociais no país (200-, p. 10-11).
Em outros termos, com a emersão e expansão da industrialização e
urbanização o Estado avança no desenvolvimento de políticas sociais, sendo a
questão social fator impulsionador para a intervenção estatal no que tange à
proteção dos trabalhadores e de suas famílias.
Desse modo, no interior da gênese do capitalismo as políticas sociais surgem
para garantir o acesso a bens, serviços e direitos aos cidadãos. O conceito acerca
das políticas sociais é diverso, porém a maioria dos autores que as discutem o
insere na arena do direito e do enfrentamento da desigualdade social.
Dessa forma, o Estado assume o papel de interventor e mentor das políticas
sociais públicas a partir do atendimento básico às necessidades essenciais do
cidadão. Contudo, na sociedade capitalista contemporânea ele também alimenta
uma relação contraditória representada por uma dualidade, a qual por um lado
auxilia na acumulação capitalista e, por outro, na reprodução do grupo pauperizado,
sobretudo, no campo minado do neoliberalismo nacional caracterizado pela redução
da responsabilidade estatal com os interesses da classe trabalhadora. Ou seja, o
Estado constitui-se como instância máxima para o capital e mínima para o social.
Nessa dinâmica, as políticas sociais fragmentam-se ao atenderem os
interesses das duas classes fundamentais, nesse sentido pretendemos neste
espaço propor reflexões acerca das políticas sociais inseridas no terreno neoliberal,
além de discutir e refletir sobre a política de assistência estudantil no âmbito
educacional e seus tensionamentos.
Nessa direção, traremos como reflexão no cerne da sociedade capitalista o
resultado do processo de fragmentação das políticas sociais, bem como a
importância e entraves da indissociabilidade entre o acesso e permanência dos
alunos cotistas para a continuação e finalização do ciclo acadêmico.
61
3.1 AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL E A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL: FOCALIZAÇÃO E SELETIVIDADE
As políticas sociais e a formulação de padrões de proteção social são
desdobramentos, formas ou, ainda, respostas de enfrentamento – em geral
setorializadas e fragmentadas – às expressões multifacetadas da “questão social” no
sistema capitalista, cujas se encontram nas relações de subsunção e exploração do
trabalho pelo capital (BEHRING; BOSCHETTI, 2011).
Nesse sentido, as políticas sociais consistem no enfrentamento das múltiplas
expressões da “questão social” no final do século XIX, e são construídas a partir da
reivindicação em massa dos trabalhadores, de modo a estruturar-se em mecanismos
legais, isto é, leis fomentadas pelo Estado visando à melhoria da qualidade e
condição de vida da classe trabalhadora, no entanto, incapazes de atingir a
centralidade da “Questão Social”, onde se encontra a base da desigualdade social.
Isto denota, desde já a superficialidade e a falta da perspectiva de totalidade
introduzida na gênese da formulação e implementação das políticas sociais. Vale
ressaltar que “O surgimento das políticas sociais foi gradual e diferenciado entre os
países, dependendo dos movimentos de organização e pressão da classe
trabalhadora, do grau de desenvolvimento das forças produtivas [...]” (BEHRING;
BOSCHETTI, 2011, p. 64).
Na Europa Ocidental o Estado de Bem Estar Social significou um marco
histórico. O Estado de Bem Estar Social visava o bem estar comum dos seus
membros, através da manutenção do mínimo para sobrevivência e reprodução
social, por meio de serviços gratuitos na perspectiva do direito, nessa lógica vários
autores conceitua o Welfare State – conhecido também por esse termo - de várias
maneiras. Entretanto, no ano de 1970 - século XX desperta um questionamento
quanto à manutenção do Estado de Bem estar e com isso tal Estado em vários
países foi desmontando, isto é, extinguido.
Em contrapartida, o Brasil diferentemente dos países da Europa Ocidental
não teve como modelo político o Estado de Bem Estar Social. Nesse plano a política
62
social no país configura-se em 1930 a partir do modelo de proteção social19. De
acordo com Yazbek:
[...] não podemos deixar de observar em primeiro lugar, que o Estado brasileiro, como outros na América Latina, se construiu como um importante aliado da burguesia, atendendo à lógica de expansão do capitalismo e nesse sentido, as emergentes Políticas Sociais no país, devem ser apreendidas no movimento geral e nas configurações particulares desse Estado. Nesta perspectiva, o que pode ser constatado é que a Política Social estatal surge a partir de relações sociais, que peculiarizaram a sociedade brasileira nos anos 30 do século passado, representando uma estratégia de gestão social da força de trabalho (200-, p. 2)
Posteriormente em 1988 no bojo das transformações estruturais capitalistas é
instituído mediante a Constituição Federal o sistema de Seguridade Social
significando a inauguração inovadora. Portanto,
A Seguridade Social brasileira por definição constitucional é integrada pelas políticas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social e supõe que os cidadãos tenham acesso a um conjunto de certezas e seguranças que cubram, reduzam ou previnam situações de risco e de vulnerabilidades sociais (YAZBEK, 200-,p.3).
Porém, observa-se a não efetividade desse sistema, tendo em vista que com
a instituição da seguridade social, o enfrentamento da desigualdade social é em
parte responsabilidade da ação estatal e outra do chamado terceiro setor. Com isso,
notam-se avanços e retrocessos na seguridade social, pois ao trazer a inovação no
campo da assistência social também se insere na lógica capitalista com a
participação do terceiro setor, na maioria das vezes regida por ações privatistas, isto
é, a proteção social com iniciativas do terceiro setor, do Estado e também do
mercado.
A partir de 1990 até os dias atuais o cenário político brasileiro têm sido de
contrarreforma do Estado e de redirecionamento das conquistas de 1988,
protagonizadas pelo presidente da época Fernando Henrique Cardoso (1995-2003)
(BEHRING; BOSCHETTI, 2011). E ainda,
19 Os direitos sociais, bem como as políticas sociais voltadas às necessidades dos sujeitos no âmbito da educação, saúde, previdência, assistência social compõem a proteção social brasileira.
63
Reformando-se o Estado, com ênfase especial nas privatizações e na previdência social, e, acima de tudo, desprezando as conquistas de 1988 no terreno da seguridade social e outros – a carta constitucional era vista como perdulária e atrasada –, estaria aberto o caminho para o novo “projeto de modernidade (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 148)
Desse modo, a contrarreforma do Estado insere-se na conjuntura histórica
neoliberal contemporânea e na lógica da racionalidade hegemônica capitalista fixada
na sociedade. Nessa conjuntura, os direitos sociais defendidos constitucionalmente
sob a responsabilidade estatal ao implementá-los como direito universal e coletivo
sofre desmontes e regressões. A proteção social inserida no processo de
contrarreforma do Estado – representada pela redução da intervenção estatal no
campo da garantia de direitos e implementação eficaz das políticas públicas – sofre
uma brusca transformação, principalmente na restrição e ausência da efetivação dos
direitos e políticas sociais, tendo em vista que os direitos sociais passam a ser
mercantilizados, isto é, transformam-se em mercadorias através da dinâmica do
mercado, o qual assume a responsabilidade do Estado para com toda a sociedade.
Portanto, é bem verdade que a tensão entre a proteção social e a
contrarreforma do Estado acentua e afeta vários aspectos estruturantes da proteção
social, como também do próprio Estado enquanto mentor de políticas públicas.
Como exemplo disso, temos a fragmentação e descaracterização dos elementos
fundantes da política social, o desmonte e redução da proteção social juntamente
com os direitos, dificuldade na universalização dos direitos e políticas sociais,
mercantilização destas e retirada da responsabilidade estatal no que tange ao
compromisso com a sociedade, e outras questões.
Assim, no contexto de ampliação do ideário neoliberal ocorre a mixagem e
complementariedade entre três instâncias, sendo ela o Estado, o mercado, e a
sociedade civil. Nesse aspecto, são evidenciadas a emergência de ações na arena
da minimização do Estado e de sua desresponsabilizarão com a sociedade, bem
como o repasse de responsabilidades e ações para as demais instâncias
supracitadas.
A tendência de complementaridade e de mixagem entre as ações do Estado,
da sociedade civil e do mercado consolidam-se, principalmente, em favor do capital.
64
Essa conduta cada vez mais comum privatiza as responsabilidades estatais em
favor do mercado, de modo a descaracterizar o Estado como principal mediador e
provedor de direitos sociais na sociedade civil (SILVA, 2010).
As parcerias entre empresas e Estado surtem efeitos avessos à sociedade,
pois despolitizam ações, direitos e deveres, e também desviam de certa forma
recursos do orçamento público para o financiamento de empresas privadas,
ocasionando cada vez mais retrocessos, tensões e desigualdades sociais.
As novas relações neoliberais geram reflexos e implicações para as políticas
sociais – incluindo as cotas raciais, destacadas no segundo capítulo deste trabalho –
desde a descentralização, privatização, fragmentação, focalização e seletividade,
no que se refere ao acesso e à implementação das mesmas, até o resgate do
caráter pragmático e assistencialista mediada por práticas paliativas. Além da
redução da participação do Estado e sua neutralidade na esfera social, formando um
conjunto de ataques à efetividade e materialização qualitativa e universal das
políticas sociais.
Ainda nesse tocante, o projeto neoliberal em vigor pautado na concentração
de renda e apropriação de poder aprofunda as múltiplas manifestações da questão
social, expressa através da miséria, pobreza, desemprego e desigualdade social,
atrelada também à regressão de direitos conquistados.
Nesse contexto, é nítida a retirada das ações governamentais públicas no que
abrange as necessidades sociais em benefício da sua privatização, acarretando a
fragmentação das lutas e conquistas sócio-políticas, principalmente na conquista
dos direitos. De um lado existe a responsabilidade governamental para o interesse
público em favor da sociedade, por outro lado há um avanço na mercantilização da
demanda dos atendimentos sociais, ambos refletem a desvitalização da política em
face da questão social.
Por conseguinte, no cenário de avanços e retrocessos dos direitos sociais e
fundamentais construídos no decorrer da história, na atual conjuntura
contemporânea a proteção social tenciona-se, ou seja, os direitos e políticas sociais
no campo da previdência, assistência social, saúde e educação sofrem o desmonte
(restrição e redução) no seio do neoliberalismo e égide capitalista.
65
Nessa perspectiva, particularizamos a esfera educacional associada à política
de Assistência Estudantil enquanto política pública e política compensatória, pois
embora seja essencial para aqueles que dela necessitam, não possibilita soluções
reais direcionadas à promoção da transformação da realidade social do discente
devido ao reordenamento do Estado e incisiva ofensiva neoliberal. Pois,
[...] como resultante da ofensiva neoliberal, expande-se um contingente de alunos que não consegue se manter na universidade, seja pela democratização do acesso da classe trabalhadora à universidade, seja pelo processo de empobrecimento brutal a que a população brasileira vem sendo submetida. (LEITE, 2012, p. 462)
Para a abertura de novos horizontes destinada ao sujeito pobre e negro não
basta apenas oportunizar o ingresso à educação federal através da Política de
cotas, mas, também, promover e possibilitar condições de permanência. Pois, o
acesso e permanência na educação mantêm uma relação indissociável, e ainda, o
acesso isolado de medidas de permanência é insuficiente para o percurso escolar
satisfatório do cotista, levando-o até mesmo à desistência forçada.
No ano de 2010, através do Decreto 7.234 foi aprovado o Programa Nacional
de Assistência Estudantil (PNAES). Seus princípios e objetivos são direcionamentos
para a elaboração de políticas educacionais para os estudantes inseridos nas
instituições federais de ensino, dentre eles o Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnológica do Rio Grande do Norte. Esse Programa ganha materialidade através
dos demais programas e projetos que o constituem, os quais asseguram
prioritariamente o desfruto deste por parte de estudantes de baixa renda. Nesse
contexto social, a Assistência Estudantil torna-se um instrumento legal e de direito
(SOUZA; OLIVEIRA, 2016).
O PNAES, executado no âmbito do Ministério da Educação (MEC), tem como
finalidade ampliar as condições de permanência de estudantes de baixa renda
matriculados em cursos presenciais das Instituições Federais. O objetivo é viabilizar
a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria
do desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de
repetência e evasão.
66
Diante disso, a assistência estudantil na condição de politica apresenta-se
como mecanismo de direito social visando à garantia igualitária de oportunidades, do
acesso à educação, permanência, desenvolvimento intelectual e bom desempenho
acadêmico do estudante, por meio do provimento de condições mínimas diante das
necessidades sociais que emergem da realidade dos discentes com baixa condição
socioeconômica, seja mediante a disponibilização de recurso financeiro e ou
acompanhamento pedagógico.
O PNAES oferece assistência à moradia estudantil, alimentação, transporte,
saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. As ações são
executadas pela própria instituição de ensino, que deve acompanhar e avaliar o
desenvolvimento do Programa, o qual atende, prioritariamente, estudantes oriundos
da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um
salário mínimo e meio. Conforme avalia França, em linhas gerais:
A assistência estudantil vem se construindo sem dúvida, nos últimos anos, na principal ação desenvolvida pelo governo federal, com vistas à oferta de serviços voltados à permanência dos estudantes nas instituições educacionais federais de ensino (FRANÇA, 2013, p. 92).
Todavia, a Política de Assistência estudantil (PAE) emana do movimento
endógeno de inclusão e exclusão – característica marcante das políticas sociais
brasileiras – adotando critérios de elegibilidade e condicionalidade, permeáveis à
seleção para a efetivação da garantia do “auxílio” solicitado pelo discente.
O enfoque é assegurar o direito à assistência estudantil por meio da avaliação socioeconômica e conforme a disponibilidade orçamentária, perdendo-se de vista a possibilidade de ampliação dos direitos relacionados às condições de permanência na educação superior e na educação profissional (FRANÇA, 2013, p. 106)
Logo, o caráter minimalista, focalista e seletivo da PAE obstrui a efetividade
da universalização das ações propostas pela política. Tal limitante representa um
reflexo da contra reforma neoliberal que reduz o direcionamento da política apenas a
uma parcela dos sujeitos sociais, categoricamente considerados os mais vulneráveis
entre os vulneráveis.
67
Como já dito, a seletividade perpassa os critérios de elegibilidade e
condicionalidades mediante a ampla demanda de solicitantes aos programas de
assistência estudantil, bem como a baixa oferta de vagas, sendo inviável a inserção
de todos os solicitantes, mesmo quando atendem aos critérios preestabelecidos. Na
verdade,
O que vem ocorrendo, na prática, é a adoção de critérios socioeconômicos que asseguram a inserção de apenas uma parcela dos estudantes em um número cada vez maior de estudantes das classes populares que não veem garantidas as condições objetivas para o desenvolvimento do estudo, pois, frente ao número insuficiente de vagas nos diversos programas de Assistência Estudantil, o recorte de renda é determinante para a inclusão, sendo selecionados àqueles de menor renda (FRANÇA, 2013, p. 106).
Diante desse quadro, é irreal pensar que todos os estudantes da classe
popular inseridos na esfera pública federal estão sendo beneficiados através dos
programas inerentes à Política de Assistência Estudantil, pois a restrição
orçamentária do Estado limita a disponibilidade de vagas oferecidas por cada
programa. Assim, mostra-se desproporcional ao desconsiderar a presença do
elevado quantitativo de estudantes vulneráveis economicamente e dependentes da
assistência estudantil para a continuidade das atividades e bom desempenho
acadêmico. Além de outros aspectos recriados historicamente, relativos às políticas
sociais brasileiras, conforme já discutido nas linhas anteriores, contemplando a
assistência estudantil atingível pelas ideologias e redirecionamentos da
contrarreforma do Estado.
Observa-se, portanto, que o acesso à assistência estudantil vem se firmando
como direito ainda restrito, condicionado ao perfil socioeconômico dos estudantes e
ao recurso financeiro disponível para o atendimento da demanda, configurando-se
como uma nítida focalização nos segmentos mais pauperizados, descaracterizando
a universalização da oferta (FRANÇA, 2013).
68
3.2 O “PERFIL” SOCIOECONÔMICO E AS CONDIÇÕES REAIS DE
PERMANÊNCIA NO COTIDIANO ESCOLAR DOS DISCENTES COTISTAS DO
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE – IFRN CAMPUS SÃO GONÇALO DO
AMARANTE-RN
As instituições são espaços sócios ocupacionais nas quais os atores sociais
compõem e integram a estrutura organizativa, administrativa e ideopolítica. Nestas,
cada um possui funções, particularidades e interesses, visto que as instituições
configuram-se como formas organizativas e operacionais da sociedade, bem como
aparelhos econômicos, políticos ou ideológicos, capazes de gerar exploração,
dominação e mistificação (BISNETO, 2011).
A base estrutural do IFRN enquanto espaço sócio ocupacional propagador de
princípios educacionais, éticos, culturais e políticos – integra e reúne um vasto
agrupamento de atores sociais distintos, portadores de peculiaridades, funções,
responsabilidades, interesses e protagonismos particulares. Neste ponto, entre
tantos envolvidos cabe aqui destacar as particularidades sociais e econômicas dos
discentes cotistas do IFRN campus São Gonçalo do Amarante – RN, os quais
desempenham papel imprescindível para o funcionamento da instituição, do mesmo
modo que esta deve ser principal responsável pelo permanente protagonismo dos
discentes.
Na medida em que os institutos federais aderem às cotas, ocorre um
estreitamento do abismo entre os indivíduos negros de classe popular e a
concretização do acesso à educação federal. Entretanto, os limites e exigências
impostas para a permanência dos alunos beneficiados pelas cotas compõem o
principal dilema presente no universo acadêmico. Passos e Pereira (2007, p. 30)
destacam que “[...]. Quando a barreira do acesso é transportada pelos estudantes de
origem social desfavorecida, surgem os obstáculos relativos à realização dos
estudos (permanência no interior do campo [...]”. 20
20 O termo campo utilizado pelos autores refere-se ao campo universitário (espaço educacional).
69
Nessa tônica, as cotas raciais é aparelho legal de ingresso e acessibilidade à
educação federal para indivíduos negros e em posição desfavorável social
economicamente, haja vista que tal política apenas transcende a barreira impeditiva
do acesso e inclusão, porém não detêm mecanismos de permanência e adaptação
com vistas a dar suporte aos cotistas imersos no novo e desconhecido campo
educacional.
Uma expressiva parcela desses alunos – nos anos iniciais marcados pela
adaptação nos institutos federais – enfrenta o processo de estranhamento e
dificuldades ao relacionar-se e defrontar-se com uma nova modalidade de ensino,
com um corpo docente preparado e qualificado, com novas metodologias de ensino,
com uma boa estrutura física colocada à disposição do estudante e, por fim, com as
exigências normativas próprias dos IF’s.
A condição socioeconômica do discente infere diretamente na nova
experiência educacional, pois tal quadro não muda com celeridade, ou seja, as cotas
raciais não possibilitam de imediato a transmutação da condição econômica do
discente. Isto pode ocorrer, em alguns casos a longo prazo, sendo influenciados por
fatores objetivos e subjetivos.
Destarte, vários cotistas em face do seu contexto social e econômico tende a
coabitar com a desigualdade de permanência no IFRN campus SGA, precisando de
apoio institucional para superar as dificuldades socioeconômicas que impactam
diretamente o processo de ensino aprendizagem e, consequentemente, o
desempenho acadêmico.
Para tracejar o perfil socioeconômico dos sujeitos da pesquisa, aplicamos
individualmente um questionário socioeconômico (apêndice 2) com perguntas
abertas, de fácil compreensão e bastante objetiva, apresentando questões relativas
a renda do grupo familiar, situação de moradia, profissão dos genitores do discente
e provedor da família, profissão ou ocupação do provedor da família, participação
em programas governamentais, grau de instrução do provedor da família e
correlatos. A segunda parte do questionário levantou questões quanto a forma de
ingresso e permanência do estudante no IFRN, a saber: frequência escolar,
participação nos programas de assistência estudantil e afins.
70
Em outra etapa da pesquisa de campo, realizamos entrevista semiestruturada
(apêndice 1) do tipo face a face com estudantes do IFRN – campus São Gonçalo do
Amarante, que possibilitou a livre participação e colocação opinativa dos
entrevistados. Nessa direção, buscamos obter uma aproximação com a situação e
condição socioeconômica dos discentes no cotidiano familiar, escolar e social, visto
que a situação socioeconômica desses sujeitos é objeto condicionante na trajetória
escolar.
Ressaltamos que no início da pesquisa tínhamos a intencionalidade de
realizá-la em dois campi: o da Zona Norte e o de São Gonçalo do Amarante-RN,
além de entrevistar e aplicar o questionário para 3 (três) estudantes do 1º ano do
curso de informática, categoria L2 (integrado) – haja vista o processo de
estranhamento com o qual se defrontam ao ingressarem no instituto – e 3 (três)
estudantes do 3º ano do mesmo curso, considerando os múltiplos desafios
enfrentados e superados ao longo dos três anos de ensino. Todos os estudantes do
turno vespertino, de cada um dos campi supracitados, totalizando 12 (doze)
discentes. No entanto, a realização dessa projeção não foi possível em razão do
curto tempo, assim como o aparecimento de alguns percalços.
O conhecimento das condições socioeconômicas do sujeito, nas quais está
inserido, esclarece e abre caminhos para uma compreensão ampliada acerca dos
entraves, dificuldades e desafios refletidos na trajetória escolar. Pois, a imersão do
discente de classe popular em um sistema escolar superior àquela vivenciada
anteriormente por eles – quase sempre caracterizada pela precarização em diversas
dimensões – colide com o conjunto de aspectos econômicos e sociais presentes no
seu campo de origem. Nessa perspectiva, delinearemos adiante o “perfil”
socioeconômico dos cotistas entrevistados.
Considerando os aspectos mencionados acima sobre o plano de entrevistas,
ao final a execução destas contemplou 4 (quatro) estudantes dentre os 6 (seis)
pretendidos no campus São Gonçalo do Amarante. Todos os discentes integravam
na ocasião da entrevista o curso técnico de nível médio na forma integrada,
cursando o 1º ano de edificações, dentre estes, dois do turno matutino e dois do
71
turno vespertino. Sendo 3 (três) do sexo masculino, com faixa etária entre 17-18
anos, e 1 (um) do sexo feminino, com faixa etária entre 15-16 anos.
Percebe-se que a idade dos entrevistados relacionada ao nível escolar (1º
ano) cursado pelos discentes denota o ingresso tardio no ensino médio e,
consequentemente, uma finalização tardia transcorridos os 3 (três) anos para a
obtenção do diploma de conclusão do ensino médio. Afirmamos ingresso tardio,
pois, em conformidade com as informações prestadas no questionário e entrevistas,
nenhum dos entrevistados sofreu reprovação após ingressarem no IFRN, seja por
nota ou falta, apenas um deles desistiu um ano, retomando os estudos no ano
posterior, por não sentir-se pertencente à turma devido a sua deficiência ocular.
Segundo o estudante a maioria dos membros da turma não o integrava nas
atividades e nos grupos em sala de aula, e ainda o tratava com indiferença,
tornando-se empecilho para continuidade dos estudos. Como podemos observar no
relato a seguir:
Assim... Muitas vezes... É... independente da educação ser todos para a mesma pessoa, mas, sempre tem uma sala que a pessoa não se encaixa, digamos assim. Assim, como eu falei pra você eu não me sentia encaixado na turma, aí eu desisti e renovei a minha matrícula. Aí eu conversei com minha mãe e falei que eu iria desistir, porque a sala que eu “tô” eu não me encaixava com as pessoas e não era visto como igual. (Entrevista – E1)
Ainda na linha de caracterização dos entrevistados beneficiários das cotas
raciais, todos são estudantes de origem popular, residentes e domiciliados na área
urbana – elemento que facilita o acesso ao transporte público e deslocamento até a
escola – em que 75% reside no município de São Gonçalo do Amarante e 25%
reside em Macaíba, localidade próxima ao campus. Entre estes, 75% residem em
domicílio próprio e 25% em domicilio alugado.
O grupo familiar pertencente aos entrevistados enquadra-se como
quantitativamente extenso, detendo um rendimento familiar bruto restrito (conforme
se verifica no Gráfico 2), considerando o número de integrantes por família e suas
respectivas responsabilidades domiciliares básicas – praticamente 90% da renda é
destinada para as despesas domiciliares e cotidianas. Observamos, assim, que o
72
rendimento mensal é baixo para proporcionar uma qualidade de vida em condições
satisfatórias.
GRÁFICO 2 – Grupo familiar e renda familiar bruta dos cotistas entrevistados
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
Entre os entrevistados, 50% participam do programa governamental Bolsa
família21, significando um auxílio complementar à renda familiar; os demais não
21 O Bolsa Família é o programa criado pelo Governo Federal Brasileiro através do decreto no 5.209/2004 que regulamenta a Lei do programa bolsa família de nº 10.836/2004. O benefício é destinado às famílias em situação de extrema pobreza, além de incentivar crianças com idade escolar a não desistirem dos estudos. O último decreto nº 8.794 de 29 de Junho de 2016, delibera algumas alterações e define o valor atual do benefício: “Art. 18. O Programa Bolsa Família atenderá às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, caracterizadas pela renda familiar mensal per capita de até R$ 170,00 (cento e setenta reais) e de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), respectivamente.
I - benefício básico, no valor mensal de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), destinado a unidades
familiares que se encontrem em situação de extrema pobreza;
II - benefício variável, no valor mensal de R$ 39,00 (trinta e nove reais) por beneficiário, até o limite de
R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) por família, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição:
0
1
2
3
4
5
6
Renda familiar bruta por salariomínimo
Quantitativo do grupo familiarincluindo ocotista/entrevistado
73
participam de nenhum programa governamental. Por outro lado, as atividades de
cunho remunerado executadas pelos provedores das famílias dos participantes
alimentam o quadro de ocupações informais ausentes de qualificação profissional,
podendo ser visualizadas no quadro abaixo:
QUADRO 2 – Ocupações do provedor da família dos entrevistados e participação nos
programas governamentais, segundo informações fornecidas no questionário sócio
econômico
Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4
Ocupação do provedor da família
Auxiliar de cozinha
Pedreiro Aposentado Aposentado
Participação em programas governamentais
Nenhum Sim - CAD único (Bolsa Família)
Sim - CAD único (Bolsa Família)
Nenhum
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
III - benefício variável vinculado ao adolescente, no valor mensal de R$ 46,00 (quarenta e seis reais)
por beneficiário, até o limite de R$ 92,00 (noventa e dois reais) por família, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição adolescentes com idade de dezesseis a dezessete anos matriculados em estabelecimentos de ensino;
V - benefício para superação da extrema pobreza, cujo valor será calculado na forma do § 3o, no limite
de um por família, destinado às unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família que apresentem soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros previstos nos incisos I a III do caput igual ou inferior a R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) per capita.
§ 3o O valor do benefício para superação da extrema pobreza será o resultado da diferença entre R$
85,01 (oitenta e cinco reais e um centavo) e a soma per capita referida no inciso V do caput, multiplicado pela quantidade de membros da família, arredondado ao múltiplo de R$ 2,00 (dois reais) imediatamente superior.” (BRASIL, 2016).
74
As limitadas condições econômicas dessas famílias impulsionam os discentes
a vislumbrarem e depositarem na educação a garantia de uma vida melhor, digna e
com maiores possibilidades para o sucesso profissional, assim como transpor as
barreiras da pobreza, consolidando uma via estratégica para a mudança das
condições objetivas.
Para tanto, os discentes assumem a postura de principal transformador da
realidade vivenciada por suas famílias e abraçam com todas as forças a conquista
de terem ingressado no IFRN, ou seja, em uma educação pública de qualidade,
depositando uma vasta expectativa na conquista adquirida, visando um futuro
pessoal e familiar melhor e em condições mais dignas do que aquelas vivenciadas
por gerações anteriores. “Portanto, o ingresso nessas instituições e, em particular,
no IFRN cria um conjunto de expectativas por parte dos estudantes em torno da
possibilidade real de melhores condições de vida e de trabalho, a partir de então”
(FRANÇA, 2013, p. 58). Podemos notar essas ponderações, a partir da concepção
pessoal dos discentes acerca da educação e de sua a importância como projeto de
vida.
A educação na minha vida, é como se fosse um caminho para uma vida melhor. A educação é meu futuro! (Entrevista – E1)
Se você não estudar, você não vai ser ninguém no futuro. (Entrevista – E2)
Porque para ter um bom futuro qualquer um precisa de educação. Tudo, né? Porque, arrumar um bom emprego. Ajudar minha família. (Entrevista – E3)
Tem como um algo melhor, de subir na vida tendo uma educação boa, é a partir da educação que você respeita as outras pessoas, seja ela como for. (Entrevista – E4)
Quanto ao nível de instrução do provedor da família, 50% possui o ensino
fundamental incompleto; 25% é analfabeto e os 25% restantes o entrevistado não
soube declarar. São, portanto, sujeitos possuidores de um nível de escolarização
baixa, distantes de uma educação tecnológica, profissional e superior; essa
realidade denuncia um ciclo educacional familiar precário, deficiente e inacabado,
sendo rompido pela primeira vez pelos filhos da classe trabalhadora ao acessarem
uma educação federal. As ocupações informais prejudicam e ferem os direitos do
75
trabalhador, uma vez que não garantem a proteção e direitos trabalhistas
estabelecidos por lei; o vínculo informal retrata a precarização e perdas submetidas
ao trabalhador.
A realidade familiar e os aspectos apresentados até o momento revelam
prementemente uma negação das possibilidades de acesso a condições dignas e
aos meios necessários à construção de condições de vida em patamares de
cidadania para inúmeros sujeitos e famílias brasileiras, tais como: trabalho digno,
educação de qualidade, dentre outros (FRANÇA, 2013).
Diante do contexto familiar socioeconômico, os estudantes entrevistados são
egressos da rede educacional pública de ensino municipal, demarcada pela
escolarização precária, insuficiente e deficitária, sendo perceptíveis as lacunas na
apreensão dos conteúdos durante o ensino fundamental por meio de uma educação
superficial, embasada prioritariamente no repasse parcial de conhecimento.
Assim... (pausa) Me sinto como uma pessoa privilegiada. É... Tipo, eu sei que várias pessoas tentaram, que já fez a prova e não passou. Muitas entram em desespero. E, eu como... É ser um aluno, ter passado nessa prova do IF, eu tenho que me sentir e me colocar numa posição de aluno federal. E... Seguir minhas metas (Entrevista –E1)
Porque antes eu não era de estudar em casa, eu não era de estudar, porque o professor não cobrava. Aí eu nunca fui né? Aprendia e decorava a revisão que ele passava lá, era o mesmo jeito na prova. Aí eu pegava acertei tudo. Aí, aqui não a gente estuda e estuda em casa, porque cobra muito (...) (Entrevista- E2)
Vejo-me como uma pessoa privilegiada, tendo um ensino bem melhor (Entrevista- E4)
Conforme pontuado pelos discentes cotistas, a entrada no IFRN os torna
sujeitos privilegiados. França (2013, p. 58) observa que “quando nos referimos à
escolas de rede pública, as instituições federais, mesmo com inúmeras dificuldades,
contam com a estrutura e corpo docente de trabalho diferenciados das demais
escolas da rede municipal e estadual”. Assim, o ensino federal promove para os
cotistas uma nova rotina e hábitos de estudos interclasse e extra classe, em face da
adoção de uma educação embasada, teórica, reflexiva, exigindo a adaptação e o
acompanhamento do ritmo da instituição. Atrelada a essas novas vivências se
constroem entre os estudantes expectativas do que estas poderão proporcionar no
76
futuro. O contato com o novo universo acadêmico exige uma nova postura e hábitos
de estudos pelos novos alunos, sendo assim o acompanhamento do ritmo de estudo
foi relatado pelos entrevistados como uma das dificuldades iniciais para
permanência, as quais vêm sendo reduzidas gradualmente ao longo do processo de
adaptação. Isso também é resultado do déficit de ensino fundamental público.
Até hoje “ta” triste (gargalhadas). Mas, essas dificuldades Diminuíram. Digamos que é... Ao longo do tempo a pessoa vai criando (pausa) mais experiência e como lidar com essas dificuldades (Entrevista – E1).
No comecinho eu senti um pouco de dificuldade de acompanhar o ritmo, mas depois eu consegui. Que eu comecei a criar o hábito de estudar (Entrevista – E2).
As questões iniciais, bem como a breve exposição em torno das condições
socioeconômicas e objetivas experienciadas por estudantes cotistas entrevistados,
desembocam diretamente nas condições de permanência no IFRN, os quais buscam
apoio na Política de Assistência Estudantil para a efetividade de uma permanência
exitosa na instituição e conclusão do ensino médio tecnológico. Os resultados da
entrevista revelam que os programas de alimentação e transporte inerentes à
assistência estudantil contribuem incontestavelmente para a permanência dos
discentes no instituto federal campus S.G.A. Dentre os 4 (quatros) entrevistados, 3
(três) são beneficiários.
Eu moro com minha mãe e meus irmãos, mãe e pai são separados. Pai eu mal tenho contato com ele. Aí no caso por semana eu gasto por média catorze e pouco com passagem, fora o lanche se eu vir de manhã é claro que numa hora eu vou sentir fome, que eu saio de casa sem tomar café e tal. Aí no caso mãe recebe dinheiro por mês (pausa) ela paga aluguel e tal, e toda semana ela tem que separar o dinheiro da minha passagem. Aí, no caso muitas vezes ela não tinha o dinheiro e ela tinha que arranjar, pedir adiantado, uma despesa a mais. Então, esse auxílio transporte é como se fosse todo mês eu tivesse o dinheiro da minha passagem. Como se não tivesse em me preocupar em vir pra escola, como vir pra escola. É uma garantia. [...] também pelo auxílio alimentação. É claro você sabe que os alunos do IFRN passam muito mais tempo aqui do que em casa. Praticamente, a gente vive aqui e dorme em casa. Digamos que muitos alunos “tipo” estudam pela tarde e estudam pela manhã, ou seja, fica no contraturno e precisa de uma alimentação. No meu caso como eu estudo no horário vespertino, é... A maioria das vezes eu “to” aqui pela manhã ou pela manhã e pela tarde. Isso pra fazer trabalho e pela tarde estudar normal. É claro que eu não aguentaria ficar de manhã até de noite sem me alimenta. É... E o almoço do IF também é uma garantia que eu vou ter meu alimento,
77
o meu almoço naquele dia que eu vou necessitar. Eu recebo o auxilio (...) três dias. Mas quando eu tipo eu preciso vir, eu vou lá na pedagogia e peço (Entrevista – E1).
Os dois auxílios (transporte e alimentação) eu acho que contribuíram para a minha permanência, mas o mais é o transporte. Mas o da alimentação não muito, teve uma vez que eu tinha almoço e sem vê de que eu comprei um salgado, aí nem almocei, e eu nem senti muita diferença assim. Eu acho se for assim, pelo mais eu acho que foi o auxílio transporte. O auxílio alimentação eu recebo só em três dias a alimentação. (Entrevista – E2).
Portanto, os relatos dos estudantes reafirmam o lugar que ocupam os
referidos benefícios provenientes da assistência estudantil no cotidiano de sua vida
acadêmica. Houve o acesso por intermédio da política de cotas raciais, através do
ingresso no IFRN, mas a permanência e posterior conclusão do curso são etapas
que necessitam serem superadas. Devido a ampla demanda de solicitantes dos
auxílios e o reduzido orçamento financeiro disponibilizado pela instância estatal, a
instituição de ensino utiliza algumas estratégias para incluir o máximo de discentes
possíveis nos programas. Uma das estratégias refere-se a delimitação do
quantitativo de dias para o usufruto do auxílio alimentação, sendo definido de acordo
com os dias que os estudante permanece no contraturno escolar para alguma
atividade acadêmica. Isto posto, evidencia-se que a necessidade para o acesso à
alimentação é superior aos dias estabelecidos, pois dependendo do período letivo o
discente permanece no contraturno durante toda a semana. Consequentemente é
esse o terreno de fragmentação e seletividade típicos da política de assistência
estudantil facejado pelos estudantes.
Ao questioná-los (a) se na ausência da concessão dos auxílios seria possível
a participação nas aulas, os entrevistados (a), ratificam a sua importância, sobretudo
pelo fato de amenizar nas retiradas mensais do rendimento familiar, que certamente
atenderá a outras prioridades, caso o estudante tenha acesso ao benefício.
Mais ou menos, eu acho que conseguiria, mas ajudou mais. E pra eu não tirar dinheiro do meu pai né, pra pagar (Entrevista – E2).
Eu acho que isso aí, já é uma ajuda né. Porque, o salário lá em casa, só quem “ta” ganhando assim é meu padrasto, ele sofreu um acidente de moto. Aí só quem ganha lá é ele. Eu tenho auxílio transporte e alimentação. Alimentação, eu tenho quatro vezes por semana. Porque tipo, eu vou dar o exemplo do almoço, se eu não tivesse almoço, eu teria que gastar com comida (Entrevista – E3).
78
Em suma, os relatos e análise das entrevistas e questionário apontam que
dentro dos limites e deficiências da Política de Assistência Estudantil, e embora a
concessão dos programas da assistência estudantil sejam gestados por recursos
desproporcionais à demanda, os cotistas entrevistados estão sendo contemplados e
beneficiados. Isto é, os auxílios transporte e alimentação têm sido acessados e
favorecido a frequência escolar e o desempenho acadêmico.
3.3 OS DESAFIOS ORIUNDOS DA RAÇA E DA CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS
COTISTAS DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE – IFRN CAMPUS SÃO
GONÇALO DO AMARANTE
A expansão da democratização do acesso no IFRN estendida aos campis a
partir da adesão das ações afirmativas, em especial as cotas raciais instituídas em
2012 conforme já apresentado no capítulo anterior, ampliou significativamente a
presença de estudantes de origem popular, fomentando a diversidade e o
alargamento de novas representações estudantis no interior dos institutos federais.
Esses resultados nos levam a reconhecer que,
[...]. Essas medidas, dentre outras, inegavelmente vêm contribuindo para maior inserção nas instituições de educação federais de segmentos historicamente excluídos dos bancos escolares: jovens e adultos com trajetórias escolares marcadas pela descontinuidade; adolescentes de famílias da classe trabalhadora; mulheres pobres; dentre outros (FRANÇA, 2013, p. 58).
São esses os alunos cotistas do IFRN campus São Gonçalo do Amarante,
membros de segmentos vulneráveis, de famílias com trajetórias escolares
descontínuas e interrompidas pela necessidade econômica e de sobrevivência –
marcadas pela troca dos estudos pelo trabalho – e, ainda, filhos da classe
trabalhadora, tendo pela primeira vez acesso à educação diferenciada. Destarte, as
cotas raciais têm relevância enquanto mecanismo central para o ingresso do sujeito
negro de origem popular no IFRN. Mas qual a concepção ou o sentido das cotas
raciais para os entrevistados? Dos 4 (entrevistados) apenas um não expressou sua
opinião.
79
Eu... A minha média foi boa, então... eu acho que eu teria entrado pela ampla concorrência, ou não se tivesse alunos, assim, com pontos maior claro que eu não teria entrado. A cota é... A cota é assim, é um centro muito bom para alunos que realmente depende, como dependentes. Vejo sim, as cotas como um caminho central de acesso pessoal. Porque, tipo... Os alunos das escolas privadas tem melhor acesso, melhor conhecimento para fazer uma prova, do que os alunos que vieram de escola pública. E claro, se alunos de escola pública fosse concorrer no mesmo nível que uma escola privada, claro que uma escola privada iria ter melhor chance (Entrevista – E1) Eu acho que sim. Porque, muita gente também, teve uma nota maior que eu, mas só que não tinha essas cotas (Entrevista – E3)
Além dos dois relatos acima, que de certa forma convergem na compreensão
sobre a importância das cotas raciais para o ingresso em espaços de educação tais
como os IFRNs, houve um relato que divergiu acerca da necessidade de cotas para
estudantes negros, e do preconceito que perpassaria essa política.
A racial eu ainda não entendo porque tem isso, eu não ainda entendo porque tem pra você entrar. Mas, eu acho que isso é muito nada haver. Eu não entendo o negócio da raça é tudo muito assim né? Meu Deus, só porque eu sou mais Pardo, eu sou mais “burra” do que àquela pessoa e eu tenho que entrar, eu não entendo ainda. Acho que o burro vem de uma ideia muito preconceituosa. Porque se não existe preconceito não devia existir isso não. Na minha opinião, eu acho que não deveria existir cota pra negro, porque eu sou que nem ele e porque eu tenho cota? eu sou humana como essa pessoa, aí só porque eu sou mais escura, ou mais clara, isso não tem nada a ver. Mas é assim né. Eu acho que o governo está fazendo uma diferença das pessoas brancas. Aí, só porque eu sou negro, eu não tenho tanta capacidade como àquela pessoa de entrar nessa escola por causa da minha cor. Isso é tipo um preconceito do outro (Entrevista – E2 – Grifos nossos)
A contradição e discurso anti-cotas acima advém de um estudante que
ingressou através das cotas e mesmo assim diverge e se opõe a necessidade de
cotas para negros. Segundo o seu ponto de vista as cotas raciais reforçam a
discriminação de cor e atitudes racistas, haja vista a inexistência de preconceito
racial no Brasil. A naturalização das desigualdades raciais presente na fala
considera o funcionamento da democracia racial em tempos que o racismo camufla-
se e estampa-se de várias maneiras em uma sociedade onde,
Negros e negras sofrem com ataques racistas há gerações. Já passou do
momento de acontecer, no mínimo, uma reparação integral. A estigmatização é uma
80
arma muito poderosa, pois fortalece o preconceito, baixa a auto-estima de um povo
e minimiza os efeitos de uma diáspora (SILVA, 2014).
Em contraponto ao discurso do entrevistado a discriminação racial existe
antes da implementação das cotas raciais e a exclusão do negro precede a era
contemporânea, fatos que comprovam o mito da democracia racial no país. Num
país onde o racismo se perpetua por meio da restrição do acesso à educação, à
saúde, habitação e outros direitos básicos, bem como pela imposição de distâncias
sociais entre grupos raciais. É justamente o reconhecimento da perpetuação do
racismo e hierarquização social e racial histórica as razões fundantes da política de
cotas raciais com vistas a amenizar as desigualdades educacionais e sociais grupos
raciais.
O ponto de vista dos cotistas, desnuda questões adversas, bem como
contundentes nos debates em torno das cotas raciais. De modo geral percebe-se,
por exemplo, o desconhecimento da Lei 12.711/2012 e de seus benefícios em favor
dos sujeitos negros e economicamente desfavoráveis, ou seja, em favor dos
próprios entrevistados e a falta de pertencimento racial. Em primeiro lugar a
formulação e implementação do sistema de cotas raciais pelo Estado,
Não se trata, portanto, de uma suposto “coitadismo” do Estado brasileiro para
com os negros, tampouco de qualquer tentativa de estabelecer um “racismo reverso”
tomando a vaga de brancos; se trata de ocupação de espaços que sempre foram
negados para os negros brasileiros e que, através da inserção, formalizam o
combate ao racismo estrutural que se formou no Brasil e que vitimiza mais da
metade de sua população (XAVIER, 2014).
E em segundo a aproximação e análise sócio histórica da realidade brasileira
permite a percepção elementos e fatores propiciadores de submissão, privação e
exclusão da população negra, e ainda elucida a situação e condição destes na
atualidade. Diante disso, nada mais justo que a aplicação de medidas estatais
possibilitadas de mudança, tais como: as cotas raciais e a criação de outras políticas
que busquem ascender o negro no Brasil, mesmo que tardiamente.
Considerando que ao ingressar no instituto federal o cotista leva consigo a
sua precária condição proveniente do âmago da desigualdade social, no início da
81
pesquisa não excluímos a existência de desafios relacionados à discriminação
econômica e ou racial, retaliações e afins associadas à questão racial e condição
socioeconômica no interior da escola federal. Os entrevistados alegam que nunca
houve ou não notaram qualquer tipo de discriminação na esfera institucional, segue
as falas:
Não! Sim ou não... Muitas vezes, pelo preconceito com o meu olho e tal... É... Muitas vezes deixam ligar uma coisa com a outra, mas muitas pessoas não, como essa sala que eu “to” agora é eu sou visto como igual... Aqui no IF não, mas na vida já. É, tem aquela pessoa que eu sou rico “to” na frente, pobre tem que fica lá em baixo, rico tem que ficar em cima. Não, só o preconceito físico na rua, aqui não. (Entrevista – E1) Não. Aqui é muito fora preconceito. O pessoal aqui não “ta” nem aí pra raça, essas coisas. Eu acho que não de jeito nenhum (Entrevista – E2) Não. Até hoje não. (Entrevista – E3)
Os desafios provenientes da raça e condição socioeconômica de acordo com
os cotistas ocorrem apenas no campo social por intermédio das relações em
comunidade, não sendo identificadas formas de preconceitos ou racismo que
venham a dificultar o desenvolvimento acadêmico no instituto.
Em síntese, a não identificação de atitudes discriminatórias (raciais) por
partes dos estudantes entrevistados nos leva a considerar que os desafios
enfrentados são apenas de ordem social e econômica inseridos campo da
vulnerabilidade social dos sujeitos. Todavia, reafirmamos que a discriminação racial
é velada e latente nos diversos campos sociais, sobretudo o educacional.
82
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção de reflexões acerca da viabilidade das cotas raciais enquanto
caminho para o acesso a instituições educacionais de cunho federal requer, a
princípio, reflexões analíticas de questões precedentes à formulação da política
inclusiva em favorecimento dos negros, formando a compreensão do movimento
sócio histórico dialético imprescindível para o alargamento de concepções apuradas
e concisas, capazes de apreender o contexto social que circunscreve as relações
sociais do segmento em pauta, principalmente as relações educacionais antes,
durante e após o ingresso no Instituto Federal.
Como já abordado neste trabalho, no Brasil as ações afirmativas integram
uma medida compensatória de enfrentamento à herança histórica de escravidão,
segregação racial e racismo contra a população negra, aspectos bastante
disseminados no país. O contexto escravocrata nos permite perceber a criação das
desigualdades sociais e sua extensão na atualidade, aprofundada pelo modo de
produção capitalista, demonstrando o abismo social entre brancos e negros, bem
como ricos e pobres, uma vez que os negros integram em maior escala os índices
percentuais de pobreza.
A partir da luta coletiva do movimento negro brasileiro e reconhecimento da
desigualdade de classe e racial, o Estado aciona os aparelhos legais para a criação
da política de ação afirmativa de nº 12.711/2012 no âmbito educacional. Vale
ressaltar, que nos anos precedentes à política de cotas raciais a inserção dos
negros ocorreu de modo ínfimo, isto é, uma minoria conseguia integrar os bancos
universitários e lista de aprovados nos IF’s.
O surgimento da política de cotas e a adesão pelos IF’s, de modo particular o
IFRN campus São Gonçalo do Amarante - RN, consiste uma via de oportunidade
para os estudantes negros de origem popular, os quais vivem em campo social
marcado pela pobreza, escolarização familiar incompleta e, às vezes, inexistente
(semianalfabetismo e analfabetismo), familiares em condições de trabalho precárias
aliadas à baixa remuneração (peculiar ao exercício de atividade de trabalho
83
informal), além de frequentarem espaços de escolarização secundária na esfera
pública, quase sempre precarizadas. Com essa leitura, pontuamos que a política de
ação afirmativa não se propõe apenas a reparar as desigualdades sociais e raciais
preexistentes, mas também auxilia no delineamento de uma nova perspectiva de
vida para o segmento negro, tanto na instância educacional, possibilitando acesso à
educação formal de qualidade no nível superior e técnico, quanto nos campo
político, profissional e ocupações de prestígio social, já que o acesso à educação de
qualidade pode vir a ser propiciador de ingresso em outras esferas da vida social.
Por vários motivos discutidos e levantados neste trabalho, afirmamos a
efetividade do sistema de cotas dentro dos limites das políticas sociais brasileiras,
que tem como pano de fundo o Estado orientado pela lógica neoliberal. A
implantação do neoliberalismo no Brasil afeta diretamente as políticas sociais
públicas em uma perspectiva de negação dos direitos sociais, atingindo e causando
prejuízos à população que busca acessá-las.
O Estado mínimo constitui-se como instância máxima para o capital e mínima
para o social, nele as políticas sociais fragmentam-se ao atenderem os interesses
das duas classes fundamentais – Classe trabalhadora e Classe Capitalista. E ainda,
o seu funcionamento para atender à demanda proveniente das necessidades da
população limita-se à disponibilidade do recurso orçamentário pelo Estado, o que
torna a política ainda mais seletiva através da execução de ações pontuais.
Nesse cenário, particularizamos os Institutos Federais enquanto entidade
educacional e executora da política de assistência estudantil. Ressaltamos que
apesar da implementação e funcionalidade positiva das cotas raciais, os artigos
constitutivos dessa política não congregam medidas para a permanência do cotista,
sendo competência da política de assistência estudantil favorecer meios para a
efetividade da permanência acadêmica do discente, ou seja, promover e possibilitar
condições por intermédio do acesso aos programas (auxílio transporte, alimentação,
iniciação profissional) para que esta permanência se concretize.
Nessa direção, a política de assistência estudantil configura-se como política
educacional para os estudantes inseridos nas instituições federais de ensino, dentre
eles o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnológica do Rio Grande do
84
Norte. Visando garantir a igualdade de oportunidades, de permanência,
desenvolvimento intelectual e bom desempenho acadêmico do estudante, através
de programas, tais como: alimentação, transporte, iniciação profissional e outros.
Programas pautados no provimento de condições mínimas diante das necessidades
sociais vivenciadas por discentes de baixa condição socioeconômica.
As ações são executadas pela própria instituição de ensino, sendo a
responsável pelo acompanhamento e avaliação do desenvolvimento do Programa, o
qual atende, prioritariamente, estudantes egressos da rede pública de educação
básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio.
Porém, a política de assistência estudantil traz consigo características de
focalização e seletividade presentes nas políticas públicas brasileiras e, assim, se
distancia do princípio de universalização. O funcionamento da PAE revela o
condicionamento das ações de acordo com a disponibilidade orçamentária, a qual
delimita o quantitativo de vagas para cada programa. Esse caráter de seletividade
restringe a demanda, além de impedir a inclusão de uma maior parcela dos
discentes demandantes e solicitantes dos auxílios. Isto é, nem todos os cotistas
estão tendo acesso à política de permanência, pois é comum o equacionamento
entre os contemplados e não contemplados.
Considerando a pesquisa desenvolvida, deliberamos alguns objetivos para a
materialização e apreensão dos resultados alcançados, conforme mencionado no
início do trabalho. Ressaltamos que alguns dos resultados colidiram com as
suposições prévias e outros enveredaram para o surgimento de questões além dos
objetivos traçados relacionadas aos cotistas entrevistados.
Para melhor entendimento dos resultados, retomaremos os objetivos da
pesquisa realizada. O objetivo geral almejou apreender e analisar a viabilidade do
acesso e desafios relacionados à permanência escolar de estudantes negros
cotistas da modalidade integrada categoria L2 de Institutos Federais do Rio Grande
do Norte. Quanto aos específicos, buscou-se traçar e analisar um “perfil”
socioeconômico dos alunos entrevistados; identificar e analisar o nível de
rendimento e frequência escolar dos alunos cotistas; verificar e analisar a existência
de atitudes discriminatórias no interior dos institutos em decorrência da raça/etnia e
85
situação socioeconômica dos alunos e investigar e analisar os desafios, limites e
possibilidades referentes ao sistema de Cotas Raciais no tocante ao acesso e
permanência de estudantes.
A adesão das cotas raciais pelos IF’s ampliou a democratização do acesso
no interior dessas instituições, significando a ampliação da presença de estudantes
de origem popular. Portanto, essa medida vem contribuindo para uma maior
integração de segmentos historicamente excluídos da esfera educacional,
especialmente os jovens negros da classe trabalhadora. Na maioria dos relatos
feitos pelos cotistas entrevistados, as cotas são vistas como um caminho central de
acesso à rede federal, os quais ainda reconhecem as implicações no processo
seletivo provenientes da diferenciação no nível de escolaridade pública e privada, ou
seja, na ausência das cotas raciais os concorrentes da rede de ensino privada
teriam maior chance de ingresso em comparação aos candidatos da rede pública.
Os cotistas do IFRN campus SGA, estão inseridos em famílias com trajetórias
escolares descontínuas ou interrompidas pela necessidade econômica, são filhos da
classe trabalhadora, tendo pela primeira vez acesso à educação diferenciada.
Destarte, as cotas raciais têm relevância inegável enquanto mecanismo para o
ingresso do estudante negro de origem popular no IFRN.
Após o ingresso dos discentes na instituição, apesar das dificuldades no que
tange ao acompanhamento do ritmo de estudos e adequação às intensas atividades
acadêmicas desenvolvidas no campus, os alunos conseguem manter a frequência
escolar semanal e acompanhamento dos estudos. Dentre os 4 (quatro)
entrevistados, não identificamos nenhum caso de repetência, havendo apenas um
caso de desistência. O nível de rendimento escolar não foi possível identificar devido
à falta de acesso ao Sistema Unificado de Administração pública (SUAP) com as
informações pessoais e acadêmicas dos estudantes.
Observamos ainda, a partir das entrevistas e questionários aplicados, a
inexistência de atitudes discriminatórias (raciais) no interior do instituto, pois de
acordo com os entrevistados nunca houve e ou foi percebida atitudes de preconceito
e discriminação em razão da raça e situação socioeconômica. Os principais desafios
enfrentados pelos estudantes associam-se à condição socioeconômica, os quais são
86
sanados pelo acesso à política de assistência estudantil. Caso não tivessem
conseguido os auxílios, consequentemente, não teriam condições de frequentarem
as aulas, já que o rendimento mensal de suas famílias é destinado para outras
prioridades e necessidades cotidianas.
A efetivação das cotas em favor dos negros no século XXI significa um
avanço no campo dos direitos humanos e sociais, bem como colabora com a
desestruturação da hierarquização racial e classista instituída historicamente no
país. Não podemos negar que a universalização do sistema de cotas ainda não se
consolidou, todavia, contribui com o processo de inclusão daqueles estudantes. A
política de assistência estudantil possui relação direta com as cotas, tendo em vista
possibilitar um caminho para a materialização do ingresso e permanência do
discente cotista.
87
REFERÊNCIAS
Acesso e Permanência da População Negra no Ensino Superior. 1º ed. Brasília: Unesco, 2007. AMARO, Sarita Teresinha Alves. Negros: Identidade, exclusão e direitos no Brasil. Porto Alegre, Tchê Editora, 1997. BARBOSA, Daniela. 5 Casos de racismo que chocaram o Brasil. Exame.com. 2015. Disponível em: http://exame.abril.com.br/brasil/5-casos-de-racismo-que-chocaram-o-brasil/. Acesso em 13 de Abril de 2017. BEHRING, E.B.; BOSCHETTI, I. Política social: fundamentos e história. 9. Ed. São Paulo: Cortez, 2011. Biblioteca básica de Serviço Social; v.2. BISNETO, José Augusto. Serviço Social e saúde mental: Uma análise institucional da prática – 3. Ed. – São Paulo - Cortez 2011. BITTAR, Mariluce; ALMEIDA, Carina E. Maciel de. Mitos e Controvérsias sobre a política de cotas para os negros na educação superior. Educar, Curitiba, nº 28, p. 141-159, 2006. Editora Ufpr. BONI, Valdete; QUARESMA, Sílvia Jurema. Aprendendo a entrevistar: como fazer entrevistas em Ciências Sociais. Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em Sociologia Política da UFSC. Vol. 2 nº 1 (3), p. 68-80, janeiro-julho/2005. BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Lei n.9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. DOU, 23 dez.1996. Disponível em : <http://planalto.gov.br> Acesso em: 12 Abril 2017. BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Lei n.9.394, de 20 de dezembro de 1961. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. DOU, 28 dez.1961. Disponível em: <http://planalto.gov.br> Acesso em: 10 Abril.2017. BRASIL. Lei nº. 12711, de 29 de Agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm. Acesso em 15 de Abr. 2017. BRASIL. Plano Nacional da Educação (PNE). Lei n.13.005, de 25 de Junho de 2014. Estabelece o Plano Nacional de Educação Nacional. DOU, 26 jun.2014. Disponível em : <http://planalto.gov.br> Acesso em: 10 Abril.2017.
88
BRASIL. Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Decreto n.7.234, de 19 de Junho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil. DOU, 20 jul.2010. Disponível em : <http://planalto.gov.br> Acesso em: 11 abr.2017. BRASIL. BRASÍLIA. Decreto nº 8.794, de 29 de junho de 2016; 195o da Independência e 128o da República. BULL, Thalita giovanna. Política educacional e neoliberalismo no Brasil: uma leitura sob a ótica do serviço social / Neo-liberalism and educational policy in brazil: a reading from the perspective of social services. SER Social, Brasília, v. 13, n. 29, p. 65-89, jul./dez. 2011. CARNEIRO, Julia Dias. Não entrevisto negros: a vitima da denúncia viram que expôs o preconceito. Folha de São Paulo. 2017. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1871118-nao-entrevisto-negros-a-vitima-da-denuncia-viral-que-expos-preconceito.shtm. Acesso em 13 de Abril de 2017. BRASIL.CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em 15 Abr. 2017. CRUZ, Mariléia dos Santos. Uma abordagem sobre a história da educação dos negros. Historia da educação do negro e outras histórias. Coleção educação para todos. Brasília. Unesco. 2005; p. 21- 30 BRASIL. Decreto nº 8.794 de 29 de Junho de 2016. Altera o Decreto no 5.209, de 17 de setembro de 2004, que regulamenta a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família, e o Decreto nº 7.492, de 2 de junho de 2011, que institui o Plano Brasil Sem Miséria, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8794.htm. ESTUDANTE 1 (E1). Entrevista realizada em 20 de Fevereiro de 2017. Natal, 2017. ESTUDANTE 2 (E2). Entrevista realizada em 21 de Fevereiro de 2017. Natal, 2017. ESTUDANTE 3 (E3). Entrevista realizada em 23 de Fevereiro de 2017. Natal, 2017. ESTUDANTE 4 (E4). Entrevista realizada em 06 de Março de 2017. Natal, 2017. FRANÇA, Kessia Roseane de Oliveira. A assistência estudantil e a efetivação do direito à educação no IFRN. Dissertação- (Mestrado) - Programa de pós-graduação em serviço social, Centro de Ciências Sociais aplicadas. Universidade federal do Rio Grande do Norte. Natal,2013.160 f.
89
GRANEMANN, Sara. O processo de produção e reprodução social: trabalho e sociabilidade. In: CFESS/ABEPSS. Serviço Social: direitos e competências profissionais. Brasília, 2009 (p. 223-238). GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. Classes, Raças e Democracia. 2. Ed. São Paulo: Editora 34. 2012. 240 p - pág. 47-76; 137-174. GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. Racismo e anti-racismo no Brasil. Novembro. 1995. Pág. 26-44. GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. Racismo e anti-racismo no Brasil. 3. Ed. São Paulo: Editora 34, 2009. 256 p. pág. 21-70; 101-209. IAMAMOTO, Marilda Villela. Relações sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de uma interpretação histórica – metodológica. 21 ed. São Paulo. Cortez. 2007. LEI 8112. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm. Acesso em: 7 abr. 2017. LEITE, Janete Luzia. Política de Assistência Estudantil: direito da carência ou carência de direitos? SER Social, Brasília, v. 14, n. 31, p. 453-472, jul./dez. 2012. LESSA, Sérgio. O processo de produção/reprodução social: trabalho e sociabilidade. In: Capacitação em Serviço Social e Política Social. Módulo II: Reprodução social, trabalho e Serviço Social. Brasília: CEAD-UnB, 1999 (p. 20-33). LIBBY, Douglas Cole. A escravidão no Brasil: relações sociais, acordos e conflitos. 2. Ed. São Paulo. Moderna. 2005. MARTINS, Tereza Cristina Santos. O negro no contexto das novas estratégias do capital: desemprego, precarização e informalidade. Revista Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 111, jul./set., 2012. MARX, K. Livro I. Capítulo VI, Inédito de O Capital: resultados do processo de produção imediata. 1º ed - São Paulo: Editora ciências humanas, 1978. p. 51-80. MARX, Karl. O 18 Brumário de Luis Bonaparte. Disponível em: https://neppec.fe.ufg.br/up/4/o/brumario.pdf. Acesso em 01 de Abril 2017. OLIVEIRA, Tory. Como evitar fraudes nas cotas raciais? Carta capital. 2016. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/como-evitar-fraudes-nas-cotas-raciais. Acesso em 01 de Abr. de 2017. PACIEVITCH, Thais. Lei de diretrizes e bases da educação. Disponível em: http://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao >. Acesso em 01 de Abril de 2017.
90
PEREIRA, Samara Cristina Silva; PASSOS, Guiomar de Oliveira. Desigualdade de acesso e permanência na universidade: trajetórias escolares de estudantes das classes populares. Teresina: Linguagens, educação e sociedade, ano 12, n. 16, p. 19-32, jan./jun.2007 PETRUCCELLI, José Luis; SABOIA, Ana Lucia (Org.). Características Étnicos - Raciais da População Classificações e Identidades. A classificação de cor ou raça do IBGE revisitada: Rafael Guerreiro Osorio. Rio de Janeiro. 2013. p.83 - 100. PINSKY, Jaime. A escravidão no Brasil. 16 ed - São Paulo: Contexto, 1998. PIOVESAN, Flávia. Ações afirmativas das perspectivas dos direitos humanos. Cadernos de pesquisa, v.35, n. 124, p. 43-55, Jan. / Abr. 2005. Portal IFRN – Perguntas e respostas importantes sobre a Lei de Cotas. Disponível em: <http://portal.ifrn.edu.br/ensino/links-importantes/perguntas-e-respostas-importantes-sobre-a-lei-de-cotas>. Acesso em 28 de Abril de 2017. QUINTANEIRO, Tania; BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira; OLIVEIRA, Márcia Gardênia Monteiro de. Um toque de clássicos: Marx, Durkheim e Weber. 2. Ed. Revista e atualizada – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. 157 p. IPEA. Retrato das Desigualdades e gênero e raça. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/retrato/apresentacao.html. Acesso em 28 de março de 2017. IPEA. Retrato das Desigualdades e gênero e raça. http://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores_pobreza_distribuicao_desigualdade_renda.html. Acesso em 7 de abril de 2017. RIBEIRO, Djamila. Ser contra cotas raciais é concordar com a perpetuação do racismo. Carta Capital. Disponível em:\\http://www.cartacapital.com.br/sociedade/ser-contra-cotas-raciais-e-concordar-com-a-perpetuacao-do-racismo-1359.html. Acesso em 08 de fevereiro de 2017. SANTOS, Josiane Soares. Questão Social particularidades no Brasil. São Paulo. Cortez. 2012. Coleção biblioteca básica de Serviço Social v6. Cap. 1 (p. 25-39). Cap. 2 (p. 133-171). SANTOS, Milton. Como é se negro no Brasil. Disponível em: <http://www.geledes.org.br/como-e-ser-negro-no-brasil-por-milton-santos/#gs._6PacXc. Acesso em 30 de março de 2017. SILVA, Ademir Alves da. A gestão da seguridade social brasileira: entre a política pública e o mercado. São Paulo: Cortez, 2010, 3. Ed. Cap. 4 (p. 137-168).
91
SILVA, Joseh. O mito da democracia racial no Brasil. Carta capital. 2014. Disponível em: \\https://www.cartacapital.com.br/blogs/speriferia/aranha-e-o-mito-de-que-nao-ha-racismo-no-brasil-4850.html. Acesso em 28 de Março de 2017. Sínteses de indicadores sociais. Uma análise das condições de vida da população brasileira. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2015. Sínteses de indicadores sociais. Uma análise das condições de vida da população brasileira. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2016. SOUZA, Ingryd Daiane Silva do Nascimento; OLIVEIRA, Ana Clara. Cenário institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) campus São Gonçalo do Amarante – RN. Natal-RN. 2016. XAVIER, Lucas. Cotas raciais e a hipocrisia branca. Geledés (Instituto da mulher negra). 2014. Disponível em: http://www.geledes.org.br/cotas-raciais-e-hipocrisia-branca/#gs.kxXBdq0. Acesso em 01 de Junho de 2017. YAZBEK, Maria Carmelita. Estado e políticas sociais. 200-.
92
APÊNDICE 1- ROTEIRO PARA A ENTREVISTA
1 - A constituição de 1988 defende a concepção de Educação como direito
Universal. Para você, o acesso à educação se consolida como direito de todos?
Justifique a resposta.
2 - Como você se vê enquanto sujeito que está tendo acesso à educação (pública e
de qualidade)?
3 – Qual importância à educação tem para você?
2 - Sabemos que o sistema educacional tem vários mecanismos e políticas de
seleção e ingresso. Dentre estes temos as Cotas raciais. As cotas Raciais foi
implementada recentemente através da Lei 12711/2012 a qual abriu as portas para
o ingresso de sujeitos pobres (origem popular) e negros à educação superior e
ensino técnico federal. Nesse sentido, As cotas raciais foram um fator central para o
seu acesso ao ensino Federal, no caso o IFRN? Por quê?
3- Vocês enfrentaram dificuldades para permanecer no Instituto? Caso sim, quais
dificuldades? Essas dificuldades aumentaram ou diminuíram? Você percebe alguma
relação dessas dificuldades com a questão de raça/etnia e condição
socioeconômica?
4- Com a Política de Assistência Estudantil a instituição dispõe de auxílios visando à
permanência do aluno na escola. Desse modo, Você é beneficiário de algum auxílio
inerente a Politica de Assistência Estudantil? Qual (is)? Esse(s) auxílio(s)
contribui(em) para a sua permanência no Instituto Federal? Em caso afirmativo, de
que forma?
5- No interior da instituição você já se defrontou ou sofreu alguma forma de
discriminação ou racismo em razão de sua raça e ou condição socioeconômica?
Em caso afirmativo, o que ocorreu? Como você se sentiu? Você reagiu? (em caso
afirmativo, de que forma?)
93
APÊNDICE 2- QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO
Esse questionário tem como objetivo contribuir para a pesquisa de cunho
investigativo em desenvolvimento promovido pela discente do curso de Serviço
Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre a seguinte temática:
COTAS RACIAIS: VIABILIDADE PARA O ACESSO À EDUCAÇÃO E OS
DESAFIOS PARA A PERMANÊNCIA DOS DISCENTES NEGROS E POBRES DE
IFRNS EM NATAL-RN.
Campus:__________________________________Curso:_____________________
Série/Turma:_________
DADOS SOCIOECONÔMICOS
1- Sexo: [ ] Feminino [ ] Masculino
2- Faixa etária: [ ] 15-16 [ ] 17-18 [ ] 19-22
3- Estado Civil: [ ] Solteiro(a) [ ] Casado(a) [ ] União estável [ ]
Outro______
4 - Possui filhos? [ ]SIM [ ]NÃO
4- Você se considera? [ ] Branco [ ] Negro [ ] Pardo [ ] Indígena [ ] Amarelo
[ ] Outro: __________________________________
5- Situação de moradia: [ ] Casa Própria [ ] Casa Financiada [ ] Alugada [ ]
Cedida
[ ] Outro: __________________________
6- Área em que reside:
[ ] Urbana [ ] Rural
7- Em qual cidade em você reside?
________________________________________________________
8- Em qual bairro você reside?
___________________________________________________________
9- Quantas pessoas moram em sua casa (incluindo você)?
_____________________________________
94
10- Qual a Ocupação/profissão do pai ?
____________________________________________________________
11- Qual a Ocupação/profissão da mãe ?
______________________________________________________
12 - Quem é o provedor da Família? [ ] Pai [ ] Mãe [ ] Avó/Avô [ ] Tio/Tia
[ ] Outro: ___________
13 - Qual a profissão ou ocupação do provedor da família?
____________________________________
14 - Qual o grau de instrução do provedor da família?
[ ]Analfabeto [ ] Ensino Fundamental completo [ ] Ensino fundamental incompleto
[ ] Ensino médio completo [ ] Ensino médio incompleto [ ] Ensino Superior
Completo
[ ] Ensino Superior Incompleto [ ] Outro:
________________________________________________
15 Qual é a renda Familiar bruta?
[ ] Menos de um salário mínimo [ ] Um salário mínimo e meio [ ] Dois salários
Mínimos
[ ] De dois à quatro salários mínimos
Você participa de algum programa social governamental?
[ ] Sim [ ] Não
Em caso afirmativo, qual?
[ ] Cadastro Único - Bolsa Família [ ] Minha casa, minha vida [ ] Outro:
______________
INFORMAÇÕES QUANTO AO INGRESSO E PERMANÊNCIA NO IFRN
16 Você frequentou curso preparatório antes de ingressar no IFRN?
[ ] Sim [ ] Não
Em caso afirmativo:
[ ] Particular. [ ] Particular com bolsa parcial. [ ] Particular com bolsa integral. [ ]
Público.
95
17 Em qual rede de ensino você cursou o ensino fundamental:
[ ] Rede pública Municipal [ ] Rede Pública Estadual [ ] Rede privada
[ ] Rede privada na condição de bolsista [ ] Outra
_____________________________
18 - Quantas vezes por semana você frequenta as aulas:
[ ] Todos os dias [ ] Quatro Vezes por semana [ ] Menos de 3 vezes por semana
19-Com qual intensidade você falta mensalmente:
[ ] Nunca - 0 [ ] Raramente – 2 vezes [ ] Frequentemente 5 a 10 vezes
[ ] Sempre
20 -Você já foi reprovado em alguma disciplina por nota?
[ ] Sim [ ] Não
Em caso afirmativo: Quantas disciplinas:________
21 -Você já foi reprovado por Falta?
[ ] Sim [ ] Não
Em caso afirmativo: Quantas Vezes:____________
22 -Você é beneficiário de algum programa da Assistência Estudantil?
[ ] Sim [ ] Não
Em caso afirmativo: Qual:
_________________________________________________________________