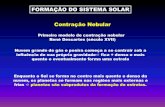UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULOtede.metodista.br/jspui/bitstream/tede/1796/2/Suelen de... ·...
Transcript of UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULOtede.metodista.br/jspui/bitstream/tede/1796/2/Suelen de... ·...
0
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E HUMANIDADES
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social
SUELEN DE AGUIAR SILVA
COMUNICAÇÃO, MOVIMENTOS SOCIAIS E REDES:
POR UM PROJETO BIOPOLÍTICO E COMUNITÁRIO DA MULTIDÃO
São Bernardo do Campo - SP, 2018
1
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E HUMANIDADES
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social
SUELEN DE AGUIAR SILVA
COMUNICAÇÃO, MOVIMENTOS SOCIAIS E REDES:
POR UM PROJETO BIOPOLÍTICO E COMUNITÁRIO DA MULTIDÃO
Tese apresentada em cumprimento parcial às exigências do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social, da
Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), para
obtenção do grau de Doutora.
Orientadora: Profa. Dra. Cicilia Maria Krohling Peruzzo
São Bernardo do Campo - SP, 2018
2
FICHA CATALOGRÁFICA
Si38c Silva, Suelen de Aguiar
Comunicação, movimentos sociais e redes: por um projeto
biopolítico e comunitário da multidão / Suelen de Aguiar Silva.
2018.
209 p.
Tese (Doutorado em Comunicação Social) --Escola de
Comunicação, Educação e Humanidades da Universidade
Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2018.
Orientação de: Cicilia Maria Krohling Peruzzo.
1. Movimentos sociais - Brasil 2. Internet (Redes de
computadores) - Comunicação 3. Internet (Redes de
computadores ) - Aspectos sociais 4. Comunicação comunitária
I. Título.
CDD 302.2
3
A tese de doutorado sob o título “COMUNICAÇÃO, MOVIMENTOS SOCIAIS E REDES:
Por um projeto biopolítico da multidão”, elaborada por SUELEN DE AGUIAR SILVA foi
apresentada e aprovada com louvor (Summa Cum Laude) em 18 de abril de 2018, perante banca
examinadora composta por Prof. Dr. José Marques de Melo (Presidente/UMESP), Profa. Dra.
Sônia Maria Ribeiro Jaconi (Titular/UMESP), Profa. Dra. Camila Escudero (Titular/UMESP),
Profa. Dra. Luzia Deliberador Yamashita (Titular/UEL), Prof. Dr. Giovandro Marcus Ferreira
(Titular/UFBA) e Prof. Dr. Marcelo Monteiro Gabbay (Titular/ FIAM-FAAM).
________________________________________________
Profa. Dra. Cicilia Maria Krohling Peruzzo
Orientadora
________________________________________________
Prof. Dr. José Marques de Melo
Presidente da Banca Examinadora
________________________________________________
Prof. Dr. Luiz Alberto de Farias
Coordenador do Programa de Pós-Graduação
Programa: Pós-Graduação em Comunicação Social
Área de concentração: Processos Comunicacionais
Linha de Pesquisa: Comunicação comunitária, territórios de cidadania e desenvolvimento
social
4
No ano de 2010 vi pela primeira vez a cor esverdeada dos seus infinitos olhos, que logo
fitaram os meus, parecendo entender cada motivo, cada desejo, cada aflição e emoção em estar
ali, em sua sala para a entrevista, e num gesto de pura significância, fez o que poucos nesse
mundo da vida fazem: que é escutar e reconhecer o outro. Sim, me senti acolhida, mas muito
mais do que isso, me senti capaz, especial, me reinventei. Sim, você me pegou pelas mãos e me
ensinou que a comunicação é o elo mais comum e mais singular que nos une, que nos afeta.
Você me ensinou a acreditar em mim, em minha capacidade intelectual, me conduziu tão
perfeitamente que chego a achar que eu não merecia tanto. Mulher firme, de fibra e com um
coração manso e um jeito carinhoso que poucos têm a oportunidade de conhecer, como sou
privilegiada!
Durante todos esses anos você me ensinou o sentido da resiliência, do limite. Você me
compreendeu, me deixou livre para alcançar diversos voos teóricos, ao mesmo tempo em que
me trazia de volta para a realidade concreta. Você conheceu o que há de melhor em mim e,
principalmente, me ajudou a elaborar sentimentos e anseios que estavam escondidos, mas que
me faziam padecer. Para além das orientações acadêmicas, o que eu recebi durante todo esse
tempo de mestrado e doutorado, foram orientações de vida. Você me ajudou a enfrentar a face
mais cruel do diagnóstico de autismo, do meu amado filho, me compreendeu em todo o tempo,
silenciou e respeitou o meu momento. Sinceramente, seria muito difícil passar por esse luto, se
eu não tivesse você para me orientar, para segurar minhas mãos. Gratidão por você ser sempre
tão generosa e amável comigo. Gratidão.
Hoje, mais uma vez, me reinvento e sigo em frente na certeza de que você estará sempre
comigo, na minha formação intelectual e acadêmica, na militância por uma sociedade mais justa
e igualitária, e, sobretudo, na busca por espaços dialógicos de comunicação, longe deste aqui,
que nos separou.
Da Universidade Metodista de São Paulo para a vida.
Avante.
À Cicilia M. Krohling Peruzzo,
minha orientadora.
6
AGRADECIMENTOS
Ao Mestre dos mestres, dono de toda ciência, sabedoria e poder. Toda honra, toda glória, todo
louvor e toda minha gratidão.
Ao meu querido pai na fé, Luiz Fernando Andrade Alves, por seus ensinamentos, pela acolhida,
por me encorajar e acreditar no meu potencial. Todo o meu respeito, carinho e admiração.
À minha família, em especial, à minha mãe, que embora sempre “interrompesse” minhas
elaborações, trazia junto com a pausa risadas, cafés e apoio.
Aos amigos que conquistei ao longo da vida, os verdadeiros, saberão.
Com carinho agradeço a Lavínia Amaral.
Singularmente, agradeço a Elza Bastos Pessoa, meu porto seguro.
As companheiras e companheiros da Cei Comuni, fontes de luta, luz, inspiração e reflexão sobre
uma outra comunicação.
Agradeço aos professores do antigo Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social
(1978–2017) da UMESP, pelos ensinamentos, pela amizade e principalmente, pelas lições de
cidadania e vida.
In memorian (2000-2017), agradeço ao meu gato Nenén, meu grande felino de todas as horas.
Agradeço ao CNPq por viabilizar financeiramente minha pesquisa.
Agradeço à minha querida amiga “cabrita”, Clarissa Josgrilberg Pereira, pela lealdade, pelo
compartilhamento de saberes e sabores e estímulo, recíproco. Dos estudos, artigos, do ombro,
do alojamento, dos motéis e congressos para à vida, todo meu orgulho e admiração.
Agradeço infinitamente à minha orientadora, Cicilia Maria Krohling Peruzzo.
Com carinho, também agradeço, ao professor José Marques de Melo.
Agradeço ao Éric, meu amado filho, por me ensinar diariamente o valor da paciência, da
vinculação e do amor incondicional. Entre livros e escritos, muitas paradas, muitas... nas quais,
cada puxão valia mais do que mil palavras.
Ao Paulinho.
7
RESUMO
A compreensão dos usos coletivos que os movimentos sociais brasileiros estão fazendo das
tecnologias de informação e comunicação é tão importante quanto descobrir se eles alteraram
suas formas de organização política e dinâmicas de comunicar devido à participação no espaço
híbrido da internet e é neste sentido que a pesquisa caminha. Assim, os objetivos deste estudo
são mapear os movimentos sociais presentes na internet, cartografar as práticas comunicativas
e as imbricações destes com o uso das tecnologias de informação e comunicação. E, em última
instância, a partir da leitura biopolítica da multidão apontar como a ação dos movimentos
sociais pode, por meio da internet, reverberar traços para a construção da democracia. O método
de abordagem conceitual segue a trilha do materialismo histórico-dialético. Já o método de
procedimento será o cartográfico viabilizado pela pesquisa bibliográfica, pesquisa documental,
observação participante netnográfica e técnicas da teoria fundamentada em dados. A partir do
levantamento de dez movimentos sociais mapeamos seus processos comunicacionais
desenvolvidos na internet. Na sequência, realizamos a análise da comunicação do Movimento
dos Trabalhadores Sem Terra – MST e do Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB e
identificamos que para esses movimentos a internet ao representar um campo de micropoderes,
também se apresenta como espaço privilegiado no que tange às lutas sociais em torno da
democracia.
Palavras-chave: movimentos sociais. Redes. Multidão. Comunicação Comunitária. Internet.
8
ABSTRACT
The comprehension of the collective use that the Brazilian social movements are making of the
communication and information technologies is as important as finding if altered their forms of
political organization and communication dynamics due to participation on the hybrid internet
space and it is in this way that the research moves. Thus, the objectives of this study are to map
the social movements present on the web, map the communicative practices and their
imbrications with the use of communication and information technologies. And, ultimately,
from the biopolitical reading of the crowd point how the social movements can, by the web,
reverberate traces to build democracy. The conceptual approach method follows the trail of
historical-dialectical materialism. And the procedure method will be the cartographic enabled
by the bibliographic research, documentary research, netnography participant observation and
grounded theory technic. From the survey of ten social movements we mapped their
communicational processes developed on the internet. In the aftermath, we analyzed the
communication of the landless workers movement (MST), and the Brazilian Movement of
Dam Affected People (MAB) and it was identified that although the web (internet) represent a
micro-power field, it also present itself as a privileged space in regard to the social struggle
around democracy.
Keywords: Social movements. Network. Crowd. Community Communication. Internet
9
RÉSUMÉ
La compréhension des utilisations collectives que les Mouvements Sociaux brésiliens font des
technologies d'informations et de communication est aussi importante que découvrir s'ils ont
changé leurs formes d'organisation politique et leurs dynamiques de communiquer en raison de
la participation dans l'espace hybride d'Internet et c'est dans ce sens que la recherche se
développe. Ainsi, les objectifs de cette étude sont de cartographier les Mouvements Sociaux
présents sur Internet, de cartographier les pratiques communicatives et leurs imbrications avec
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Et, en fin de compte, à
partir de la lecture biopolitique de la foule, indiquer comment l'action des Mouvements Sociaux
peut, via Internet, réverbérer des traces pour la construction de la démocratie. La méthode de
l'approche conceptuelle suit la voie du matérialisme dialectique et historique. D’autre part, la
méthode de procédure sera cartographique rendue possible par la recherche bibliographique,
par la recherche documentaire, par l'observation participante netnographique et par des
techniques de la théorie basée sur les données. À partir de l'enquête sur dix mouvements
sociaux, nous avons cartographié leurs processus de communication développés à travers l’
Internet. Ensuite, nous avons accompli l'analyse de la communication du Mouvement des
travailleurs sans terre - MST et le Mouvement des personnes affectées par la chûte de barrages
– MAB et nous avons identifié que l’Internet, bien qu'il représente un champ de micro pouvoirs,
se présente également comme un espace privilégié lorsqu'il s'agit de luttes sociales autour de la
démocratie.
Mots-clés: Mouvements sociaux. Réseaux. Foule. Communication communautaire. Internet.
10
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - Tela inicial do site MTST ...................................................................................... 148
Figura 2 - Canal no Youtube MTST ....................................................................................... 149
Figura 3 - Rede Social Facebook ............................................................................................ 149
Figura 4 - Aplicativo para dispositivos móveis – App MTS .................................................. 150
Figura 5 - Tela inicial do site MAB ........................................................................................ 151
Figura 6 - Microblog Twitter MAB ........................................................................................ 151
Figura 7 - Rede social Facebook MAB .................................................................................. 152
Figura 8 - Canal no Youtube MAB ........................................................................................ 152
Figura 9 - Instagram MAB ..................................................................................................... 153
Figura 10 - Tela inicial do site ABGLT ................................................................................. 154
Figura 11 - Rede social Facebook ABGLT ............................................................................ 154
Figura 12 - Tela do site MNU ................................................................................................ 155
Figura 13 - Rede social Facebook MNU ................................................................................ 156
Figura 14 - Tela inicial do site Levante .................................................................................. 157
Figura 15 - Rede social Facebook Levante ............................................................................ 157
Figura 16 - Canal no Youtube Levante .................................................................................. 158
Figura 17 - Tela do site Ação da Cidadania ........................................................................... 159
Figura 18 - Rede social Facebook Ação da Cidadania ........................................................... 159
Figura 19 - Rede social Facebook MTD e MOTU/Brasil ...................................................... 161
Figura 20 - Tela do site Grito dos Excluídos .......................................................................... 162
Figura 21 - Rede social Facebook Grito dos Excluídos ......................................................... 162
Figura 22 - Tela do site MST ................................................................................................. 163
Figura 23 - Rede social Facebook MST ................................................................................. 163
Figura 24 - Microblog Twitter MST ...................................................................................... 164
Figura 25 - Canal do Youtube ................................................................................................ 164
Figura 26 - Instagram MST .................................................................................................... 165
Figura 27 - Tela do Site Via Campesina ................................................................................ 165
Figura 28 - Rede social Facebook Via Campesina ................................................................. 166
Figura 29 - Post do MST com mais compartilhamento e reações .......................................... 173
Figura 30 - Segunda postagem do MST com mais compartilhamentos e comentários .......... 174
Figura 31 - Post do MAB com mais curtida, compartilhamento e reações ............................ 177
Figura 32 - Segunda postagem do MAB com mais reações e compartilhamentos ................ 177
11
Figura 33 - Comentários sobre a postagem do MAB ............................................................. 178
Figura 34 - Publicidade nas páginas do MAB e do MST ....................................................... 184
12
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 - Diário de Campo Virtual.........................................................................................41
Quadro 2 - Mapa de Observação OPN......................................................................................42
Quadro 3 - Esquema de Observação Participante Netnográfica................................................46
Quadro 4 - Eixos temáticos dos movimentos sociais................................................................98
Quadro 5 - Observação do diário de campo.............................................................................180
Quadro 6 - Codificação aberta.................................................................................................181
Quadro 7 - Exemplo de codificação........................................................................................182
Quadro 8 - Categorias..............................................................................................................182
13
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1 - Movimentos sociais presentes nos conteúdos dos portais ................................... 167
Gráfico 2 - Assuntos explorados pelos conteúdos dos portais ............................................... 168
Gráfico 3 - Conteúdos dos portais que davam voz aos movimentos ..................................... .168
Gráfico 4 - Formatos presentes nos posts do Facebook do MST ....................................... ....171
Gráfico 5 - Temas presentes nas publicações do Facebook do MST ..................................... 172
Gráfico 6 - Formatos presentes nos posts do Facebook do MST ........................................... 175
Gráfico 7 - Temas presentes nas publicações do Facebook do MAB .................................... 176
14
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO.................................................................................................................... 17
CAPÍTULO I - O MÉTODO EM DISPERSÃO..................................................................22
1 Pistas do método: na trilha do materialismo histórico-dialético............................................24
1.1 Procedimentos metodológicos............................................................................................30
1.2 Cartografia...........................................................................................................................31
1.2.1 Pesquisa bibliográfica - Primeira etapa.............................................................................33
1.2.2 Pesquisa documental - Segunda etapa...............................................................................34
1.2.3 Netnografia.......................................................................................................................35
1.3 Observação e Coleta de dados - Primeira e segunda rodada de coleta................................40
1.4 Observação participante netnográfica e Coleta de dados - Terceira rodada de coleta........ 41
1.5 Observação participante netnográfica e Coleta de dados - Quarta rodada de coleta...........42
CAPÍTULO II – ABORDAGEM COMPREENSIVA DA COMUNICAÇÃO................. 47
2 “Afinal”, o que é comunicação? .......... ..................................................................................48
2.1 Brevíssimo panorama dos meios......................................................................................... 49
2.2 Algumas (in)definições de comunicação ............................................................................ 52
2.2.1 A comunicação por ela mesma........................................................................................54
2.3 A noção de autonomia no campo comunicacional ............................................................. 56
2.4 O comum da comunicação ................................................................................................. 60
2.5 O comunitário e a comunidade no campo da comunicação................................................62
2.5.1 Entre comunicação comunitária e comunidade............................................................... 63
2.5.2 A comunicação comunitária floresce............................................................................... 67
2.5.3 (Des)apropriações............................................................................................................ 69
2.5.4 Meios comunitários.......................................................................................................... 70
2.5.5 Processos comunicacionais comunitários........................................................................ 71
2.6 É popular, é comunitária, é alternativa, é comunicação........................................................72
15
CAPÍTULO III – MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL E SEUS
DESDOBRAMENTOS........................................................................................................... 81
3 Dos clássicos aos contemporâneos: um breve histórico.......................................................84
3.1 Conceituando movimento social ........................................................................................ .87
3.2 Movimentos sociais no Brasil.............................................................................................87
3.2.1 Movimentos de luta pela terra..........................................................................................87
3.2.2 Movimentos de resistência à ditadura e redemocratização do Brasil..............................89
3.3 Tipos de movimento social.................................................................................................90
3.4 Cronologia dos movimentos sociais brasileiros...................................................................94
3.4.1 Eixos temáticos dos movimentos sociais brasileiros ....................................................... 96
3.5 Categorias de análise dos movimentos sociais ................................................................. 100
3.5.1 Redes.............................................................................................................................. 104
3.5.2 Redes de autocomunicação e autonomia.........................................................................105
3.6 Multidão multicolorida.....................................................................................................107
CAPÍTULO IV - COMUNICAÇÃO E INTERNET NO CONTEXTO DOS
MOVIMENTOS SOCIAIS...................................................................................................113
4 Contexto da internet ......................................................................................................... ...113
4.1 A emergência da técnica ................................................................................................... 116
4.2 Desconstruir ou reinventar? .............................................................................................. 117
4.2.1 Sociedade em rede?........................................................................................................ 117
4.3 Virtual...............................................................................................................................121
4.3.1 Espaço intemporal ......................................................................................................... 123
4.4 Comunidade virtualizada..................................................................................................124
4.4.1 O comum, da comunidade ............................................................................................ .125
4.5 Entre nós, as redes.............................................................................................................127
4.5.1 Interação Online ............................................................................................................ 128
4.5.2 Interação ou representação?........................................................................................... 129
4.6 Comunicação organizativa ............................................................................................... 131
16
4.7 A prática da comunicação nos movimentos sociais ......................................................... 134
4.8 Publicidade social, sim!....................................................................................................135
4.9 Movimentos sociais na internet........................................................................................135
4.9.1 Armações.......................................................................................................................142
4.9.2 Cidadania com um pé na rede, é possível? .................................................................... 144
4.10 Rizomas...........................................................................................................................145
CAPÍTULO V - AS MÚLTIPLAS VOZES DA MULTIDÃO..........................................147
5 Mapeamento dos movimentos sociais..................................................................................147
5.1 Os MS nos portais jornalísticos ........................................................................................ 166
5.2 Observação participante netnográfica - OPN....................................................................169
5.2.1 OPN - MST.....................................................................................................................169
5.2.2 OPN - MAB....................................................................................................................169
5.3 (Des)amarrando os conceitos............................................................................................ 170
CONCLUSÃO....................................................................................................................... 189
REFERÊNCIAS.................................................................................................................... 195
APÊNDICE A - Termo de Consentimento Informado Online .........................................201
APÊNDICE B - Roteiro de entrevista semiestruturada online ........................................204
ANEXO - Parecer consubstanciado do CEP.......................................................................206
17
1 INTRODUÇÃO
Estamos imersos numa suposta tecnologização da vida, com todos os sentidos que a
palavra tecnologia carrega, surge aí, nosso interesse em aprofundar os estudos sobre a relação
dos processos comunicacionais desenvolvidos pelos movimentos sociais com a internet. No
entanto, não é a técnica, technê, como condição material da história que nos interessa, mas sim
as transformações que ocorrem na estrutura social em decorrência do uso ou não de
determinadas tecnologias, especialmente a internet.
Nesse tempo hodierno compreender os usos coletivos que os movimentos sociais
brasileiros estão fazendo das Tecnologias de Informação e Comunicação - TICCS1 é tão
importante quanto descobrir se eles alteraram suas formas de organização política e dinâmicas
de comunicar devido à participação no espaço híbrido2 da internet. Afinal, o fato de estar e de
participar da rede não diz muito, quando esse muito precisa ainda ser estudado e mapeado.
Dessa forma, objetivamos mapear os movimentos sociais brasileiros presentes na internet e suas
práticas comunicacionais, partir de 10 eixos temáticos, com base nos estudos de Peruzzo (2004)
e Gohn (2013) apontados e reformulados nesta pesquisa. A saber:
1) Movimentos sociais ao redor da questão urbana;
2) Movimentos em torno da questão do meio ambiente: urbano e rural;
3) Movimentos identitários e culturais: gênero;
4) Movimentos identitários e culturais: etnia;
5) Movimentos identitários e culturais: gerações;
6) Movimentos de demandas na área do direito;
7) Movimentos ao redor da questão da fome;
8) Movimentos sociais na área do trabalho;
9) Movimentos decorrentes de questões religiosas;
10) Movimentos rurais e movimentos sociais globais.
Após identificarmos como a mídia hegemônica aborda os movimentos sociais e após
desenvolvermos um mapeamento sobre a comunicação deles, selecionamos dois movimentos
para terem seus processos comunicacionais analisados de forma mais contextualizada,
incluindo-se aí a realização de entrevistas com seus representantes. O Movimento dos
1 A utilização de mais um c na sigla faz referência ao conhecimento que está associado ao processo. Para saber
mais sobre o assunto ver trabalhos de Cicilia Peruzzo e Jorge González (2011). 2 A territorialidade física e simbólica dos movimentos sociais na sociedade é formada pelo espaço híbrido, entre o
espaço urbano ocupado e as redes sociais digitais na internet (CASTELLS, 2013).
18
Trabalhadores Sem Terra (MST) e o movimentos dos Atingidos por Barragens (MAB) foram
os selecionados, o primeiro devido à alta visibilidade na mídia e o segundo pela invisibilidade
que tem nela. Além disso, as suas bandeiras de lutas e o modo como atuam
comunicacionalmente também nos levaram a definir estes dois movimentos.
Para alcançarmos o objetivo proposto foi preciso descobrir se os movimentos sociais
mapeados utilizavam a comunicação mediada por computador como um dos seus princípios
organizativos no que tange à comunicação. E, ainda, foi necessário debater o conceito de
multidão (HARDT; NEGRI, 2014; VIRNO, 2013), como categoria teórico-metodológica a
partir dos movimentos sociais mapeados e descrever seus processos comunicacionais na
internet, apontando as principais plataformas digitais utilizadas. Além disso, foi preciso
cartografar as práticas comunicativas cotidianas dos movimentos sociais frente às tecnologias
de informação e comunicação; bem como relatar a atuação dos movimentos sociais na criação
de dispositivos de resistência e as redes de poder que se formam na luta pelo espaço virtual.
Os movimentos sociais podem usar a internet como um instrumento privilegiado para
comunicar, informar, atuar, recrutar, resistir, organizar ou, simplesmente, para ocupar. Com
isso, a pergunta que norteia a pesquisa é a seguinte: como os movimentos sociais brasileiros
mapeados nesta pesquisa usam as tecnologias de informação, comunicação e conhecimento
como espaço de luta para suas práticas cotidianas com vistas à construção da democracia?
Para nos nortear na busca da resposta da questão acima elaborada nos direcionamos
pelas seguintes hipóteses de trabalho: os processos comunicacionais desenvolvidos pelos
movimentos sociais na internet fomentam um espaço de comunicação autônoma na medida em
que forjam dispositivos de resistência para auxiliar na construção da cidadania. Os movimentos
sociais mediante os processos de comunicação também lutam pelos e nos espaços sociais
concretos da internet em busca de novas formas de democracia. A internet não é o meio
exclusivo, mas potencializa o processo comunicacional dos movimentos sociais presentes nesse
espaço.
Realizar tal pesquisa é de extrema importância uma vez que os movimentos sociais
entram em cena como objeto de estudo, porque são sujeitos distintos da história, e muitos deles,
carregam em sua trajetória a própria comunicação como artifício primordial para a manutenção
do seu status quo. A decisão de efetuar um mapeamento justifica-se com a construção do
próprio marco teórico sobre a comunicação dos movimentos sociais na internet. Assim, a
pesquisa pode contribuir para o debate, na medida em que traz para a discussão um
19
aprofundamento teórico sobre as mudanças nos processos comunicacionais desenvolvidos
pelos movimentos sociais brasileiros e ainda, como eles estão ocupando o espaço da internet.
Tendo em vista essas argumentações, acredita-se ser de suma importância incluir nas
pesquisas do corpo acadêmico estudos que acompanhem a transformação dos processos
comunicacionais no âmbito dos movimentos sociais populares brasileiros. E que também
possam contribuir para solucionar problemas de ordem prática, advindos de uma parcela
significativa da sociedade vilipendiada dos seus direitos básicos. O direito à comunicação é um
deles. Transformar a tese em uma fonte de dados inteligível e de fácil acesso é fundamental
para contribuir com o campo da comunicação, ao mesmo tempo em que se torna importante
para o processo político dos movimentos sociais.
Muniz Sodré (2012, p.177) afirma que qualquer tentativa de descrição definitiva das
tecnologias digitais está condenada à rápida obsolescência, porque essas tecnologias são
continuamente emergentes. Ciente dessa assertiva, realizamos um estudo sobre a relação entre
os movimentos e o uso que fazem das tecnologias de informação e comunicação, captando
justamente o movimento.
Além de mapearmos o cenário atual da comunicação nos movimentos sociais, iremos
contribuir com o debate fornecendo um arcabouço teórico que será construído na medida em
que tratarmos das práticas e especificidades comunicativas dos movimentos sociais brasileiros
na internet.
Para a viabilização deste trabalho propomos o que denominamos de cartografia
comunicacional apoiada na teoria fundamentada em dados.
A tese está estruturada em cinco capítulos, sendo o primeiro teórico-metodológico, os
três seguintes teóricos e o último que apresenta os resultados da pesquisa em conjunto com as
teorias empregadas nos capítulos anteriores. Sendo assim:
O objetivo do primeiro capítulo é explicitar os aportes teórico-metodológicos utilizados
nesta pesquisa. A explicação e fundamentação do método de abordagem conceitual, ancorado
no materialismo histórico-dialético, torna-se tão importante quanto descrever as técnicas e
estratégias utilizadas para alcançar os objetivos propostos, bem como explicar como estas foram
utilizadas. Sendo assim, a cartografia comunicacional foi viabilizada com a utilização dos
seguintes procedimentos: pesquisa bibliográfica, revisão de literatura, pesquisa documental,
observação participante netnográfica e realização de entrevistas semiestruturadas. Para a análise
e interpretação dos dados apresentados nos apoiamos nas técnicas da teoria fundamentada em
dados.
20
O segundo capítulo apresenta uma abordagem compreensiva da comunicação e delimita
nosso entendimento sobre os processos comunicacionais em pauta, no âmbito dos movimentos
sociais. Ou seja, antes de iniciar a contextualização sobre eles é preciso sistematizar nosso
conhecimento e entendimento sobre a comunicação, especialmente, sobre os processos
comunicacionais comunitários, fincando nossas bases teóricas em abordagens centradas nas
dimensões críticas e vinculativas da Comunicação Social. Este capítulo é importante porque
nos dará a base para a construção dos demais e, especialmente, para o último, no qual propomos
uma teoria fundamentada em dados. Nosso olhar para a comunicação se dará a partir deste
arsenal, aqui traçado. Acreditamos que, desta forma, munidos de teoria, poderemos ousar na
potência da comunicação em processo na internet.
O terceiro capítulo apresenta uma revisão de bibliografia pertinente e focada cuja
fundamentação teórica sustenta, inicialmente, a abordagem conceitual da pesquisa. Traçamos
um breve panorama sobre os movimentos sociais, dos clássicos aos contemporâneos, passando
pelas abordagens que têm sido aplicadas aos estudos desta temática, para destacarmos as
configurações atuais no contexto das tecnologias de informação e comunicação. Logo, alguns
aspectos da comunicação nos movimentos sociais serão destacados, a partir das redes de
autocomunicação e autonomia, bem como a categoria teórica multidão é utilizada para refletir
sobre o objeto de estudo.
Sobre a pesquisa de teoria fundamentada em dados, ela vem sendo discutida há muito
tempo. Os pioneiros Glaser e Strauss (1967) defendem que a revisão bibliográfica deve ser
adiada até que a análise dos dados seja completada. Essa postura diz respeito a uma suposta
contaminação dos dados construídos por teorias empreendidas anteriormente. Nossa postura
coaduna com a orientação de Charmaz (2009, p.227) de que a teoria fundamentada empreendida
na pesquisa poderá refinar, ampliar e/ou contestar os conceitos existentes.
O quarto capítulo contextualiza a comunicação desenvolvida pelos movimentos sociais
na internet. A saber, como os processos comunicacionais foram se alterando devido às
transformações das tecnologias de informação e comunicação. Além de destacar a internet
como espaço híbrido de interlocução dos movimentos sociais, discute as possibilidades da luta
democrática em torno das formas tecnológicas de cidadania.
O quinto e último capítulo está baseado em trabalho de campo online e visa a
sistematizar a tese por meio da confrontação e comparação dos capítulos teóricos às análises de
dados obtidas. A composição da presente metodologia descrita e aprofundada no capítulo
primeiro será aqui resgatada para demostrar como os resultados foram alcançados. A construção
21
dos dados empreendidos poderá refinar, ampliar, contestar ou suplantar os conceitos existentes
e teorizados nos capítulos anteriores.
22
CAPÍTULO I - O MÉTODO EM DISPERSÃO
“Alice - Eu só queria saber que caminho tomar. Mestre Gato - Isso depende do lugar
onde quer ir[...]”
(Alice no País das Maravilhas, 1951).
A palavra método vem do grego methodos e significa seguir um caminho. Apesar do
significado de sua tradução ser de fácil entendimento, a acepção dada pelo pesquisador causa
muitas distorções nas pesquisas científicas de nível acadêmico. Para Cecilia Minayo (2009,
p.22) “a metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que
possibilitam a apreensão da realidade e também o potencial criativo do pesquisador”.
Sumariamente, método de abordagem diz respeito aos fundamentos teóricos e epistemológicos
que vão embasar cientificamente o estudo, as linhas de pensamentos adotadas, ou seja, o modo
de obtenção do conhecimento. Já o método de procedimento ou procedimentos metodológicos
são, especificamente, as etapas procedimentais do trabalho de investigação e de procura dos
resultados.
Para o desenvolvimento desta pesquisa trabalhamos com algumas especificidades de
três métodos, o materialismo histórico dialético, o cartográfico e a grounded theory (teoria
fundamentada em dados), como veremos mais adiante.
Gaston Bachelard (1971, p.136) diz que, na realidade, o método é “uma astúcia de
aquisição, um novo e útil estratagema na fronteira do saber”. Em outras palavras, o método
científico é aquele que procura o risco, pois a dúvida está à frente e não atrás como na via
cartesiana. Para Minayo (2009, p.11-12) o labor científico caminha em duas direções, “numa,
elabora suas teorias, seus métodos, seus princípios e estabelece seus resultados; noutra, inventa,
ratifica seu caminho, abandona certas vias e encaminha-se para certas direções privilegiadas”.
A atual concepção do método pode ganhar variadas matizes se pensarmos nas diversas áreas do
conhecimento. As ciências sociais, especialmente as aplicadas, estão entre aquelas áreas que
têm se empenhado no desenvolvimento de métodos eficazes para a apreensão do conhecimento.
Porquanto, durante muito tempo tais áreas das ciências eram vistas como “menores”, ineficazes
e, quiçá, fontes de conhecimentos plausíveis e palpáveis, sendo este o papel das ciências exatas.
O quadro hoje parece ser outro, na medida em que as ciências humanas passam a se
valer de métodos consistentes para o desenvolvimento de trabalhos críticos e críveis, com
23
menos intuito de estabelecer uma verdade e mais com o de colocar em dispersão vários pontos
de vista e até mesmo várias verdades sobre um mesmo assunto.
As pesquisas em comunicação ganham corpo, forma, produzem saber e comunicam.
Mas alguns pesquisadores afirmam que existe certa carência na área, pois tais pesquisas não
conversam entre si e por esse motivo não avançam, como aponta Muniz Sodré (2013)3. Quiçá,
essa carência ocorra devido ao próprio entendimento de qual seria o objeto4 da comunicação,
senão ela mesma.
Para Cecilia Minayo (2009, p.16) a pesquisa é a “atividade básica da ciência na sua
indagação e construção da realidade”. Para a autora a pesquisa é um constructo teórico, mas
que é orientada do pensamento à ação. De um problema de ordem prática, da vida cotidiana,
emerge um problema de ordem intelectual. Sendo assim, pesquisamos porque temos dúvidas e
inquietações sobre temas que são frutos da realidade concreta. Pesquisamos porque avançar no
processo do conhecimento e poder comunicá-lo é tão importante quanto desfrutar de
descobertas científicas. Talvez não consigamos alterar determinados processos, mas suscitar
questões e apontar alternativas por meio de pesquisas e estudos teórico-empíricos já é em si um
grande passo.
Neste universo da pesquisa insere-se o termo pesquisa social, o qual para Minayo (2009)
tem uma carga histórica e, assim como as teorias sociais, reflete posições frente à realidade. A
pesquisa social revelada em seu contexto histórico pode contribuir para a compreensão das
contradições e conflitos que permeiam seu caminho. Para Gil (2014, p.26) a pesquisa social
pode ser definida como um processo que, “utilizando a metodologia científica, permite a
obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social”.
Sobre a pesquisa qualitativa para Minayo (2009, p.21) ela responde a questões muito
particulares, pois as Ciências Sociais se ocupa com um nível de realidade que não pode ou não
deveria ser quantificado.
Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das
aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de
fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o
ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por
interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com
seus semelhantes. O universo da produção humana que pode ser resumido no
mundo das relações, das representações e da intencionalidade e é objeto da
3 Informação verbal obtida em aula inaugural no programa de Pós-Graduação em Comunicação, realizada na
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) no ano de 2013. 4 Para Vera Veiga França (2010, p.42) “o objeto da comunicação não são os objetos comunicativos do mundo,
mas uma forma de identificá-los, de falar deles – ou de construí-los conceitualmente”.
24
pesquisa qualitativa dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores
quantitativos (MINAYO, 2009, p.21).
Para Jorge González (2011)5, a pesquisa não é uma invenção idealista do pesquisador e
tampouco deveria ser tachada como qualitativa ou quantitativa. Sendo assim, mais do que
categorizar esta pesquisa como qualitativa ou quantitativa, pretendemos com o estudo produzir,
metodologicamente, “observáveis”6. Apoiamo-nos em González (2011) quando afirma que
toda pesquisa precisa ter boas descrições, cujas explicações vêm desde os processos.
1 Pistas do método: na trilha do materialismo histórico-dialético
Tomando como ponto de partida o pensamento de Marques de Melo, o qual afirma que
é o objeto quem faz o método7 (nunca o contrário), indicamos que, guiados por essa visão,
nosso objeto de estudo foi constituído como sujeito integrante e fundamental para o
desenvolvimento da tese, desde a primeira linha. Destarte, propomos um estudo teórico-
empírico com abordagem materialista histórico-dialética.
Alguns aspectos depreendidos do método materialista histórico-dialético nortearam a
pesquisa. Mais à frente detalharemos como o método foi empregado e em quais aspectos nos
baseamos. E para delinear o conjunto de procedimentos mais gerais para a investigação,
viabilizado pelo intermédio de técnicas, tivemos o respaldo do método cartográfico, que
também será detalhado posteriormente.
A história da dialética em suas primeiras versões surgiu na Grécia Antiga com o filósofo
Sócrates. Definida como a arte do diálogo, a arte de conversar, a dialética foi amplamente
utilizada por esse filósofo em suas discussões. O mesmo fazia Platão, que utilizava a dialética
para a composição de seus diálogos. Porém, é com Hegel, importante filósofo alemão do século
XIX, que a dialética se torna uma grande preocupação e objeto de estudo da filosofia. Para o
filósofo, a dialética fundava-se na contradição, na negação, a partir da tríade – tese – antítese –
síntese. Com Karl Max a dialética passa a ser uma tentativa de superar a separação entre sujeito
e objeto (MARCONDES, 2001).
5 Informação verbal durante curso de Culturas Populares: dos Métodos aos Conceitos e das Motivações à
Metodologia, ministrado pelo prof. Jorge A. González, no dia 28 de março de 2011. Durante a primeira estada do
professor González na Universidade Metodista de São Paulo, como professor visitante. 6 O observável é o dado mais a interpretação, ou ainda, é o conjunto de relações que estabelecemos com o objeto
estudado. 7 Informação verbal durante aula ministrada na disciplina Processos Comunicacionais, no primeiro semestre de
2011.
25
De acordo com Leandro Konder (1998) a dialética marxista superou o pensamento
idealista hegeliano no sentido de avançar as proposições aventadas por Hegel, conferindo um
sentido material e histórico ao conceito. Para Marx, Hegel tratava a dialética no plano do
espírito, no mundo das ideias. Enquanto o mundo dos homens requer a sua materialização. O
sentido material diz respeito a como os homens se organizam na sociedade, já o sentido
histórico diz respeito a como esses homens se organizam por meio da construção da sua
história.8
Nesse sentido, a base dialética foi de fundamental importância para compreender a
complexidade, as contradições, as superações e as mediações históricas que foram reveladas no
interior e no entorno do sujeito-objeto estudado. Uma visão que abarcou não apenas uma
posição, mas várias constituintes do sujeito-objeto, que é formado por pessoas, que por sua vez
são passíveis de contradições e alteridades.
Introduzir a reflexão filosófica nesta discussão, entretanto, é importante na medida em
que ela fornece base conceitual para entender as transformações do método e o que se entende
por método científico neste trabalho. Outrossim, permite a leitura mais atenta e ao mesmo
tempo dinâmica, própria do pensamento dialético. No entanto, três preocupações pertinentes
caminharam com a discussão. A primeira foi a de não aprofundar nos problemas filosóficos, a
segunda foi de não introduzir apressadamente a temática sem recorrer a seus fundadores e a
terceira preocupação foi de não aprisionar o método, mas de liberá-lo seguindo as pistas da
historicidade do seu próprio conceito adaptando-o a realidade concreta.
Com base em Marcondes (2001, p.27) o caráter crítico parece ser basilar na perspectiva
da produção do conhecimento. O caráter crítico na produção do saber era um dos aspectos que
constituía as primeiras escolas de pensamento filosófico. Daí reside a noção de não apenas
refutar o pensamento mítico, substituindo um sistema de pensamento por outro. Mas de colocá-
lo como uma vertente de pensamento que não busca o dogmatismo de doutrinas, como
pensamento único, de caráter sobrenatural, mas justamente de colocar em discussão e debate as
verdades estabelecidas, justificadas pela teoria tradicional do mito. Todavia, a exigência era a
de que os filósofos justificassem suas propostas, sendo estas, submetidas à crítica.
No decurso da história os conhecimentos científicos dos homens progrediram. Na
antiguidade grega, os conhecimentos científicos quase não existiam e os sábios e ao mesmo
tempo filósofos, viam andar de mãos dadas a filosofia e a ciência, sendo uma extensão da outra.
8 Ver Marcondes, Danilo. Iniciação à História da Filosofia. Dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor, 2001.
26
Ao passo que a ciência buscava explicações sobre os fenômenos do mundo, entrava em
contradição com dogmas da filosofia idealista criando assim um conflito entre a filosofia da
época e a ciência, suficiente para que se separassem.
No entanto, a razão humana surge como divisora de águas entre a ciência antiga e a
nova. Ganha, então, centralidade a partir do filósofo francês René Descartes no século XVII,
quando apresenta entre outros tratados, o Discurso do Método9. Todavia, seu pensamento tem
como pano de fundo as transformações na Europa entre os séculos XVI e XVII. A razão é palco
para que as ideias sobre o conhecimento científico pudessem ser sistematizadas. A contribuição
cartesiana do ponto de vista do método e da fundamentação científica reside na atitude crítica,
introduzida pela dúvida, que fornece assunto para longas reflexões acerca dos limites do
conhecimento humano e também sobre o questionamento da ciência tradicional que permeou a
filosofia moderna.
Em contrapartida, o materialismo progrediu juntamente com o progresso da civilização,
com a escrita, a urbanização, as leis etc. Nas palavras de Politzer (1979, p.21) “para chegar,
com o materialismo moderno, o de Marx e Engels, a reunir, de novo, a ciência e a filosofia no
materialismo dialético”, assunto que veremos mais adiante.
Para nossa explanação importa saber quais as bases fundantes do materialismo e
também da dialética. E, ainda, como esses dois sistemas de pensamento se entrelaçaram e foram
renovados para tornar-se a base do que temos hoje.
Logo, se apontarmos a filosofia como uma grande diligência de explicar/interpretar o
mundo, podemos situar duas vertentes para tal explicação. Temos o idealismo e o materialismo,
de um lado os filósofos idealistas calcados na força do sobrenatural, na força de um ou mais
espíritos, a anticiência. De outro lado, os filósofos materialistas apoiados na força da
experiência e dos fatos, a ciência. Para Politzer (1979, p.21) “se o idealismo nasceu da
ignorância dos homens [...] o materialismo nasceu da luta das ciências contra a ignorância ou
obscurantismo”. A este respeito Politzer vai demostrar que a ignorância foi mantida e sustentada
na história das sociedades por forças culturais e políticas que partilhavam as concepções
idealistas e justamente por esses motivos não fazia sentido difundir a concepção moderna do
materialismo, tampouco em seu viés dialético.
O materialismo dialético, a partir de Marx e Engels, é um método de interpretação da
realidade fundamentado em três grandes princípios (GIL, 2014; POLITZER, 1979; TRIVIÑOS,
9 Descartes, René. Discurso do Método. São Paulo-Brasília: Ática/Ed. UnB, 1989.
27
1987), a saber: a) unidade dos opostos - todos os objetos/fenômenos sociais se constituem por
aspectos contraditórios; b) quantidade e qualidade - são características intrínsecas aos objetos /
fenômenos e estão relacionados; c) negação da negação – conduz a um desenvolvimento e não
um retorno ao que era anteriormente.
Para o entendimento e análise destes três princípios ou categorias, de maneira geral é
preciso um ponto de partida, que pode ser compreendido segundo Triviños (1987, p.55) pelas
categorias básicas do materialismo dialético, a consciência, a matéria e a prática social. A
grande propriedade da consciência é refletir a realidade objetiva. Dessa maneira, surgem
percepções, sentidos, juízos de valor, conceitos etc., no entanto, ela vai se transformando ao
longo do tempo. Em outras palavras, quando surge o ser humano surge também a sua
consciência, em constante transformação. A matéria pode ser compreendida num sistema
concreto de estruturas objetivas e jamais isolada no universo, o sistema socialmente organizado
(a sociedade e o homem), o sistema biológico (desde o microrganismo ao homem), são
exemplos de matéria, esta é anterior a própria noção de consciência. A prática social de forma
ampla é a atividade material com vistas à transformação da natureza e da vida social.
Hardt e Negri (2014, p.188) alertam que “a chave do método marxista do materialismo
histórico é que a teoria social deve ser modelada segundo os contornos da realidade social
contemporânea”. Os autores, ao traçar seu sistema de pensamento, apontam os elementos que
consideram fundantes do materialismo histórico marxista, renovando-os: a tendência histórica,
a abstração real, o antagonismo e a constituição da subjetividade. Hardt e Negri (2014) são
enfáticos ao dizer que é preciso ultrapassar o método, na medida em que a própria história
avança e a realidade se transforma.
Na ideia de tendência reside a noção de periodização histórica. Constantemente ocorre
mudanças no interior da sociedade e existe também muitos paradigmas que vão colaborar com
nossas formas de pensamento, nossas estruturas de conhecimento, a própria ideia daquilo que
é normal ou não. Uma série de acontecimentos históricos vão marcar a criação de novos
paradigmas e consequentemente a passagem entre esses períodos é a mudança de uma
tendência. Um bom exemplo é a passagem da hegemonia do trabalho industrial à do trabalho
imaterial.
O capital cria uma forma de produção colaborativa e interligada na qual o trabalho não
é individual, mas produzido em colaboração com outros, apontam Hardt e Negri (2014, p. 192-
193). Na produção capitalista os tipos de trabalhos específicos têm algo em comum, o trabalho
28
abstrato, aquele independente de sua especificidade. No entanto, se o trabalho é a fonte de toda
a riqueza, o trabalho abstrato é a fonte do valor.
A abstração real tem início com a produção, elemento fundamental na análise de Marx,
e pode ser entendida como a própria noção de trabalho. No entanto, o novo paradigma nas
relações de trabalho prejudica a divisão entre tempo de trabalho e tempo de vida, colaborando
com a criação não dos meios da vida social, mas com a própria vida social. Para Hardt e Negri
(2014, p.193) hoje não faz sentido falar em unidade temporal de trabalho como medida básica
de valor, pois o “trabalho efetivamente continua a ser a fonte essencial de valor na produção
capitalista, isto não muda, mas precisamos investigar de que tipo de trabalho estamos tratando
e quais são as suas temporalidades” (HARDT; NEGRI, 2014, p.193). Essa visão permite aos
autores lançar uma nova perspectiva para a transformação da produção capitalista, lembrando
que o capital sempre esteve voltado para a produção, reprodução e o controle da vida social.
Agora ele investe a própria vida - máquina produtiva - numa produção biopolítica.
Seguindo a linha dos autores (2014, p.198) a palavra exploração remete “à constante
experiência de antagonismo dos trabalhadores”, pois a exploração revela uma violência
estrutural cotidiana do capital contra esses trabalhadores. No entanto, os autores indicam que
não cabe mais mensurar a teoria do valor em termos quantitativos, tampouco a exploração
deveria ser pensada assim. O entendimento parte do pressuposto de que a produção de valor
deve ser entendida em termos de produção do comum e de igual forma devemos pensar a
exploração como a expropriação do comum. Nesse segundo aspecto, aquilo que é feito em
comum passa a ser privado, daí a expropriação do comum, que pode ser aplicada à produção de
linguagens, conhecimentos etc. “Os lucros do capital financeiro são provavelmente a
expropriação do comum em sua forma mais pura” (HARDT; NEGRI, 2014, p.198).
O último elemento fala sobre a produção de subjetividade, aquela gestada nas práticas
materiais de produção. Para Hardt e Negri (2014, p.200) “a subjetividade dos trabalhadores
também é criada no antagonismo da experiência da exploração” e seguem a trilha de Marx ao
afirmar que ele reconhece “a pobreza como estaca zero da atividade humana, como a figura da
possibilidade real e, portanto, fonte de toda a riqueza” (HARDT; NEGRI, 2014, p.201). Tal
afirmativa define a subjetividade do trabalhador no que concerne à própria produção imaterial.
Em outras palavras, a riqueza produzida pelo trabalhador é expropriada, mas ele preserva a sua
capacidade de produzir nova riqueza, resultado da sua força.
No entanto, como todo método e teoria de abordagem, existem críticas a respeito.
Cecilia Minayo (2009, p.24) se posiciona sobre as críticas relacionadas ao marxismo, afirmando
29
que elas enfatizam a dificuldade para a criação de instrumentos compreensivos, porque a
tendência dos autores clássicos e de seus seguidores é importar respostas prontas baseadas na
exegese teórica, perdendo a realidade empírica. Para Minayo, (2009, p.24):
A dialética trabalha com a valorização das quantidades e da qualidade, com as
contradições intrínsecas às ações e realizações humanas, e com o movimento
perene entre parte e todo e interioridade e exterioridade dos fenômenos.
Porém, as análises marxistas voltadas para a consideração dos valores,
crenças, significados e subjetividade são quase inexistentes porque a prática
marxista hegemônica de análise da realidade tem sido macrossocial ou mesmo
positivista.
A autora também cita a questão da subjetividade como um componente quase
inexistente nas análises com base no marxismo. E é justamente o que pretendemos, incluir em
nossas análises, a subjetividade. Como vimos anteriormente, em Hardt e Negri (2014) a
constituição da subjetividade é um dos principais elementos do método revisitados.
Sobre as críticas ao método marxista, Asti Vera (1983, p.59-60) aponta que “para Marx,
a variável independente é a economia; para Weber, a religião. Ambos incorrem no mesmo erro,
que consiste em condicionar todo o sistema a uma de suas partes”. Hardt e Negri (2014)
divergem desse pensamento quando afirmam não ter como separar economia, política de outras
instâncias da sociedade, demonstrando o caráter biopolítico dessa relação. Talvez aí resida uma
das próprias críticas dos autores quando propõem uma revisão e releitura do método marxista.
Temos ciência de que o debate teórico sobre o método em questão é importante,
inclusive, torna-se fundamental o como aplicá-lo. Triviños (1987, p.73-74) apresenta de forma
esclarecedora algumas orientações para o desenvolvimento de pesquisa com cunho materialista
dialético, cujos procedimentos orientam o conhecimento do objeto, tais como:
a) A observação do fenômeno em sua fase inicial, partindo do princípio de que
nenhum fenômeno é igual a outro. É a singularidade de cada fenômeno/objeto estudado. O
objeto sendo captado em sua qualidade geral.
b) Análise do fenômeno, estabelecimento de suas relações históricas, sociais, e
acrescentamos, biopolítica.
c) A realidade concreta do fenômeno, suas possibilidades, potencialidades, sua
forma, conteúdo, a descrição, análise, síntese etc.
Para o desenvolvimento desta pesquisa, seguimos os procedimentos acima descritos, os
quais nos conduzem ao método de abordagem e nos orientam a construção dos capítulos
teóricos com utilização de autores que comungam com este tipo de abordagem. Nossa intenção
30
no estudo foi a de seguir o próprio devir dos movimentos, desde sua história à dinamicidade
(PERUZZO, 2005, p.130) pela qual passam. Além disso, pautamo-nos nas categorias
revisitadas por Hardt e Negri (2014): a tendência histórica, a abstração real, o antagonismo e a
constituição da subjetividade. A apropriação dos elementos constituintes do materialismo
histórico visa a captar como as relações sociais se constroem dentro de um sistema hegemônico
estabelecido e entender como essa realidade social concreta é construída a partir das relações
de poder.
Passar pelas condições de possibilidade dessas relações sob o ponto de vista das
categorias estudadas por Hardt e Negri (2014) e Triviños (1987) é dialogar com Foucault
(2006), com a desconstrução de verdades estabelecidas, com o fato da própria teoria ser uma
prática e, especialmente, com a produção de subjetividades e a questão do biopoder. Adotar a
perspectiva foucaultiana é imprimir um estilo de pensamento que ao refletir sobre o presente
inevitavelmente iremos ao passado, tendo em vista relações históricas de poder.
1.1 Procedimentos metodológicos
Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa e para compor o quadro teórico-
metodológico o procedimento de abordagem metodológica consistirá no método cartográfico.
O desígnio da cartografia na pesquisa é que ela busca acompanhar o processo. E foi exatamente
o que buscamos com o mapeamento - o processo - aquilo que estava entre o que estava por vir,
ou seja, um mapa aberto.
A pesquisa bibliográfica, a revisão de literatura, a pesquisa documental e a observação
participante netnográfica aliada às técnicas da teoria fundamentada em dados compõem a
presente metodologia. A junção dos procedimentos citados tem como base uma teoria de
abordagem centrada nas contradições próprias dos movimentos sociais, de sua realidade
concreta e suas transformações na atualidade.
Inicialmente apresentaremos as abordagens conceituais sobre a cartografia e como ela
pôde ser utilizada no campo da comunicação social. Em seguida, trataremos do detalhamento
dos procedimentos, técnicas e estratégias metodológicas utilizadas nesta pesquisa,
ousadamente, baseada na teoria fundamentada em dados.
31
1.2 Cartografia Comunicacional
Na introdução de “Mil Platôs”, Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995a, p.10-11) dizem
que escrever nada tem a ver com significar, mas com cartografar, mesmo que sejam regiões
ainda por vir. O princípio da cartografia, em “Mil Platôs”, diz respeito ao rizoma, o qual na
botânica é um tipo de haste subterrânea, que permite ramificar-se em qualquer ponto. Conforme
aponta Deleuze e Guattari (1995a, p.14), em si mesmo o rizoma tem formas muito diversas,
pois ele não cessaria de conectar cadeias semióticas, organizações de poder, ocorrências que
remetem às artes, às ciências, às lutas sociais.
O rizoma refere-se “a um mapa que deve ser produzido, construído, sempre
desmontável, conectável, reversível, modificável, com múltiplas entradas e saídas, com suas
linhas de fuga” (DELEUZE; GUATTARI, 1995a, p.32). A cartografia é um mapa aberto,
móvel, conectável e pode ser modificado constantemente em todas as suas dimensões.
Na perspectiva do campo comunicacional destaca-se os estudos cartográficos
empreendidos por Jesús Martin-Barbero (2004), Néstor García Canclini (2009) e Nísia do
Rosário. Em 1980 Martín-Barbero traça seu primeiro mapa de investigação em comunicação e
a partir desse ofício artesanal que guiou a longa investigação fruto da obra Dos meios às
mediações. Nela, Martin-Barbero (2002, p.18) sintetiza o que entende por mapa noturno, aquele
que serve para indagar a dominação, a produção e o trabalho, no entanto, a partir das brechas.
Com a proposta de mapa noturno a intencionalidade do autor é recolocar o estudo dos meios a
partir da investigação das matrizes culturais e dos processos comunicacionais que envolvem
diferentes atores sociais.
Um mapa não para a fuga, mas para o reconhecimento da situação desde as
mediações e os sujeitos, para mudar o lugar a partir do qual se formulam as
perguntas, para assumir as margens não como tema, mas como enzima. Porque
os tempos não estão para síntese, e são muitas as zonas da realidade cotidiana
que estão ainda por explorar, zonas em cuja exploração não podemos avançar
se não apalpando, ou só com um mapa noturno (MARTÍN-BARBERO, 2002,
p.18).
A própria trajetória intelectual de Martín-Barbero pode ser comparada a um mapa
aberto, diferente daquele inaugurado pela geografia tradicional, com delimitações territoriais e
acabado. Na introdução de Ofício de Cartógrafo, o autor (2002, p.17) faz um apanhado sobre o
seu ofício na cartografia, cuja aspiração é renovar o mapeamento dos estudos de comunicação
na América Latina. Martín-Barbero (2002, p.15) situa também o trabalho de García Canclini
32
em “A Globalização Imaginada”, ao apontar que a nova forma de se fazer um mapa exige a
mudança de discurso e escrita. Porque ele não se limita a expor teorias sobre a globalização,
mas assume de frente os desafios que o fato de pensar sobre a globalização impõe às ciências
sociais, começando pela impossibilidade de pensá-la numa única direção. Daí, García Canclini
opta por construir suas pistas a partir das perguntas e das narrativas, uma nova forma de fazer
um mapa.
Em texto mais recente García Canclini (2009, p.15) faz a seguinte indagação,
“perguntamo-nos como encaixar em algo que pareça real, tão real como um mapa, este feixe de
comunicações distantes e incertezas cotidianas, atrações e desenraizamentos, que se nomeia
como globalização”. No fundo o que ele busca é uma teoria que organize as diversidades, que
dê conta de não somente reconhecer as diferenças, mas de como corrigir as desigualdades e
como conectar as maiorias às redes globalizadas (GARCÍA-CANCLINI, 2009, p.16).
Numa constante tentativa de escape dos traços do pensamento pós-moderno, o autor
desenha o mapa daquilo que ele assume por interculturalidade. “As teorias comunicacionais
nos lembram que a conexão e a desconexão com os outros são parte da nossa constituição, como
sujeitos individuais e coletivos. Portanto, o espaço inter é decisivo” (GARCÍA-CANCLINI,
2009, p.31). Ao colocar o inter no cerne da investigação, o autor sinaliza os fracassos políticos
no âmbito da América Latina ao mesmo tempo em que aponta a participação na mobilização
de recursos interculturais para a construção de alternativas. Ambos os autores, na perspectiva
do campo comunicacional, traçam as rotas de suas navegações, cada um à sua maneira.
Para Suely Rolnik (1989) a prática de um cartógrafo diz respeito às estratégias das
formações do desejo no campo social. Para a autora pouco importa quais setores da vida social
o cartógrafo tome como objeto, o que importa é que ele esteja atento às estratégias do desejo
em qualquer fenômeno da existência humana, desde os movimentos sociais e grupos,
institucionalizados ou não. O desejo, do ponto de vista da psicanálise, é entendido como a noção
da falta, ou seja, o sujeito é pensado e constituído a partir da falta, da sua incompletude. É a
partir desse parâmetro que Rolnik percebe a noção do desejo.
Rolnik (1989) diz que não é possível definir o método cartográfico em termos de
referência teórica e procedimento técnico, somente sua sensibilidade. Porém, afirma que teoria
é sempre cartografia e, dessa forma, qualquer fonte de informação pode ser válida, tudo o que
servir para criar sentido é bem-vindo. “Todas as entradas são boas, desde que as saídas sejam
múltiplas”. Rosário (2008, p.13), coaduna com Rolnik quando afirma que “a cartografia busca
desconstruir os discursos de verdade estabelecidos tensionando linhas de força, capturando o
33
novo, buscando a alteridade e o que é negado ou está escondido”. Rolnik tem razão, pois a
sensibilidade é a mais potente ferramenta estratégica do pesquisador. Por meio dela, pode-se
adotar determinada teoria em detrimento de outra, uma técnica em detrimento de outra, assim
como, no meio do caminho o cartógrafo pode abandonar a teoria ou a técnica empregada que
não esteja mais dando conta do contexto social estudado.
A cartografia desacomoda a pesquisa que determina os objetos, modela os métodos e
direciona os sujeitos visando à construção de um mapa sempre inacabado. Esse é seu o devir,
desconstruir para construir novas pontes, desamarrar para amarrar outros nós e ser máquina
produtora de desejos e subjetividades.
A partir do que descreve Rolnik (1989) fomos ao campo munidos de quatro itens:
1) Um critério.
2) Um princípio.
3) Uma regra.
4) Um breve roteiro de preocupações.
A cartografia - comunicacional - com o respaldo dos autores mencionados foi
construída na própria caminhada da investigação. Os quatro itens apontados foram
fundamentais para a composição da presente metodologia.
Os procedimentos teórico-metodológicos empregados no decorrer da pesquisa
compõem o que chamamos de cartografia comunicacional. A investigação foi dividida em
etapas, mas, elas não foram estanques ou sequenciais, pois existiam etapas que dependiam de
momentos anteriores, o que abordaremos a seguir.
1.2.1 Pesquisa bibliográfica – Primeira etapa
Para Luna (1997, p.20) uma revisão teórica tem o objetivo de circunscrever um dado
problema num quadro de referência teórico que pretende explicá-lo. A revisão visa a descrever
o que já se sabe sobre o tema, suas principais lacunas, nas quais se encontram os entraves
metodológicos e teóricos.
Realizamos uma revisão de literatura sobre os movimentos sociais brasileiros, com o
intuito de sistematizar as transformações ocorridas com eles a partir do advento da internet.
Buscamos com a revisão um arcabouço teórico sobre as transformações pelas quais passaram
determinados movimentos, especialmente com a utilização das TICCS. A revisão ajudou a
compreender a conjuntura, atualizando conceitual e epistemologicamente os tipos de
34
movimentos sociais, principalmente aqueles presentes na internet, sob o recorte do campo
comunicacional.
A revisão e sistematização da literatura estão baseadas nas obras de Antonio Negri
Michel Hardt e (2001; 2014), Cicilia Peruzzo (2004; 2014), Maria da Glória Gohn (2000; 2012;
2013; 2014), Manuel Castells (2000; 2003; 2013), Muniz Sodré (2004; 2013) entre outros.
Nessa etapa foram adotadas as teorias que nos permitiram compor a revisão de literatura dos
movimentos sociais e da comunicação na perspectiva do comum, o marco teórico da
investigação. Dentre os principais conceitos utilizados para nortear o trabalho, destacam-se o
de movimento social, multidão, rede, internet, espaço híbrido, dispositivo, comum,
comunicação, comunicação comunitária, cidadania e democracia.
Mais do que revisitar conceitos, a revisão buscou brechas, rupturas, descontinuidades a
fim de lançar um novo olhar sobre os movimentos sociais, institucionalizados ou não, dispersos
na rede. Para compor o marco teórico da pesquisa, após o levantamento bibliográfico e a revisão
da literatura pertinente correlacionamos as demais teorias empregadas aos resultados das
análises e interpretação dos dados, com base na teoria fundamentada em dados explicitada mais
adiante.
1.2.2 Pesquisa documental – Segunda etapa
Com base em autores como Gil (2008), Prodanov e Freitas (2013) e Triviños (1990),
nos valemos da pesquisa documental para três objetivos: 1 - realizar levantamento de dados
sobre os conteúdos relativos aos movimentos sociais que foram publicados nos principais
portais jornalísticos do país (G1, IG, Uol e Terra); 2 - extrair dados oficiais sobre dez
movimentos para desenvolver posterior mapeamento; 3 - levantar documentos desenvolvidos
pelo MST e MAB sobre as diretrizes de utilização da comunicação, conforme será elucidado
mais adiante na coleta de dados arquivais. Isso, a fim de levantar e selecionar os documentos
legais e outros que consideramos importantes sobre a comunicação desenvolvida pelos
movimentos sociais. A pesquisa documental caminhou com a netnografia e por meio deste
procedimento fizemos um mapeamento inicial das redes sociais virtuais utilizadas, para em
seguida, tratar da coleta dos materiais localizados.
35
1.2.3 Netnografia
Para Robert Kozinets (2014) a netnografia é pesquisa observacional participante
baseada em trabalho de campo online. A netnografia “utiliza comunicações mediadas por
computador como fonte de dados para chegar à compreensão e à representação etnográfica de
um fenômeno cultural ou comunal” (2014, p.61-62). Ou seja, a netnografia é uma adaptação
da etnografia e sua abordagem é adaptada para estudar fóruns, grupos de notícias, blogs,
comunidades audiovisuais, fotográficas e de pod-casting, mundos virtuais, jogadores em rede,
comunidades móveis e websites de redes sociais (KOZINETS, 2014, p.11). O etnógrafo vai a
campo com seu diário e com suas habilidades, a fim de observar e investigar a cultura do outro.
O netnógrafo fica no seu lugar, porém precisa das redes telemáticas para lançar seu olhar sobre
o outro.
Kozinets (2010, p.5) afirma que “como a etnografia presencial, a netnografia é
naturalista, imersiva, descritiva, multi-métodos, adaptável e focada no contexto” (2010, p.1).
Para o autor, a netnografia é a etnografia adaptada às complexidades de nosso mundo social
contemporâneo, mediado pela tecnologia. Em publicação mais recente Kozinets (2014, p. 134)
afirma que “a internet não é realmente um lugar ou um texto; ela também não é pública ou
privada. Tampouco é um único tipo de interação social, mas muitos tipos [...]. A internet é tão
somente internet”.
A abordagem netnográfica possui muitas particularidades, dentre elas, a escolha do tipo
de pesquisa que pode se apresentar de duas formas. A primeira é a pesquisa online em
comunidades, ou seja, que existe previamente e mantém interação social e física entre os
participantes. A segunda forma é a pesquisa em comunidades online, ou seja, a comunidade é
formada a partir das tecnologias de comunicação e informação e que, por sua vez, funciona
somente no espaço online. Existe ainda, a possibilidade de se realizar uma netnografia pura
aplicada ao estudo de uma comunidade ou grupo em questão. Daí, neste caso existe intensa
interação social entre o pesquisador e a comunidade ou grupo. Nesse sentido, o pesquisador
permanece no grupo o tempo necessário para a realização da pesquisa, sempre com o
consentimento dos membros.
No entanto, a nossa empreitada, seguindo aos desígnios da cartografia nos possibilitou
flexibilizar e adaptar os procedimentos netnográficos ao mapeamento proposto para esta
pesquisa, sem que descaracterizássemos a abordagem netnográfica. Após estudo em
profundidade da netnografia, inclusive, de alguns autores chaves da teoria fundamentada em
36
dados, utilizados por Robert Kozinets para fundamentar a sua tese a despeito da codificação
netnográfica, decidimos empregar o termo observação participante netnográfica (OPN).
A observação participante netnográfica, além do embasamento teórico da netnografia e
da teoria fundamentada em dados, teve apoio nos estudos de Cicilia Peruzzo (2005, p.131) sobre
pesquisa participante. O objetivo da pesquisa participante é a contribuição para o processo de
mudança social. Na observação participante, o pesquisador se insere no grupo pesquisado e
participa de suas atividades, porém atua de forma autônoma, não havendo intervenção nas
etapas da pesquisa por parte do grupo pesquisado. Outro ponto importante é que o pesquisador
pode ser encoberto ou revelado (PERUZZO, 2005, p.134), ou seja, o grupo pode ter ou não
conhecimento de que está sendo investigado. Desse modo, optamos em trabalhar de forma
revelada.
Com base nos protocolos gerais adotados na etnografia, Kozinets (2014) apresenta um
conjunto de procedimentos para a realização da pesquisa netnográfica, os quais foram utilizados
nesta pesquisa. São eles: planejamento do estudo, entrada, coleta de dados, interpretação,
garantia de padrões éticos e apresentação da pesquisa. Esses procedimentos estão interligados,
porém não acontecem necessariamente de forma sequencial e estanque, sempre à moda da
cartografia.
a) Planejamento e Entrada
Realizamos inicialmente um prévio levantamento sobre os principais movimentos
sociais brasileiros e algumas redes de articulação, ambos com abrangência nacional. A
familiaridade de estudos anteriores sobre a temática dos movimentos sociais possibilitou uma
busca um pouco mais focada nesse quesito. Ainda assim, a posteriori, fizemos contato com
Benedito Barbosa10, importante liderança dos movimentos sociais populares no âmbito urbano.
Dito Barbosa, como é conhecido, é coordenador da Central de movimentos Populares de São
Paulo (CMP), ele nos forneceu uma listagem contendo informações sobre movimentos sociais,
fóruns, associações, redes de articulação, entre outras entidades, mas a grande maioria era
proveniente da área urbana. Em seguida, verificamos a presença desses movimentos no espaço
virtual da internet, especificamente na utilização de sites institucionais e sites de redes sociais
disponíveis.
10 Benedito Barbosa é advogado e coordenador da Central de movimentos Populares de São Paulo. A listagem e
demais informações obtidas sobre movimentos sociais foi fornecida via correio eletrônico, no dia 01 de setembro
de 2015.
37
Nesse ínterim, incluímos outros movimentos e redes, avançando no levantamento
realizado anteriormente e complementando com as informações coletadas da listagem. Embora
a compilação fornecida por Barbosa (2015) represente uma importante organização didática
dos movimentos sociais em torno da questão urbana, sobretudo, na cidade de São Paulo ela não
correspondia totalmente ao propósito do mapeamento em sua diversidade e também a algumas
características que priorizamos para a escolha dos movimentos, conforme veremos adiante.
A revisão de literatura nos oportunizou a escolha dos movimentos sociais a partir da
leitura e análise das tipologias apresentadas por Cicilia M.K. Peruzzo (2004; 2014) e pelos eixos
temáticos apresentados por Maria da Glória Gohn (2013). Após a revisão das categorias
apresentadas pelas autoras, notamos que alguns eixos temáticos categorizados por Gohn (2013)
entravam em conflito ou que perpassavam todos os outros movimentos sociais, independente
das linhas de atuação. A partir dessa leitura fizemos uma sistematização das categorias
apresentadas pelas pesquisadoras, que nos possibilitou uma pequena reestruturação dos eixos
temáticos de Gohn (2013), conforme pontuamos a seguir: o eixo 6 Mobilizações e movimentos
sociais, cuja área temática é o trabalho e o eixo 9 Setor de Comunicações foram
desconsiderados. E assim, o eixo 3 movimentos identitários e culturais que abarca as temáticas
gênero, etnia e gerações pôde ser trabalhado em sua diversidade, sendo destrinchado nas três
temáticas descritas.
Com a reestruturação dos eixos, temos o seguinte resultado: movimentos sociais ao
redor da questão urbana; em torno da questão do meio ambiente; movimentos de gênero; etnia;
gerações; demandas na área do direito; ao redor da questão da fome; decorrentes de questões
religiosas; movimentos rurais e movimentos sociais globais. E assim, após essa reestruturação
mapeamos 10 movimentos sociais com base nas seguintes características: representatividade,
abrangência, bandeiras de luta pautadas no direito da pessoa humana e, sobretudo, com base
nos antagonismos sociais, nos quais, grande parte dos atores sociopolíticos estão alijados de
seus direitos. E, particularmente, aqueles cujas linhas de atuação, encontram-se a alteração da
ordem societária vigente. Após a realização do mapeamento dos movimentos sociais, fizemos
a escolha dos dois movimentos que compuseram a análise em profundidade. A explicitação e a
sistematização das categorias de ambas as autoras estão estruturadas no quadro 1, no referencial
teórico do capítulo dois. Já o mapeamento encontra-se estruturado no último capítulo.
38
b) Coleta de dados11
Durante a coleta e análise de dados na pesquisa netnográfica, três tipos de capturas de
dados foram realizados: dados arquivais, dados extraídos e dados de notas de campo12
(KOZINETS, 2014, p.92). Após a identificação e mapeamento dos movimentos sociais e dos
tipos de mídias e outros canais que eles utilizam coletamos as produções de conteúdos
desenvolvidas e disponibilizadas nas mídias selecionadas, bem como documentos legais e
outros que consideramos pertinentes. Conforme citado os dados foram organizados em três
tipos:
Dados arquivais:
A primeira coleta de dados consistiu em copiar os dados diretamente de comunicações
mediadas por computador preexistentes, tais como os dados das páginas de blog, site e demais
mídias sociais digitais dos movimentos sociais observados, por exemplo:
- Mídias sociais: cópia de postagens, fotos, vídeos, material multimídia etc.
- Imprensa: material veiculado nos principais jornais online sobre a temática.
Dados extraídos:
A segunda coleta refere-se aos dados extraídos que a pesquisadora obteve por meio da
interação com membros e ou informantes-chaves. Dos 10 movimentos sociais mapeados,
interagimos com aproximadamente seis, sendo que, desta amostra, realizamos quatro
entrevistas semiestruturadas online a partir de um roteiro previamente elaborado. Segundo
Minayo (2009, p.64) a entrevista semiestruturada se caracteriza por ser aquela em que a
entrevistadora “combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a
possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada”. As
entrevistas semiestruturadas online foram realizadas com informantes-chaves da coordenação
nacional/estadual responsáveis pelo setor de comunicação do MAB e do MST.
As entrevistas foram gravadas e transcritas, de acordo com os procedimentos éticos
empregados nesta pesquisa. As entrevistas foram longas, algumas com duas horas de duração,
aproximadamente. Buscamos ouvir atentamente os respondentes e ao passo que as respostas se
11 Utilizamos o termo coleta por convenção, quando na verdade, entendemos a coleta de dados como uma
construção, pois é ela é feita em conjunto com a análise. E ainda, quando falamos em dados estamos nos ferindo
aos observáveis (fruto da relação dos dados com a interpretação). 12 Na teoria fundamentada em dados as notas de campo também são denominadas de memorandos.
39
ampliavam muito fugindo à temática da entrevista, sutilmente conduzíamos aos respondentes
às questões propostas no roteiro.
Esta etapa foi fundamental para o desenvolvimento teórico da pesquisa baseada em
dados. Procuramos utilizar o roteiro de questões de forma fidedigna durante as entrevistas para
que alcançássemos uma padronização nas perguntas, para que pudéssemos no decorrer da
aplicação das técnicas da teoria fundamentada em dados, buscar uma correlação entre as
respostas. As entrevistas e a utilização dos códigos in vivo, extraídos da fala dos próprios
respondentes contribuiu para o refinamento dos memorandos escritos no decorrer da OPN.
No contexto da teoria fundamentada em dados, as entrevistas realizadas sustentam
resultados teóricos mais próximos da realidade concreta dos sujeitos-objetos da pesquisa.
Assim, elas são utilizadas com o intuito de saturar as informações analisadas em seu conjunto,
que seja para refutar questões trazidas na problemática da pesquisa, ampliar o conhecimento
sobre a temática ou até mesmo para corroborar com avanços na área. Deste modo, as entrevistas
realizadas não foram utilizadas para confirmar as proposições da pesquisadora por meio de
citações das falas dos respondentes, mas para buscar os pormenores e as particularidades do
fenômeno na conjuntura, que não foram possíveis de serem captadas somente por meio da
revisão de literatura e observação.
Além destas entrevistas, também consideramos os dados levantados por meio de
informações via correio eletrônico, conversas em chats, especialmente do Facebook e
mensageiros instantâneos.
Dados de notas de campo:
O terceiro tipo de coleta diz respeito às notas de campo experienciadas sobre as práticas
comunicacionais dos movimentos na internet, suas interações, bem como a própria participação
e o senso de afiliação da pesquisadora, principalmente sobre o método de observação do
fenômeno. Conforme as etapas da pesquisa foram de desenvolvendo fomos escrevendo
memorandos sobre a observação dos materiais coletados e das relações sócio-históricas dos
movimentos do ponto de vista dos processos comunicacionais em seu contexto mais geral, no
entanto, na medida em que os dados recebiam o tratamento de verificação e refinamento dos
mesmos, a escrita das notas de campo ia se aprimorando e buscando categorias que pudessem
refinar e comparar ainda mais os dados. A escrita dos memorandos nos permitiu a análise do
fenômeno no presente, ou seja, como estão ocorrendo os processos comunicacionais dos
movimentos sociais na internet e assim, pudemos retornar especificamente ao campo para
40
observar a evolução desses processos comunicacionais, especialmente, os desenvolvidos pelo
MAB e pelo MST.
c) Estratégias
Já mencionamos, mas vale frisar que a netnografia requer imersão e participação no
grupo ou comunidade estudada. Temos ciência desta condição, no entanto, como a ideia inicial
era netnografar 10 movimentos sociais a solução mais acertada estrategicamente foi construir
um mapa de observação participante netnográfica, seguindo um protocolo mínimo de
requisitos. É importante deixar claro que não realizamos a “netnografia pura”, ou seja, aquela
direcionada para a pesquisa de “comunidades online”, cuja origem e razão de ser estão
relacionadas às comunidades eletrônicas e a cultura online em si (KOZINETS, 2014, p.64-66).
A netnografia empregada neste estudo se caracteriza como “pesquisa online em
comunidades” (KOZINETS, 2014, p.65), porque tal estudo examina um fenômeno social geral
cuja existência social vai muito além da internet e das suas interações online, mesmo que tais
interações possam desenvolver papel importante com a afiliação aos movimentos Sociais
estudados. Para esta pesquisa frisamos o aspecto por tempo suficiente, já que para Kozinets
(2014, p.16) “a preocupação com a quantidade de tempo significa que a netnografia analisa as
comunidades eletrônicas enquanto relacionamentos contínuos em andamento”. O autor sugere,
então, que exista um número mínimo de interações e exposição ao longo do tempo para que um
senso de comunidade possa se estabelecer. Diante disso, o tempo destinado a observação
participante netnográfica, como parte da estratégia empregada foi de quatro meses. O mapa de
observação participante foi desenvolvido a partir das seguintes etapas:
1.3 Observação e Coleta de dados – Primeira e segunda rodada de coleta
A primeira coleta consistiu em copiar os dados diretamente de comunicações mediadas
por computador preexistentes, tais como:
Dados das páginas de sítios e de mídias sociais digitais dos 10 movimentos sociais
observados.
Imprensa – material veiculado nos principais jornais online sobre a temática.
Dados oficiais – leis, estatutos, cartilhas etc.
41
Período aproximado: 30 dias corridos (maio/ 2016) 13 de observação, coleta e utilização
do diário de campo virtual, conforme demonstrado abaixo:
Quadro 1 - Diário de Campo Virtual
Fonte: Autoria própria
1.4 Observação participante netnográfica e Coleta de dados – Terceira rodada de coleta
A proposta inicial era de netnografar os 10 movimentos sociais selecionados no
mapeamento. Porém, declinamos de tal proposta por reavaliarmos se a qualidade da imersão e
a coleta dos dados se manteria fidedigna, em termos netnográficos, à amostra escolhida. Após
mapearmos os 10 movimentos e termos realizado a primeira rodada de coleta, optamos por dois
movimentos sociais para a observação participante netnográfica. São eles: Movimento dos
Atingidos por Barragens – MAB e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST.
13 O ano de 2016 no Brasil começa marcado por processos de corrupção e crise na política, retrocesso econômico
e financeiro, alto índice de desemprego, descaso na saúde, na educação, desastre ambiental etc. Em contrapartida,
vive-se um cenário de expectativas quanto aos jogos olímpicos e paraolímpicos e às eleições municipais
(importantes para fortalecer partidos e legendas para as eleições de 2018, entre outros aspectos). Atentos a isto,
mas não em menor grau, atentos também a forma na qual os movimentos sociais, como agentes promotores de
ação social, articulam suas pautas e demandas em torno dos últimos acontecimentos no país, no espaço híbrido da
internet, por meio da comunicação. E por ela ser um espaço privilegiado de lutas e de hegemonia, criteriosamente,
selecionamos os meses do presente ano, que a nosso ver, antecipam e/ou podem fomentar discussões importantes
relacionadas aos eixos temáticos dos movimentos sociais mapeados, e que em última instância, tem a sociedade
civil como pano de fundo.
42
A observação participante netnográfica ocorreu durante três meses (de maio de 2017 a
julho de 2017). Diariamente durante o primeiro mês, observamos e coletamos dados arquivais,
extraídos e os dados das notas de campo. E, ao final de cada cinco dias recorremos ao diário de
campo virtual (utilizado durante as observações diárias) para anotarmos as impressões gerais
obtidas em relação a cada semana. Nos dois meses seguintes repetimos parte dessas ações, ou
seja, observamos e utilizamos o recurso das notas de campo até concluir os três meses de
observação netnográfica.
A netnografia esteve voltada para as atividades comunicacionais desenvolvidas
(inclusão/atualização de conteúdo, tipo de conteúdo, assunto, comentários, compartilhamentos)
no site e na página do Facebook do MAB e do MST, seguindo a categorização dos três tipos de
dados apresentados. Também consideramos outras plataformas, tais como canal no Youtube e
Instagram com o objetivo de ter uma visão mais geral de como desenvolvem a comunicação na
internet (KOZINETS, 2014).
1.5 Observação participante netnográfica e Coleta de dados – Quarta rodada de coleta
Dados extraídos – Realização de quatro entrevistas semiestruturadas online.
A seguir demonstramos de forma esquemática como desenvolvemos a OPN:
Quadro 2 - Mapa de Observação OPN
Fonte: autoria própria
43
a) Captura dos dados online:
Os vários arquivos coletados constituíram o conjunto de dados para análise e,
consequentemente, a decisão de como salvá-los e organizá-los também compõe parte das
estratégias adotadas. Inicialmente sugestionamos que acumularíamos uma grande quantidade
de dados, caso realizássemos os três tipos de coleta de dados em todas as fases da pesquisa
empírica. Anteriormente explicitamos como é a escolha dos observáveis e o período de
realização da coleta. No entanto, duas formas básicas de captura dos dados online foram
utilizadas. A primeira - relacionada à pesquisa documental - consistiu em salvar diretamente no
computador os arquivos de modo legível e editável, em formato de arquivo com extensão html
e em formato pdf. A segunda forma - devido ao farto conjunto de dados - relacionada à
observação participante netnográfica - consistiu na experimentação e utilização de programas
para captura de tela (fixa e em movimento).
O Google Keep, por exemplo, foi utilizado inicialmente para a criação do diário de
campo virtual, porém descartamos a sua utilização e criamos nosso próprio diário, conforme
demonstrado no quadro 2. O Evernote, foi utilizado inicialmente para a captura e organização
dos dados coletados, em conjunto com o Nvivo14, programa de análise assistida dos dados
qualitativos (CAQDAS). No entanto, nos sentimos mais confortáveis realizando as codificações
do conteúdo textual manualmente. Assim, imprimimos os dados compostos de memorandos e
entrevistas e iniciamos o trabalho de codificação, com escritos a margem das folhas impressas.
Retrocedemos na utilização do Nvivo e decidimos trabalhar com o Evernote, pois além
da funcionalidade de captura, disponibilização dos links de acesso em cada conteúdo capturado
e organização de conteúdo, ele nos possibilitou a utilização de tags e automatização de
categorias comuns entre o MAB e o MST. Com a utilização do recurso de marcação com tags,
conseguimos relacionar os dados por meio de rótulos comuns. Além disso, pudemos escrever
parte dos memorandos na mesma página do dado extraído.
b) Interpretação
Esta etapa da pesquisa faz referência à classificação, análise15 e posterior interpretação
dos dados coletados. O auxílio dos programas descritos acima colaborou com o constructo de
14 <http://www.qsrinternational.com/what-is-nvivo> 15 Entendemos que para a análise do material coletado o componente humano é fundamental, independente de
máquinas e tecnologias.
44
categorias para codificação dos dados e posterior descrição e representação visual dos processos
comunicacionais dos movimentos sociais na internet. Só que para chegarmos a uma
representação refinada dos dados e de categorias teóricas emergentes, utilizamos às técnicas
empregadas na teoria fundamentada nos dados16 e adaptadas à netnografia, conforme veremos
a seguir.
De acordo com os pioneiros Glaser e Strauss (1967) a linha de investigação da teoria
fundamentada nos dados é invertida, pois parte da observação empírica para a definição de
conceitos. No entanto, Kathy Charmaz (2009) é mais flexível neste quesito ao demonstrar a
importância da realização de revisão de literatura em pesquisas de doutoramento, por exemplo.
Para Charmaz (2009, p.252) a teoria fundamentada é “um método de condução da pesquisa
qualitativa que se concentra na criação de esquemas conceituais de teorias por meio da
construção da análise indutiva a partir dos dados. Como estratégia para a análise dos dados
coletados, consequentemente, a fim de transformar o material bruto coletado em uma
representação acabada da pesquisa trabalhamos com a técnica de codificação apresentada na
teoria indutiva de Strauss e Corbin (2002) e adaptada segundo Kozinets (2014, p.114) aos
propósitos da netnografia. A análise dos dados ocorreu a partir dos seguintes passos analíticos
organizados:
1. Codificação – Criação de códigos, categorias e conceitos extraídos das notas de campo,
entrevistas, código in vivo17 e demais dados netnográficos.
2. Anotações – Reflexões sobre os dados, sobre aquilo que foi visto, lido, percebido, escutado
e codificado. A redação do memorando (notas de campo) estabeleceu a próxima etapa lógica
após a definição das categorias. No entanto, conforme orienta Charmaz (2009, p.115), a
escrita dos memorandos desde o início da pesquisa, foi fundamental para a comparação dos
dados.
3. Abstração e comparação – Os dados netnográficos foram classificados e filtrados para a
identificação de expressões, termos, sequências compartilhadas, diferenças, relações etc, tal
processo orientou a construção dos códigos.
Segundo Kozinets (2014, p.114) a comparação considera as semelhanças e as diferenças
entre os dados. Para Tarozzi (2011, p.24) o método de comparação é o coração da GT, segundo
o autor a constante comparação sugere “perguntas aos dados, nos vários níveis de análise, e
16 Originalmente conhecida como grounded theory ou GT. No Brasil, alguns autores chamam de teoria
fundamentada nos dados, teoria fundamentada em dados ou de teoria enraizada.
17 Termos extraídos diretamente das falas dos respondentes.
45
essas perguntas, que buscam nexos entre dados e conceitos, favorecem o progresso da
compreensão conceitual dos fenômenos estudados”. Esquematicamente, o método de
comparação na GT ocorre da seguinte forma:
1. Verificação e refinamento – retorno ao campo para refinar os dados coletados.
2. Generalização – cobrem ou explicam as consistências no conjunto dos dados.
3. Teorização – confronto das generalizações elaboradas a partir do conjunto de dados
sistematizados em conhecimentos. Construção e ou renovação de teoria a partir de novos
conhecimentos formalizados, com a análise dos dados, e em confronto com as teorias
existentes, ou seja, com a revisão de literatura proposta.
A codificação analítica (KOZINETS, 2014) realizada nesta pesquisa teve como base as
técnicas de codificação da teoria fundamentada em dados, ou seja, codificação aberta (inicial),
axial e seletiva (CHARMAZ, 2009; CORBIN, STRAUSS, 2002; TAROZZI, 2011).
A codificação aberta consistiu em levantar e selecionar o material bruto, para em seguida
criar categorias e rótulos. Ela ocorreu no primeiro nível de abstração, no qual examinamos e
separamos os dados. As categorias foram apresentadas a partir deste primeiro levantamento e
não pré-estabelecidas, pois a intenção é que a teoria ou o conjunto de conceitos apreendidos no
mapeamento fossem revelados na prática.
A codificação axial depreendeu da anterior, com a formação e desenvolvimento de
conceitos. Esta etapa esteve intimamente relacionada às notas de campo, nas quais nos
baseamos para refinar as categorias criadas.
Segundo Kozinets (2014, p.114) a codificação seletiva “move os construtos para níveis
cada vez mais altos de abstração, escalonando-os de forma ascendente e depois especificando
as relações que os vinculam”. Esta etapa final consistiu na sistematização dos dados, com a
criação de conceitos mais gerais desenvolvidos com a confrontação dos dados já refinados.
46
Quadro 3 - Esquema de Observação Participante Netnográfica
Reconhecimento/Levantamento da comunicação dos
10 movimentos sociais
Seleção de dois movimentos sociais
Entrada – apresentação da pesquisadora aos
movimentos sociais selecionados
Observação participante netnográfica
(envolvimento/imersão)
Coleta de dados (garantir procedimentos éticos)
Análise dos dados e interpretação dos resultados (GT)
Redação / Apresentação dos dados teóricos e práticos
Fonte: (Adaptado de Kozinets, 2014)
Ética da pesquisa
A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da Universidade Metodista de São Paulo,
cujo parecer consubstanciado foi favorável ao desenvolvido na pesquisa e ao Termo de
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) online. Assim como na observação participante a
netnografia pressupõe que o pesquisador cumpra várias etapas para garantir a idoneidade da
pesquisa, tais como: consentimento informado, garantia de confiabilidade e anonimato aos
indivíduos pesquisados, retorno para a comunidade e posição cuidadosa em relação às
informações públicas/privadas.
Após apresentação da pesquisadora e da temática da pesquisa foi enviado aos
informantes-chaves uma cópia do TCLE e o link do mesmo para preenchimento online. O
TCLE online está disponível em <https://goo.gl/forms/tVa3ufSQGyiHhHre2>. Nos
pressupostos da netnografia em Kozinets (2014) a apresentação da pesquisa ao
grupo/comunidade pesquisado tem o intuito de validar as interpretações sobre as observações
realizadas. Além de permitir que a pesquisadora apresente suas opiniões sobre o que foi escrito
e se está condizente com o contexto em que se situam. Porém, nesta pesquisa, adotamos o
critério da modalidade da observação participante, no qual os pesquisados não interferiram nos
procedimentos da investigação, mas terão acesso ao conjunto da pesquisa.
47
CAPÍTULO II – ABORDAGEM COMPREENSIVA DA COMUNICAÇÃO
Cada ponto de vista é a vista de um ponto.
Leonardo Boff
Este capítulo trata a comunicação como abordagem compreensiva, fornece as bases
conceituais para os próximos e, delimita a compreensão sobre os processos comunicacionais
em pauta, no âmbito dos movimentos sociais. Todavia, antes de iniciar a contextualização sobre
eles é preciso sistematizar o conhecimento sobre a comunicação, especialmente, sobre os
processos comunicacionais comunitários. Sendo assim, fincando os alicerces teóricos em
abordagens centradas nas dimensões críticas e vinculativas da comunicação, dita, social.
No entanto, adentrar no espectro18 da comunicação é passar por seus tipos e
configurações, desde a comunicação verbal, a não verbal, a tida como massiva, a alternativa,
popular e comunitária, a comunicação mediada por computador e a própria noção de
comunicação como ciência e prática ancorada na proposta do comum. E neste espectro da
comunicação, adentrar ao que se chama mídia, também é premente para situar a comunicação
na conjuntura em que uma nova forma de vida surge, e que o sujeito com sua subjetividade vê-
se frente a frente com a alteridade do outro que também o constitui. E, sobremaneira subvertê-
la, capturá-la em seus meandros, como processo.
O princípio comunicativo em um contexto imanente e metafórico pode ser ilustrado pela
passagem bíblica na figura de João (1:14) “E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos
a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade”. Ora, se Jesus
Cristo, o maior comunicador que já existiu, deixa-nos o legado da comunhão, da graça e da
verdade, tem-se aí pistas do que é a comunicação. O Verbo é a mensagem que Deus deixa para
a humanidade e nela está implícita às marcas de Jesus e do amor ao próximo. Se a comunicação
está imersa desde o começo da humanidade na ideia de uma mensagem - por em comum - e se
o Verbo exprime uma ação, tem-se aí uma ação comum no sentido mais profundo e tenro, a
comunhão, que nos leva a quintessência da comunicação, a comunidade. É a partir desse
arcabouço que se propõe pensar a comunicação.
18 O sentido de espectro (espectrum) aqui empregado denotada as várias facetas e dimensões da comunicação.
48
Este capítulo fornecerá a base para a construção dos demais, e especialmente para o
último, no qual tem-se a proposta de uma teoria fundamentada em dados. O olhar para a
comunicação se dará a partir da contextualização, aqui forjada. Acredita-se que desta forma,
munidos de teoria, poder-se-á ousar na potência da comunicação em processo na internet.
2 “Afinal”, o que é comunicação?
Juan Díaz Bordernave já na década de 1970, dizia que a comunicação é a força que
dinamiza a vida das pessoas. A sua vez, González (2008) afirma que a comunicação funciona
como um vetor, ou seja, uma força com direção. Vejamos, se a comunicação é força, produtiva
e produtora e funciona como um vetor, ela supostamente vai ao encontro de algo. E esse algo
pode ser exprimido pela própria centralidade e organização das relações sociais na vida
cotidiana. Em outras palavras, a comunicação humana, pensada a partir do ponto de vista do
social, pode ser percebida como o elo que está entre as relações.
Se pensarmos no modelo linear de Shannon e Weaver (1949) - da teoria da informação
- composto basicamente por emissor, mensagem, receptor e ruído findamos o processo
comunicativo no emissor, caso ele receba a mensagem. Mas se pensarmos na comunicação,
como o entre das relações sociais e a sua alteridade forjada na força do comum, temos aí a
noção de que essa força não permanece no sujeito, mas o altera e produz um estado de coisas.
Entre vários motivos para atribuímos a noção de “poder”19 (FOUCAULT, 2006, HARDT;
NEGRI; 2014, THOMPSON, 2005; BOURDIEU, 2004) aos meios de comunicação, esse é um
deles. A mensagem quando é encaminhada para um sujeito, ela não permanece, ela continua
com força e direção, impactando o outro, como num ciclo.
Por outro lado, há muito tem se debatido nas ciências sociais aplicadas, o que é a
comunicação, o seu sentido, o seu objeto, seu conceito, mas com muitas controvérsias.
Pesquisadores brasileiros renomados na área da comunicação baseiam-se em pesquisas e teorias
importadas, sobretudo, estadunidenses, advindas das ciências sociais, sobretudo, a sociologia,
a antropologia, mas também a filosofia, a linguística e a psicologia, entre outras, para pensar a
comunicação. É sabido, da importância de tais áreas para o conhecimento científico e humano,
sobretudo, para a comunicação.
19 Em Foucault, Hardt e Negri a partir da ideia do descentramento do poder. Em Thompson e Bourdieu, a ideia de
poder simbólico.
49
Todas as áreas do conhecimento, desde as exatas às humanas necessitam se comunicar.
A comunicação é tão antiga quanto a própria existência humana. Desde as formas mais
primitivas de comunicação, do uso da linguagem como forma de representação simbólica, às
formas mais sofisticadas, com o uso da tecnologia computacional. Bordenave (1997, p.16)
descreve a importância da comunicação ao entrelaçá-la à sociedade, afirmando que não poderia
existir comunicação sem sociedade e nem sociedade sem comunicação. Ora, se ela, a
comunicação, transita por todas as áreas e representa aspectos viscerais da vida social, ela reina,
paira e se faz presente como um oxímoro.
A comunicação em sua dualidade, por um lado, aponta para os aspectos simbólicos e
representativos da própria vida em sociedade, pois a produção e circulação de informação é
modulada a partir do contexto em que ela está inserida. Por outro lado, aponta para uma
reorganização dessa mesma vida social, pois os meios de comunicação, no sentido amplo,
transportam e potencializam a carga simbólica atribuída à produção e circulação de informação.
Em outras palavras, a comunicação é impactada pelo meio social e também impacta e
reestrutura o contexto, ou seja, é força produtiva e produtora de sentidos.
Comunicação passa a ter um sentido mais específico e significativo quando atrelado aos
meios de comunicação social, mas a comunicação humana é na verdade, um grande guarda-
chuva que vai abrigar o ato comunicativo em si. Desde o momento em que o ser social acorda
e inicia as suas atividades cotidianas e se relaciona com os seus pares, ele já está comunicando
algo. O ato de vestir-se, de comer, de cumprimentar o outro, uma missa, uma dança, uma partida
de futebol, uma sessão na Câmara, a relação familiar, no trabalho, no comércio, no lazer, nas
feiras livres, nas associações de bairros, no bate papo informal e tantas infinitas possibilidades
comunicativas. Os meios de comunicação, notadamente, os meios massivos vão compor uma
parte expressiva, mas não exclusiva, do ato comunicativo em si.
2.1 Brevíssimo panorama dos meios
Em paralelo ao desenvolvimento da linguagem desenvolve-se também os meios de
comunicação. A prensa móvel de Johann Gutenberg, na Europa do século XV, abre uma gama
de possibilidades comunicativas sem precedentes na história e em escala mundial. Assim como
os meios de transporte20, paulatinamente, a comunicação pelas vias do impresso passou a
20 A própria impressão gráfica foi difundida na Europa pelo Rio Reno, da Mainz a Frankfurt, Estrasburgo e Basileia
(BRIGGS; BURKE, 2006, p.31).
50
estreitar as relações entre produtores e consumidores. A prensa móvel de Gutenberg anuncia o
impacto que a escrita teve na cultura ocidental, visto que a humanidade era caracterizada pela
oralidade. A comunicação a partir da impressão de tipos, extrapola a oralidade e começa a
introduzir a noção de que o indivíduo poderia divulgar livremente suas ideias, do diálogo aos
livros. Com a tipografia inicia-se a reprodução em série e marca a separação entre o trabalho
escrito de forma manual e o trabalho mecanizado.
Asa Briggs e Peter Burke (2006, p.31), ao traçarem a história da comunicação desde a
invenção da prensa gráfica à internet, o fazem à luz das transformações sociais, políticas,
econômicas e culturais ocorridas ao longo dos séculos. Quando localizam as mudanças
ocorridas nos meios de comunicação, localizam também, as mudanças do ponto de vista dos
atores envolvidos. Segundo os autores para apreciar as implicações sociais e culturais da nova
técnica, é necessário observar a mídia como um conjunto.
Pensar em termos de um sistema de mídia significa enfatizar a divisão de
trabalho entre os diferentes meios de comunicação disponíveis em um certo
lugar e em um determinado tempo, sem esquecer que a velha e a nova mídia
podem e realmente coexistem, e que diferentes meios de comunicação podem
competir entre si ou imitar um ao outro, bem como se complementar
(BRIGGS; BURKE, 2006, p.31).
Para Bordernave (1997, p.30), a influência social dos meios aumentou na medida da sua
penetração e difusão. Aponta que com as técnicas de impressão aperfeiçoadas foi permitido o
uso de cores, tiragens de milhões, utilização de vários formatos como jornais, revistas, livros,
folhetos e cartazes. Adotando as pistas deixadas pelo autor paraguaio, seguimos com a
reviravolta proporcionada pelo rádio ao levar a voz de homens e mulheres por ondas
magnéticas, das montanhas aos desertos, aos lares mais humildes e isolados. O cinema, ao
empregar o som e a cor e a utilização de telas, sofistica ainda mais a técnica ao representar a
realidade. Já a televisão, sem dúvidas, uniu o esforço do rádio em sua potencialidade geográfica
e o esforço do cinema com sua potencialidade visual ao agregar num único aparelho som, cor,
tela e a representação da realidade social. Com um detalhe, agregou os sujeitos ao redor do
aparelho televisor num lugar privilegiado, a sala de estar.
O desenvolvimento da ciência e da tecnologia produzem constantes mudanças nas
sociedades. As tecnologias de comunicação e informação acompanham este processo que não
está descolado de tais mudanças. No entanto, Briggs e Burke (2006, p.31) dizem que talvez seja
mais realista ver a nova técnica como um catalisador, no sentido de ajudar as mudanças sociais
mais do que as originar.
51
Nesse contexto, conforme apontamos, os meios massivos de comunicação vão compor
uma parte expressiva, mas não exclusiva no cenário comunicacional. Mas isso não significa
dizer que esses não sejam hegemônicos e estruturados a partir de conglomerados de meios de
comunicação.
A comunicação de massa e os meios massivos ganham terreno com a passagem da
sociedade moderna à sociedade de massa, tendo em seu ápice a globalização. O deslocamento
do homem do campo para os centros urbanos traz profundas transformações econômicas,
políticas e sociais, entre elas, a individualização do sujeito. A produção e consumo de bens em
larga escala são características desse tipo de sociedade. De forma sumária é importante situar a
comunicação a partir da realidade vivida pela sociedade civil do século XX e em sua virada
para o século XXI, pois ele foi balizado por um período de guerras – Primeira Guerra Mundial,
Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria – e também pelo desenvolvimento dos sistemas de
transportes, que a sua vez, colaboraram com a distribuição de mercadorias em escala global,
próprias do sistema capitalista. E por fim, pelo desenvolvimento das tecnologias de informação
e comunicação, para citar, Briggs e Burke (2006), como parte do conjunto de mídia.
Não obstante, o advento da internet fruto do desenvolvimento das tecnologias de
informação e comunicação, faz parte deste conjunto de mídia. Assim como os outros meios de
comunicação, a internet provocou e ainda provoca profundas alterações na maneira das pessoas
se comunicarem. Miklos (2013, p.45) sinaliza que as “tecnologias da informação são os
suportes que trazem no seu bojo uma nova estrutura comunicacional, em que os indivíduos
comuns não são apenas vozes inaudíveis no processo de emissão de conteúdo [...]”. O autor
destaca que os indivíduos passam a ter uma participação ativa na constituição das informações
divulgadas pela rede. Em outras palavras, a antiga lógica de emissor, mensagem e receptor é
reinventada e abre espaço para uma comunicação mais ágil, simultânea e participativa. No
entanto, há que se resguardar a noção de participar, que neste momento figura como uma nova
maneira do receptor se relacionar com o emissor e com as mensagens que recebe. Nesse sentido,
o emissor pode também ser o receptor, criar e difundir mensagens e conteúdos.
Ainda assim, é difícil diferenciar mídia offline e online quando a internet passa a
oferecer todos os recursos demandados pelas outras mídias, e ainda vai além, disponibiliza
serviços bancários, de e-commerce, de cursos regulamentados por seus órgãos competentes em
quase todos os níveis de instrução, plataformas para assistir o “cinema em casa”, amplia o tele
trabalho - home office -, entre outras infinitas possibilidades.
52
2.2 Algumas (in)definições de comunicação
Quando somos chamados a definir algum termo com certa precisão logo vem à cabeça
o auxílio de algum tipo de dicionário. A comunicação é um termo que perpassa todas as áreas
do conhecimento humano, consequentemente, existem muitas definições e indefinições
relativas ao seu significado e as suas características. O Dicionário da Língua Portuguesa
Michaelis (2015, online), define a comunicação como:
1 Ato ou efeito de comunicar(-se). 2 LING. Ato que envolve a transmissão e
a recepção de mensagens entre o transmissor e o receptor, através da
linguagem oral, escrita ou gestual, por meio de sistemas convencionados de
signos e símbolos. 3 O conteúdo da mensagem transmitida. 4 Transmissão de
uma mensagem a outrem. 5 Exposição oral ou escrita sobre determinado
assunto, geralmente de cunho científico, político, econômico etc. 6 Ato de
conversar ou de trocar informações verbais. 7 Nota, carta ou qualquer outro
tipo de comunicado através da linguagem escrita. 8 Comunicado oral ou
escrito sobre algo; aviso. 9 Aquilo que permite acesso entre dois lugares;
passagem. 10 União ou ligação entre duas ou mais coisas.
11 ELETRÔN Transmissão de informações de um ponto para outro, usando-
se sinais em fios ou ondas eletromagnéticas. 12 FÍS. Transmissão de uma
força de um local para outro, sem a ocorrência de transporte material.
13 ANAT. Ligação entre dois vasos sanguíneos ou entre outras estruturas
tubulares. 14 MIL. Sistema de rotas de acesso (aéreas, fluviais, marítimas ou
terrestres) para o deslocamento de veículos, tropas e suprimentos, incluindo-
se também a transmissão de ordens e comunicados.
15 TELECOM Ligação por meio de diferentes meios (eletrônicos,
telefônicos, telegráficos etc.). 16 RET. Figura em que o orador (ou escritor)
parece tomar o público como testemunha ou árbitro da causa em questão.
17 JUR. Figura em que o advogado, objetivando provar a improcedência de
uma imputação ao seu cliente, mostra que, de acordo com os argumentos do
acusador, diversas pessoas e até ele próprio estariam incursos nela.
A coletânea dicionariza a palavra comunicação a partir de oito áreas do conhecimento,
tais como linguística, eletrônica, física, anatomia, telecomunicações, retórica e jurídica. Leia-
se a importância da comunicação para a organização da sociedade e da cultura. Numa
apropriação ao texto da antropóloga urbana, Mary Douglas (2004) sobre o consumo social dos
bens sugerimos que a comunicação assim como os aspectos culturais, seja um bem indissociável
da sociedade. A comunicação circunscrita no ato mais singelo de interação verbal ou não verbal
com o outro, e ao mesmo tempo, mais eficaz de elaboração de discursos assinala para a
construção tanto de pontes como de muros.
Já os principais dicionários de comunicação escritos por pesquisadores da área apontam
uma infinidade de verbetes e definições para a temática, ou seja, nem sempre eles têm a mesma
53
concepção do campo comunicacional. Justamente porque o campo é múltiplo, diverso e
composto por várias correntes de pensamento e linhas de pesquisa, que inclusive, dialogam com
outras áreas do saber, como foi dito anteriormente. O entendimento de campo aqui empregado
parte da importante contribuição de Pierre Bourdieu (2004), que veremos mais à frente.
Todavia, pensar a comunicação como força produtiva e produtora de sentidos a partir
de experiências verbais e não verbais, de trocas simbólicas entre os sujeitos sociais (indivíduos,
instituições, igrejas, movimentos sociais, sociedade civil etc.), e ainda, sobre qual seria o seu
objeto requer inicialmente dois reconhecimentos de nossa parte. De que ela é ao mesmo tempo
uma ciência e uma prática. Na tentativa de avançar sobre essa proposição trataremos nas sessões
seguintes de temas e definições que norteiam tais reconhecimentos.
De acordo com Barbosa e Rabaça (2001, p.155), no “Dicionário de Comunicação”,
temos que comunicação é o:
1.Conjunto dos conhecimentos (linguísticos, psicológicos, antropológicos,
sociológicos, filosóficos, cibernéticos etc.) relativos aos processos da
comunicação. 2. Disciplina que envolve esse conjunto de conhecimentos e as
técnicas adequadas à sua manipulação eficaz. 3. Atividade profissional
voltada para a utilização desses conhecimentos e técnicas através dos diversos
veículos (impressos, audiovisuais, eletrônicos etc.), ou para a pesquisa e o
ensino desses processos. Neste sentido, a comunicação abrange diferentes
especializações (jornalismo impresso, jornalismo audiovisual, publicidade e
propaganda, marketing, relações públicas, editoração, cinema, televisão,
teatro, rádio, internet etc.), que implicam funções, objetivos e métodos
específicos [...].
A essência do comunicare, vocábulo proveniente do latim, tem em seu bojo o tornar
comum, o partilhar. Muniz Sodré (2014, p.9) lembra que originalmente a palavra comunicar,
ou seja, o agir em comum significa “vincular, relacionar, concatenar, organizar ou deixar-se
organizar pela dimensão constituinte, intensiva e pré-subjetiva do ordenamento simbólico do
mundo”. A essência do comunicare, ou do comunicar, como vimos, é ancorada no tornar
comum, na partilha e na dimensão organizativa de grupos sociais.
Seguindo essa linha de raciocínio, para Jorge Miklos (2014, p.17) “a comunicação é
ação de tornar comuns entre as pessoas, ideias, valores e informações”. Já para Bordernave
(1997, p.19) “a comunicação é uma necessidade básica da pessoa humana, do homem social”.
Com base na reflexão de Sodré (2014, p.10) é importante frisar que os dicionários
contemporâneos, notadamente os norte-americanos acostumaram-se desde muito tempo a
entender a comunicação como transmissão de mensagens ou de informações.
54
É verdade que o significado “transmissão” remonta ao século XVI (comunicar
uma notícia), mas a sua estabilidade contemporânea decorre muito
provavelmente da energia da palavra informação, que implica a organização
codificada da variedade – portanto, a doação de forma a uma matéria ou a uma
relação qualquer – e o fluxo de sinais de um polo ao outro. Hoje, o termo mídia
resume a diversidade de dispositivos de informação. Embora comunicar não
seja realmente o mesmo que informar, a pretensão ideológica do sistema
midiático é atingir, por meio da informação, o horizonte humano da troca
dialógica supostamente contida na comunicação (SODRÉ, 2014, p. 11).
No que diz respeito a esse debate tem-se um discurso sistematizado de que o par
comunicação e informação, apropriado pela sociologia, com base no estudo das relações sociais
geridas pelas modernas tecnologias da informação, representa de forma generalizada o mesmo
estado de coisas. No entanto, se elevarmos a comunicação ao rearranjo social de pessoas, coisas
ela pode ser entendida como a principal forma organizativa da vida.
Tendo em vista a disseminação de discursos, signos e dispositivos técnicos como uma
nova morada do ser, com um novo tipo de socialização, “comunicação equivale a um modo
geral de organização” (SODRÉ, 2014, p.14). Para Jorge González (2014, p.35), “comunicação
é nossa capacidade de nos organizarmos para coordenar nossas ações no mundo: comer,
trabalhar, sonhar”. Ou seja, esse rearranjo como aponta Sodré, ou a coordenação de ações como
aponta González, é um dos sintomas das transformações sociais e históricas ocorridas no mundo
ao longo do tempo.
2.2.1 A comunicação por ela mesma
O entendimento neste texto da complexa teia que envolve a comunicação, parte da sua
constituição histórica e social, particularmente, a partir dos estudos das teorias de comunicação.
Nesse sentido, a obra de Armand e Michèle Mattelart (2005), em “História das Teorias da
Comunicação”, permite elucidar de forma contextual a dinâmica do próprio desenvolvimento
da comunicação, pois trabalham os traços históricos que constituem a sociedade a partir do
desenvolvimento das redes físicas de comunicação e das diversas teorias empregadas ao campo.
Segundo Mattelart (2005, p.10) este campo de observação é plural e disperso e
historicamente se inscreveu em tensão entre “as redes físicas e imateriais, entre o biológico e o
social, a natureza e a cultura, os dispositivos técnicos e o discurso, a economia e a cultura, as
perspectivas micro e marco, o local e o global, o ator e o sistema, o indivíduo e a sociedade, o
livre-arbítrio e os determinismos sociais”. Mattelart (2005, p.14-15) apontam o século XIX
como o período de invenção de sistemas técnicos básicos da comunicação e do princípio do
55
livre comércio. Neste período nasce também a visão de comunicação como fator de integração
das sociedades humanas, ou seja, a sociedade passa a ser pensada como um organismo social.
E comunicação passar a ser associada à ideia de progresso, de razão.
A historicidade é o fio condutor do estudo, visto que os autores se debruçam sobre a
estrutura histórica da sociedade, para em seguida tratar da comunicação. No contexto histórico,
os autores vão encaixar os processos de comunicação que fazem interconexão com a sociologia,
a filosofia, a antropologia, com as ciências sociais e humanas. A história da teoria da
comunicação acontece em cenários diversificados, tanto no contexto europeu, como no
americano. Mas é importante frisar que as mudanças ocorridas no interior da sociedade civil é
a mesma. A divisão do trabalho no interior das fábricas, a noção de redes vista como um
“tecido”, ou como uma reorganização social e o desenvolvimento, ou seja, a ideia de progresso
contínuo, tudo isso está atrelado ao desenvolvimento da comunicação.
John B. Thompson (2005, p.19), afirma que com o desenvolvimento de uma variedade
de instituições de comunicação a partir do século XV até a atualidade, os processos que
envolvem a produção, o armazenamento e a circulação de informação e de conteúdo simbólico
têm passado por importantes transformações.
Daí decorre a importância de se recorrer aos estudos, como os de Armand e Michèle
Mattelart, pois assim como Thompson (2005), eles situam a importância da comunicação no
contexto do desenvolvimento da vida social e também do progresso associado ao
desenvolvimento das sociedades industriais. A nosso ver, consequentemente, iniciando o fosso
social, carregado de desigualdades e injustiças. No tocante à larga produção de bens materiais
e simbólicos, que cresceu paulatinamente em conjunto com as sociedades capitalistas, existe
uma profunda mudança nos aspectos relacionados ao consumo de mercadorias. A comunicação
se desenvolve no descompasso da vida social e passa a atender, prioritariamente, os mercados
ávidos, que desejam informar e difundir seus produtos. Aqui fica manifesta a problemática em
situar comunicação e informação no mesmo plano.
A comunicação mediada, segundo Thompson (2005), transformou a natureza das
relações sociais, reconfigurando a produção e a circulação de produtos e bens simbólicos na
sociedade. Ou seja, conforme as indústrias cresciam a passos largos, a mídia também passava
a exercer papel singular na difusão de mercados e de significações por parte dos indivíduos. A
pretensão aqui é ilustrar de forma sumária, a importância de localizar a comunicação em um
contexto muito mais amplo. Demonstrando, de certa forma, que o social e o histórico que
caminham com a comunicação, não fazem dela como dizem alguns, a prima pobre das ciências
56
sociais. Tendo em vista que a comunicação, em sua centralidade, faz parte do desenvolvimento
histórico das sociedades. Então, para finalizarmos esse delineamento, reiteramos que atribuir à
comunicação significados alheios a sua própria etimologia é apagar parte do processo
constitutivo das sociedades, das primitivas às atuais.
No entanto, tal assertiva não pretende invalidar a discussão apresentada por
pesquisadores e especialistas na área, sobretudo àqueles que se apropriam da comunicação em
sua complexidade para lhe atribuir significados meramente filosóficos. Nosso intuito é
transcorrer sobre a comunicação, sob o ponto de vista científico e das práticas sociais. Porém,
a abordagem que consideramos mais apropriada para tratar a comunicação em sua dinamicidade
e dialogicidade parte, sem dúvidas, da sua própria etimologia, o comum, a partir da sua
dimensão organizativa da vida social.
Como vimos, alguns tipos de comunicação como a verbal, a interpessoal, a social, estão
sob a égide de um contexto mais amplo. Bem como os seus suportes materiais, ou seja, os meios
de comunicação responsáveis pela difusão da comunicação de massa se transformam ao passo
do avanço científico e tecnológico e da compressão espaço-temporal, devido às próprias
mudanças que ocorrem no globo com o espraiamento da globalização. Nesse aspecto, mas sem
entrar na discussão das consequências e possibilidades aventadas pelo fenômeno, destacamos
a sua importância para a autonomia do campo da comunicação. No intuito de entender que lugar
é esse em que os meios de comunicação foram (re)colocados e a serviço de quais instâncias,
desde à lógica mercadológica às lutas no âmbito das camadas populares.
2.3 A noção de autonomia no campo comunicacional
A comunicação é rizoma, talvez por isso, seja tão difícil dar a ela um único objeto. Ela
é também histórica, social, política e engendrada pelas vias culturais. Com essas afirmações
queremos dizer que a comunicação é tão somente comunicação. A humanidade está acostumada
a produzir coisas e a ter o resultado palpável dessas produções. A inventar coisas, fórmulas, a
fazer ciência. Então, Comunicação não é ciência? Pergunta que nos remete a outra elaborada
por Pierre Bourdieu (2004, p.18-19), quais os usos sociais da ciência? Para entrar naquilo que
estamos chamando de campo da Comunicação, faremos algumas digressões teóricas a partir da
contribuição de Bourdieu sobre uma sociologia clínica do campo científico.
Pierre Bourdieu (2004, p.18-19) lança questões pertinentes sobre os usos sociais da
ciência, sobre uma ciência da ciência, uma ciência social da produção da ciência capaz de
57
descrever e orientar os usos sociais da ciência. Para tentar responder a tais questões Bourdieu
evoca a noção de campo, importante reflexão que fazemos a partir de suas análises para entrar
no campo da comunicação social.
Segundo o sociólogo, todas as produções culturais, desde a história, a filosofia, a
ciência, a literatura etc., são objetos de análises com pretensões científicas (BOURDIEU, 2004,
p. 19). Há segundo ele há uma história em cada saber e em cada disciplina, há uma história da
filosofia, uma história da literatura e em todos esses campos, encontra-se a mesma oposição, o
mesmo antagonismo (BOURDIEU, 2004, p.19).
Para escapar à alternativa da “ciência pura”, fora de qualquer intervenção do mundo
social é que Bourdieu elabora a noção de campo e também para escapar da ciência escrava,
sujeita a todas as demandas políticas e econômicas.
O campo científico é um mundo social e, como tal, faz imposições,
solicitações etc., que são, no entanto, relativamente independentes das
pressões do mundo social global que o envolve.
De fato, as pressões externas, sejam de que natureza forem, só se exercem por
intermédio do campo, são mediatizadas pela lógica do campo. Uma das
manifestações mais visíveis da autonomia do campo é a sua capacidade de
refratar, retraduzindo sob uma forma específica as pressões ou as demandas
externas (BOURDIEU, 2004, p.21-22).
Em outras palavras, segundo o sociólogo o grau de autonomia de um campo tem por
indicador principal seu poder de refração, de retradução. Inversamente, a heteronomia de um
campo manifesta-se porque os problemas exteriores aí se exprimem diretamente. “Todo campo,
campo científico, por exemplo, é um campo de forças e um campo de lutas para conservar ou
transformar esse campo de forças” (BOURDIEU, 2004, p.22-23). Para Muniz Sodré (2014,
p.25) embora parte dos estudos comunicacionais seja pautado por uma metodologia discursiva,
de natureza ensaística, os pesquisadores norte-americanos alinham-se as ciências sociais, a
partir da origem sociológica da corrente mass communication research.
Neste sentido, conforme aponta Sodré (2014) a resposta à demanda cientificista parte
do pressuposto dos efeitos, ou seja, as consequências da mídia sobre o seu público. Essa visão
de acordo com Sodré tem sido dominante na academia da comunicação e dessa forma procura
manter-se, mesmo que muitos estudos escapem teórica e metodologicamente desse foco nos
efeitos. Todavia, ainda segundo o autor, mesmo sendo este paradigma insuficiente
epistemologicamente é necessário recorrer a ele como um momento constituinte da história da
comunicação, “desde que façamos da história de um campo científico, com suas regularidades
58
discursivas, um dos requisitos imprescindíveis ao esclarecimento epistemológico” (SODRÉ,
2014, p.25).
No entanto, segundo Bourdieu (2004, p.25-26) o que define a estrutura de um campo
num dado momento é a estrutura da distribuição do capital científico entre os diferentes agentes
engajados nesse campo. O campo é o lugar de constituição de uma forma especifica de capital
e o capital a sua vez, pode assumir diferentes formas e proporcionar poderes aos seus detentores.
Para Sodré (2014, p.45) “a demanda social e o contexto histórico não explicam a autonomia
cognitiva e disciplinar de que se investe um saber em seu desenvolvimento progressivo”. Em
outras palavras, o autor afirma que o reconhecimento desse processo torna-se mais claro quando
recorre-se a noção de campo empregada por Bourdieu, porque o campo pode ser percebido
como um espaço social com suas próprias leis de funcionamento.
Nas palavras de Bourdieu (2004, p.27), “os campos são os lugares de relações de forças
que implicam tendências imanentes e probabilidades objetivas. Um campo não se orienta
totalmente ao acaso”. Em outras palavras, pode-se dizer que os agentes sociais não são
partículas passivamente conduzidas pelas forças do campo, porque segundo o autor o bom
cientista jogador é aquele que sem a necessidade de calcular, de ser cínico, faz as escolhas que
compensam. Aqueles que nasceram no jogo tem o privilégio do inatismo. Eles não têm
necessidade de serem cínicos para fazer o que é preciso quando é preciso e ganhar a aposta
(BOURDIEU, 2004, p.28). Justamente porque esses agentes possuem disposições adquiridas e
duráveis, - o que Bourdieu chama de habitus, ou seja, o que compõem a origem e trajetória
social do indivíduo – que podem levá-los a resistir, a opor-se às forças do campo.
Interessante que mesmo que tais agentes adquiram disposições duráveis que não são
aquelas que o campo exige, arriscam a estar defasados, deslocados, na contramão com todas as
consequências que se possa imaginar. Por outro lado, eles também podem “lutar com as forças
do campo, resistir-lhes e, em vez de submeter suas disposições às estruturas, tenta modificar as
estruturas em razão de suas disposições” (BOURDIEU, 2004, p.29). A comunicação
comunitária - assunto que trataremos mais adiante - para o desenvolvimento humano e social
está circunscrita nessa dimensão, pois conforme aponta Bourdieu (2004, p.29) qualquer que
seja o campo, ele é objeto de luta tanto em sua representação quanto em sua realidade.
Para Sodré (2002, p.233) o estudo da comunicação social dirige-se “progressivamente
para uma noção de autonomia relativa em face das disciplinas sociais e humanas já consolidadas
e também por demais ligadas à análise dos clássicos sistemas centrais de ação histórica, como
o capitalismo, o Estado, a religião”. Quem sabe, realmente não queiramos definir
59
categoricamente a comunicação, conforme atestaram pesquisadores renomados na área21. Por
hora, não como categoria ou mesmo como disciplina do conhecimento humano ou tampouco
como fenômeno da cultura, estudado pela sociologia ou antropologia. Não obstante, queiramos
mesmo é situar a comunicação a partir da ciência do comum engendrada em processos
organizativos que também são orientados para a transposição das relações sociais orquestradas
pela mídia e pelo mercado.
Ainda nesse aspecto da autonomia do campo, Sodré (2002, p.233) caminha para a
especificidade da vinculação social, como ele mesmo coloca, ela está inscrita num núcleo
objetivo de uma ciência comunicacional. Em suas palavras, “a evidência de que as práticas
socioculturais ditas comunicacionais ou midiáticas vêm se instituindo como um campo de ação
social corresponde a uma nova forma de vida [...]”, o que ele chama de bios midiático.
Avançando nessa linha de pensamento, tais práticas comunicacionais ou midiáticas, segundo o
autor, não esgotam e nem sintetizam o problema da vinculação, porque “dizem mais respeito
propriamente à relação socialmente gerida pelos dispositivos midiáticos e, portanto, pelo
mercado” (SODRÉ, 2002, p.233). A noção tecnicista e globalizante do novo modo de vida
parece que veio para ficar, o bios midiático, com todas as suas vicissitudes é a nova morada do
homem éxtimo. Estudar tais formas de vida implicada na contemporaneidade requer pensar a
comunicação do ponto de vista desse novo lugar, dessa nova ambiência. E também das lutas
que se travam nessa ambiência e das batalhas que podem ser vencidas. Quem sabe fazer emergir
daí processos vinculativos atravessados pela simbiose das identidades e das redes outro lugar,
outra ambiência em que a alteridade seja percebida como o outro constituinte do eu.
Já tendo abordado o campo a partir de Bourdieu (2004), como uma forma constitutiva e
específica de capital, cujo interior existe o tensionamento de forças, partimos para a abordagem
compreensiva da comunicação, cujo interior é movido pela força do comum.
21 6º Aula Magna de Referência Interprogramas – O que é Comunicação? Trajetórias Epistemológicas” no dia 10
de agosto de 2016, das 9h30 às 12h no Teatro Cásper Líbero, São Paulo.
60
2.4 O comum da comunicação
A centralidade da comunicação é a função organizativa do comum, ou seja, comum
atrelado às especificidades relacionais, vinculativas e crítico-cognitivas do processo
comunicacional. E que permite a cada sujeito social o reconhecimento no outro a partir de sua
alteridade. Para Muniz Sodré (2014, p. 265):
(...) longe de se definir apenas pela transmissão de uma mensagem ou de um
saber, a comunicação orientada pela articulação existencial do comum é uma
ação, um fazer organizativo. Nessa organização, o homem “faz palavras,
figuras, comparações, para contar o que ele pensa a seus semelhantes”, mas o
escopo é maior do que a dimensão verbal. Seja com as obras de sua mão, seja
com as palavras de seu discurso, o homem se comunica, não porque transmite
um saber, mas porque faz a tradução daquilo que pensa, provocando seu
interlocutor a fazer o mesmo, a contratraduzir.
O modo de organização da vida social sempre esteve relacionado ao modo clássico de
produção. Na atualidade esse mesmo modo de produção ganha refinamento por meio de
relações informacionais. E que, segundo Sodré esse modo de organização constitui de fato um
ecossistema social, que tem-se chamado por bios midiático (2002, 2014). Extrapolando a visão
aristotélica de bios, Sodré aponta para um ecossistema de adaptação do homem de estar no
mundo, da tecnologia e do mercado.
Notadamente o ponto focal dessa ciência é a mutação das formas tradicionais de
elaboração do comum, que para Sodré (2014, p.281) é efeito do acabamento metafísico
implicado na armação tecnocapitalista. Em outras palavras, para Sodré (2014) os dispositivos
de informação, ou seja, a mídia, apenas explicitam tecnicamente a natureza organizativa da
comunicação, resultando por meio da informação as relações sociais vetorizadas pela
tecnologia e pelo mercado, onde reina absoluto o bios midiático. Ou seja, o bios midiático
revela-se não apenas como uma forma de vida entre outras, mas como uma orientação
existencial que tenta impor-se em termos universais a reboque do mercado (SODRÉ, 2014, p.
297). Ainda nesse aspecto, “no cotidiano, orquestrado pela metafisica como um sistema de
decisões universais, o mundo tecnológico e as identidades existenciais são entidades
inseparáveis: as formas tecnológicas de vida dispõem-se progressivamente como formatos
existenciais” (SODRÉ, 2014, p.284-285).
Ainda assim, faz-se presente o sentido ético-político do bem comum (SODRÉ, 2002,
p.224). Isto, segundo ele, torna “a questão comunicacional política e cientificamente maior do
que a que se constitui exclusivamente a partir da esfera midiática”. É nesse ponto que entra a
61
vinculação social, esfera muito mais ampla e profunda para pensar a função organizativa da
comunicação em sociedade, do que meramente, relação ou interação. A prática de vinculação
pode ser entendida assim:
Práticas estratégicas de promoção ou manutenção do vínculo social,
empreendidas por ações comunitaristas ou coletivas, animação cultural,
atividade sindical, diálogos, etc. Diferentemente da pura relação produzida
pela mídia autonomizada, a vinculação pauta-se por formas diversas de
reciprocidade comunicacional (afetiva e dialógica) entre os indivíduos. As
ações vinculantes, que têm natureza basicamente sociável, deixam claro que
comunicação não se confina a atividade midiática (SODRÉ, 2002, p.234).
Em outras palavras, Sodré (2002, p.223) define a vinculação como a radicalidade da
diferenciação e a aproximação entre os seres humanos. Então, podemos perceber que a
vinculação ultrapassa a interação humana, tendo em vista o aspecto de inserção social do sujeito
desde uma dimensão simbólica frente às orientações de valores, ou seja, de conduta.
Muniz Sodré traz importante contribuição teórica para pensar o campo científico da
comunicação. Apesar da crítica ao sistema capitalista e ao ecossistema midiático que se
retroalimentam, o autor aponta de forma peculiar em seus escritos uma alternativa à armação
tecnocapitalista, a comunidade. Segundo Sodré (2002), ela é o topo originário da diferenciação
e a da aproximação, e é por outro lado, a questão interior na ideia de comunicação. Nesse
aspecto, é fundamental resgatar o sentido de comunidade para tratar da comunicação. Já
amplamente discutida em vários campos do saber, inclusive por nós em outro trabalho22. Para
Sodré (2002, p.225) o conceito de comunicação “aponta para a movimentação concreta de toda
comunidade”, é a quintessência, como já apontamos. Assim, as palavras comunicação,
comunidade, comunhão e comum fazem parte do mesmo processo. São termos originários de
communicare. O ser em comum da comunidade é a partilha de uma realização e não vai ser
definida pela noção de estar junto em determinado território físico, ou numa relação orgânica,
de parentesco como em Tönnies, mas como uma troca ou compartilhamento.
Certamente, quando pensamos em comunicação o que vem à mente são jornais, revistas,
televisão, rádio e notadamente, internet. E o termo mídia, parece que veio para denotar esse
amplo cenário de meios pelos quais a comunicação circula. No entanto, a comunicação é
compreendida muito além dos suportes materiais e hegemônicos de representação da sociedade.
22 Comunicação Comunitária e participação popular na Casa Brasil, defendida em 2013 pela Universidade
Metodista de São Paulo, sob orientação da professora Doutora Cicilia M. K. Peruzzo.
62
A comunicação do ponto de vista de grupos subalternizados faz parte do amplo cenário
constituinte de organização e mobilização social. Se por um lado, tem-se a comunicação a
reboque do mercado, por outro, como vimos em Sodré (2002) por meio de sua ligação com a
comunidade representar uma nova forma de ampliar a participação e potencializar processos
democráticos de construção da cidadania.
2.5 O comunitário e a comunidade no campo da comunicação
O mundo humano é, desta forma, um mundo de
comunicação.
Paulo Freire
O sentido comunitarista da comunicação tem em seu bojo o desejo evidente pela
mudança social. Muito tem-se debatido na América Latina e, particularmente no Brasil, sobre
o desejo por mudança na estrutura societária. Não é de hoje que movimentos sociais e grupos
organizados se mobilizam frente às demandas do mundo vida. Vivenciamos um processo
histórico de exclusão e marginalização das diferenças sociais. E, de igual modo, vimos
aumentado o fosso entre a riqueza e a pobreza, ou seja, a péssima distribuição de renda e
economia no país.
O grito daqueles que são excluídos, marginalizados e empobrecidos faz crescer a
demanda da própria comunicação como organizadora dos processos de emancipação e luta
pelos direitos sociais, garantidos somente no papel.
Desde o início do ano de 1980 a comunicação “popular” é vista como portadora de
conteúdos críticos e reivindicatórios concretizados pelos meios alternativos, como
contracomunicacação da cultura subalterna (PERUZZO, 2004, p.119). A comunicação nessa
vertente pode receber inúmeras nomenclaturas. Comunitária, alternativa, local, dialógica,
radical, libertadora, participativa, horizontal, contra-hegemônica, para mudança social, das
minorias etc. Cada qual representando um universo de conceitos extraídos muitas vezes da
própria prática e dos estudos no interior de comunidades e movimentos sociais populares. Com
o passar do tempo os conceitos também se alteram e acabam por ganhar novas dimensões por
acompanhar as transformações em que passa a sociedade. O importante mesmo é compreender
os processos comunicacionais advindos dessa outra comunicação, independente da
nomenclatura adotada. Todavia, vale lembrar que alguns autores, conforme veremos adiante,
63
fazem uma crítica sobre a utilização do termo comunicação comunitária quando ela é utilizada
como sinônimo, principalmente, de popular. E, mesmo sendo importante compreender tais
processos à luz das experiências vivenciadas na prática, passar adiante desse fato é negligenciar
estudos importantes desenvolvidos neste contexto. Mais à frente, elucidaremos algumas
abordagens empregadas quanto às diferenciações conceituais.
Os processos comunicacionais comunitários desenvolvidos por agentes da sociedade
civil, desde um ponto de vista latino americano, estão imbuídos de resistência e luta. Por vezes,
os processos comunicacionais comunitários contam a história de grupos e os fortalece. Por
vezes, a sua história é a própria história desses processos, ora é tão difícil de dissociar a
comunicação do cotidiano, como vimos.
Ao longo do século XX, na América Latina, a comunicação com viés formador e
educador aparece no dialogicismo de Paulo Freire (1983, p.44), ao qual convida a pensá-la
como fundamental para a construção do conhecimento. “[...] o mundo social e humano, não
existiria como tal se não fosse um mundo de comunicabilidade fora do qual é impossível dar-
se o conhecimento humano”. A educação, a sua vez, está peculiarmente ligada ao modo de
inteligibilidade da comunicação. A partir desse potencial da comunicabilidade do conhecimento
e de sua democratização desponta o debate sobre comunicação e comunidade.
2.5.1 Entre comunicação comunitária e comunidade
Para Cicilia Peruzzo (2009) a comunicação comunitária pressupõe a existência de uma
práxis que vai além do simples estar próximo ou compartilhar das mesmas situações. Pertencer
a uma mesma etnia ou morar num mesmo bairro, ou usar o mesmo transporte coletivo, não
garante as relações comunitárias. De acordo com Peruzzo (2009, p.57-58):
A comunidade se funda em identidades, ação conjugada, reciprocidade de
interesses, cooperação, sentimento de pertença, vínculos duradouros e
relações estreitas entre seus membros. Portanto, nem todo meio de
comunicação local é comunitário, apenas por se dirigir a uma audiência
próxima, usar a mesma linguagem ou falar das coisas do lugar. Este pode
simplesmente reproduzir os padrões da mídia comercial privada em termos de
interesses econômicos e políticos, além de se basear na mesma lógica de
gestão e programação, distanciando-se da perspectiva comunitarista. Assim
sendo, à comunicação comunitária são reservadas exigências de vínculos
identitários, não possuir finalidades lucrativas e estabelecer relações
horizontais entre emissores e receptores com vistas ao empoderamento social
progressivo da mídia e ampliação da cidadania.
64
A comunicação comunitária23 surge da necessidade de dar voz e vez ao sujeito excluído
dos processos convencionais de comunicação. Porque a comunicação de massa vista de forma
verticalizada tem em sua proposta atingir uma audiência anônima, abrangente e impessoal. E
atende, aos interesses mercadológicos, estatais e aos conglomerados de radiodifusão no país,
restando pouco – ou quase nenhum – espaço para demandas locais, do ponto de vista dos atores
envolvidos. Se de um lado temos a massa, um conjunto heterogêneo de pessoas, por vezes
dispersas, por outro temos a comunidade que nos precede, para nos apropriarmos de uma
expressão utilizada por Bauman (2011).
Tema clássico da sociologia, a comunidade é vista e estudada em diversos aspectos,
como comunicacionais, humanistas, subjetivos e simbólicos que ultrapassam a noção
sociológica do termo. Em Ferdinand Tönnies (1995), importante sociólogo alemão do século
XIX, o sentido originário de comunidade passa por questões orgânicas como família, terra,
laços sanguíneos e a dicotomia entre sociedade e comunidade.
As novas configurações de família, de gênero, de sexualidade emergiram ao longo do
tempo, nesse sentido, a assertiva tönnesiana não dá conta de pensar o sujeito dito pós-moderno
em sua dimensão simbólica que contempla a cultura, a subjetividade e a experiência
comunitária. Todavia, Martin Buber, - contemporâneo de Tönnies, porém com ideias renovadas
- Zygmunt Bauman, Muniz Sodré, Manuel Castells, Cicilia Peruzzo, Raquel Paiva, entre outros
estudiosos, compõem o arcabouço teórico ao qual debruçamos o entendimento sobre
comunidade para a partir daí, tratar de sua relação com a comunicação comunitária,
acompanhada da mutação tecnológica promovida pela aceleração do espaço e do tempo, com o
advento da internet.
É preponderante nas comunidades o sentido orgânico do compartilhar, das relações
pessoais e o convívio com as diferenças na coletividade. Contudo, para que de fato haja a troca
comunicativa é necessário o reconhecimento do outro. Situar a relação eu e tu (BUBER, 1974)
no âmbito da comunicação comunitária é uma das formas de compreensão da troca
comunicativa, oriunda das relações inter-humanas e sociais.
Em Buber (1974), o eu e tu é conformado pelo diálogo, pela palavra, não sentido de
descrição das atitudes humanas, mas no sentido do que acontece essencialmente entre os seres
humanos e entre o homem e Deus. Em termos buberianos a palavra é dialógica, e o que vai
23 Apesar de respeitarmos e identificarmos as especificidades dos tipos de comunicação que refletem o processo
de mudança social empregamos em nossos estudos, o termo comunicação comunitária para nos referirmos aos
processos de comunicação desenvolvidos no interior de comunidades e por movimentos sociais.
65
exprimir a sua dialogicidade é exatamente o entre. Temos nesse ponto uma breve aproximação
com o pensamento de Freire (1983, p.45), quando aponta que a comunicação implica uma
reciprocidade que não pode ser rompida. Em outras palavras, para ele o que vai caracterizar a
comunicação é que ela em si mesma é diálogo.
Buber (1974) entende a palavra para além do seu significado semântico e de sua
estrutura, ou seja, atribui a ela o sentido de portadora de ser. Todavia, é pelo intermédio da
palavra que o homem é assentado na existência. De acordo com Von Zuben (1974, p.15)
tradutor da obra Eu e Tu, no Brasil, a palavra não é conduzida pelo homem, mas é ela que o
mantém no ser. Ele afirma que para Buber “a palavra proferida é uma atitude efetiva, eficaz e
atualizadora do ser do homem”. Entendemos então, a palavra como princípio norteador e como
fundamento da existência humana.
De forma geral, para Martin Buber (1974) a palavra como princípio do ser está atrelada
a categoria ontológica do entre e a palavra como diálogo é a fundamentação da relação humana.
O que o autor da filosofia do diálogo visa a apresentar é uma ontologia da existência humana,
explicitando a existência dialógica ou a vida em diálogo. Segundo Von Zuben (1974) as
principais categorias desta vida em diálogo são as seguintes: palavra, relação, diálogo,
reciprocidade como ação totalizadora, subjetividade, pessoa, responsabilidade, decisão-
liberdade, inter-humano. Acrescentamos às principais categorias citadas, a comunidade, ou o
sentido de comunidade, discorrido por Buber (1974, p.52):
a verdadeira comunidade não nasce do fato de que as pessoas têm sentimentos
umas para com as outras (embora ela não possa, na verdade, nascer sem isso),
ela nasce de duas coisas: de estarem todos em relação viva e mútua com um
centro vivo e de estarem unidos uns aos outros em uma relação viva e
recíproca. A segunda resulta da primeira; porém não é dada imediatamente
com a primeira. A relação viva e recíproca implica sentimentos, mas não
provém deles. A comunidade edifica-se sobre a relação viva e recíproca,
todavia o verdadeiro construtor é o centro ativo e vivo.
Em outros termos, para Buber (1974) a comunidade deve ser um fim em si mesma e não
um instrumento para se chegar em outros lugares ou em outros objetivos. Conforme já
apontamos, o homem é livre para fazer suas escolhas e em Buber (1987, p.39) a comunidade
também deve ser mantida por meio de escolhas.
Para Muniz Sodré (2002, p.178) a comunidade pressupõe continuidade, e assim como
Buber (1974), afirma que seus atributos não são necessariamente derivados de uma entidade ou
da propriedade de uma substância comum, como laço de sangue, territorial ou cultural, por
exemplo. No entanto, Sodré afirma que:
66
[...] e, sim da partilha de um munus, que é a luta comum pelo valor, isto é, pelo
que obriga cada indivíduo a obrigar-se para o com o outro. Tal é dívida
simbólica, transmitida de uma geração para outra por indivíduos imbuídos da
consciência de uma obrigação, tanto para com os ancestrais (os pais
fundadores) quanto para com os filhos (os descendentes, que perpetuam a
existência do grupo) (SODRÉ, 2002, p.178).
Martin Buber (1974) fala de relação para abordar a existência humana, a vida em
diálogo. Em contrapartida, Muniz Sodré (2002, p.223) fala em vinculação social, ou seja, a
radicalidade da diferenciação e aproximação entre seres humanos. Todavia, relação e
vinculação, ambas, estão fundamentadas na força do comum (munus) e motivam o sentido de
existência da comunidade. E a comunicação, em última instância, também é fundamentada no
comum.
Nesse ínterim, a perspectiva comunitarista é importante para a reflexão sobre o papel do
sujeito na sociedade pós-moderna, refletida a partir das contribuições de Zygmunt Bauman
(1998). Tal perspectiva não é uma fórmula e nem é tão fácil de ser alcançada, é um processo, é
o entre da relação. Embora Bauman não isente de críticas a comunidade de hoje, já que sua
mirada tem como pano de fundo o mal-estar pós-moderno, sua leitura está baseada à luz das
contribuições de Freud, em O mal-estar na civilização (1929). A sociedade, certamente, produz
os seus próprios estranhos e os anula quando não possuem mais serventia. De acordo com
Bauman (1998, p.27):
Mas cada espécie de sociedade produz sua própria espécie de estranhos e os
produz de sua própria maneira, inimitável. Se os estranhos são as pessoas que
não se encaixam no mapa cognitivo, moral ou estético do mundo – num desses
mapas, em dois ou em todos três; se eles, portanto, por sua simples presença,
deixam turvo o que deve ser transparente, confuso o que deve ser uma coerente
receita para ação, e impedem a satisfação de ser totalmente satisfatória; se eles
poluem a alegria com a angústia, ao mesmo tempo em que fazem atraente o
fruto proibido; se, em outras palavras, eles obscurecem e tornam tênues as
linhas de fronteira que devem ser claramente vistas; se, tendo feito tudo isso,
geram a incerteza, que por sua vez dá origem ao mal-estar de se sentir perdido
- então cada sociedade produz seus estranhos.
A concepção pós-moderna da sociedade é aludida à noção de que é mais importante ter
do que ser. Daí a comunicação comunitária. Voltamos a Buber, o filósofo do diálogo, para
resgatar a noção do eu e tu como parte do processo de subjetivação. Temos uma dívida
simbólica com o outro, para retomamos Sodré (2002), aquele outro que nos afasta, nos
aproxima e ao mesmo tempo nos constitui, conformando assim a alteridade, o fio condutor de
qualquer vinculação comunitarista.
67
Iniciar a reflexão sobre comunicação comunitária a partir do referencial de comunidade,
aquela que foi pensada por Tönnies e reformulada na atualidade pelas próprias transformações
econômicas, sociais, culturais e comunicativas vivenciadas pelo ser humano, é buscar o comum
que liga a comunidade à comunicação comunitária e vice-versa. E reconhecer que há no interior
do campo, lutas que se travam na busca por hegemonia24 e reconhecimento do saber.
2.5.2 A comunicação comunitária floresce
Rizoma. A comunicação comunitária floresce entre as décadas de 1960 e 1980 em países
latino-americanos, especialmente no Brasil, como uma resposta política dos atores sociais
devido a retirada de direitos, repressão e a censura à liberdade de expressão das minorias etc.
Essa resposta parte de demandas específicas, cujas particularidades existentes à época decorrem
do golpe de 1964, paradoxalmente, evidencia-se a concentração de informação pelos grandes
conglomerados de comunicação no país. Essas demandas possibilitaram interpretá-la como ato
político de uma específica parcela da população à sua realidade marcada por injustiças e
desigualdades sociais, especialmente no que tange ao acesso à comunicação (SILVA, 2013,
p.75).
Floresce no bojo das classes populares iniciativas relacionadas à comunicação
comunitária provenientes dos movimentos estudantis, movimentos sociais e do Movimento
Eclesial de Base da Igreja Católica (CEB). Estas iniciativas são adotadas com vistas à
transformação social e ampliação dos direitos de cidadania e para contribuir com a mobilização
dos atores sociais que não tinham o direito de se expressar garantido devido à concentração
midiática e como resposta ao silenciamento provocado pela Ditadura Militar.
Christa Berger (2010) ao fazer um levantamento sobre a pesquisa em Comunicação na
América Latina afirma que a comunicação popular ao ser pensada sempre teve um
posicionamento político.
A introdução do estudo da comunicação popular alterou a pauta da teoria da
comunicação: solicitou outras referências teóricas e metodológicas; propiciou
um deslocamento do espaço universitário (precisou ir aos bairros populares
para pesquisar); deixou de lado a exclusividade de tratar da cultura. A
incorporação do popular à teoria da comunicação propiciou rever a
24 Hegemonia, do grego "hegemon", significa líder. Para Antonio Gramsci (1891-1937) o termo serve designar um
tipo particular de dominação. Contra-hegemonia, é um termo originado da teoria gramsciana, mas não por ele
criado. Basicamente, contra-hegemonia significa que a luta é contra uma hegemonia estabelecida buscando uma
transformação social. E a utilização da expressão comunicação contra-hegemônica segue essa mesma linha de
pensamento.
68
comunicação de massa, estudada em si, para pô-la em perspectiva, em relação
(BERGER, 2010, p.264).
Se num primeiro momento Berger (2010) afirma que a comunicação latino-americana
foi embasada por um viés político, hoje a partir das reflexões de Foucault, retomadas por Paolo
Virno, Hardt e Negri podemos atrelar esse viés político a uma categoria mais ampla de análise
do ponto de vista comunicacional, que é a própria noção de biopolítica, cujas explanações serão
desenvolvidas no capítulo em que tratamos sobre os movimentos sociais. Outro fator
interessante é fazer uma conexão com o bios virtual ou midiático aventado por Sodré (2006).
Os meios alternativos de comunicação na época já amplamente utilizados, após o golpe
da Ditadura Militar passam a incorporar as demandas das classes subalternas, convergindo
então para a comunicação popular.
Numa conjuntura em que vinha à tona a insatisfação decorrente das precárias
condições de existência de uma grande maioria e das restrições à liberdade de
expressão pelos meios massivos, criaram-se instrumentos “alternativos” dos
sujeitos populares, não sujeitos ao controle governamental ou empresarial
direto. Era uma comunicação vinculada à prática de movimentos coletivos,
retratando momentos de um processo democrático inerente aos tipos, às
formas e aos conteúdos dos veículos, diferentes daqueles da estrutura então
dominante, da chamada “grande imprensa”. Nesse patamar, a “nova”
comunicação representou um grito, antes sufocado, de denúncia e
reinvindicação por transformações, exteriorizado sobretudo em pequenos
jornais, boletins, alto-falantes, teatro, folhetos, volantes, vídeos, audiovisuais,
faixas, cartazes, pôsteres, cartilhas etc (PERUZZO, 2004, p. 114-115).
Neste contexto, os meios de comunicação comunitários surgem como alternativa a
produção de novos sentidos, dando possibilidade àqueles indivíduos historicamente excluídos
dos processos comunicacionais em participar por meio de suas próprias falas e reivindicações.
Os atores sociais alijados das benesses promovidas pelo desenvolvimento econômico e
social encontram-se à margem de tantos recursos indispensáveis para a manutenção da vida,
como o direito à moradia, saneamento básico, trabalho digno, educação de qualidade etc. De
certo modo, não seria diferente em relação ao direito ao acesso à informação e comunicação.
Nessa conjuntura, os meios de comunicação social, especialmente os da grande mídia, são
mediadores das relações sociais e produtores de sentidos e aqueles atores sociais que têm
garantido o seu lugar de fala nos espaços midiáticos tem mais probabilidade de que suas
reivindicações e demandas sejam atendidas pelo poder público.
69
2.5.3 (Des)apropriações
A comunicação comunitária potencializa a participação em vários níveis, de grupos
subalternizados e minorias sociais no desenvolvimento de ações no âmbito local. Conforme já
afirmamos em outro momento, ela é feita pela, para e com a comunidade com o objetivo
precípuo: o por em comum, de se fazer comunicar num espaço polifônico (SILVA, 2013, p.74).
Em outras palavras, ela visa o favorecimento da própria comunidade onde é realizada, em
termos de desenvolvimento local, econômico, cultural etc. Prioritariamente, a comunicação
comunitária é um instrumento de participação e mobilização, tendo em vista a democratização
da comunicação e a transformação social.
É importante contextualizar nosso lugar de fala quando nos referimos a determinados
conceitos e apropriações que são feitos deles na prática cotidiana. Partimos do princípio que
conceitos são expressões da experiência concreta, ou seja, do ponto de vista das práticas. Então,
para balizarmos nossa compreensão acerca deste tema premente para a composição do
arcabouço teórico e prático sobre os processos comunicacionais dos movimentos sociais cabe-
nos recorrer aos trabalhos que com maestria foram e estão sendo realizados na área. Esses
trabalhos, por um lado, dizem respeito a prática concreta da comunicação popular no âmbito
dos movimentos sociais e por outro, teorizam sobre a comunicação que ousamos chamar aqui
de comunitária, a partir do conceito de comunidade.
À luz das contribuições importantes à temática comunitária, autores como Cicilia
Peruzzo, Raquel Paiva e Muniz Sodré ofertam um arcabouço teórico que facilitará o nosso
percurso. A ideia que permeia “O Espírito Comum” de Raquel Paiva é a experiência comum
que unifica na produção do social a diversidade das relações de sentido a partir das categorias
apresentadas por Tönnies. A comunidade debatida por Paiva (2007, p.147) é uma metáfora para
a construção de uma nova forma para o laço social, ao qual a autora denomina de comunidade
gerativa. O foco, segundo a autora, não é tratar da dicotomia entre comunidade e sociedade
como muitos fazem, mas sim buscar um caminho de redescrição das tentativas de produzir
comunicação a partir de uma experiência comum, fora dos circuitos do capital. E, a nosso ver,
se não há uma forma de escapar desse circuito e estando dentro dele, mas não com ele, pode-se
produzir comunicação a partir das armas forjadas no interior das lutas sociais.
A proposta da comunicação comunitária passa necessariamente pela revisão
do conceito de comunidade, bem como pela análise da possibilidade de
inserção dessa estrutura na atualidade. Cidadania e solidariedade
transformaram-se em paradigmas que permitem imaginar uma ordem com
70
objetivos diferentes da premissa econômica universalizante, esta mesma que
pretende instaurar de maneira genérica a globalização. A proposta comunitária
surge como uma nova possibilidade de sociabilização, com o propósito de
fazer frente ao modelo econômico em que o número dos excluídos parece cada
vez mais ampliado (PAIVA, 2003, p. 26).
Jorge Miklos (2014, p.110-11) baseia-se na perspectiva de Paiva (2007) e Peruzzo (2004)
para qualificar a sua percepção sobre a comunicação comunitária, popular e alternativa. Miklos
(2014) recorre a Peruzzo (2004) quando ela afirma que esse tipo de comunicação expressa as
“lutas populares por melhores condições de vida que ocorrem a partir dos movimentos
populares e organizações civis comunitárias, e representam um espaço para a participação
democrática”. Miklos (2014) também cita a perspectiva comunitária apresentada por Paiva
(2007, 137-145) a partir de oito pilares e que também podem ser identificados nas pesquisas de
Peruzzo (2004). São eles:
1) A comunicação comunitária constitui uma força contra-hegemônica no campo
comunicacional.
2) A comunicação comunitária atua na direção de uma estrutura polifônica.
3) A comunicação comunitária produz novas formas de linguagem.
4) A comunicação comunitária capacita-se para interferir no sistema produtivo.
5) A comunicação comunitária gera uma estrutura mais integrada entre consumidores e
produtores de mensagens.
6) A comunicação comunitária atua com o propósito primeiro da educação.
7) A comunicação comunitária pode engendrar novas pesquisas tecnológicas.
8) A comunicação comunitária como lugar propiciador de novas formas de reflexão sobre
a comunicação.
2.5.4 Meios comunitários
A comunicação comunitária é realizada por meio de ferramentas comunicacionais que
vão desde os meios mais rudimentares aos meios mais sofisticados, potencializados pelo avanço
das tecnologias de informação e comunicação: Folhetins; Jornal local; Fanzine; Cordel; Teatro
Popular; Rádio; Rádio postes/Sistema de alto-falantes; Televisão; Vídeos, Multimídia; Rádio e
TV Web e outras tantas possibilidades criativas (SILVA, 2013, p.75).
De acordo com Raquel Paiva (2003) a premência por veículos alternativos instala-se em
um horizonte em que as grandes redes de informação passam a monopolizar a versão sobre os
71
fatos e a verdade. No entanto, tem-se a possibilidade de criação de veículos comunitários, cuja
existência parte de sua vinculação com a comunidade. “A estrutura comunicacional de um
veículo de comunicação inscrito na ordem comunitária segue padrões distintos dos veículos
existentes, ao mesmo tempo em que são alteradas as bases responsáveis pela articulação
discursiva” (PAIVA, 2003, p.55). A autora faz uma importante reflexão sobre a estrutura
comunitária, sua força política, a inserção e o papel de um veículo comunitário na comunidade.
2.5.5 Processos comunicacionais comunitários
No entanto, as várias ferramentas utilizadas para o desenvolvimento da comunicação
comunitária e sua prática cotidiana compõem o processo de comunicação com todas as suas
potencialidades e limitações. Tais processos fazem parte de uma dinâmica interior muito maior
do que o próprio fazer comunicação no sentido da apropriação das técnicas por parte dos grupos
envolvidos. Essa dinâmica pode ser percebida em sentido amplo, no próprio ato do seu fazer
organizativo, ou seja, quando os grupos se organizam em torno da comunicação para pensarem
o meio em que vivem. Muitas formas de participação são percebidas durante um processo de
comunicação comunitária, que vão desde o planejamento do meio, a criação de conteúdos, ou
simplesmente a recepção das informações. Segundo Peruzzo,
Os processos de comunicação comunitária são dinâmicos, ou seja, estão
sempre se renovando, aperfeiçoando e, às vezes, retrocedendo no tempo,
principalmente no que se refere à participação popular e consequente
democratização da comunicação. [...] democratizar a comunicação não
significa apenas aumentar o número de meios (canais), mas democratizar a
própria comunicação, entendida em todo o seu processo de planejamento,
gestão, geração de conteúdos e sua difusão. A crescente participação ativa da
população e das organizações sociais sem fins lucrativos na comunicação
comunitária é a base indispensável para a real democracia comunicacional e
da cultura com vistas à ampliação da cidadania (PERUZZO, 2007, p.153).
O processo de comunicação popular começa quando os grupos de mais baixo status
deixam de fazer esforços para se comunicarem por meio da hierarquia das elites intermediárias
ou dos meios públicos ordinários e estabelecem o seu próprio sistema de comunicação
horizontal.
Em consonância com o texto de Peruzzo, ao invés de retomar conceitos e definições
bastante explorados na literatura, vamos resgatar alguns traços comuns que são característicos
da comunicação comunitária relacionada aos movimentos sociais. As principais características
72
segundo a autora (PERUZZO, 2004, p.124) acontecem de forma inter-relacionada e não
necessariamente ao mesmo tempo. Vejamos:
1) Expressão de um contexto de luta
2) Conteúdo crítico-emancipador
3) Espaço de expressão democrática
4) O povo como protagonista
5) Instrumento das classes subalternas
2.6 É popular, é comunitária, é alternativa, é comunicação
Alguns autores (GIANNOTTI, 2016; MIANI, 2011; YAMAMOTO, 2007) discutem
sobre o esvaziamento crítico da comunicação popular25 em detrimento da comunitária. Apesar
desse suposto esvaziamento não caber em nossa proposta e em nossas convicções acerca do
sentido comunitarista, frisamos a contribuição de autores como Vito Giannotti e Claudia
Gionnotti (2016) ao tratar da comunicação popular no âmbito das favelas cariocas e
particularmente sobre a contribuição à comunicação sindical.
Claudia Giannotti (2016) trata sobre a definição de comunicação popular, por quem é
produzida, seu objetivo, sobre a linguagem utilizada e traz também contribuições do jornalista
e historiador Marco Morel sobre sua pesquisa intitulada de Jornalismo Popular nas favelas
cariocas, realizada na década de 1980. No entanto, o livro como todo, trata especificamente
sobre a comunicação popular desenvolvida no âmbito das favelas cariocas, partindo das
experiências da imprensa carioca nas favelas na década de 1970 até os dias de hoje.
Para Giannotti (2016), Morel compreende a comunicação popular como uma
perspectiva cultural e militante que no fundo seria a construção de uma hegemonia dos
movimentos sociais e trabalhadores. A comunicação popular para o autor é uma produção que
tem como objetivo a transformação social e o papel que jornais de favela teriam nisso. No
conjunto da obra organizada pela Giannotti, são apontadas diferenciações dos termos popular,
25 A partir de posições teóricas e algumas convicções afirmamos neste trabalho não ser de interesse nosso, no
momento, demarcar o conceito de popular como um adjetivo intrínseco às classes populares, então ele ficará em
suspenso no decorrer do estudo. Todavia, os últimos capítulos da tese poderão mostrar se os movimentos sociais
e a comunicação por eles desenvolvidas se utilizam dessa terminologia e qual os sentidos atribuem à ela, apesar
de não ser um objetivo explícito da presente pesquisa. Como a proposta parte de uma teoria fundamentada em
dados, esvaziar conceitos sem antes os verificar na prática não coaduna com nosso interesse metodológico, nem
científico.
73
comunitário e usos que são feitos. Os autores defendem o uso do termo popular e acreditam em
uma comunicação que parte da organização popular e que ao mesmo tempo a alimenta
(GIANNOTTI, 2016, p.48).
Para Claudia Giannotti (2016, p.23) a comunicação popular é “produzida pelo povo e
para o povo, com o objetivo de alterar a realidade social de uma determinada comunidade ou
grupo social, como já dizia Vito Giannotti”. A autora afirma ainda, que:
ela é porta-voz dos interesses da comunidade em que está inserida e também
ajuda a comunidade a se organizar em torno de seus problemas. É a
comunicação que reporta o dia a dia da comunidade a partir do olhar de quem
a produz. É produzida coletivamente por moradores de uma favela ou bairro
popular que tenham interesses em comum e decidam se organizar para atingir
seus objetivos. Falando em uma linguagem mais elaborada do ponto de vista
da Comunicação Social, na Comunicação Popular o público é uma tarefa
militante de mobilização através da criação de veículos próprios que não são
controlados pela burguesia ou por governos (GIANNOTTI, 2016, p.23-24).
Sobre o objetivo da comunicação popular segundo Giannotti (2016, p.25) ela pode se
propor a denunciar o sistema, as arbitrariedades, divulgar a arte e as várias produções da
comunidade, e ao mesmo tempo, a organizar as pessoas da comunidade para lutarem por suas
reivindicações. Neste aspecto, aborda a importância da comunicação e da organização popular
caminharem juntas.
Todavia, a autora deixa uma brecha quanto à que tipo comunicação utilizar, ao afirmar
que a forma de comunicação escolhida depende das características da comunidade. Em outras,
palavras apesar da demarcação quanto ao uso do termo popular, a autora diz no mesmo texto
que a função da comunicação comunitária é “explicar, explicitar, dar visibilidade aos problemas
contextualizando-os e dizendo por que eles acontecem para que as pessoas entendam que a
transformação da situação da comunidade depende do ambiente político e econômico da cidade,
do estado, do país, do mundo” (GIANNOTTI 2016, p.25).
No entanto, ao seguir o raciocínio afirma que outra reflexão é importante. Segundo ela,
a expressão comunicação popular começou a ser substituída por comunicação comunitária. Ela
afirma que existem inúmeras explicações para isso e se apoia no entendimento de Marco Morel
para tal argumentação. Para Morel o uso da expressão comunicação comunitária no lugar de
comunicação popular trata-se de um esvaziamento do sentido crítico que a comunicação
popular possui.
a palavra comunitária é um pouco asséptica, pretende ser neutra e não explica
o conflito do popular contra o antipopular. A palavra comunitária tem uma
74
ideia mais abrangente no sentido de harmonizar e ocultar os conflitos. Na
época isso correspondia a uma visão de setores dos chamados movimentos de
favela que reivindicavam a condição de favelado como uma forma de
resistência cultural e política. Depois veio a tendência de achar que favela
seria um estigma negativo, de preconceito. Para se livrar desse preconceito
passa-se a falar em comunidade. Então, eu sou de uma época em que se tentava
valorizar a ideia de favela enquanto resistência política, cultural e identidade
de classe. E a comunicação popular seria uma expressão disso (MOREL apud
GIANNOTTI, 2016, p. 33-34).
Ainda no tocante ao uso dos termos popular e comunitário a autora afirma que utiliza o
primeiro em detrimento do segundo pelos motivos apresentados por Morel e também porque
querem reforçar a ideia de que os materiais produzidos em favelas, seu “objeto” de estudo
podem e devem ser entendidos como focos de resistência política e cultural.
Para Rozinaldo Miani (2011) há que se fazer distinções para tratar a comunicação
comunitária e popular, para que ambas não sejam tratadas como expressões correlatas. Miani
(2011, p.226-227) afirma que o ponto inicial para definir comunicação comunitária é entender
o significado de comunidade. Segundo o autor, a comunidade pode ser entendida como “uma
possibilidade que se realiza como decorrência da dinâmica social estabelecida por um conjunto
de indivíduos que se reconhecem como construtores de um sentimento coletivo de
pertencimento no interior de um grupo social”.
No entanto, o autor vai afirmar que a perspectiva de uma atuação político-ideológica
por parte um determinado grupo social, pautada pela consciência de classe, não é propriedade
constitutiva de uma comunidade, daí significa afirmar que a comunicação popular não deveria
ser confundida com a comunitária pelo viés empregado pelo autor.
Para Miani (2011, p.227-228):
No plano da comunicação essa perspectiva se aplica, de maneira característica,
à comunicação popular, o que reforça nossa afirmação da impropriedade de
considerar comunicação popular e comunicação comunitária como termos que
se possam substituir como sinônimos. No que se refere à perspectiva de uma
atuação política, a cidadania se apresenta como o eixo norteador das mais
diversas ações organizadas por uma determinada comunidade.
Yamamoto (2007) é outro autor que também não reconhece a comunicação popular e
comunitária como semelhantes. Ele considera o termo comunitário menos subversivo do que o
popular, visto que ele parte para suposta ideia de conciliação e convivência quando considera a
perspectiva comunitária pelo viés da comunidade.
[...] se considerarmos que o popular implica mudanças estruturais na
sociedade, deduzimos a meticulosidade como esta palavra foi
75
estrategicamente subsumida no comunitário. Porque popular, pelo menos na
acepção que foi suprimida, designa participação, movimento, qualidades
contrárias à ordem vigente. Já comunitário, como solidariedade,
pertencimento, afeto, calor, do modo como vem sendo utilizado nos dias de
hoje, não oferece qualquer risco ao sistema. Ademais, hoje, tudo é
comunidade: não existem mais classes antagônicas, mas grupos (variados) de
oposição (YAMAMOTO, 2007, p.7-8).
E como contraponto, retomamos as contribuições teóricas e práticas de Cicilia Peruzzo
em “Comunicação nos movimentos Populares” (2004) para reforçar que a comunicação popular
nasce efetivamente a partir dos movimentos sociais e se que refere ao modo de expressão das
classes populares, no entanto, isso não invalida a comunicação comunitária quando atrelamos
a ela o sentido de um fazer que seja também político.
Segundo Peruzzo (2004a, p.141) convém não esquecer que tanto participativo como
popular26, - poderíamos acrescentar aqui a infinidade de adjetivos atribuídos - não qualificam
necessária e automaticamente o substantivo democracia. E, dando um passo atrás, a autora
(2004a, p.117) afirma que povo não tem estatuto teórico universal, não se podendo, portanto,
vê-lo sob uma categoria de análise pré-fixada. É preciso apanhá-lo em seu contexto, como uma
realização histórica, cuja composição e cujos interesses variam em função de fatores
determinantes, estruturais e conjunturais, constituindo-se sempre nem todo plural e
contraditório.
Peruzzo (2004a, p.118-119) afirma ainda que falar de comunicação “popular”, envolve
várias conotações e ela destaca três correntes. São elas:
a) Popular-folclórico – diz respeito ao conjunto das expressões culturais tradicionais do
“povo”, oriundas de festas folclóricas, danças, costumes, objetos etc.
b) Popular-massivo – de forma geral, diz respeito à indústria cultural, cujos produtos,
sejam eles, programas televisivos, radiofônicos são difundidos pelos meios de comunicação de
massa.
c) Popular-alternativo – está atrelado ao universo dos movimentos sociais e pode ser
dividida em duas linhas de pensamento. Uma diz respeito a comunicação como “libertadora,
revolucionária, portadora de conteúdos críticos e reivindicatórios capazes de conduzir à
transformação social,” ou seja, coloca-se em antagonismo com a comunicação de massa. A
26 Vários autores já trataram sobre os termos popular e povo, entre eles destacamos os trabalhos desenvolvidos por
Nestor García Canclini, Jorge González e Regina Festa. A obra de PERUZZO, Cicilia M. Krohling. Comunicação
nos movimentos populares: a participação na construção da cidadania. 3ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004, 342p,
oferece mais informações sobre o assunto.
76
outra linha possui uma postura mais flexível e considera que a “comunicação popular pode
inferir modificações em nível de cultura e contribuir para a democratização dos meios
comunicacionais e da sociedade”, esta, por realizar-se em espaços próprios não se contrapõe a
comunicação de massa.
Cicilia Peruzzo (2004) aborda sobre os adjetivos que são atribuídos a comunicação
popular, como comunitária, participativa, dialógica e etc. Porém, lembra que faz-necessário
observar a distinção na bibliografia corrente sobre os termos popular e alternativo. Por exemplo,
especificamente no Brasil, a expressão imprensa alternativa refere-se aos periódicos que se
tornaram uma opção de leitura crítica, em relação à grande imprensa (PERUZZO, 2004a, p.
120). Alguns termos, às vezes causam imprecisões, pois se em determinada época dizem
respeito a algumas demandas em outras épocas podem vir a representar outras coisas.
Em outras palavras, nem sempre o termo popular esteve ou está atrelado à noção das
classes subalternizadas. O movimento “Diretas Já” (1983-1984) reuniu diversos setores da
sociedade brasileira como partidos políticos de oposição ao regime militar, artistas, movimento
estudantil, lideranças sindicais, jornalistas, civis etc., ou seja, a grande maioria da população
esteve nas ruas, inclusive, com o apoio da Organizações Globo. Então é difícil esvaziar um
conceito em relação ao outro, pois ele pode representar um estado de coisas diferentes em
épocas específicas.
No entanto, em outro texto Peruzzo fornece uma pista importante para nossa discussão:
A comunicação popular e comunitária pode ser entendida de várias maneiras,
mas sempre denota uma comunicação que tem o “povo” (as iniciativas
coletivas ou os movimentos e organizações populares) como protagonista
principal e como destinatário, desde a literatura de cordel até a comunicação
comunitária (PERUZZO, 2009, p.55).
Vejamos, esse tipo de comunicação engendra o “povo” como protagonista e destinatário
das várias formas de comunicação. Em outras palavras,
Portanto, do ponto de vista teórico e das práticas sociais recentes, a
comunicação comunitária recorre a princípios da comunicação popular,
podendo haver certa distinção entre uma experiência e outra, segundo as
características de cada situação. É comum, por exemplo, existirem casos em
que o comunitário se torna mais plural ao atuar num bairro, numa cidade ou
região onde há diversidade de atores sociais, e em cuja realidade certas
características comunitaristas (ação conjunta, participação na gestão,
propriedade coletiva) se diluem, mas outras permanecem, como, por exemplo,
o sentido orgânico do vínculo local, participação na programação e a
transmissão de conteúdos de interesse público (PERUZZO, 2009, p.55).
77
Dessa forma, não coadunamos com Yamamoto (2007), Miani (2011) e Giannotti (2016)
quando desconsideram a utilização dos termos para a mesma finalidade. Porque na verdade o
que está em jogo é o processo que se desenvolve a partir da comunicação com vistas ao
empoderamento humano, a transformação social, e também às reivindicações do ponto de vista
das organizações, sejam elas, em âmbito local ou regional, as quais, de certa forma não são
potencializadas e publicizadas pelos meios de comunicação tradicionais.
Se, por um lado alguns autores distorcem e subjugam o sentido do termo comunitário.
Por outro, Peruzzo (2004b) salienta que se trata de algo controverso. Sobre a questão da
comunicação comunitária no Brasil, a autora afirma que:
Por ocorrer uma vulgarização do uso do termo “comunitário”, há visões
distorcidas do que ela venha a ser na prática. Em última instância, não basta a
um meio de comunicação ser local, falar das coisas do lugar e gozar de
aceitação pública para configurar-se como comunitário. A comunicação
comunitária que vem sendo gestada no contexto dos movimentos populares é
produzida no âmbito das comunidades e de agrupamentos sociais com
identidades e interesses comuns. É sem fins lucrativos e se alicerça nos
princípios de comunidade, quais sejam: implica na participação ativa,
horizontal e democrática dos cidadãos; na propriedade coletiva; no sentido de
pertença que desenvolve entre os membros; na corresponsabilidade pelos
conteúdos emitidos; na gestão partilhada; na capacidade de conseguir
identificação com a cultura e interesses locais; no poder de contribuir para a
democratização do conhecimento e da cultura. Portanto, é uma comunicação
que se compromete, acima de tudo, com os interesses das “comunidades” onde
se localiza e visa contribuir na ampliação dos direitos e deveres de cidadania
(PERUZZO, 2004b, p.5).
Em “Conceitos de comunicação popular, alternativa e comunitária revisitados e as
reelaborações no setor”, Peruzzo (2009) az um apanhado dos aspectos norteadores da
comunicação comunitária, que por vezes é chamada de popular, alternativa ou participativa.
Nomeia esses processos de comunicação comunitária, mesmo havendo características
próprias em cada um deles. A autora pontua que a comunicação comunitária é caracterizada por
processos de comunicação fundamentados em “princípios públicos, tais como não ter fins
lucrativos, propiciar a participação ativa da população, ter – preferencialmente - propriedade
coletiva e difundir conteúdos com a finalidade de desenvolver a educação, a cultura e ampliar
a cidadania” (PERUZZO, 2009, p.55-56).
Hoje a lógica societária está tão presente no cotidiano das pessoas quanto estava na
década de 1960 e 1970 no auge da chamada comunicação popular, mas a sociedade é dinâmica
e se transforma, assim como suas formas de comunicar e os termos que são atribuídos a estes
formatos. Se antes, o sujeito poderia ser considerado mais engajado politicamente hoje existem
78
outros reconhecimentos que ultrapassam a noção de um engajamento político puro, do ponto
de vista da militância. Outros valores surgem, valores mais locais, do próprio reconhecimento
do viver na coletividade e de outros aspectos relacionados à cidadania.
A esse respeito, João Paulo Malerba (2016, p.355) ao abordar a comunicação
comunitária, especificamente em sua pesquisa “Rádios comunitárias no limite: crise na política
e disputa pelo comum na era da convergência midiática” traz importante contribuição sobre a
incidência da expressão comunitária para adjetivar as rádios, que outrora eram denominadas de
populares e alternativas. Para o autor a partir dos 1980, a expressão comunitária procurará “unir
o disperso, mas mantendo suas singularidades”.
Além da ideia de uma rádio para construir e “servir a comunidade”, esse
conceito procura abarcar um leque mais amplo de atores e carrega bandeiras
como a da participação, da democratização da comunicação,
pluralidade/diversidade e das minorias (sexuais, étnicas, religiosas etc.). Não
que tais bandeiras já não estivessem anteriormente presentes, mas sob o leque
do comunitário novos sujeitos passam a protagonizá-las (MALERBA, 2016,
p.355).
Seguindo esse raciocínio não se trata de simples discussão terminológica, mas de
apanhá-la no contexto em que si situa. Se num primeiro momento, a expressão popular e
alternativa expressava a luta política dos setores subalternizados, num segundo momento ela
passa a abranger outras dimensões das lutas e dos atores sociais, com foco na dimensão da
comunidade. Já em um terceiro momento, o termo cidadã aparece para “dar conta da pluralidade
como princípio e a geração de consensos como fim: abertura, participação de todos e todas,
construção de comunidades” (MALERBA, 2016, p.356).
Passado o fervor da militância política, dos anos dourados, como era vista, e até de certo
esvaziamento nesse sentido, podemos atribuir outras formas de pensar a comunicação como
expressão de luta das classes populares. Este tipo de comunicação contempla os meios
tecnológicos e outras modalidades de canais de expressão sob controle de associações
comunitárias, movimentos e organizações sociais sem fins lucrativos (PERUZZO, 2009, p.55-
56).
Outro destaque a ser feito é que por meio da comunicação comunitária é efetivado o
direito de comunicar ao garantir o acesso aos canais de comunicação. “Trata-se não apenas do
direito do cidadão à informação, enquanto receptor – tão presente quando se fala em grande
mídia –, mas do direito ao acesso aos meios de comunicação na condição de produtor e difusor
de conteúdos” (PERUZZO, 2009, p.55-56), no contexto comunitário em que vivem.
79
Em contrapartida, o exposto anteriormente, gera uma discussão acerca do sentido
comunitarista de estar juntos, das diferenças existentes numa comunidade e das características
intrínsecas a dinâmica interna de cada comunidade ou grupamento social a partir do próprio
princípio organizativo permeado pela comunicação que constitui esses grupos.
Primeiro porque é premente considerar ou não a existência de uma comunidade para
falarmos em comunicação comunitária.
Segundo porque a comunicação comunitária que emerge desses grupamentos sociais,
comunidades, ou movimentos sociais podem vir acompanhadas ou ter o apoio de animadores
(pesquisadores, professores e estudantes da área temática) que não sejam partícipes daquele
grupo, mas que funcionam como mediadores do processo. Lógico, visando aos interesses do
grupo.
Há, ainda, um terceiro ponto a ser levado em consideração: a comunidade vista como
um elo quase heurístico entre os membros, cuja finalidade é o empoderamento coletivo, mas
também individual no contexto dos direitos de cidadania.
A comunidade precisa ser pensada não somente pelo seu lado romântico e acolhedor,
mas a partir da aglutinação das diferenças existentes entre seus membros e pelo desejo comum
de mudança da realidade concreta da sociedade e ou local em que vivem. A comunicação
precisa ser percebida justamente neste processo, de acompanhar e fomentar às mudanças, seja
em nível estrutural ou conjuntural da sociedade, isso vai depender em que estágio está a
organização social que faz uso das ferramentas comunicacionais.
Sendo assim, afirmar que a comunicação é popular porque está circunscrita em lutas de
classes antagônicas ou que é comunitária pelo seu sentido comunitarista de cooperação entre os
membros não é tão importante quanto apreender o sentido histórico dessas lutas e suas
transformações na atualidade, do ponto de vista dos movimentos sociais ou grupos organizados.
O que mais importa é entender os processos por meio dos quais a comunicação
de segmentos subalternos organizados da população se materializa. Portanto,
conceitos definidos a priori – sejam eles popular, comunitário, alternativo,
participativo etc. – tendem a não dar conta da realidade no seu conjunto, pois
ela é dinâmica e avessa a se enquadrar na lógica conceitual. Os conceitos é
que necessitam refletir as práticas sociais e não estas se enquadrarem em
conceitos (PERUZZO, 2015, p.13).
Certos de que o percurso teórico e linhas de pensamento precisam ser embasados pela
realidade concreta vivenciada durante a pesquisa, optamos já nos referenciais teórico-
metodológicos por uma visão que contemple as novas formas de vida presentes no capitalismo
80
cognitivo, que veremos nos capítulos posteriores. Assim, já apontamos para um dos motivos27
que nos leva a não categorizar a outra comunicação, mas a demonstrar como isso tem sido feito
na literatura. E então, utilizar singularmente, a expressão comunitária, pois mais adiante
esclareceremos a partir de alguns autores que a base concreta para pensar os movimentos
sociais, em nossa proposta, é a multidão contemporânea, e que por fim, outros conceitos como
classe, povo serão analisados à luz do material empírico produzido.
Buscar um caminho de redescrição das tentativas de produzir comunicação torna-se e é
possível a partir de uma experiência comum e fora dos circuitos do capital - em partes -. Ainda
assim, essa redescrição precisa ser uma ligação entre seres humanos, comunidade, vinculação
social, diferenças, território físico e/ou simbólico e comunicação. E a internet está inscrita neste
universo de luta e disputa pelo espaço social. Ela até pode servir à lógica do capital, mas pode
servir também aos movimentos sociais, conforme veremos no capítulo IV.
27 O outro motivo é porque os termos comunitário, popular e alternativo se confundem por serem semelhantes
quanto aos seus objetivos e práticas (PERUZZO, 2004).
81
CAPÍTULO III – MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL E SEUS
DESDOBRAMENTOS
O foco deste capítulo consiste em apresentar uma revisão de bibliografia pertinente e
focada, cuja fundamentação teórica sustenta, inicialmente, a abordagem conceitual da pesquisa.
Neste capítulo traçamos um breve panorama sobre os movimentos sociais, dos clássicos aos
contemporâneos, passando pelas diversas abordagens que têm sido aplicadas aos estudos desta
temática para destacarmos alguns aspectos da comunicação nos movimentos sociais, a partir
das redes de autocomunicação e autonomia e a categoria teórica multidão que nos ajudam a
refletir sobre o objeto de estudo. No entanto, o lugar da revisão bibliográfica na pesquisa de
teoria fundamentada em dados vem sendo discutida há muito tempo. Os pioneiros Glaser e
Strauss (1967) defendem que a revisão bibliográfica deve ser adiada até que a análise dos dados
seja completada. Essa postura diz respeito a uma suposta contaminação dos dados construídos
por teorias empreendidas anteriormente. Nossa postura coaduna com a orientação de Charmaz
(2009, p.227) de que a teoria fundamentada empreendida na pesquisa poderá refinar, ampliar,
contestar ou suplantar os conceitos existentes.
3 Dos clássicos aos contemporâneos: um breve histórico
Discorrer sobre movimentos sociais no Brasil é narrar o próprio país em suas origens,
diversidades, singularidades e em suas desigualdades. As Constituições brasileiras em suas
variadas transformações ao longo dos séculos demonstram que, ao menos em partes, a
democracia antes de ser caracterizada como uma forma de governo é um exercício a ser
praticado. A palavra democracia é de origem grega, demos, faz referência ao povo e kratos, faz
referência ao poder, ou seja, poder do povo. As palavras poder e povo serão problematizadas
mais adiante neste texto para efeito de demarcação conceitual. A primeira porque permeará a
discussão, mesmo que de forma implícita e a segunda porque é fundamental para às análises de
formas de vida contemporâneas que veremos a partir da categoria teórica multidão.
Em sua atual Constituição, datada de 1988, o Brasil é estabelecido como um Estado
democrático de Direito28 e tem como princípios fundamentais a soberania, a cidadania, a
28 Estado de Direito significa que nenhum tipo de autoridade, nem o cidadão comum está acima das leis. Os
governos democráticos exercem sua autoridade por meio de lei estabelecidas. No entanto, as leis devem expressar
a vontade do povo, ou seja, da maioria, que por vontade manifesta elege representantes legais.
82
dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. No entanto, para que haja justiça, as leis,
de uma maneira geral, devem ser criadas pelos mesmos cidadãos que as obedecem. Aliado a
isto, a liberdade dos indivíduos é escamoteada e os direitos em todas as suas esferas civis,
sociais, políticos não são garantidos de fato.
O Brasil formado por homens e mulheres, sujeitos da história em sua dinamicidade, no
entanto, resistem. Resistência é um adjetivo apropriado para assinalar às lutas do que
posteriormente seria caracterizado por volta de 1848, pelo sociólogo alemão, Lorenz Von Stein,
de movimento social. A ecologia, a física, a anatomia, a política e outras áreas do conhecimento
humano utilizam este termo, ao qual, tomamos de empréstimo29. Para a primeira, resistência
diz respeito a capacidade de um sistema manter seu funcionamento diante de um distúrbio. A
segunda, aborda a capacidade de um determinado material resistir à passagem de corrente
elétrica. A terceira, diz respeito ao sistema de estruturas e processos que protege o organismo
de certos tipos de doenças. E o último, diz respeito ao movimento de um grupo contra um poder
que consideram ilegítimo. Uma boa analogia para contornar a ideia de resistência em Michel
Foucault (2006).
Historicamente a ideia da luta por direitos humanos começa com uma nova concepção
do homem, proveniente da razão humana. Durante séculos prevalecia a ideia da existência de
Deus, Ser soberano, como a medida de todas as coisas. Porém, a ideia da razão humana com
todas as vicissitudes e prejuízos, trazida pelo iluminismo do século XVIII, aponta que o homem
deveria ser o centro de todas as coisas e passar a buscar suas respostas por meio do
conhecimento científico, que até então eram calcadas na fé.
O século XVIII é conhecido como o século das revoluções30, não somente na França
(1789), mas ao redor do mundo devido às revoltas ocorridas, que se situam além do campo
social permeando, especialmente, o campo econômico. As transformações do trabalho artesanal
para o trabalho assalariado, particularmente, foi um dos motivos que desembocou na Revolução
industrial inglesa. A modernidade, com todo o peso que este período carrega, foi palco de
inúmeras lutas tanto na Europa como em outras partes do globo. É importante relembrar que as
desigualdades sociais andaram de mãos dadas com a Revolução Industrial, num paradoxo,
O texto completo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 está disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em 01 de fev. de 2016. 29 Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Resist%C3%AAncia> Acesso em 01 de fev. de 2016. 30 Revolução implica em uma mudança de estrutura na sociedade. Caio Prado Júnior e Florestan Fernandes em
Clássicos sobre a revolução brasileira (2002), demonstram que os problemas sociais só serão resolvidos quando
houver uma ruptura radical com as estruturas sociais responsáveis pela perpetuação das desigualdades sociais,
herança da sociedade colonial e pela dependência do Brasil no sistema capitalista mundial (SAMPAIO, 2002, p.9).
83
quando o homem sonhava com um novo tipo de sociedade “na qual a miséria, a pobreza, o
analfabetismo e a doença pudessem ser reduzidos e o projeto de uma sociedade feliz pudesse
ser pensado e imaginado não sob a foram de uma utopia, mas como uma realidade a ser
construída” (ODALIA, 2013, p.160). No entanto, a felicidade humana alicerçada no tripé
liberdade, igualdade e fraternidade, como direitos que sintetizam o homem em sua cidadania é
uma lenta construção.
O tema da cidadania31 remonta as Revoluções Inglesa, Americana, Francesa e
particularmente como abordamos, a Revolução Industrial, esta última, fez surgir uma nova
classe social, o proletariado. Este, tem em seu bojo, a consciência histórica da força
revolucionária. E é por meio do reconhecimento da luta histórica entre produtores e detentores
dos meios de produção que iniciamos a reflexão sobre os movimentos sociais. A partir de um
olhar que visa a emancipação social, humana, independente de rotulações teóricas que visam a
nomear as ações coletivas desenvolvidas por grupos sociais historicamente excluídos.
Posicionamo-nos ante as posturas que almejam uma sociedade democrática e a
condição de plena cidadania impulsionadas pelas ações concretas dos movimentos sociais. É
claro que nos filiarmos a determinadas correntes teóricas em detrimento de outras, torna o texto
mais confortável e expressa em partes, nossa visão de mundo. Mas permanecer na zona de
conforto não é o que pretendemos, tampouco defender à risca definições e conceitos sobre o
que é um Movimento social.
Nosso entendimento é de que, um movimento social surge quando existe um conflito na
sociedade, seja de ordem estrutural ou não, quando homens e mulheres se organizam e tomam
consciência de seus direitos e deveres e devem por eles lutar na prática. Como adverte Alain
Touraine (2006, p.20) falar sobre movimentos sociais é colocarmo-nos sob o ponto de vista dos
próprios atores.
No entanto, situar a discussão a partir dos autores Montaño e Duriguetto, Gohn, Peruzzo,
Garretón, Bauman, Castells, Virno, Hardt e Negri etc. no âmbito das Ciências Sociais e da teoria
social, torna-se importante para fornecer as bases necessárias desta revisão caracterizada como
seletiva e focada, para posteriormente, discorrer sobre a práxis dos movimentos sociais, como
veremos no último capítulo.
31 O livro História da Cidadania organizado por Jaime Pinsky e Carla Bassanezi Pinsky trata do tema da cidadania,
como conceito histórico e demonstra que os avanços da cidadania, inclusive no Brasil, dependem não somente das
riquezas distribuídas do país, mas principalmente das lutas e reivindicações concretas dos sujeitos.
84
A presença dos trabalhadores na arena política evidenciou um importante papel na luta
por mecanismos de participação na vida pública e na busca por uma divisão mais justa e
igualitária das riquezas do país. Contudo, o trabalho no Brasil em sua dimensão de livre
mercado, data do final do século XIX com a abolição da Escravatura, seguida da Proclamação
da República. Inicialmente, só os direitos civis (participação política, direito ao voto) foram
contemplados na Constituição de 1891, sem nenhum vestígio de direitos sociais. Grande
maioria das pessoas viviam nas áreas rurais do país e estavam subordinadas aos grandes
proprietários de terras. O resultado, sabemos, grande parte da massa trabalhadora e seus
dependentes em condições vulneráveis, excluídos das benesses da vida social advindas com a
modernização.
O cenário nas primeiras décadas do século XX é composto pela ascensão da classe
operária, pela crescente utilização de mulheres e crianças nas fábricas em condições precárias,
com baixíssimos salários, extensas jornadas de trabalho e péssimas condições de vida. Mas fez
surgir também na última década do século XIX porta-vozes dos interesses dos operários. Os
reformistas, defensores dos interesses do patronato e da ordem vigente; os socialistas, por meio
da organização dos trabalhadores em torno dos partidos fundados e de seus candidatos, que
buscavam a participação política dos trabalhadores e melhoria nas condições de trabalho dos
proletários; os anarquistas, que rejeitavam o Estado, a representação, propondo um
enfrentamento com o capital, por meio da ação direta, em busca de uma outra sociedade, sem
exploradores e explorados (LUCA, 2013, p.471).
3.1 Conceituando movimento social
Nas últimas décadas o estudo sobre as organizações da sociedade civil, em especial, dos
movimentos sociais, tem sido preconizado por diversos agentes sociais no mundo,
especialmente, na América Latina. Diversas abordagens e correntes teóricas podem ser
encontradas. Além de categorias analíticas para tentar explicar, enquadrar, categorizar os
movimentos algumas depreendem das próprias análises empíricas, enquanto outras
permanecem mais no campo das representações, ou, daquilo que se observa a partir de
referenciais teóricos para a composição de novas teorias. Outrossim, o que parece ser comum
entre as correntes e autores das mais variadas áreas é de que movimento, como o próprio nome
diz, carrega o peso da história e de suas constantes transformações.
85
Movimento social, a nosso ver, é ação coletiva (Durigueto; Montaño, 2011; Garretón,
1996; Gohn, 2012; Peruzzo, 2004), força mobilizadora que agita pessoas, discursos,
instituições, dispositivos (FOUCAULT, 2006)32 e conforma identidades e singularidades. Para
Maria da Glória Gohn (2012, p.14) um movimento social “é sempre expressão de uma ação
coletiva e decorre de uma luta sociopolítica, econômica ou cultural”, ou seja, ele se configura
a partir de um conflito social e de uma ação coletiva. Em outras palavras, é a opressão de um
grupo sobre outro que pode se manifestar em termos políticos, econômicos, ideológicos etc.
Quando um grupo possui objetivos comuns a serem alcançados e passam a desenvolver ações
conjuntas para a realização desses objetivos, podem se transformar em movimentos sociais que
surgem para tentar modificar a realidade concreta, seja negando a atual ou reconfigurando
sistemas culturais e simbólicos estabelecidos socialmente.
O espaço de luta dos movimentos sociais brasileiros é a própria sociedade civil
(PERUZZO, 2004) marcado por um histórico de injustiças, pela insatisfação no campo
econômico, político e social. Em um contexto caracterizado desde o embate político à
construção da cidadania, os movimentos sociais brasileiros, independente de suas categorias
conceituais e filiações, como já mencionamos, se movem e se comunicam.
Gohn (2012, p.14) faz um apanhado sobre os traços constituintes de um movimento
social e aponta os seguintes aspectos:
a) demandas que configuram sua identidade.
b) adversários e aliados, bases, lideranças e assessorias, formando redes de
mobilizações.
c) práticas comunicativas, desde a oralidade aos modernos recursos tecnológicos.
d) visões de mundo que dão suporte a suas demandas e culturas próprias nas formas
como sustentam e encaminham suas reivindicações.
Esses aspectos mencionados serão importantes para orientar o nosso olhar sobre as
práticas comunicacionais dos movimentos sociais na internet.
O movimento social, em sua forma clássica de interpretação no debate teórico,
pressupõe a existência de um conflito. Outrora, era caracterizado quando existia a percepção de
um oprimido na sociedade em relação ao seu opressor. Aliás, o conflito só seria instaurado,
dada esta percepção por parte do grupo oprimido ao apresentar uma insatisfação na sociedade.
32 O conceito de dispositivo em Foucault (2006, p.244-245) diz respeito a um conjunto heterógeno que engloba
discursos, instituições, organizações, enunciados científicos etc. O dispositivo é a rede que pode ser estabelecida
entre esses elementos.
86
No entanto, a sociedade brasileira está sempre em mudança cujas origens podem ser
encontradas na contradição e na diversidade. Tal dinâmica ajuda a compreender a emergência
dos chamados novos movimentos coletivos na sociedade civil (PERUZZO, 2004, p.29-30),
como veremos mais adiante.
Segundo Montaño e Durigueto (2001, p.264) faz-se necessário traçar duas distinções
para conceituar movimentos sociais, assim:
A primeira é sobre movimento social e mobilização social. Destarte, movimento social
caracteriza uma organização com relativo grau de formalidade e estabilidade e que não se
encerra a uma dada atividade ou mesmo mobilização. Já mobilização social diz respeito a uma
atividade que se esgota em si mesma quando concluída. No entanto, mobilização pode ser uma
das ferramentas de luta dos movimentos sociais e também pode vir a se tornar um movimento
social.
A segunda distinção é sobre movimento social e Organização Não Governamental
(ONG). Elas não são organizações da mesma natureza, (MONTAÑO; DURIGUETO, 2011, p.
264) e este é um equívoco que acorre comumente. Se por um lado, o movimento social é
conformado pelos próprios sujeitos e suas demandas, por outro, as ONGs são constituídas por
agentes voluntários e ou remunerados, que se mobilizam a partir das demandas e reivindicações
alheias.
Os movimentos sociais também podem ser interpretados como formas de organização
social, cultural e política que constroem e organizam os seus territórios, simbólicos, a partir de
uma nova concepção de territorialidade que ultrapassa a noção tomada de empréstimo da
geografia. O território (SODRÉ, 2012) hoje é dinâmico, é o espaço afetado pela ação humana,
portanto, é exatamente onde a vida acontece. Para Gohn (2012, p.44) território passa a se
articular com a questão de direitos e das disputas por bens econômicos, pelo pertencimento e
pelas raízes culturais de povo, por exemplo. A noção de território será desenvolvida no capítulo
terceiro e articulada com às novas especificidades atribuídas a ele a partir da compressão
espaço-temporal com o advento dos meios de comunicação e transporte.
A partir da constituição como movimento social, sua razão de existir e de seu “lugar”,
busca-se mecanismos para a resolução de suas demandas, tentando transformar suas causas em
ações práticas na sociedade. Como já foi dito o conflito social em conjunto com uma ação
coletiva configura o movimento social, que pode ter caráter transformador (Coluna Prestes),
conservador (União Democrática Ruralista - UDR), tradicional (Movimento dos Trabalhadores
Rurais sem Terra - MST) ou novo (na visão de alguns autores, o movimento ecológico, por
87
exemplo, e para outros autores todos os movimentos novos em sua estrutura de base). Mais
adiante detalharemos algumas especificidades do movimento social clássico e tradicional e do
movimento social novo. No entanto, antes de tais explicitações faremos uma breve
contextualização dos movimentos sociais no Brasil.
3.2 Movimentos sociais no Brasil
Em contrapartida, para analisar os diferentes movimentos sociais em realidades
concretas como no Brasil atual, deve-se primeiro destacar quatro pontos do contexto
sociopolítico, econômico e cultural do país. São eles (GOHN, 2012, p.11-14):
1) A necessidade de qualificar o tipo de ação coletiva que tem sido caracterizado como
movimento social.
2) No novo cenário as relações desenvolvidas entre os diferentes sujeitos sociopolíticos na
cena pública alteraram-se; ampliação das formas de mobilização e atuação agora em
redes; novas tecnologias da informação e comunicação; neocomunitarismo.
3) Alterações do papel do Estado em suas relações com a sociedade civil e em seu próprio
interior; novas políticas sociais.
4) Grande lacuna na produção acadêmica sobre os movimentos sociais, tais como o próprio
conceito de movimento social, o que os qualifica como novos, o que os distingue de
outras ações coletivas, o que ocorre quando uma ação coletiva expressa num movimento
social se institucionaliza, o papel dos movimentos sociais neste novo século, como
diferenciar movimentos sociais criados a partir da sociedade civil de outras formas e
quais têm sido as teorias que têm sido construídas para explicá-los.
3.2.1 Movimentos de luta pela terra
No decurso de transição do Brasil colonial para o estado democrático de direito, em que
vivemos hoje (na lei), muitos resquícios do passado permanecem. Mas há algo de novo.
Movimentos novos e tradicionais (em suas estruturas de base), em cena, juntos, na busca por
direitos equitativos, por igualdade de gênero, pelo direito à cidade, pelo direito à vida. Que, sem
dúvida, começa pelo direito à terra. No entanto, a concentração de terras no Brasil é um dos
seus principais problemas sociais. Desde o domínio da coroa portuguesa, à independência e a
Lei de Terras de 1850, que exclui de vez os camponeses sem terra, os ex-escravos, os imigrantes
88
e os índios. Por sua vez, esta Lei transformou a terra em mercadoria e as concentrou nas mãos
dos latifundiários.
Diante disso, vários movimentos entre messiânicos, espontâneos e organizados,
começaram a surgir a partir do início da República, entre os quais se destacaram os liderados
por Antônio Conselheiro (Guerra de Canudos), pelo Monge José Maria (Guerra do Contestado),
e o das Ligas camponesas, organizado pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) liderado por
Gregório Bezerra, em 1946.
Em 1961, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, João Goulart assume o cargo,
sendo uma de suas propostas, mobilizar as massas trabalhadoras em torno das reformas de base
que transformariam as relações econômicas e sociais no país. À época, as especulações sobre a
Reforma Agrária estavam em alta.
Com o golpe militar de 1º de abril de 1964, as lutas das camadas populares sofrem
violenta repressão. Nesse mesmo ano o então presidente, marechal Castelo Branco, decretou a
primeira Lei de Reforma Agrária no Brasil: o Estatuto da Terra. Cuja proposta era frear as
manifestações populares e suas reivindicações, alterando o foco do embate. Porquanto, a
intenção não era de promover a reforma agrária, mas sim de evitar o conflito no campo e
tranquilizar os latifundiários. O Estatuto, no entanto, ficou no papel e se configurou como um
instrumento estratégico para controlar as lutas sociais e desarticular os conflitos por terra.
Ainda na ditadura, apesar dos trabalhadores do campo serem perseguidos, a luta pela
terra continuou crescendo. Foi quando começaram a ser organizadas as primeiras ocupações de
terra, não como um movimento organizado, mas sob influência da Igreja Católica. Desta
maneira, em 1975 surgiu a Comissão Pastoral da Terra (CPT). Nesse período, o Brasil vivia
uma conjuntura de extremas lutas pela abertura política, pelo fim da ditadura e de mobilizações
operárias nas cidades.
Já no final da ditadura, acontece no Paraná em janeiro do ano de 1984 o primeiro
encontro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), pela luta da reforma
agrária. Onde se reafirmou que a ocupação de terras seria a ferramenta fundamental para os
trabalhadores rurais. A partir daí, começou-se a pensar um movimento pautado em objetivos
políticos comuns ao grupo, onde fosse possível organizar os pobres do campo, conscientizando-
os de seus direitos e mobilizando-os na luta por mudanças. O MST atua em 23 estados
brasileiros, luta pela reforma agrária e pela construção de um projeto popular no Brasil, com
foco na justiça social e na igualdade de todos e todas. A reboque deste movimento tão
expressivo e ao mesmo tempo tão controverso diante da grande mídia e do cenário político,
89
surgem e também animam outros movimentos sociais. É neste contexto, que entra a
comunicação alternativa, popular e comunitária desenvolvida por esses grupos, também como
um direito das classes populares.
3.2.2 Movimentos de resistência à ditadura e redemocratização do Brasil
Ante o aparato repressivo da Ditadura Militar (1964-1984) que promoveu prisões,
torturas e assassinatos de presos políticos e que levou militantes à clandestinidade e ao exílio,
bem como promoveu o fechamento de sindicatos de trabalhadores, proibição de greves etc.
ocasionou uma profunda repercussão nas organizações e nas lutas sociais, que impulsionou
muitas ações de resistência e pressão pelo fim do período ditatorial no país.
O ano de 1968 foi emblemático no Brasil no contexto das resistências, passando pelas
lutas dos secundaristas e de estudantes do restaurante Calabouço, localizado no centro do Rio
de Janeiro à Passeata dos Cem mil que reuniu estudantes, intelectuais e ativistas políticos
também nas ruas do Rio de Janeiro. A Passeata representou um protesto sobre os atos de
repressão contra os estudantes, que culminou na morte de um deles, além de reivindicar o fim
da ditadura e a redemocratização do país.
Outro exemplo importante foi a greve dos metalúrgicos de Contagem - Minas Gerais e
de Osasco - São Paulo, sendo decretada como ilegal e derrotada pela Ditadura Militar. No
entanto, as organizações e lutas dos operários só voltaram a ter força e atuar na cena política
com as greves do ABC paulista, dez anos após.
Particularmente no Brasil a expansão dos movimentos sociais ocorreu num contexto de
profundas transformações econômicas e de exclusão da participação política das classes
subalternas. Nesse sentido, é importante compreender historicamente como os movimentos
sociais se configuram a partir dessa noção oriunda das classes subalternas. No entanto, também
compreender como as demandas e reivindicações sociais vão ganhando corpo e incluído outras
temáticas, como a das mulheres, dos negros, dos indígenas, por exemplo, que são tão antigas
como aquelas relacionadas às das lutas de classe. Tem-se, então, uma diferenciação corrente na
literatura sobre os movimentos sociais que procuram abordá-los, basicamente, em dois tipos:
movimento social clássico e movimento social novo. Sem incluirmos aqui, em termos de
90
tipologia, ao que Gohn (2015) chama de novíssimos movimentos sociais33, desencadeados a
partir das últimas manifestações ocorridas no Brasil em junho de 2013.
3.3 Tipos de movimento social
a) Movimento social clássico ou tradicional
Os movimentos clássicos ou tradicionais são aqueles ligados às lutas de classe
originadas da contradição entre capital e trabalho. Especificamente, os movimentos sindicais e
trabalhistas que enfrentam o capital com o objetivo imediato de suprimir, diminuir a exploração;
e os movimentos de libertação nacional socialistas ou anti-imperialistas que almejam à
superação da ordem vigente (MONTAÑO; DURIGUETO, 2011).
Partindo da teoria social marxista o movimento social clássico ou tradicional se
caracterizou devido às lutas de classes, entre capital burguês e proletariados. Esses últimos
procuravam suprimir o sistema alienante, visto que o capitalismo possuía os meios e os modos
de produção. Enquanto o trabalhador possuía apenas a sua força de trabalho e lutava para
suprimir do sistema capitalista os modos de produção. Dessa forma, origina-se um conflito
social fundamentado no antagonismo entre classes. Fundamentalmente este tipo de movimento
social girava em torno de movimentos operários e sindicais, sendo organizados a partir da
dimensão do trabalho.
Em “Manifesto do Partido Comunista”, Karl Marx e Friedrich Engels (2001), afirmam
que o proletariado passa por várias fases e a sua luta contra a burguesia começa
concomitantemente com o nascimento de ambos. Num primeiro momento os proletários entram
em luta isoladamente, depois se unem com proletários de uma mesma fábrica, depois com
proletários de um mesmo setor industrial contra um mesmo burguês que os explora. Os ataques
dentro das fábricas vão além das relações burguesas de produção, pois passam a destruir as
próprias máquinas. “O proletariado, a camada mais baixa da sociedade atual, não pode erguer-
se, recuperar-se, sem estilhaçar toda a superestrutura de estratos que constituem a sociedade
oficial” (MARX; ENGELS 2001, p.43).
As lutas políticas e ideológicas, como as evidenciadas pela classe trabalhadora retratada
na dicotomia entre donos dos meios de produção e proletários, ao longo do tempo abriram
33 Negação política, horizontalidade, Estado eficiente, políticas públicas de qualidade são algumas das
características apontadas por Gohn (2015) para categorizar essa forma de organização dos movimentos sociais na
atualidade.
91
espaço para questionamentos identitários e culturais. Sendo assim, na atualidade outros setores
da vida social vão sendo abarcados e o sujeito passa a se perceber e a ser percebido no mundo,
não somente pelas vias de suas relações de produção, mas a partir de suas identidades.
(BAUMAN, 2005; HALL, 2005; TOURAINE, 2006). Não obstante, ao assumir identidades
diversas daquelas relacionada às lutas de classe social, negros, indígenas, feministas,
ambientalistas, imigrantes, entre outros atores políticos, entram em cena na luta por seus direitos
de cidadania complementando ou evidenciando as lutas políticas e ideológicas. A seguir,
abordaremos os arranjos dos novos movimentos sociais.
b) Movimento social novo
Os chamados novos movimentos sociais (NMS) (Peruzzo, 2004; Gohn, 2012; Montãno
e Duriguetto, 2011) são aqueles que entram em cena com o fim do regime militar, denunciando,
resistindo e fazendo reivindicações pelos seus direitos. De acordo com Peruzzo (2004, p.31) os
movimentos podem ser caracterizados como “novos pelas características historicamente
diferenciadas que incorporam [...] e não enquanto formatos específicos para expressar o
protesto e encaminhar demandas, pois nessa perspectiva existiram ao longo de toda a história”.
Seguindo essa linha de argumentação a sociedade brasileira está em constante mudança, através
do conflito de forças contrárias que, por vezes, se repelem ou confluem, dando origem ao
“novo”.
Os chamados novos movimentos sociais que surgem principalmente a partir do século
XX objetivam ser um complemento e um somatório às lutas de classes dos movimentos
clássicos, e por outro lado, também são vistos como alternativos aos movimentos de classe
tradicionais, assim como aos partidos políticos de esquerda, (MONTAÑO; DURIGUETTO,
2011, p.248). Para ilustrar, o movimento social novo pode emergir a partir de uma luta
específica ou por um bem comum. O aparecimento de lutas por causas ecológicas voltadas para
a preservação da natureza, por exemplo, indubitavelmente vai beneficiar a sociedade, mesmo
que o interesse seja de alguma parcela específica de sujeitos sociais. Aparentemente, não existe
no movimento ecológico, por exemplo, um antagonismo, a ideia é favorecer a todos numa
perspectiva horizontal. O crescimento do movimento vai levar o bem a todos, mesmo que haja
algum indivíduo contra. O movimento LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais), também pode ser citado como um movimento novo, pois pretende o
reconhecimento de seus direitos, ou seja, iguais aos dos heterossexuais.
92
Montaño e Duriguetto (2011, p.248) questionam o adjetivo “novos” para tratar dos
movimentos sociais contemporâneos. No contexto latino-americano organizações, movimentos
e sujeitos sociais pautam suas ações, demandas e lutas a partir de um emaranhado de temas e
questões. Ou seja, a luta dos sem-terra, dos negros, das mulheres etc. é tão antiga como a própria
contradição do capital/trabalho. Nesse sentido, mais do que substituir as lutas de classes, os
chamados NMS as complementam nas variadas formas e com distintos tipos de amarração,
direta ou indireta, consciente ou não (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p.343).
Além de não concordarem com as interpretações teóricas de que os sujeitos coletivos
que lutam na contemporaneidade contra a dominação e a exploração capitalista ou contra o seu
sistema cultural sejam qualificados como novos sujeitos políticos. Eles defendem que o
aparecimento dos movimentos sociais na contemporaneidade ampliou o campo da política e
das práticas políticas em detrimento do abandono pelas causas culturais, conforme demonstra
a abordagem culturalista (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p.342).
Notadamente parte da literatura sobre os movimentos sociais na América Latina destaca
que eles constroem sujeitos sociopolíticos (GOHN, 2012, p. 120). Na atualidade, Gohn (2012,
2013) destaca a reconfiguração do sujeito político militante, em ativista ou mais recentemente,
manifestante. A nosso ver, são sujeitos sociopolíticos em sua essência, pois mesmo que não
haja uma consciência política latente, existe o desejo pela mudança, seja de ordem estrutural ou
não. Além da crítica às interpretações culturalistas conforme vimos, Montaño e Duriguetto
(2011, p.323), atribuem às teorizações pós-modernas, a ideia de que os movimentos sociais
interpretados por esta abordagem deixam de se basear em uma identidade de classe e que
tampouco lutam contra a exploração.
Assim, o que moveria as ações dos movimentos sociais na interpretação pós-moderna
para Montaño e Duriguetto (2011, p.323) “seriam as lutas no cotidiano contra as opressões
diversas que suas identidades são alvo, e até o enfrentamento conjunto (parceria entre classes)
a certos fenômenos (ex.: a fome, o aquecimento global etc.)”.
O francês Alain Touraine é um dos autores mencionados por Montaño e Duriguetto
(2011) ao destacar que movimento social é uma categoria de análise sociológica que comporta
ao menos três elementos, ator, adversário e tema de conflito. Nesta visão pós-moderna ou
acionista de analisar os movimentos sociais, Touraine (2011) desconsidera a centralidade da
luta de classes e a contradição entre capital e trabalho, ou seja, a estrutura e as contradições do
sistema capitalista não comparecem em sua apreciação como condições determinantes na
perspectiva de análise marxista (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p.342).
93
Touraine (2006, p.18), a sua vez, adverte não denominar qualquer tipo de ação coletiva
com a noção de movimento social, porquanto, é importante reservar o emprego da categoria
“movimentos sociais” ao conjunto de fenômenos que recebem esse nome no decorrer de uma
longa trajetória histórica.
Entendo que uma relação social de dominação só pode suscitar uma ação que
mereça o nome de movimento social se atuar sobre o conjunto dos principais
aspectos da vida social, ultrapassando as condições de produção em um setor,
de comércio ou de troca ou, ainda, a influência exercida sobre os sistemas de
informação e de educação. O amplo recurso feito à noção de capitalismo,
apesar da polissemia desse termo, indica bem o espírito com que foram
conduzidos os estudos clássicos sobre os movimentos sociais. Trata-se de
estudar os movimentos que colocam em questão condições particulares, isto
é, em domínios socialmente definidos, uma dominação que, em sua natureza
e em suas aplicações, tem um impacto geral (TOURAINE, 2006, p.18).
Para Montaño e Duriguetto (2011, p.270) as mudanças estruturais da sociedade
brasileira, tais como a industrialização, a urbanização, o aumento das migrações e a expansão
do trabalho assalariado contribuíram para alterar as formas de inserção sociopolítica dos
operários urbanos, do campesinato e das classes médias. Vão apontar também que é nesse
contexto de mudança estrutural que surge no país um novo tipo de sindicalismo34, uma
diversidade de movimentos sociais urbanos e do campo.
No tocante ao estudo dos movimentos sociais concebidos enquanto manifestações das
classes “populares” (PERUZZO, 2004, p.31), eles tomam uma forma heterogênea que vai desde
o subemprego, ao biscate, ao trabalhador informal, ao boia-fria, ao posseiro, ao acampado etc.
já que, na visão de Peruzzo (2004, p.31), eles precisam ser vistos além do enfoque da produção
e do trabalho. Embora percebermos os movimentos sociais a luz do trabalho - em suas
potencialidades criativas -, não subjugamos os atravessamentos culturais que também os
constitui. A emergência desse “novo”, é o próprio resultado das condições de possibilidade da
luta histórica, tangenciada pelo modo de produção capitalista. Só que, no tempo presente, o
capital busca outras moradas, outras formas de apropriação da força de trabalho e acaba por
investir na própria vida social, como veremos mais adiante quando tratarmos da categoria
teórica multidão.
34 Na década de 1980 o movimento sindical passa a ser visto por duas vertentes. De um lado os sindicalistas
autênticos e os que faziam parte da unidade sindical ou os chamados reformistas. Para os sindicalistas autênticos
é a noção de classes que prevalecia, ou seja, a contradição entre patrões e trabalhadores. Tendo a luta sindical
como objetivo para a construção do socialismo. Já a vertente dos reformistas priorizava pequenas alterações da
estrutura sindical, como o encaminhando das reivindicações dos trabalhadores na política vigente, defendendo
uma política de conciliação de classes (MONTAÑO; DURIGUETO, 2011, p.241-242).
94
Ainda assim, Peruzzo (2004) destaca os principais fatores que contribuíram para o
surgimento dos novos movimentos, após 21 anos de ditadura (1964-1985), nos quais as classes
subalternas foram apartadas do acesso aos diretos de cidadania. São eles:
a espoliação concreta das classes subalternas, refletida na degradação das
condições de vida (não consideradas em si mesmas, mas enquanto
potencialmente alimentadoras de reivindicações); a compreensão emergente
da população quanto à precariedade de sua existência e às suas privações; a
percepção da necessidade de ação coletiva para interferir nos processos
decisórios do poder público e das empresas privadas; o momento político
global, acenando com uma abertura relativa, e o apoio encontrado na
sociedade civil, principalmente de setores da Igreja Católica e de outras
instituições atentas aos direitos da pessoa humana (PERUZZO, 2004, p.30-
31).
Nesse aspecto a degradação das condições de vida das classes subalternas se configura
devido às privações que elas passaram e vêm passando ao longo da história. E na medida em
que essas classes começam a perceber suas necessidades formam uma ação coletiva com o
objetivo de interferir em tais processos.
95
3.4 Cronologia dos movimentos sociais brasileiros
Uma perspectiva para abordar os movimentos sociais brasileiros, desde suas origens
históricas, é a partir de sua cronologia:
Fonte: Autoria própria Fonte: Autoria própria
Fonte: Autoria própria
96
Outra perspectiva é a partir de quatro momentos históricos importantes que marcaram o Brasil
no âmbito de manifestações por um país mais democrático, são eles:
Fonte: Autoria própria
Ou ainda, mais especificamente, a partir de eixos temáticos, conforme veremos no tópico
seguinte.
3.4.1 Eixos temáticos dos movimentos sociais brasileiros
Tomando por base a realidade brasileira, Cicilia Peruzzo (2014, p.52-53) recentemente
revê a tipologia aplicada anteriormente às análises dos movimentos sociais brasileiros. A autora
sintetiza o universo dos movimentos sociais em quatro grandes áreas,35 e os identifica a partir
de fatores que os estimulam ou orientam sua razão de existir. São eles:
1. Movimentos vinculados a melhorias nas condições de trabalho e de remuneração
(movimento de professores e outras categorias profissionais).
35 Em “Comunicação nos movimentos Populares” Peruzzo (2004) agrupava os movimentos sociais da seguinte
forma: ligados aos bens de consumo coletivo; envolvidos na questão da terra; relacionados com as condições gerais
de vida; motivados por desigualdades culturais; dedicados à questão trabalhista; voltados à defesa dos direitos
humanos; vinculados a problemas específicos.
97
2. Os que defendem os direitos humanos relativos a segmentos sociais a partir de
determinadas características de natureza humana (gênero, idade, raça, cor – como, por
exemplo, o movimento de mulheres, dos índios, dos negros, dos homossexuais, das
crianças etc. Exemplos: Movimento de Mulheres, Meninos e Meninos de Rua etc.).
3. Aqueles voltados a resolver problemas decorrentes das desigualdades que afetam
grandes contingentes populacionais (movimentos de transporte, moradia, terra, saúde,
lazer, meio ambiente, paz, contra a violência, defesa dos animais etc. Exemplos,
Movimento Nacional pela Moradia, Movimento Passe Livre e Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra). Alguns são apoiados por instituições que os
incentivam ou os abrigam, tais como igreja, partido político, escola e universidades, a
exemplo da Pastoral da Terra e do Movimento Fé e Política.
4. Movimentos político-ideológicos (lutas por participação política, protestos por
antagonismos políticos, reivindicações por democracia, mudança de regime etc.).
Já Maria da Glória Gohn (2013, p.44) mapeia o cenário dos movimentos sociais na
atualidade brasileira da seguinte forma:
1. Movimentos sociais ao redor da questão urbana.
2. Movimentos em torno da questão do meio ambiente: urbano e rural.
3. Movimentos identitários e culturais: gênero, etnia, gerações.
4. Movimentos de demandas na área do direito.
5. Movimentos ao redor da questão da fome.
6. Mobilizações e movimentos sociais – área do trabalho.
7. Movimentos decorrentes de questões religiosas.
8. Mobilizações e movimentos rurais.
9. Movimentos sociais no setor de comunicações.
10. Movimentos sociais globais.
Ambas as autoras tratam da grande diversidade dos movimentos sociais e afirmam que
tais tipologias ou eixos temáticos podem ser compreendidos de forma ocasional e pode haver
também imbricações entre um e outro movimento. Realizamos o exercício de correlacionar as
autoras a fim de identificar as confluências existentes no pensamento de ambas, o que está
sistematizado no quadro a seguir:
98
Quadro 4 – Eixos temáticos dos movimentos sociais
Peruzzo (2014) Gohn (2013)
Movimentos vinculados a melhorias nas
condições de trabalho e de remuneração
(movimento de professores e outras categorias
profissionais).
Movimentos de demandas na área do
direito
Mobilizações e movimentos sociais – área
do trabalho.
Os que defendem os direitos humanos relativos
a segmentos sociais a partir de determinadas
características de natureza humana (gênero,
idade, raça, cor – como, por exemplo, o
movimento de mulheres, dos índios, dos
negros, dos homossexuais, das crianças etc.
Exemplos: Movimento de Mulheres, Meninos e
Meninos de Rua etc.).
Movimentos identitários e culturais: gênero,
etnia, gerações.
Movimentos de demandas na área do
direito
Aqueles voltados a resolver problemas
decorrentes das desigualdades que afetam
grandes contingentes populacionais
(movimentos de transporte, moradia, terra,
saúde, lazer, meio ambiente, paz, contra a
violência, defesa dos animais etc. Exemplos,
Movimento Nacional pela Moradia,
Movimento Passe Livre e Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra). Alguns são
apoiados por instituições que os incentivam ou
os abrigam, tais como igreja, partido político,
escola e universidades, a exemplo da Pastoral
da Terra e do Movimento Fé e Política.
Movimentos sociais ao redor da questão
urbana
Movimentos em torno da questão do meio
ambiente: urbano e rural.
Movimentos ao redor da questão da fome.
Movimentos decorrentes de questões
religiosas.
Mobilizações e movimentos rurais.
Movimentos sociais no setor de
comunicações.
movimentos político-ideológicos (lutas por
participação política, protestos por
antagonismos políticos, reivindicações por
democracia, mudança de regime etc.).
Mobilizações e movimentos rurais.
Movimentos sociais no setor de
comunicações.
Movimentos sociais globais.
Fonte: autoria própria
Os movimentos identificados por Gohn (2013) negritados, estão assim sinalizados por
se enquadrarem em mais de uma categoria definida por Peruzzo. Para a realização do nosso
mapeamento apoiamo-nos nas categorias descritas por Gohn. Assim, os 10 eixos temáticos
categorizados por esta autora nos permitem uma visão mais ampla e didática do cenário, além
de conter novas abordagens teóricas a respeito da categoria movimento social. Especialmente,
ao incluir os estudos de Hardt e Negri (2000; 2005), que tratam sobre a temática da democracia
em escala global e resgatam o conceito de multidão, pensando por David Riesman, sociólogo
americano, na década de 1950, que veremos em tópicos seguintes.
99
Cabe demonstrar na atualidade a importância crescente entre movimentos sociais e as
redes, particularmente, atrelada à democracia e à noção de multidão. No entanto, com
encurtamento entre tempo espaço provocado pelo desenvolvimento dos meios de comunicação
e transporte faz-se necessário refletir sobre as novas configurações acerca de redes. Conforme
adverte Bauman (2016), a rede faz parte de nós, contudo, resta-nos saber qual o significado
corrente e quais os usos que são feitos deste termo tão antigo, e ao mesmo tempo tão
contemporâneo.
Em contrapartida, antes de abordarmos as categorias de análises sobre os movimentos
sociais brasileiros na contemporaneidade, faremos um breve resumo dos processos que
marcaram sua ascensão ou transformação ocorridos nas últimas décadas do século XX até o
momento. Sumariamente, vejamos:
A partir da década de 1960 eclode no Brasil movimentos operários e sindicais, com
grande influência de partidos políticos de esquerda. Surge também o movimento de mulheres,
e em seu interior, o movimento feminista.
Nas décadas de 1970 e 1980 o debate teórico sobre os movimentos sociais os apresenta
enquanto forças propulsoras capazes de realizar transformações sociais.
A partir da década de 1990 os movimentos sociais, inclusive, os populares, tornaram-
se mais culturais e menos políticos, devido às alterações de suas práticas cotidianas e em
detrimento da nova conjuntura econômica, política e cultural, oriunda do neoliberalismo
adotado pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso à época.
Com a chegada dos anos 2000 as práticas cotidianas dos movimentos giram em torno
da manutenção de suas identidades e de novas lutas, também globais. Outro ponto importante
é a chegada da internet, promovendo inicialmente, uma releitura da relação verticalizada entre
emissor e receptor. Inclusive do plano econômico, pois o Brasil começa a sofrer às
consequências da crise europeia de 2008.
No ano de 2013 o acesso à internet por meio de dispositivos móveis aumentou
expressivamente36, em paralelo aos protestos ocorridos no Brasil em 2013, desencadeado pelo
Movimento Passe Livre (MPL).
No entanto, um fator que vai transcorrer quase 40 décadas na teoria e prática concreta
dos movimentos sociais é a sua relação com a trabalho. Montãno e Duriguetto (2011, p.127)
apontam a questão da luta de classes, em sua centralidade, não por serem mais importantes que
36 É o que demonstra a pesquisa da 13ª edição do F/Radar sobre internet realizado pela F/Nazca Saatchi & Saatchi
em parceria com o Instituto Datafolha.
100
outras lutas tais como as identitárias, étnicas, de gênero etc., mas no sentido de que tais lutas
não são caracterizadas pelo sistema que comanda o capital, pois o capitalismo pode “se
perpetuar mesmo resolvendo a discriminação racial, de orientação sexual, de gênero”. Neste
aspecto, recorremos a Hardt e Negri (2014) ao apontarem a riqueza do trabalho, unívoco de
potencialidade criativa humana.
Por ventura, todos os movimentos sociais são importantes e desempenham papel
específico na sociedade civil, entretanto, pensá-los a partir da perspectiva do trabalho -
econômico, alienante, filosófico, criativo, imaterial etc.- é ter um olhar que busca as condições
de possibilidade do próprio surgimento de cada movimento social em sua historicidade no
Brasil.
Adiante discutiremos acerca de algumas categorias que perpassam a dimensão das ações
coletivas no Brasil neste último século, úteis para a nossa reflexão. Inclusive, para evidenciar
que é a própria dinâmica cultural dos grupos sociais no decurso da história que vai alterando
percepções, práticas e modos de atuação dos grupos sociais. E que, consequentemente os
possibilita retroceder, avançar ou permanecer em suas posições (BOURDIEU, 2004). A
compreensão do estado de coisas passa por este reconhecimento das transformações realidade
vivida por estes grupos ao longo da história.
3.5 Categorias de análise dos movimentos sociais
Gohn (2013) ao traçar o mapeamento sobre redes de mobilização e participação da
sociedade civil brasileira ao longo de três décadas faz algumas observações, das quais
destacamos o processo dialético presente. As mobilizações deste último século sofrem
modificações no agenciamento de seus aspectos políticos e ideológicos, que outrora, balizavam
reivindicações e demandas específicas da sociedade civil organizada. Assim, o caráter político
e ideológico que pautava a grande maioria dos movimentos e das mobilizações abre o leque
para a defesa da ampliação da diversidade humana como cor, raça, idade, gênero etc. Ao realizar
um balanço sobre a participação da sociedade civil no processo de mudança, justiça social,
emancipação e autonomia dos sujeitos, Gohn (2013) também destaca o lado regulatório do
controle social em busca de uma suposta coesão social.
O fato dos movimentos sociais se apresentarem mais políticos ou culturais em um
determinado momento histórico não os desqualifica como movimento, ao contrário, demonstra
a diversidade e a alteridade presente na luta social. Consequentemente, a relação entre
101
movimentos sociais e outros tipos de associativismo, e até mesmo a criação de novas formas de
atuação, revela o próprio percurso traçado pelos agentes sociais que se envolvem em algum tipo
de luta social. Logo, algumas lutas se desdobram na criação de associações, cooperativas,
ONGs, fóruns e demais configurações necessárias para atender o objetivo que o grupo almeja
em determinada conjuntura. As políticas sociais, segundo Gohn (2013, p.23), têm feito recortes
no campo social ao separar os pobres em categorias que vai dos miseráveis, aos mais excluídos
aqueles em situação de risco. Segundo a socióloga, tal recorte exacerbou os conflitos porque a
pobreza deixou de ser uma única categoria e passou a ser subdividida.
Sem dúvida, algumas políticas sociais que viabilizam, em partes, tais processos
deveriam estar alinhados ao reconhecimento pleno dos direitos humanos. Mas na prática não
chegam a ultrapassar a certo tipo de assistencialismo, muito embora, beneficiem parte da
população alijada de seus direitos. Ainda nesse aspecto, o controle social criado no entorno
desse tipo de política prima pela mudança no status do pobre, ou seja, ele passa a ser subdivido
em estratos, mas continua com a mesma consciência social.
Segundo Gohn (2012, p.45) parte dos analistas que utilizam novas categorias para definir
os movimentos sociais não estão preocupados com a análise dos movimentos sociais clássicos
ou que atuem sobre os conflitos sociais, conforme vimos. A preocupação está em torno das
mobilizações estimuladas por projetos e programas desenvolvidos por ONGs, fundações ou por
políticas públicas.
A categoria movimento social na leitura de Gohn (2013, p.28) tem sido substituída, na
abordagem de vários analistas pela de mobilização social, que também gera uma sigla M.S.,
voltada para a ação coletiva que objetiva resolver problemas sociais, diretamente, via a
mobilização e engajamento de pessoas. Nestas abordagens a dimensão do político é esquecida
ou negada, substituída por um tipo de participação, construída-induzida. “E a dimensão do
político é o espaço possível de construção histórica, de análise da tensão existente entre os
diferentes sujeitos e agentes sociopolíticos em cena” (GOHN, 2013, p.28).
A mobilização social na ótica de Gohn (2013) ganha força a partir de políticas
globalizadas, e como já pontuamos o que se observa é que as atuais mobilizações são menos
focadas em pressupostos ideológicos e políticos e mais focadas nos vínculos sociais
comunitários organizados segundo critérios de cor, raça, idade, gênero, habilidades e
capacidades humanas. Contudo, uma preocupação latente da autora é a ideia de que os cidadãos
são elevados ao nível de participantes de políticas públicas, no qual o termo movimento aparece
como resultado de uma ação e não como sujeito principal (GOHN, 2013, p.36-37).
102
Ao discutir o associativismo civil no Brasil Gohn (2013, p.15), comenta que
mobilizações sociais e redes são umas das categorias de análise mais empregadas neste campo.
Peruzzo (2004) e Gohn (2013) observam além da emergência de temas globais, as ações
comunitárias e também as políticas públicas impulsionadas pelas ONGs e pelo próprio diálogo
com os movimentos sociais, anuindo articulações e parcerias, conforme vimos.
Ainda assim, há que se resguardar os papeis desempenhados pelos movimentos sociais
e associações congêneres mediante o Estado ao longo de suas trajetórias. É sabido que recursos
financeiros são escassos para a maioria dos movimentos, associações e entidades a eles
relacionados, nesse diapasão, os movimentos se articulam em redes, participam de editais
públicos, formam parceiras, inclusive, com este mesmo Estado que exclui e separa.
O uso indiscriminado de termos novos na busca do moderno pode estar deixando de
lado outras categorias importantes como articulações, processos, relações etc., adverte Gohn
(2013). Para a autora a questão é complexa e diz respeito à luta política e cultural de diferentes
grupos sociais, “na busca de ressignificação dos conceitos e criação de novas representações e
imagens sobre a sociedade” (GOHN, 2013, p.34-35).
Já para Peruzzo (2004, p.40) parte do debate teórico sobre os movimentos sociais não
reflete suas práticas concretas, pois eles passam por momentos diferenciados ao longo da
história:
a. Mobilização
Fase das grandes manifestações, nas quais a população passou a ocupar ruas e praças
para fazer oposição ao regime vigente, denúncias e reivindicações. O apoio à greve dos
metalúrgicos do ABCD paulista no ano de 1970, é um dos exemplos citados por
Peruzzo.
b. Organização
Em um segundo momento, os movimentos sociais se dedicam mais à sua própria
organização.
Comissões converteram-se em associações, centenas de organizações de todo
tipo foram surgindo pelo País e as atividades tornaram-se mais específicas e
localizadas. Grandes esforços foram canalizados para o fortalecimento interno
dos movimentos, envolvendo sua institucionalização (estatutos, sede etc.), a
conscientização, mobilização e formação política dos participantes, além de
ações coletivas (assembleias, audiências) (PERUZZO, 2004, p.41).
Nesta fase estavam ocorrendo mudanças na forma e na qualidade da atuação dos
movimentos sociais, por causa da conjuntura política do período que permitia maior liberdade
de expressão. Peruzzo (2004) faz alguns destaques: eles já não eram mais considerados casos
103
de “polícia”; políticos passaram a usar as bandeiras da participação popular e de governo
democrático; geraram-se iniciativas coletivas como a implementação de hortas comunitárias,
centros de produção artesanal etc. para atender às famílias de baixa renda. Outro destaque
importante para nossa empreitada diz respeito a continuidade desses movimentos, pois muitos
ao cumprir os seus papeis simplesmente deixaram e deixam de existir, enquanto outros foram
se transformando e dando origem a outros movimentos.
c. Articulação
Os movimentos sociais no final da década de 1980 e início dos anos de 1990 estavam
se tornando mais abrangentes, surgindo federações de associações de moradores e os conselhos
municipais, por exemplo. No ano de 1994 a Central dos movimentos Populares (CMP) surge
como uma grande articuladora de entidades populares no âmbito nacional. Nessa fase, os
movimentos passam a dialogar com o governo, o que outrora, era impraticável. A criação e
participação das pessoas em conselhos populares fortaleceu a participação direta nos assuntos
relacionados à gestão pública de munícipios, por exemplo, abriu caminho para uma participação
direta das organizações. Assim, o Estado passa a reconhecer e legitimar a representatividade
das organizações sociais.
d. Parcerias
As parcerias são fortalecidas e ampliadas em busca da resolução de problemas concretos
apresentados pela sociedade. Os movimentos sociais formam parceiras com órgãos públicos,
fundações, ONGs e outras instituições, dessa forma a participação deles torna-se mais efetiva,
na medida em que canais são criados para promover a apresentação de propostas, para o apoio
na elaboração de projetos e programas para uma política pública efetiva, entre outros. Não
obstante, Peruzzo (2004, p.43) enfatiza que “essa é uma fase em que os movimentos são mais
pluralistas, ao mesmo tempo em que, cada vez mais, se acentuam os interesses dos partidos
políticos e se acirram os conflitos em seu interior”. Ainda assim, é oportuno destacar a atuação
dos conselhos populares envolvidos com temáticas específicas.
Destarte, a criação de conselhos municipais propostos pela sociedade civil organizada
(conselho de saúde, conselho de assistência social, conselho da mulher, conselho de portadores
de necessidades especiais etc.), cujas principais atribuições são propor diretrizes das políticas
públicas, fiscalizar, controlar e deliberar a atuação de dessas políticas. A representação dos
conselhos se dá por meio do poder executivo, legislativo e da sociedade civil organizada, com
poder de voto nas tomadas de decisões. De acordo com Peruzzo (2004, p.43), este é um dos
grandes marcos dessa fase pela qual os movimentos passam.
104
Adiante traremos da categoria de análise redes a fim de verificar as suas elaborações e
interpretações no estudo de movimentos sociais. Frisamos no início do texto que nossa
empreitada teórica seguiria uma armação focada em conceitos e temas que pudessem compor a
abordagem dos movimentos sociais na atualidade. Por conseguinte, rede faz parte deste
complexo universo de conceitos que adentram as ciências sociais e humanas para tratar das
relações e processos existentes entre grupos sociais, conforme veremos a seguir.
3.5.1 Redes
O conceito de redes sociais é complexo e amplo. A formação de redes é uma prática
humana muito antiga em virtude da necessidade de interação social e compartilhamento com o
outro. Dentre as categorias teóricas utilizadas nos estudos atuais sobre os movimentos sociais
apontadas por Gohn (2013, p.32) destaca-se a categoria rede. Para a autora rede social passa a
ter, na atualidade, para vários pesquisadores, um papel mais importante do que o movimento
social.
A categoria rede é utilizada em diferentes sentidos e constitui-se em certo modismo
conforme Gohn, ela é importante na análise das relações sociais, tais como “território” e
“comunidade” porque permite a leitura da diversidade sociocultural e política existente nessas
relações. A autora aponta que tanto nas ciências exatas, quanto nas ciências humanas e
biológicas a ideia de rede não é nova. Nestas últimas os estudos datam dos anos de 1920, na
análise dos ciclos de vida, das teias alimentares etc. Nas ciências sociais o uso de redes sociais
também é antigo, já se falava em redes desde os anos de 1980.
Atualmente a categoria rede é utilizada como instrumento de análise e articulação de
políticas sociais. Scherer-Warren (2005) é uma analista que vem se destacando nos estudos das
redes sociais, a partir da questão da diversidade como forma de retratar a sociedade civil
(GOHN, 2013, p.32). Na prática a categoria rede caracteriza-se por “articular a heterogeneidade
de múltiplos atores coletivos em torno de unidades de referências normativas, relativamente
abertas e plurais (GOHN apud SCHERER-WARREN, 2009, p.515).
Segundo Gohn (2013, p.34), a categoria rede também incorpora várias outras
subcategorias: “circulação, fluxo, troca, intercâmbio de informações, compartilhamento,
intensidade, extensão, colaboração, [...] horizontalidade organizativa, flexibilidade, maior
agilidade etc”. Todavia, o uso indiscriminado de termos novos na busca do moderno pode estar
deixando de lado outras categorias importantes como articulações, processos, relações etc. A
105
socióloga afirma ainda que a questão é complexa e diz respeito à luta política e cultural de
diferentes grupos sociais (GOHN, 2013, p.34 -35).
Sob o ponto de vista de que redes possui várias faces e de que também é palco para uma
diversidade de investigações e perspectivas analíticas, Scherer-Warren (2005, p.9) propõe
analisar o cenário de redes de movimentos, como opção. Para tanto, a autora faz um
mapeamento das abordagens analíticas das ações coletivas na América Latina, demonstrando a
passagem na ênfase das teorias de classe para as teorias dos movimentos sociais. A ideia de
rede para Scherer-Warren (2005, p.9) “implica pensar, desde um ponto de vista epistemológico,
na possibilidade de integração de diversidade”, distinguindo-se, então, da ideia de unidade
totalizadora, comum no pensamento marxista positivista acerca da necessidade de articular
lutas sociais. Ainda assim, para a autora a análise em termos de redes de movimentos pressupõe
mecanismos para articular “o global e o local, entre o particular e o universal, entre o uno e o
diverso, nas interconexões das identidades dos atores com o pluralismo” (SCHERER-
WARREN, 2005, p.9-10).
Em outras palavras, a opção de análise dos movimentos sociais em termos de rede trata
de buscar os significados desses movimentos em um mundo visto cada vez mais como
interdependente, intercomunicativo, onde floresce muitos movimentos de cunho transnacional
(SCHERER-WARREN, 2005). Dentre os quais destacamos os seguintes movimentos: de
direitos humanos, ecologistas, feministas etc. A opção de análise calcada na rede, diz respeito
ao compromisso com os princípios humanísticos que vão permitir “a comunicação, articulação,
intercâmbio e solidariedade entre atores sociais diversos” (SCHERER-WARREN, 2005, p.9-
10). Manuel Castells (2003; 2013), no que lhe concerne, inscreve a noção de rede no cenário
das ferramentas metodológicas ao tratar a sociedade globalizada, inicialmente, como uma rede
de fluxos, e ao avançar em suas proposições teóricas destaca a centralidade da comunicação na
constituição de redes.
3.5.2 Redes de autocomunicação e autonomia
Na perspectiva da comunicação, Manuel Castells (2013, p.11) diz que a mudança basilar
neste âmbito, ocorrida nos últimos anos, está no que ele denominou de autocomunicação, “o
uso da internet e das redes sem fio como plataformas da comunicação digital”. A partir de sua
linha de raciocínio podemos considerar as redes sociais digitais como espaços de autonomia,
muito além do controle de governos e empresas, que, ao longo da história, haviam
106
monopolizado os canais de comunicação como alicerces de seu poder. A partir da segurança
promovida pelo ciberespaço, multidões passaram a ocupar o espaço público para reivindicar
seu direito de fazer história numa “manifestação da autoconsciência que sempre caracterizou
os grandes movimentos sociais” (CASTELLS, 2013, p.10).
Castells (2013, p.11) afirma que “a constituição de redes é operada pelo ato da
comunicação”. Ele define a comunicação como o processo de compartilhar significado pela
troca de informações. Reitera ainda que a principal fonte da produção social de significado é o
processo de comunicação socializada. Essa é parte das premissas de Castells, de que as pessoas,
instituições, a sociedade em geral transforma a tecnologia, apropriando-a, modificando-a,
experimentando-a, como é o caso da internet que, para o sociólogo, é uma tecnologia de
comunicação.
Conforme Castells (2013), a territorialidade física e simbólica dos movimentos sociais
na sociedade é formada pelo espaço híbrido, entre o espaço urbano ocupado e as redes sociais
digitais na internet. A questão é que nesse novo espaço em rede, situado entre os espaços digital
e urbano forma-se um espaço de comunicação autônoma. E autonomia é a quintessência dos
movimentos sociais, “ao permitir que o movimento se forme e possibilitar que ele se relacione
com a sociedade em geral, para além do controle dos detentores do poder, sobre o poder da
comunicação” (CASTELLS, 2013, p.16).
Sobre o argumento anterior, o sociólogo das redes, traz pontos importantes ao questionar
“quando, como e por que uma pessoa ou uma centena de pessoas decidem, individualmente,
fazer uma coisa que foram repetidamente aconselhadas a não fazer porque seriam punidas”
(CASTELLS, 2013, p.17). Em síntese, o entendimento de como esses indivíduos se formam
em rede, primeiro mentalmente, de uns quererem se conectar aos outros, por que são capazes
de fazê-lo, num processo de comunicação que, em última instância, leva à ação coletiva, é
imprescindível.
Contudo, Castells (2013, p.17) diz que a questão premente é que os movimentos sociais
são a chave para a mudança social, para a constituição da sociedade. E para ele, muito mais do
que categorizar movimentos sociais e questionar seu nascimento é preciso compreender o
conjunto de causas estruturais e motivos individuais que os move. Os movimentos sociais são
constituídos de indivíduos, de suas emoções, de seus anseios, de sua subjetividade, de sua
autonomia, acrescentamos especialmente, as singularidades de cada indivíduo.
Andréas Huyssen (2000) entende que as tecnologias da informação e comunicação
sempre transformaram a percepção humana na modernidade. Para Huyssen (2000, p.36),
107
“práticas de memória nacionais e locais contestam os mitos do cibercapitalismo e da
globalização com sua negação de tempo, espaço e lugar”. O autor assegura que foi dessa forma
desde a ferrovia, o telefone, o rádio e o avião e acredita que o mesmo vai acontecer quanto ao
ciberespaço. Aliás, é o que está acontecendo na atualidade, pois vivemos numa intensa
compressão espaço-temporal em que a relação entre passado, presente e futuro está sendo
transformada. E a comunicação mediada pelo computador (CMC), em especial com o suporte
da internet, contribui para este novo e constante ordenamento.
Raquel Recuero (2009) compartilha com Andreas Hyussen a ideia de que as redes
existem muito antes da chegada da internet. Logo, Recuero (2009, p.135) afirma que uma das
primeiras mudanças detectadas pela comunicação mediada pelo computador nas relações
sociais é a transformação da noção de localidade geográfica dessas relações sociais, embora,
assim como Hyussen, aponta que a internet não foi a única responsável por essas
transformações.
Por outro lado, Castells (2003) indica a revolução37 [mutação] da tecnologia da
informação como ponto de partida por sua penetrabilidade em todas as esferas da atividade
humana e afirma que devemos localizar o processo de transformação tecnológica revolucionária
no contexto social em que ele ocorre e pelo qual está sendo moldado. Ele afirma que “a internet
não é simplesmente uma tecnologia; é o meio de comunicação que constitui a forma
organizativa de nossas sociedades” (CASTELLS, 2003, p.287), em outras palavras, a internet
constitui a base material da vida das pessoas, de suas relações cotidianas, de trabalho e
comunicação. Para Castells (2013, p.30) “qual seria o possível legado dos movimentos sociais
em rede ainda em processo? A democracia. Uma nova forma de democracia. Uma antiga
aspiração jamais concretizada da humanidade”. O próximo tópico traz pistas teóricas sobre essa
antiga aspiração da humanidade e coloca em cena os movimentos sociais a partir da categoria
teórica multidão, como forma singular de produção de redes de comunicação e cooperação.
3.6 Multidão multicolorida
Para compor este tópico, abordaremos algumas das principais características sobre a
multidão, que a nosso ver, são importantes e que situam nosso entendimento sobre movimento
social na atualidade. Inserida na corrente histórico-estrutural (GOHN, 2012, p.28) a multidão
37 Preferimos utilizar o termo mutação ao invés de revolução. Revolução implica numa mudança de paradigma,
numa ruptura. Acreditamos que esse processo seja uma mutação tecnológica, como aponta Muniz Sodré (2002).
108
faz parte das novas abordagens teóricas sobre a categoria movimento social. Gohn (2012, p.28)
aponta os estudos de Hardt e Negri (2014) sobre a temática da democracia em escala global e
diz que suas investigações representam um dos principais eixos de pensamento que se posiciona
como de esquerda e que alimenta as práticas dos movimentos sociais.
No entanto, discorrer sobre multidão a partir de autores como David Riesman, Paolo
Virno, Hardt e Negri requer antes de tudo, fôlego e muitas digressões teóricas. Logo, a
abordagem será recortada e direcionada ao sujeito-objeto de estudo desta pesquisa.
O conceito multidão foi debatido inicialmente por David Riesman na década de 1950
tratando da nova classe média nos Estados Unidos. Sob o ponto de vista econômico, político e
psicólogo Riesman faz um detalhado estudo para demonstrar como esses fatores são
engendrados na vida dos indivíduos, juntamente com os processos oriundos da Revolução
Industrial que trouxe significativas mudanças nas formas de vida. “A modernização parece,
destarte, prosseguir com um impacto quase irreversível, e nenhuma tribo ou nação encontrou
um lugar para esconder-se dela” (RIESMAN, 1995, p.43). Tais mudanças são notadas não só
na sociedade americana, mas em toda parte em que há respingos desta moderna civilização.
Um salto entre o pensamento de Riesman e o dos demais autores citados e das décadas
que separam seus estudos, encontramos no meio da caminhada um elo comum, as
singularidades. A partir da seguinte afirmativa, “a ideia de que os homens nascem livres e iguais
é, ao mesmo tempo, verdadeira e enganadora: os homens nascem diferentes. Eles perdem sua
liberdade social e sua autonomia individual quando procuram tornar-se parecidos entre si”
(RIESMAN, 1995, p.379).
Em Paolo Virno (2013, p.60), “[...] o ‘indivíduo social’ é o indivíduo que exibe
abertamente a própria ontogênese, a própria formação (com seus diversos estados ou elementos
constituintes)”. Ou ainda, “a multidão é uma rede de indivíduos. O termo multidão indica um
conjunto de singularidades contingentes” (VIRNO, 2013, p.99). Já em Hardt e Negri (2014,
p.12) a multidão é composta de “inúmeras diferenças internas [...]; diferentes formas de
trabalho; diferentes maneiras de viver; diferentes visões de mundo; e diferentes desejos” e
complementam, “na multidão, as diferenças sociais mantêm-se diferentes, a multidão é
multicolorida” (HARDT; NEGRI, 2014, p.13). Em outras palavras, as diferenças sociais
precisam ser evidenciadas e não vistas na uniformidade.
O ponto de partida de Hardt e Negri (2014) e também de Paolo Virno (2013), gira em
torno da retomada de uma discussão filosófica e política entre os conceitos povo e multidão.
Eles vão abordar a crise do conceito de povo, ligada ao conceito hobbesiano de Estado, até
109
chegar na categoria multidão. Para Virno (2013) tal confrontação é importante por acreditar que
a multidão reemerge, enquanto categoria mais adequada para traçar uma gramática das
inquietudes do homem pós-moderno. Segundo Virno (2013, p.97),
As formas de vida contemporâneas testemunham a dissolução do conceito de
“povo” e da renovada pertinência do conceito de ‘multidão’. Estrelas fixas do
grande debate do século XVII, e encontrando-se na origem de uma boa parte
do nosso léxico ético-político, esses dois conceitos situam-se nas antípodas
um do outro. O ‘povo’ é de natureza centrípeta, converge numa vontade geral,
é a interface ou reflexo do Estado; a ‘multidão’ é plural, foge da unidade
política, não firma pactos com o soberano, não porque não lhe relegue direitos,
mas porque é reativa à obediência, porque tem inclinação para certas formas
de democracia não-representativa.
Porém, não encerram a discussão nessa dicotomia. Virno inclui no debate a força de
trabalho, e o sentido que atribui a este termo é da potência de produzir. Quando faz tal
abordagem está se referindo “a toda classe de faculdade: competência linguística, memória,
mobilidade, etc.” E só hoje a noção de força de trabalho não é redutível, segundo Virno como
na época de Gramsci, a um conjunto de qualidades físicas, mecânicas, mas inclui em si, a ‘vida
da mente’ (VIRNO, 2013, p.61-62). Já Hardt e Negri tratam a questão do trabalho na vertente
da produção imaterial, mais adiante trataremos das duas perspectivas convergentes.
Para Hardt e Negri (2014, p.12-15) numa primeira abordagem é fundamental distinguir
a multidão em termos conceituais, de outras noções de sujeitos sociais, como a de povo, que já
apontamos, além de massas e classe operária. Os autores afirmam que duas características da
multidão são importantes para a contribuição com a possibilidade atual de democracia. São
elas: a produção do comum e a organização política amalgamada com o econômico, social e
cultural. Contudo, para aprofundar às análises sobre o projeto da multidão e as possibilidades
de democracia, os autores travam uma discussão acerca do atual estado de guerra e conflito
global, iniciada com a análise crítica formulada em Império (2001), escrito entre as guerras do
Golfo (1991) e Kosovo (1998).
Certamente não vivemos em uma democracia, como comentam os autores, vivemos
mesmo é no Império, num constante estado de guerra (guerra civil, mundial), que regula as
relações políticas e que investe diretamente na vida social. Sem conflitos políticos não temos
guerra e alcançamos a democracia. A fórmula parece ser simples, porém é complexa e cheia de
contradições. No atual estado de guerra a sua manutenção é tão importante quanto a razão de
existir do Império. As ações dos movimentos sociais são uma resposta às tais práticas
coercitivas de vida.
110
Apresentamos algumas características que nos ajudam a compor a abordagem sobre o
conceito de multidão. A primeira característica diz respeito ao próprio trabalho que por meio
das “transformações da economia, tende a criar redes de cooperação e comunicação e a
funcionar dentro delas. Todo aquele que trabalha com a informação ou o conhecimento – dos
agricultores [...] aos criadores de software” (HARDT; NEGRI, 2014, p.14). Incluindo, segundo
eles, todas as formas de trabalho que criam projetos imateriais, como ideias, imagens, afetos e
relações. Conformando então, a produção biopolítica, pois envolve e afeta todos os aspectos da
vida social. Para os autores (2014, p.15) “esta produção biopolítica e a expansão do comum que
acarreta é um dos pilares em que se assenta hoje a possibilidade de democracia global”.
A segunda característica diz respeito às novas configurações em termos de organização,
que a sua vez, estão mais democráticas, e vai das “formas centralizadas de comando ou ditadura
revolucionária para organizações em rede que deslocam a autoridade para relações
colaborativas” (HARDT; NEGRI, 2014, p.15). Além disso, o desejo pela democracia circula
do nível local ao global, mas sabendo que só desejar e reivindicar não garante sua concretização,
já é um grande passo. Pois, conforme sustentam não devemos subestimar o poder que essas
demandas - queixas e resistências manifestadas contra a atual ordem global - podem ter.
De forma geral, Virno (2013) propõe três aproximações para tratar das determinações
concretas da multidão contemporânea. Tais aproximação são nomeadas de jornadas. Na
primeira jornada se aproxima ao modo de ser dos “muitos”, desde a dialética temor-proteção
de Kant. Ele utilizou palavras-chaves de Hobbes, Kant, Heidegger, Aristóteles com os topoi
Konoi, isto é, os lugares comuns, Marx, Freud (VIRNO, 2013, p.55). Na segunda jornada, o
reconhecimento da multidão contemporânea foi procurado discutindo a justaposição de poiesis
e práxis, Trabalho e Ação política. Os predicados utilizados em relação a isso, foram
encontrados em Hannah Arendt, Glenn Gould, o novelista Luciano Bianciradri, Saussure, Guy
Debord, Marx, Hirschman etc. Na terceira jornada o autor examina outro grupo de conceitos,
desde uma perspectiva diferente sobre a multidão, que segundo ele, está constituída pela forma
da subjetividade.
Os predicados atribuíveis ao sujeito gramatical multidão são: a) O princípio
de individuação, isto é, a antiga questão filosófica que trata sobre que coisa
faz singular a uma singularidade, individual a um indivíduo; b) a noção
foucaultiana de ‘biopolítica’; c) a tonalidade emotiva ou stimmungen, que
qualifica hoje a forma de vida dos muitos: oportunismo e cinismo (atenção:
por tonalidade emotiva não entendo um traço psicológico passageiro, mas uma
relação característica com seu próprio estar no mundo); d) e por fim, dois
fenômenos que, também analisados por Agostinho e Pascal, ascenderam à
111
dignidade de termos filosóficos em Ser e Tempo de Heidegger: a tagarelice
[gerede] e a curiosidade (VIRNO, 2013, p. 55-56).
Dos predicados da multidão apontados por Virno é a noção foucaultiana de biopolítica
que mais nos interessa no momento. Tal noção está dissecada nas análises de Hardt e Negri
(2014, p.135), segundo eles é a forma dominante de produção contemporânea que exerce sua
hegemonia sobre as demais e também: cria bens imateriais como ideias, conhecimento, formas
de comunicação e relações. Nesse trabalho imaterial, a produção ultrapassa os limites da
economia tradicionalmente entendida para investir diretamente a cultura, a sociedade e a
política. O que é produzido, nesse caso, não são apenas bens materiais, mas relações sociais e
formas de vida concretas (HARDT; NEGRI, 2014, p.134-135). É esse tipo de produção que os
autores chamam de biopolítico, para enfatizar o “caráter geral de seus produtos e a maneira
como ele investe diretamente na vida social em sua totalidade” (HARDT; NEGRI, 2014, p.135).
Em outro texto Negri (2006, p.104) diz que biopolítico significa o entrecruzamento do
poder com a vida, a partir da perspectiva foucaultiana de biopoder. Tanto o biopoder quanto a
produção biopolítica investe a vida social em sua totalidade, mas de formas diferentes. O
biopoder está acima da sociedade, como uma autoridade soberana e transcendente e impõe sua
ordem. Já a produção biopolítica é imanente à sociedade, cria relações e formas sociais por
meio da colaboração no trabalho (HARDT; NEGRI, 2014, p.135). Sendo assim, é a produção
biopolítica que entra como pano de fundo na investigação sobre a democracia e que torna clara
a base social para um projeto possível da multidão nos dias de hoje.
Quando introduzem o conceito biopolítico também querem dizer que o entendimento
que tem do trabalho não se limita ao trabalho assalariado, mas refere-se às capacidades criativas
humanas de forma geral. E a nova forma hegemônica que apontamos anteriormente pode ser
entendida como trabalho biopolítico. Segundo Hardt e Negri (2014, p.150) “trabalho que cria
não apenas bens materiais mas também relações e, em última análise, a própria vida social”.
É interessante que na visão dos autores o adjetivo biopolítico indica que as distinções
tradicionais entre o econômico, o político, o social e o cultural já não são tão evidentes.
Igualmente, a biopolítica apresenta uma série de complexidades conceituais que precisam ser
estudadas e aprofundadas. Como, por exemplo, entender a interconexão que os autores fazem
ao situar a imaterialidade no plano da biopolítica à posição hegemônica. Nesse aspecto,
apontam que a principal característica do trabalho imaterial é produzir comunicação, relações
sociais e cooperação (HARDT; NEGRI, 2014, p.156).
Após ter discutido a respeito da constituição dos movimentos sociais, uns, enquanto
agentes propulsores de mudança na sociedade, outros, como fermentadores de ações que, se
112
não buscam a mudança estrutural societária, buscam localmente transformar suas demandas em
ações concretas. Independente dos objetivos que perseguem, eles, os movimentos sociais,
formam uma multidão, que contribuem para a produção biopolítica na sociedade quando
investem seu trabalho na perspectiva da imaterialidade, ou seja, a sua força criativa e criadora
para produzir comunicação, relações sociais e cooperação, tendo em vista, em última instância,
um projeto de democracia.
No próximo capítulo, buscamos discutir como tais movimentos ao longo de sua
constituição histórica utilizam a comunicação como ferramenta intrínseca em seu quefazer.
Além disso, como os processos comunicacionais foram se alterando ao longo do tempo, devido
as transformações tecnológicas provenientes dos processos de globalização. No entanto, cabe
advertir, que nosso intento é sempre buscar o entre, ou seja, uma forma rizomática de
compreender os processos comunicacionais que não se encerram em sua tecnicidade ou mesmo
em sua origem. Compreender o entre é deixar pulular experiências, práticas, com um olhar que
visa às descontinuidades e não a horizontalidade dos acontecimentos. É compreender seus
processos, suas falas, sua comunicação.
113
CAPÍTULO IV – COMUNICAÇÃO E INTERNET NO CONTEXTO DOS
MOVIMENTOS SOCIAIS
Naquele tempo mítico, ao redor do fogo, aquilo era
um congresso cheio de Einsteins e Edisons
(Flusser, 2014, p.70).
Este capítulo contextualiza a comunicação desenvolvida pelos movimentos sociais ao
longo de sua constituição histórica. A saber, como os processos comunicacionais foram se
alterando devido às transformações das tecnologias de informação e comunicação.
Como dito anteriormente, nosso intento é sempre buscar o entre. Ou seja, uma forma rizomática
de compreender os processos comunicacionais que não se encerram em sua tecnicidade, ou
mesmo em sua origem. Compreender o entre é deixar pulular experiências e práticas com um
olhar que visa as descontinuidades e não a horizontalidade dos acontecimentos. É compreender
seus processos, suas falas, sua comunicação.
Além de destacar a internet como espaço híbrido de interlocução dos movimentos
sociais, discutimos as possibilidades da luta democrática em torno das formas tecnológicas de
cidadania. Posiciona também a comunicação popular, alternativa e comunitária como um
espaço privilegiado de hegemonia nas lutas dos grupos subalternizados frente às ideias
dominantes. Outrossim, busca refletir criticamente sobre o uso das tecnologias de informação
e comunicação e a sua implicação nas formas de vida contemporâneas ao suscitar alternativas
para um pé fora das redes.
4 Contexto da internet
A internet, tal qual habitamos e navegamos hoje, tem em sua trajetória a ideia de
descentralizar informações. A rede mundial de computadores, conhecida mais tarde como
internet, passou a ser pensada e desenvolvida entre as décadas de 1950 e 1960 nos Estados
Unidos da América. Esta potência sempre reconheceu o papel primordial da comunicação, tanto
para promover quanto para destituir impérios, sociedades, organizações.
A agência de Defesa dos Estados Unidos – Advanced Research Projetcs Agency -,
conhecida como ARPA, tinha como objetivo desenvolver um sistema que possibilitasse a
ligação de vários computadores geograficamente dispersos um do outro por meio de um
114
conjunto de protocolos denominados de TCP/IP38. Tal investida foi uma estratégia utilizada
durante a Guerra Fria para que as informações do governo pudessem estar descentralizadas,
possibilitando assim, que elas ficassem resguardadas e não fadadas a destruição no período da
guerra. Era também uma alternativa caso os aparatos convencionais de telecomunicações da
época fossem destruídos durante os ataques. Com efeito, esse sistema ficou conhecido como
Arpanet, uma rede de computadores de médio e grande porte. Era, no entanto, uma rede fechada
de comunicação entre computadores da base militar e do centro de pesquisa do governo
americano. Segundo Castells (210, p.13-24) a internet nas décadas de 1970 e 1980, passou a
ser mais explorada não somente no contexto militar, sobretudo, acadêmico. Uma vez que a
tecnologia desenvolvida para a Arpanet foi disponibilizada para as universidades e centros de
pesquisa, a partir daí a internet faz emergir seus primeiros respingos.
Por conseguinte, foi na década de 1990 que a internet começou a cair no gosto
“popular”39. Mas isso só foi possível com a criação do world wide web em 1989, pelo cientista
da informação britânico, Tim Bernes-Lee. O cientista amplia a funcionalidade da internet, ao
introduzir uma linguagem padrão de circulação de dados na rede. Neste momento a internet
passa a ser aberta e as conexões por meio da web passam a configurar parte do mundo dito,
virtual, devido a sua dimensão gráfica e de hipertextos. Mais adiante o virtual será discutido.
Em outras palavras, a internet40 (LÉVY, 2014, p.27) pode ser compreendida como o
conjunto de meios físicos, tais como computadores, roteadores, linhas digitais etc. em conjunto
com o protocolo TCP/IP utilizado para transportar a informação. E que em tese, significa o
conjunto de redes disponíveis por meio de protocolos.
Já a world wide web, conhecida como web, ou simplesmente, www é um, entre os
diversos serviços disponíveis através da internet. Bernes-Lee inaugura a web, tal como a
conhecemos. Como uma coleção de documentos interligados (páginas web), hiperlinks,
hipertextos, hipermídia. Ou seja, a www é uma função da internet que junta, em um único e
imenso hipertexto ou hiperdocumento (imagens e sons), todos os documentos e hipertextos que
a alimentam. Assim, conforme comenta Castells (2010, p.19) “a internet estava privativa e
dotada de uma arquitetura técnica aberta, que permitia a interconexão de todas as redes de
38 A sigla TCP significa Protocolo de Controle de Transmissão (Transmission Control Protocol, em inglês) e o IP
significa Protocolo de Internet (Internet Protocol, em inglês). 39Discutimos brevemente no capítulo anterior algumas ponderações sobre o uso do termo popular. O sentido
empregado aqui é de sua amplitude. 40 Internet, rede e web são termos distintos. Apesar da sua utilização como sinônimos, há que se resguardar as
particularidades de cada um.
115
computadores em qualquer lugar do mundo; a www podia então funcionar com software
adequado, e vários navegadores de uso fácil estavam à disposição do público.”
Segundo Castells (2010, p.19) para a maioria das pessoas, empresários e sociedade em
geral foi em 1995 que a internet nasceu. Mas ele supõe que ela nasceu do improvável
cruzamento da big science, da pesquisa militar e da cultura libertária. Sobre este último aspecto,
Lévy (2014) e Castells (2010) afirmam que a internet se desenvolveu como um grande
movimento de contracultura, em grande parte, devido aos esforços dos acadêmicos que viam
na rede a possibilidade de cooperação e do desenvolvimento de uma rede livre e modificável
por qualquer sujeito envolvido no universo hacker41.
Se partimos do pressuposto inicial de que essência da internet parte da descentralização
de informações, podemos afirmar algumas questões. A primeira, que a “era da informação”
configura novas modalidades de gerar, apreender e compartilhar conhecimentos. A segunda, de
que a descentralização de informações configura uma forma refinada de disputa pelo poder.
A terceira questão que engloba as duas anteriores, é a centralidade da comunicação.
Pode parecer contraditória tal afirmativa, mas não é. Porque se temos de um lado, a internet
como precursora da descentralização de informações num fluxo contínuo, do outro lado, temos
a comunicação como processo constituinte da vida social.
Para o bem ou para o mal a internet está aí, aqui, acolá pronta para ser navegada. Um
computador desktop, um notebook, um smartphone, um tablet - para não falar de outras
interfaces onde ela pode ser disponibilizada. Após contextualizar o surgimento da internet
daremos um passo adiante para elucidar como essa técnica está reestruturando as relações
sociais, econômicas, culturais e políticas da sociedade. Aliás, contemporaneamente conhecida
como sociedade da informação, sociedade em rede, ciberespaço, embora, temos nossas reservas
a certas terminologias por não abarcaram a totalidade do contexto social brasileiro. Seguimos
adiante para reelaborar pistas deixadas por críticos importantes das tecnologias de informação
e comunicação.
]
41 Hackers são pesquisadores do espaço cibernético, geeks ou nerds também são termos atribuídos a eles. Já os
crakers, são considerados os contraventores das redes.
116
4.1 A emergência da técnica
Em cada período histórico homens e mulheres sempre dependeram do uso da técnica
para sobreviver, desde a criação de ferramentas para caçar ou coletar alimentos à construção de
abrigos para se proteger de fenômenos climáticos, por exemplo. Com o desenvolvimento
humano às técnicas de subsistência foram sendo modificadas e transformadas culturalmente.
“Tomaram uma pedra na mão esquerda e outra na direita. Isso já é absolutamente misterioso.
Talharam a pedra e fizeram progressos colossais”, destaca Vilém Flusser (2014, p.69) para
afirmar sua proposta de que todas as revoluções são revoluções técnicas. No entanto, mais
adiante ele reitera que a técnica é neutra, mas exacerbante (FLUSSER, 2014, p.73). Pierre Lévy
(2014, p.25), descreve a técnica como um constructo cultural que, à sua vez, condiciona uma
sociedade ao invés de determiná-la. No tocante a neutralidade da técnica em si, o pensamento
de ambos os autores é divergente. Se para Flusser (2014) a técnica é neutra, para Lévy (2014,
p.26) ela não é boa, nem má e tampouco neutra. Para ilustrar esta afirmação destacamos que:
A invenção do estribo permitiu o desenvolvimento de uma nova forma de
cavalaria pesada, a partir da qual foram construídos o imaginário da cavalaria
e as estruturas políticas e sociais do feudalismo. No entanto, o estribo,
enquanto dispositivo material, não é a ‘causa’ do feudalismo europeu. Não há
uma causa identificável para um estado de fato social ou cultural, mas sim um
conjunto infinitamente complexo e parcialmente indeterminado de processos
em interação que se autossustentam ou se inibem. Podemos dizer em
contrapartida que, sem o estribo, é difícil conceber como cavaleiros com
armaduras ficariam sobre seus cavalos de batalha e atacariam a lança em
riste...O estribo condiciona efetivamente toda a cavalaria e, indiretamente,
todo o feudalismo, mas não os determina (LÉVY, 2014, p.25).
Em nosso entendimento, a técnica carrega em si uma potência. E a forma como ela será
empregada dependerá do contexto cultural e socialmente construído, das relações de poder
estabelecidas e dos usos que serão feitos dela.
As tecnologias são dispositivos de poder que não podem ser desconsiderados.
Ao incorporarem em seu design, em sua arquitetura e em seus códigos as
determinações, interesses e perspectivas daqueles que a desenvolveram, as
tecnologias podem destruir ou ampliar direitos. As tecnologias da informação
e comunicação fazem parte de contenciosos tecnopolíticos. A internet e seus
dispositivos são elementos cruciais das disputas econômicas, sociais e
culturais do século XXI (SILVEIRA, 2017, p.85).
Parafraseando Lévy (2014, p.24), por trás das técnicas agem e reagem ideias, projetos
sociais, interesses econômicos, estratégias de poder e os jogos dos homens em sociedade. A
117
necessidade humana de se comunicar com os pares abriu precedentes para o refinamento da
técnica de comunicar, registrar e compartilhar informações provenientes da cultura. No capítulo
dois falamos sobre o desenvolvimento dos meios de comunicação, da prensa de Gutenberg às
TICCS. E a passos largos temos visto as técnicas de informação e comunicação convergindo
entre si e a cada dia mais interativas42, com as múltiplas formas de interação e comunicação
promovidas pela internet.
4.2 Desconstruir ou reinventar?
O que era técnica culminou em tecnologia. E o que era sociedade, está em vias de
(des)construção. E, agora, imersos numa suposta tecnologização da vida, buscamos
compreender o fenômeno em sua realidade concreta pelas lentes dos movimentos sociais. No
entanto, não é a técnica, technê, enquanto condição material da história que nos interessa, mas
sim as transformações e mediações que ocorrem na estrutura social em decorrência do uso ou
não de determinadas tecnologias, especialmente a internet. Muniz Sodré (2012, p.177) afirma
que qualquer tentativa de descrição definitiva das tecnologias digitais está condenada à rápida
obsolescência, porque essas tecnologias são continuamente emergentes.
4.2.1 Sociedade em rede?
A tecnociência produziu tanto o fogo nuclear como as redes interativas. De um lado,
ameaça de morte enquanto espécie em relação à bomba atômica e de outro, diálogo planetário
em relação às telecomunicações, aponta Lévy (2014, p.16) ao destacar a ambivalência das
técnicas, ao mesmo tempo em que atribui a sociedade qual escolha tomar em relação aos
instrumentos por ela construídos. A sociedade em rede circunscrita neste diálogo planetário
apresenta-se como um ente invisível, porém multifacetado a serviço da financeirização do
capital. De acordo com Muniz Sodré (2014, p.55) “o capitalismo contemporâneo é ao mesmo
tempo financeiro e midiático: financeirização e mídia são as duas faces de uma moeda chamada
sociedade avançada [...]”. Sodré recorre a Marx, em “O Capital” para clarificar a noção de
financeirização. O autor rememora a noção do capital em suas frações distintas, que oscilam
42 Inicialmente a interatividade, ou a comunicação interativa era aquela face a face, via telefone e/ou qualquer
tipo de comunicação que estabelecesse o contato físico entre pessoas, assim como o contato com algum material
impresso do tipo abre e fecha, por exemplo. Hoje, essas definições foram ampliadas com as potencialidades das
TICCS.
118
em termos de correlação de forças. O capital produtivo é aquela fração que gera riquezas
palpáveis ou tangíveis movimentando a cadeia de produção. Outra fração é a do capital
financeiro que consiste na troca com base em títulos de crédito.
Nas palavras de Sodré (2014, p.55), “este capital de empréstimo, que se amplia como
uma parte do lucro obtido pela fração produtiva, foi chamado por Marx de fictício, por que é
de fato uma ficção, a imagem de um capital não efetivamente realizado". Neste contexto o autor,
eleva a financeirização há um novo modo de existência humana, ou seja, que vai corresponder
a um novo modo de ser da riqueza. A isto, Sodré (2014, p.55) tem chamado financeirização "e
o que requer o concurso historicamente inédito da comunicação e da informação”.
Castells (2000, p.427) ao definir a sociedade em rede aponta que ela é “constituída de
redes de produção, poder e experiência, que constroem a cultura da virtualidade nos fluxos
globais os quais, por sua vez transcendem o tempo e o espaço”. Dessa maneira, o autor atribui
o advento da sociedade em rede a reestruturação social provocada pela era da informação.
Silveira (2017), além de destacar o papel determinante das tecnologias na vida de cidadãos,
governos e empresas, aprofunda sua análise na contradição inerente a sociedade informacional.
As sociedades informacionais convivem com arranjos empresariais que
dominam o sistema político levando a situações de grande contradição. Ao
mesmo tempo, quando as práticas discursivas começam a validar a ideia de
que a privacidade é demasiadamente subjetiva e desnecessária, o importante
seria proteger os dados, focalizar a informação e não a ideia que se tem de sua
exposição. Mas, os dados pessoais precisariam estar disponíveis para uso
econômico, enquanto as informações sobre as empresas e sobre os
conhecimentos por ela articulados devem ser guardados e protegidos. Afinal,
há uma concorrência e como o conhecimento é difícil de produzir e fácil de
reproduzir, torna-se necessário controlá-lo e impedir o acesso não autorizado.
Nesse aspecto, sociedades informacionais são dependentes do estado para
garantir a propriedade intelectual. Simultaneamente, são levadas pela lógica
do capital a aceitar a transparência quase total para as informações dos
cidadãos e a opacidade quase completa para os dados e o conhecimento gerado
ou apropriado pelas corporações (SILVEIRA, 2017, p.23).
A sociedade informacional descrita por Silveira (2017, p.20) se constitui com
tecnologias que comunicam e controlam simultaneamente. Esse modelo tecnológico apresenta
consequências sociais, econômicas e políticas que segundo o autor, precisam ser bem
compreendidas. A sociedade informacional exposta acima está sob a égide do capitalismo
contemporâneo, cognitivo, informacional-cognitivo, financeiro e midiático, cujas expressões
são empregadas para designar a mesma lógica.
Não obstante, a sociedade informacional segue a lógica da supremacia cibernética
globalizante sob a nova forma de existência humana citada por Sodré. E que,
119
consequentemente, exerce sob essa nova forma de existência um tipo específico de controle,
quase invisível, camuflado pelas camadas da internet. Segundo Silveira (2017, p.20), estamos
mantendo e reproduzindo relações sociais a partir de um gigantesco sistema de controle de
informações.
A partir do exposto, temos pistas de que a forma refinada na qual se apresenta a
globalização visa a uma reorganização capitalista que continua privilegiando os interesses
financeiros em escala mundial. E, consequentemente, privilegiando a imaterialidade da
comunicação e da informação. De forma análoga a ambivalência descrita por Lévy (2014), mas
não isenta da crítica, para Flusser (2014, p.71) quando existem dúvidas sobre quem é o emissor
e quem é o receptor, e ainda, quando não houver mais sentido fazer essa distinção, estaremos
em um sistema conectado em rede.
Já vimos, no entanto, que a noção de rede é anterior à internet. Vimos também que na
atualidade elas ganharam vida nova, ou seja, transformaram-se em redes de informação
energizadas pela internet (CASTELLS, 2003, p.7). Apresentamos a sociedade de rede como
uma forma avançada de sociedade sob o domínio intangível do capital financeiro. Após
apresentar esta nova configuração societária buscamos certo aprofundamento a partir dos
processos históricos que culminaram na ascensão da internet e seus desdobramentos.
Na visão de Manuel Castells (2003) a internet é uma rede de comunicação global que
se apresenta como tecnologia e também como prática social. O autor chegou a esta conclusão
não antes de investigar três processos independentes ocorridos já no final do século XX e que
foram responsáveis pela ascensão da internet como é conhecida hoje. São eles (CASTELLS,
2003, p.8):
a) As exigências da economia por flexibilidade administrativa e por globalização do
capital, da produção e do comércio.
b) As demandas da sociedade, em que os valores da liberdade individual e da comunicação
aberta se tornaram supremos.
c) Os avanços extraordinários na computação e nas telecomunicações possibilitados pela
revolução microeletrônica.
Para o autor, a aderência desses três processos inaugura uma nova estrutura social,
baseada em redes. Castells (2003, p.8) alega que sob essas condições, a internet tornou-se a
alavanca na transição para uma nova forma de sociedade, que ele chama sociedade de rede e
com ela para uma nova economia, discutida anteriormente.
120
Castells (2003), com sua análise da sociedade e das implicações da tecnologia na vida
das pessoas considera o aspecto da expansão da internet à apropriação capitalista. Ao
correlacionar internet, sociedade e economia reflete sobre a importância de localizar o processo
de transformação tecnológica no contexto social em que ele ocorre e pelo qual está sendo
moldado. Examina também o papel desempenhado pela internet na emergência da nova
economia, que traz à baila a transformação da administração de empresas, os mercados de
capitais, novas formas de trabalho e a inovação tecnológica.
Além da reflexão econômica ele situa sua análise nos aspectos relacionados à expansão
da internet avaliando as formas de sociabilidade online, ao apontar o estudo de formas de
participação do cidadão nas redes, das organizações de base e dos movimentos sociais. Destaca
ainda, que a internet apresenta conflitos relacionados com a liberdade e a privacidade na
interação entre cidadãos, governo e empresas. Esta discussão sobre privacidade, liberdade e
segurança de dados na rede foi recentemente ampliada e debatida por Silveira (2017).
Pierre Lévy (2014), a sua vez, atribui ao mesmo fenômeno da sociedade de rede, o termo
ciberespaço.
O ciberespaço (que também chamarei de ‘rede’) é o novo meio de
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo
especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas
também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os
seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao
neologismo ‘cibercultura’, especifica aqui o conjunto de técnicas (matérias e
intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores
que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço (LÉVY,
2014, p.17).
Lévy (2014, p.13) é considerado um otimista por ele mesmo e por outros teóricos, em
suas análises e faz a seguinte reflexão: “não são os pobres que se opõe à Internet – são aquelas
cujas posições de poder, os privilégios (sobretudo os privilégios culturais) e os monopólios
encontram-se ameaçados pela emergência dessa nova configuração de comunicação”. O que se
percebe é que Castells (2003, 2013) de um lado se ocupa em entender a reorganização da vida
das pessoas que de uma forma ou outra, são afetadas pela sociedade em rede. Enquanto, Lévy
(2014) localiza o ciberespaço na dimensão ambivalente de indivíduos e máquinas, aliás, de
como as pessoas se relacionam, trabalham e produzem comunicação e informação. Para Pierre
Lévy (2014, p.107) “o ciberespaço permite a combinação de vários modos de comunicação”.
Ele já falava em correio eletrônico, conferências eletrônicas, hiperdocumento compartilhado,
sistemas avançados de aprendizagem ou de trabalho cooperativo e também sobre os mundos
virtuais multiusuários.
121
Até aqui nada de novo, talvez a novidade resida na forma com que a sociedade se
apropria desses vários modos de comunicação. O ciberespaço ou a sociedade em rede, como
preferir, se reinventa e junto com ele novas formas de olhar, de mergulhar e interagir nesse
universo. Desde sofisticadas plataformas interativas e de comércio eletrônico, por exemplo, à
criação de uma língua adaptada para a velocidade da internet, a qual palavras são suprimidas,
inventadas ou utilizadas como marcadores culturais por grupos específicos. Esses vários modos
de comunicação sofrem o que Sodré (2014) chama de efeito SIG (simultaneidade,
instantaneidade e globalidade), atravessados pela celeridade virtual.
4.3 Virtual
A palavra virtual evoca muitos sentidos, especialmente, a partir da mutação tecnológica
experienciada na nova forma de estar no mundo da vida. O senso comum dá margem para
entender o virtual como uma simulação da realidade por meio de jogos eletrônicos, estilo
second life, com a criação de avatares, da realidade aumentada etc. Para Lévy, (2014, p.48), o
virtual constitui o traço distintivo da nova face da informação, posto que a cibercultura propaga
a copresença e a interação social de quaisquer pontos “do espaço físico, social ou
informacional”. Ele ainda afirma que o fascínio pela realidade virtual decorre em partes pela
confusão decorrente de três atribuições diferentes à palavra virtual.
Na acepção filosófica, é virtual aquilo que existe apenas em potência e não
em ato, o campo de forças e de problemas que tende a resolver-se em uma
atualização. O virtual encontra-se antes da concretização efetiva ou formal (a
árvore está virtualmente presente no grão). No sentido filosófico, o virtual é
obviamente uma dimensão muito importante da realidade. Mas não uso
corrente, a palavra virtual é muitas vezes empregada para significar a
irrealidade - enquanto a ‘realidade’ pressupõe uma efetivação material,
presença tangível. A expressão ‘realidade virtual’ soa então como um
oxímoro, um passe de mágica misterioso. Em geral acredita-se que uma coisa
deva ser ou real ou virtual, que ela não pode, portanto, possuir as duas
qualidades ao mesmo tempo. Contudo, a rigor, em filosofia o virtual não se
opõe ao real mas sim ao atual: virtualidade e atualidade são apenas dois modos
diferentes da realidade. Se a produção da árvore está na essência do grão, então
a virtualidade da árvore é bastante real (sem que seja, ainda, atual) (LÉVY,
2014, p.49).
Sodré (2006, 2012) apresenta o virtual como uma espécie de prótese da realidade. A
despeito de um novo ordenamento do mundo, ou seja, de um espaço tecnossocial que forja uma
forma virtualizada de vida.
122
Há o real, o virtual (ou potencial), a sua representação (a linguagem) e o
possível. Enquanto estrutura, o real apresenta-se ou se faz ver como um
conjunto de ordenações do homem (intelecção, memória, fantasias,
representações) que pressupõe uma ordem de possíveis, isto é, de tudo que
não implique contradição ou tudo que não repugna existir [S. Tomás de
Aquino] (SODRÉ, 2006, p.123).
Para Vilém Flusser (2014, p.246), quando o conceito de virtual é colocado entre os
conceitos de real e fictício, caminhamos para perceber os deslocamentos entre as possibilidades
que caracterizam nosso entendimento ontológico do mundo. De igual modo, acontece quando
o provável é colocado entre os conceitos de falso e verdadeiro. Em ambos, domínios limítrofes,
podemos atribuir enunciados conceituais e escritos, matemáticos e informáticos. Apesar de
Flusser, não ter acompanhado as evoluções significativas da tecnociência e consequentemente
das profundas alterações no mundo da vida promovidas pelas tecnologias cibernéticas, (2014,
p.96-97), destaca:
Podemos nos deslocar não apenas para as galáxias, mas também para as
partículas das quais é feito o mundo. No caso das partículas, devo dizer que
me desloco para a partícula, se é que a partícula existe. Vou para um espaço
bastante estranho, que se pode formular apenas matematicamente. [...]
Quando me desloco para essa partícula, chego a histórias do tipo: uma
partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, algo que se chama de
salto ‘quântico’. [...]. No cérebro acontecem os mesmos saltos virtuais que no
cosmo. Tanto o cérebro quanto o mundo são um espaço virtual, que é
computado, por um lado, como mundo interior do homem, e por outro, como
cosmo.
A partir da contextualização acima, podemos fazer algumas considerações sobre o
virtual. Ele apresenta-se como uma forma ampliada de estar no mundo, principalmente, no
tocante a dimensão espaço-temporal. Essa dimensão já não existe porque na medida em que
virtualizamos informações, relacionamentos, vida financeira, formação acadêmica
conformamos uma nova existência, e paulatinamente, mais imersos estamos no que Sodré
chama de bios virtual. Já não há mais uma separação fidedigna entre virtualidade e realidade,
como um oximoro, ambas convergem para uma sociedade informacional que ante a noção de
sociabilidade e de encurtamento de distâncias, prioriza o capital e a economia.
Não obstante, a repertório de ações disponibilizados pelo novo padrão comunicacional
de ubiquidade, instantaneidade, interatividade, hipertextualidade etc. estimula o indivíduo a
viver virtualmente e a cada dia estar mais imerso neste universo. Segundo a análise crítica de
Sodré (2012, p.190), essa ambiência “leva o indivíduo a viver virtualmente no espaço imaterial
123
das redes de informação, no bios virtual. O contato aí é mais do que simplesmente virtual – é
tátil, entendido como interação dos sentidos a partir de imagens simuladoras do mundo. ”
Em constante contradição, diríamos, vive-se na rede, busca-se variadas formas de
conexão e interação online, critica-se o isolamento social promovido pelo ciberespaço, critica-
se as relações frouxas e a miríade de amigos feitos e desfeitos nas redes. Ainda assim, não temos
uma alternativa a ela. Corroborando com Castells (2013) já vivemos no espaço híbrido, entre a
presença física e a presença virtual na rede.
4.3.1 Espaço intemporal
Sodré (2012, p.75) relembra que a percepção e a ação humana sobre as coisas do mundo
dependem do espaço e do tempo, nada existe fora desse universo. A compreensão aristotélica
de polis como uma comunidade de lugar, ou seja, como espaço marcado pelo sentido de
transcendência que extrapola a mera sobrevivência em grupo, assim, é percebida mais como
cosmo.
Diferentemente de espaço abstrato, lugar é a localização de um corpo ou de
um objeto, portanto é espaço ocupado. Território, palavra mais moderna, é o
espaço ampliado. Assim, hoje dizemos que território é o espaço afetado pela
presença humana, portanto, um lugar da ação humana. Só que essa localização
não é necessariamente física, pode ser a propriedade comum de um conjunto
de pontos geométricos de um plano ou do espaço. Aí, então, nossa referência
não é mais topográfica, mas topológica – a lógica das articulações do lugar,
portanto, a teoria das forças, das linhas de tensão e atração, presentes no laço
invisível que desenha a cidade como lugar comum (koiné) ou comunidade
(communitas). Nesses termos, lugar é uma configuração de pontos ou de
forças, é um campo de fluxos que polariza diferenças e orienta as
identificações (SODRÉ, 2012, p.74-75).
Castells (2000), por seu turno, fala sobre espaço de fluxos ao apontar que são as práticas
sociais que dominam e moldam a sociedade em rede. A passagem do sistema industrial para o
sistema capitalista traz alterações nas relações de produção, poder e experiência ao fundir ao
modificar as bases materiais da vida social, do espaço e do tempo. Na sociedade informacional
o tempo perde sua característica cronológica ao se transpor para o tempo intemporal, cuja lógica
é a anulação do tempo pela tecnologia. Capital, poder e comunicação eletrônica transitam pelos
fluxos de intercâmbios entre locais distantes e fragmenta a experiência humana ao permanecer
fixa ao lugar. Daí a importância que Castells atribui ao tempo em detrimento do espaço.
Voltando a Pierre Lévy (2014, p.94), o ciberespaço é o espaço de comunicação aberto
pela interconexão mundial dos computadores, de suas memórias e todo o conjunto dos sistemas
124
de comunicação eletrônica. Aliada a esta descrição técnica de computadores e conexões existe
o componente humano, que é o fundamental, os atores sociais sempre afetaram o espaço com a
percepção de novas maneiras de estar e de se relacionar no mundo da vida. Este espaço agora
ampliado é percebido como território, ora ocupado e afetado pela ação humana, ora ocupando
e afetando as relações sociais a partir de uma territorialidade simbólica.
A dimensão espaço-temporal vivenciada na internet, além de suprimir certas barreiras e
de encurtar distâncias, promove uma experiência desterritorializada na prática social. As
comunidades virtuais são bons exemplos, elas existem, porém desterritorializadas no espaço e
no tempo, mas ainda assim pertencem a um espaço simbólico e híbrido, como fora mencionado.
4.4 Comunidade virtualizada
Já discutimos que a ambiência proporcionada pelas tecnologias de informação e
comunicação forjou uma forma de vida virtualizada. Porém, bem anterior a ascensão do
capitalismo cognitivo e de sua forma requintada de administrar a economia e de emanar o poder
sem distribuí-lo, alterações profundas já estavam ocorrendo nas relações do homem com a
sociedade, devido ao progresso tecnoindustrial. Tönnies (1887) crítica a sociedade baseada em
relações contratuais e na individualidade, principalmente, por considerar que ambas tecem um
tipo de relacionamento superficial, sem vínculos orgânicos. Ele via na comunidade, baseada na
vontade coletiva a única saída para uma boa convivência entre os pares.
A comunidade de Tönnies era organicamente fundamentada por laços sanguíneos,
afetivos e territoriais. A comunidade romântica tönnesiana no século XXI está ressignificada.
O progresso, temido por ele, desembocou em alterações estruturais nas sociedades. A
convivência e interação social foram se modificando. As configurações relacionadas à família,
gênero, sexualidade e própria maneira de pensar o sujeito com sua subjetividade, se alteraram
ao longo do tempo. Daí delegar à contribuição de Tönnies e de outros pensadores da época a
definição de comunidade nos dias de hoje, torna-se discutível.
125
4.4.1 O comum, da comunidade
Em contrapartida, existem pontos importantes que precisam ser preservados para que
uma comunidade seja considerada como tal. Em suas diversas configurações desde a
comunidade tradicional, localizada apenas no território físico, àquelas que passam a ocupar
também o espaço virtual e ainda, as comunidades online, que se configuram a partir do
ciberespaço. Apesar da insistente utilização do termo comunidade para descrever qualquer tipo
de interação e compartilhamento online, existe um considerável debate acadêmico em relação
a adequação do termo.
Neste sentido, recorremos a Cicilia Peruzzo (2006, p.14) ao destacar que as
comunidades ainda se caracterizam por um modo de relacionamento com base na coesão, pela
convergência de objetivos, interação, sentimento de pertença, participação ativa,
compartilhamento de identidades culturais, corresponsabilidade e cooperação. Outro ponto
importante é a duração desta comunidade. Ela precisa durar o tempo necessário para que os
sujeitos vivam e tomem parte das características acima.
Kozinets (2014, p.15) é outro autor que resguarda algumas das definições clássicas a
respeito de comunidade ao tratar de comunidades e culturas online. Ele afirma que no ano de
1984, a pesquisadora Starr Roxanne Hiltz criou o termo comunidade online ao situar o
fenômeno mais no âmbito do trabalho do que para o lazer. No entanto, esclarece que o termo
comunidade virtual foi desenvolvido por Howard Rheingold, no ano de 1993, no qual se embasa
para realizar pesquisas etnográficas online.
Para Castells (2003, p.100), Rheingold deu tom ao debate ao defender uma nova forma
de comunidade, que reuniria as pessoas online em torno de valores e interesses compartilhados,
“criando laços de apoio e amizade que poderiam se estender também à interação face a face”.
Rheingold citado por Kozinets (2014, p.15), define comunidade virtual como “agregações
sociais que emergem da rede quando um número suficiente de pessoas empreende [...]
discussões públicas por tempo suficiente, com suficiente sentimento humano, para formar redes
de relacionamentos pessoais no ciberespaço”. Recuero (2009) embasada na definição acima,
esclarece que os elementos formadores da comunidade virtual de Rheingold são:
As discussões públicas; as pessoas que se encontram e reencontram, o que
ainda mantém contato através da internet (para levar adiante a discussão); o
tempo; e o sentimento. Esses elementos, dados através do ciberespaço, seria
um ser formadores de redes de relações sociais constituindo-se em
comunidades (RECUERO, 2009, p.137).
126
Para Kozinets (2014, p.41) “as comunidades online são fenômenos abundantes, e suas
normas e rituais são moldadas pelas práticas da cibercultura e dos grupos culturais gerais que
as utilizam”. Assim, essas comunidades online e os relacionamentos sociais estão em um estado
de transformação. Em outras palavras esses relacionamentos estão se alterando em função das
diferentes formas e liberdades disponíveis por meio das comunicações mediadas por
computador.
Para Lévy (2014, p.130), uma comunidade virtual pode ser desenvolvida a partir de
“afinidades de interesses, de conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um processo de
cooperação ou de troca, tudo isso independentemente das proximidades geográficas e das
filiações institucionais”. Já Castells (2003, p.48-49), com teor mais crítico anuncia que o mundo
social da internet pode ser tão diverso e contraditório como a própria sociedade. Apesar disso,
ele destaca duas características fundamentais das comunidades virtuais, a seguir:
a) a primeira característica de acordo com o analista é o valor de comunicação livre e
horizontal praticada nessas comunidades, mesmo em uma era dominada por conglomerados de
mídia e a burocratizações governamentais.
a) segunda característica diz respeito à possibilidade de qualquer ator social encontrar
qualquer destinação possível na internet, assim induzir a formação de rede.
Segundo Lévy (2014, p.130) as relações virtuais substituem os encontros físicos, nem
as viagens, que muitas vezes ajudam a preparar. Ele é enfático ao afirmar ser um erro pensar
nas relações sociais entre antigos e novos dispositivos de comunicação em termos de
substituição.
Lévy (2014, p.132) sustenta uma posição interessante ao afirmar que as comunidades
virtuais efetivam o contato de grupos humanos que, segundo ele, eram apenas potenciais antes
do surgimento do ciberespaço. Essas comunidades reúnem grupos antes dispersos pelo planeta,
muitas por afinidades, gostos, que agora dispõem de um lugar comum, lugar de troca, de
discussões etc.
Resguardadas as clássicas definições da comunidade tradicional vinculada a terra com
sua noção de pertencimento orgânico. E, ainda às outras configurações atribuídas a noção de
comunidade como vinculação social e, bilateralmente, associada à noção de com e ou comum,
cerne da comunicação e da comunidade. Percebemos que a própria comunidade é dinâmica, e
se altera no curso de sua historicidade. Quando pensamos na comunidade como um processo
dinâmico e em constante transformação não queremos diminuir a força contida em sua própria
127
razão de ser, outrossim, captamos esse entre do que ela é atualmente e de como se configura, e
só assim poderemos olhar para trás e percebê-la em sua totalidade.
Reiteramos, a ideia de laços territoriais ou físicos há muito já foram extrapolados, mas
a qualidade das agregações sociais, o afeto, as escolhas, os laços sociais, o senso de
pertencimento que une pessoas em seus relacionamentos na rede só pode ser estabelecido e
mantido se houver o com, ou o comum, da comunidade.
4.5 Entre nós, as redes
Rede social é comumente utilizada como sinônimo para Facebook, Twitter, Instagram
etc., mas estes são apenas sites de redes sociais que ao agregar pessoas tornam-se uma rede.
Para Recuero (2009, p.69) uma rede social é sempre um conjunto de atores (nós) e de relações,
ou ainda, uma metáfora para tratar de grupos sociais. A autora elenca alguns valores
relacionados aos sites de rede social e sua apropriação pelos atores da rede. São eles,
visibilidade, reputação, popularidade e autoridade. Para Kozinets (2014, p.52-53) uma rede é
composta de “um conjunto de atores ligados por um conjunto de laços relacionais. Os atores,
os ‘nodos’, podem ser pessoas, equipes, organizações, ideias, mensagens ou outros conceitos”.
Atualmente 107 milhões de brasileiros acessam a internet, ou seja, 65% da população
com mais de 12 anos é o que revela o estudo da 15º edição do F/Radar43, realizado em 2016.
Durante as três últimas edições do F/Radar o Facebook liderou entre os sites de redes sociais
mais utilizadas. O envio de mensagens instantâneas, a participação em alguma rede e com 67%
o compartilhamento de conteúdo como textos, imagens ou vídeos são as atividades mais citadas
realizadas na internet, conforme a pesquisa TIC Domicílios44 realizada pelo Centro Regional
de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação – CETIC.br - com base no
percentual de usuários da internet no ano de 2014, com 94, 2 milhões. A Pesquisa de Mídia do
ano de 2015 também mostra que o Facebook é o site de rede social com maior adesão. “Entre
os internautas, 92% estão conectados por meio de mídias sociais, sendo as mais utilizadas o
Facebook (83%), o WhatsApp (58%) e o Youtube (17%)” (BRASIL, 2015).
43 A pesquisa F/Radar é realizada desde o ano de 2007 pela F/Nazca Saatchi & Saatchi em parceria com o Datafolha
e está na sua 15ª. Para saber mais acesse: <http://www.fnazca.com.br/>
44 O objetivo geral da pesquisa TIC Domicílios é medir o acesso e os usos da população brasileira em relação às
tecnologias de informação e comunicação. O período de realização da pesquisa foi de outubro de 2014 a março de
2014. Foram realizadas 19.211 entrevistas em 349 municípios brasileiros. Para saber mais acesse:
<http://cetic.br/media/analises/tic_domicilios_2014_coletiva_de_imprensa.pdf>
128
O aumento exponencial de acesso aos sites de rede de relacionamento e outros
dispositivos de mensagens instantâneas tem favorecido a um novo tipo de interatividade, que
privilegia “vários modos de interconexão entre máquinas e entre estas os homens” (SODRÉ,
2012, p.164). Nestes espaços de fluxos e conexões, as interações online mudam a própria
percepção dos “nós” em suas práticas sociais cotidianas, já não existe a noção de estar online
ou offline, os “nós” simplesmente estão em rede e entre redes.
4.5.1 Interação Online
“Há uma vertigem permeando as relações, tudo se torna vacilante,
tudo pode ser deletado: o amor e os amigos” (Bauman).
As interações no ambiente virtual são realizadas por intermédio de vários dispositivos
comunicacionais, tais como, sites de relacionamento, listas de discussão, aplicativos de
mensagens instantâneas, blogs, microblogs, jogos online etc. Dá ponta da língua a ponta do
dedo, a interação homem-máquina e a interação homem-máquina-homem se aprimora
diariamente. Quando essa interação permanece no plano homem-máquina parece não haver
reciprocidade, mesmo assim existe ali uma interação. O ser social nasce interagindo com o
meio, com seus artefatos culturais e também tecnológicos. Mas há que se observar o sentido
atribuído à interação. Desde o sentido atribuído a performance do dispositivo tecnológico
aquele cujo meio serve para a interação humana.
De acordo com Kozinets (2014), os primeiros estudos sobre interação online foram
baseados na teoria da psicologia social e em testes experimentais. Tais trabalhos sugeriram que
o meio online oferecia uma base precária para atividade sociocultural. A afirmação se fazia
porque para tais trabalhos não havia sentimento de presença social no meio online, presumindo
uma incerteza na comunicação porque o meio online reduzia a capacidade de transmitir
informações não verbais como tom da voz, sotaques, gírias, expressões faciais, postura etc.
Outra linha de estudo sugeria que os participantes de comunidades online estariam
sujeitos a uma espécie de achatamento de hierarquias, na qual o status social é igualado e as
diferenças sociais minimizadas. Esses cientistas, conforme Kozinets (2014) consideravam que
a tecnologia por trás das comunidades e das interações online sabotavam a estrutura social
adequada para relações sociais acolhedoras.
No entanto, não demorou muito para que outros estudos começassem a questionar essas
suposições e os resultados obtidos com as pesquisas sobre interação online. A análise do
129
conteúdo das comunicações mediadas por computador começou a revelar outras formas de
transmitir informações. Os membros de grupos sociais pareciam desenvolver a capacidade de
expressão na forma escrita, dos quais as pesquisas anteriores revelaram estar ausentes. A
passagem da cultura oral à cultura da escrita como bem lembra Lévy (2014, p.116), foi a
primeira grande transformação na ecologia das mídias. A emergência do ciberespaço, de fato,
produziu e produz um efeito radical sobre a pragmática das comunicações assim como teve, em
seu tempo, a invenção da escrita.
4.5.2 Interação ou representação?
A comunicação mediada por computador (CMC) e recentemente, outros dispositivos
comunicacionais, conforme exposto, passou a revelar outras formas de transmissão de
informações. A dinâmica da comunicação e interação online passa a ser complementada com o
uso de símbolos eletrônicos45 na escrita - emoticons, posteriormente emojis, memes46 e
recentemente o retorno dos gifs animados47 e também a presença de erros ortográficos de forma
proposital, ausência de correções e letras maiúsculas etc. comuns aos navegantes do ciberespaço
– que servem como marcadores de expressões físicas, e principalmente, emocionais. No tocante
às pesquisas interdisciplinares sobre o ambiente online, segundo Kozinets, (2014, p.29) elas
demonstraram que, em vez de serem socialmente empobrecidos os mundos sociais que estavam
sendo construídos por grupos online eram detalhados e enriquecedores.
Apesar da ampla utilização dos pictogramas para representar emoção ou algum tipo de
ou atividade o seu uso em escala mundial, principalmente pela geração Z48 tem mexido não só
com o pragmatismo da nossa língua, mas principalmente com a forma na qual estruturamos
antigas e novas relações. Da virtualidade das interações sociais, emojis, por exemplo, estão
45 Emoticons são símbolos frutos de combinações de caracteres do teclado de um computador, por exemplo, as
carinhas [ :) :( ].
Emojis são pictogramas [👩🌾 👨🌾] que também agrupam os caracteres dos emoticons, mas no formato de
desenho. A utilização mundial deste último, fez com que fossem catalogados mais de 1.000 ícones. Eles podem
ser consultados na Emojipedia disponível em <http://emojipedia.org/>. 46 O termo meme significa basicamente imitação. É um recurso utilizado na internet e está associado ao fenômeno
da viralização de informações, vídeos, imagens, ideias, ou seja, de qualquer discurso difundido na rede e que cai
no gosto dos internautas para enfatizar, dramatizar, criticar discursos etc. 47 Gif (Graphic Interchange Format) é um formato de ficheiro de imagens, sendo muito utilizado na internet devido
à sua capacidade de compressão. Já o gif animado é uma variante desse formato de ficheiro, que permite a
compactação de várias imagens em só arquivo. Atualmente esse tipo de gif é utilizado como emoticons em
mensageiros instantâneos e em sites de redes sociais, por exemplo. 48 Constituída por pessoas que nasceram entre os anos de 1990 até 2010.
130
dispostos no mercado de consumo figurando copos, utensílios, almofadas e inclusive, como
tema para eventos e festas de aniversário.
Neste ponto, há que se observar como a interação online está reconfigurando a vida
cotidiana, inclusive, dos atores sociais que não utilizam aplicativos de mensagens para se
comunicar, e eles ainda existem, e são muitos. Nos jornais, nas novelas nas ruas, essa
“linguagem”, exclusiva do ambiente virtual, é agora apropriada. E assim, um novo ciclo de
oportunidades aparece no espaço de fluxos (CASTELLS, 2003) preconizado pelo capital.
Segundo Kozinets (2014, p.15) “os websites de redes sociais e mundos virtuais levam
os complexos marcadores de muitas culturas e ambos manifestam e forjam novas conexões e
comunidades”. Bauman (2016, online)49 não é tão otimista quanto Kozinets (2014) ao se referir
às relações virtuais. O sociólogo da modernidade líquida afirma que nos relacionamentos
virtuais não existem discussões que terminem em abraços vivos, as discussões são mudas,
distantes. As relações começam ou terminam sem contato algum (BAUMAN, 2016, online). O
tempo, em sua dimensão cronológica vê-se aí comprimido nas imagens e símbolos que ora vão
atribuindo novos significados e sentidos a realidade concreta. Já que o encurtamento de
barreiras geográficas e a instantaneidade de envio e recebimento de mensagens via dispositivos
digitais, e em tempo real, tende a favorecer a esse tipo de interação. Menos palavras e mais
imagens vão modificando não só tempo, mas à maneira de se relacionar com o outro.
“Tudo é transitório. Não há a observação pausada daquilo que experimentamos, é
preciso fotografar, filmar, comentar, curtir, mostrar, comprar e comparar”, alerta Bauman
(2016, online). Apesar da análise acurada de Bauman, da qual comungamos em grande parte,
também é coerente observávamos as próprias contradições do capital. E uma delas, diz respeito
à apropriação da internet como alternativa às mídias de massa50 pela sociedade civil, em
especial, por movimentos e organizações sociais que lutam por demandas coletivas,
prioritariamente, pela mudança de status quo. Nesta perspectiva, como demonstra Lévy (2014,
p.248) o ciberespaço favorece novas potencialidades abertas de interconexão e digitalização da
informação. Ele apresenta essas potencialidades em quatro pontos, inclusive, alguns foram
destacados anteriormente, a saber: o fim dos monopólios da expressão pública, a crescente
variedade dos modos de expressão, a disponibilização crescente de filtros nos sistemas de busca
49 Disponível em <https://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/08/estamos-solidao-multidao-mesmo-
tempo.html> Acesso em out. 2017. 50Assim como Lévy (2014), entendemos como mídias de massa os dispositivos de comunicação que difundem
uma informação organizada e programada a partir de um centro, em direção a um grande número de receptores
anônimos e isolados entre si.
131
por conteúdo específico e a interação online no ambiente virtual (LÉVY, 2014, p.248). Apesar
disso, não significa dizer que esse espaço de conexão mundial descentralizado possibilite a
paridade entre governo, empresa e sociedade civil organizada no tocante ao conjunto da rede,
especialmente, no controle da informação.
4.6 Comunicação organizativa
Cicilia Peruzzo (2004) em Comunicação nos movimentos populares traça uma analítica
sobre a participação popular nos processos de produção, planejamento e gestão dos veículos de
comunicação que se constituem no âmbito dos movimentos sociais populares. Tais análises
foram feitas quando a utilização da internet ainda era bem tímida. Ainda assim sua pesquisa é
extremamente atual, pois analisa a comunicação dos movimentos sociais populares a partir de
suas práticas concretas e que vão se diferenciando no decorrer de suas trajetórias.
Seu estudo tornou-se referência tanto para a academia como para os comunicadores
comunitários/populares por refletir a própria prática dos movimentos. No terceiro capítulo
mencionamos esse aspecto importante na perspectiva de Peruzzo, a partir de uma leitura das
fases - mobilização, organização, articulação e parcerias - pelas quais os movimentos sociais,
em sua maioria, transitam historicamente. Esse entendimento nos ajudou na contextualização
deste estudo, porque ao refletir sobre as fases dos movimentos aqui analisados percorremos
pelas suas práticas comunicacionais e como elas estão sendo alteradas com o uso das TICCS.
Historicamente os movimentos sociais expõem e compartilham o comum, bem antes do
advento da internet e da visibilidade conseguida por meio das redes sociais digitais. A luta
comum de muitos homens e mulheres, excluídos de direitos básicos como saúde, moradia,
educação etc. continua a cada dia mais visível e premente. Eles e elas expõem, compartilham e
essencialmente querem que suas reivindicações e desejos por melhores condições de vida sejam
ouvidos e atendidos. Esse pôr em comum faz parte da natureza da comunicação.
Juan Díaz Bordenave (1997) descreve a importância e a dinamicidade da comunicação
na vida das pessoas. Reconhece, inclusive, as múltiplas formas de fazê-la, desde a interpessoal,
passando pelos folhetins aos alto-falantes até o desenvolvimento das redes telemáticas de
comunicação. No livro “O que é a Comunicação” o autor compara a evolução da comunicação
ao longo do tempo, dos grunhidos à comunicação por satélite ao desenvolvimento de uma
árvore.
132
Assim como cresce e se desenvolve uma grande árvore, a comunicação evolui
de uma pequena semente – a associação inicial entre um signo e um objeto –
para formar linguagens e inventar meios que vencessem o tempo e a distância,
ramificando-se em sistemas e instituições até cobrir o mundo com seus ramos.
E não contente em cobrir o mundo, a grande árvore já começou a lançar seus
brotos à procura das estrelas (BORDENAVE, 1997, p.23).
A analogia apresentada pelo autor demonstra que a comunicação evoluiu e se
aperfeiçoou na produção de seu conteúdo e em seus meios de divulgação, assim como passou
a influenciar a vida cotidiana das pessoas, “incidindo na cultura, na econômica e na política das
nações” (BORDENAVE, 1997, p.34). Movimentos sociais e setores subalternizados da
sociedade civil, em grande parte, desenvolvem a sua política de comunicação a partir da
realidade local, dos escassos recursos disponíveis e/ou inexistentes, do nível de participação e
engajamento dos atores sociais envolvidos. Aliás, essa comunicação faz mais sentido quando é
utilizada como instrumento político, de organização e participação popular.
A sua vez, Manuel Castells (2013, p.19-20) afirma que os movimentos sociais sempre
dependeram de mecanismos de comunicação. Assim como Bordenave (1997), o estudioso da
sociedade em rede cita como exemplo, variadas formas de comunicação que vão desde os
boatos, sermões, panfletos aos manifestos difundidos a partir de qualquer meio de comunicação
disponível. Castells (2013, p.19-20) acompanhando as transformações sociotécnicas aponta que
em nossa “época, as redes digitais, multimodais, de comunicação horizontal, são os veículos
mais rápidos e mais autônomos, interativos, reprogramáveis e amplificadores de toda a
história”. E ainda afirma que:
As características dos processos de comunicação entre indivíduos engajados
em movimentos sociais determinam as características organizacionais do
próprio movimento: quanto mais interativa e autoconfigurável for a
comunicação, menos hierárquica será a organização e mais participativo o
movimento. É por isso que os movimentos sociais em rede da era digital
representam uma nova espécie em seu gênero (CASTELLS, 2013, p.19-20).
Aproximando o pensamento de Bordenave e Castells independentemente dos meios e
tipos de comunicação apontados, dos mais rudimentares às suas transformações ao longo do
tempo, elaboramos a seguinte proposição: o essencial não é o tipo de plataforma de
comunicação ou meio utilizado, mesmo com as novas configurações demandadas pela internet,
do tipo faça você mesmo e do barateamento dos custos de operacionalização e capacitação
técnica das pessoas envolvidas com a comunicação “oficial” do movimento. Mas sim a própria
133
dinâmica comunicacional entre os atores envolvidos – dos líderes aos militantes - e como ela
será facilitadora e ao mesmo tempo complexa para a organização política do movimento.
Referenciar o esquema sobre a evolução da comunicação proposto por Bordenave
(1997) é pensar a metáfora elaborada por Deleuze e Guattari (1995a, p.17), “não existem pontos
ou posições num rizoma como se encontra numa estrutura, numa árvore, numa raiz. Existem
somente linhas”. Os autores se afastam do esquema da árvore na dimensão do signo linguístico
- significado e significante51- de Ferdinand de Saussure, por acreditarem que a representação e
o decalque não dão conta de traduzir a ação e o devir da própria realidade. Assim, o significante
remete-nos a uma representação do real já o rizoma nos aproxima mais do real.
Toda lógica da árvore é uma lógica do decalque e da reprodução. Tanto na
Lingüística quanto na Psicanálise, ela tem como objeto um inconsciente ele
mesmo representante, cristalizado em complexos codificados, repartido sobre
um eixo genético ou distribuído numa estrutura sintagmática. Ela tem como
finalidade a descrição de um estado de fato, o reequilíbrio de correlações
intersubjetivas, ou a exploração de um inconsciente já dado camuflado, nos
recantos obscuros da memória e da linguagem. Ela consiste em decalcar algo
que se dá já feito, a partir de uma estrutura que sobrecodifica ou de um eixo
que suporta. A árvore articula e hierarquiza os decalques, os decalques são
como folhas da árvore. Diferente é o rizoma, mapa e não decalque. Fazer o
mapa, não o decalque. A orquídea não reproduz o decalque da vespa, ela
compõe um mapa com a vespa no seio de um rizoma (DELEUZE;
GUATTARI, 1995a, p.22)
De acordo com Deleuze e Guattari (1995a, p.22) “se o mapa se opõe ao decalque é por
estar inteiramente voltado para uma experimentação ancorada no real. O mapa não reproduz
um inconsciente fechado sobre ele mesmo, ele o constrói.” Aproximar a comunicação dos
movimentos sociais da dimensão rizomática é perceber que eles ao longo de história estão se
modificando, assim como as linhas de fuga que não param de se remeter umas às outras. Num
estante, essas linhas e rotas de fuga podem se reencontrar, atribuindo novamente o poder ao
significante.
Certamente, movimentos sociais que buscam por um novo projeto político e
emancipador, que lutam por suas demandas específicas precisam mesmo é alcançar a terra que
fortalece os rizomas e não somente as estrelas. Para concluir, elaboramos outra proposição:
portanto, quanto mais rizomática for a comunicação e consequentemente a participação política
e organizacional dos membros que compõe o movimento mais interativa será a comunicação,
51 Para saber sobre significado e significante na perspectiva dos autores veja Mil Platôs. Capitalismo e
Esquizofrenia. v. 1. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995.
134
no sentido proposto por Muniz Sodré (2010) e também autoconfigurável como demonstra
Castells (2013).
4.7 A prática da comunicação nos movimentos sociais
De acordo com Peruzzo (2004) na prática da comunicação popular os movimentos
sociais brasileiros estão construindo algo de novo, ou seja, uma expressão de interesses
coletivos que trazem em seu interior um esforço pela autonomia com fazer democrático num
novo espaço de ação política. Segundo a autora (2004, p.148) neste processo os movimentos
sociais forjam sua própria comunicação, a que entendemos como comunicação comunitária,
desenvolvida no contexto em que atuam, primordialmente para expressão em nível local e para
divulgação de conteúdos específicos das demandas do próprio movimento.
Porém, na perspectiva dos movimentos sociais entendidos nesta pesquisa como
propulsores de mudanças estruturais da sociedade, no contexto da ação coletiva, eles buscam
novas formas de fazer sua comunicação e não coadunam com meios massivos quando a grande
tendência desses meios é criminalizar as ações desenvolvidas pelos movimentos sociais,
principalmente, aqueles que lutam pela transformação da sociedade e da ordem vigente. De
igual modo, também forjam sua comunicação que é expressa desde o nível local ao nacional.
No contexto das décadas de 1980 e 1990 os canais de comunicação utilizados pelos
movimentos eram modestos. De acordo com Peruzzo (2004, p.148), o que compõem esses
canais são os meios grupais, impressos, visuais, sonoros e audiovisuais: “festas, celebrações
religiosas, teatro popular, música, poesia, jornalzinho, boletim, mural, panfleto, cartilha,
folheto, cartaz, faixas, camisetas, fotografias, filmes” [...]. Os canais utilizados se
caracterizavam principalmente como um instrumento simples e de baixo custo em um grande
contraste com o progresso tecnológico já disponível na sociedade à época, porém inacessível
para a maioria das pessoas. A realidade hoje não é diferente mesmo com o advento da internet.
Ainda existem diversas comunidades rurais espalhadas pelo Brasil e a grande maioria não tem
rádios comunitárias e ou acesso à internet.
Peruzzo (2004, p.149-154) também aponta várias limitações na produção da
comunicação comunitária, como por exemplo, abrangência reduzida, inadequação dos meios,
uso restrito dos veículos, pouca variedade, falta de competência técnica, conteúdo mal
explorado, instrumentalização, carência de recursos financeiros, uso emergencial, ingerências
135
políticas, participação desigual. Para Miklos (2014. p.111) “o veículo comunitário é
apresentado com uma perspectiva educacional e formativa, proporcionando um consumo crítico
da informação.” Não obstante, há que se observar a realidade concreta do grupo e ou movimento
para enfatizar a perspectiva apresentada pelo autor.
4.8 Publicidade social, sim!
Publicidade do latim publicus, é o ato de tornar público, divulgar. Propaganda do latim
propagare significa plantar, mergulhar, propagar princípios e ideias. Publicidade e propaganda
são duas ferramentas muito discutidas e controversas, ainda mais em uma corrente de estudos
como a comunicação comunitária. Embora muitos profissionais considerem a mesma coisa, os
objetivos são distintos. Para Rafael Sampaio (2003, p.27) “propaganda é a divulgação de um
produto ou serviço com o objetivo de informar e despertar interesse de compra/uso nos
consumidores”. Sampaio (2003, p.27) utiliza três definições de termos da língua inglesa para
explicar a abrangência da propaganda. São eles: a) advertising: Anúncio comercial; b)
Publicity: informação disseminada editorialmente; c) Propaganda: propaganda de caráter
político, religioso ou ideológico.
Não obstante, para Sampaio as três definições descritas acima ao serem utilizadas no
Brasil se entrelaçam nos termos publicidade e propaganda, daí sua utilização como termos
correlatos. Já para Neuza Demartini Gomes (2001, p. 111) publicidade e propaganda não são
termos sinônimos, assim há que se resguardar a utilização dos mesmos.
A carência de recursos financeiros é um ponto crítico que afeta organizações populares.
Em muitos casos as pessoas não têm dinheiro para se deslocar até a sede do movimento para
participar de reuniões, assim como é difícil fomentar veículos apoiado por recursos da própria
comunidade. Uma forma para driblar este problema está em conseguir verbas mediante projetos
apresentados a instituições financiadoras, por meio de editais públicos ou na própria
arrecadação de fundos como anúncios comerciais, festas populares, donativos. Problemas
financeiros são um complicador da própria comunicação comunitária porque pode pôr em risco
a continuidade do trabalho e a autonomia do grupo. Este é um problema de difícil solução e já
amplamente debatido na subárea da comunicação comunitária, mas que ainda merece ser
observado e debatido em pesquisas posteriores.
Em nosso entendimento a utilização da publicidade social já vigora entre muitos
movimentos e grupos organizados, que notadamente, utilizam-se das ferramentas, mas sem
136
necessariamente nomeá-las. “Embora as técnicas de publicidade e propaganda sejam
direcionadas para o mercado, isto não significa que estas ferramentas não possam vir a ser
usadas na comunicação popular, de maneira que sejam adaptadas e transformados numa
publicidade social” (SILVA, 2005, p.3-4). E não há nenhum problema nisso, quando a
publicidade é incluída para a autossustentação do movimento, para o desenvolvimento local e
particularmente para gerir a sua comunicação. Essa noção mecanicista da publicidade é fruto
da apropriação do sistema capitalista cujo objetivo principal é a acumulação do capital.
Saldanha (2015) elucida nossa explicação quando esclarece que:
A Comunicação Comunitária se concentra no resgate e na valorização do território
e, por isso mesmo, precisa ser entendida coexistindo “no contexto da sociedade de
massa” globalizada. Se a comunicação acontece no momento em que a partilha de
sentido se torna comum tanto para quem emite, como para quem recebe, e um dos
espaços para a concretização do ato comunicacional é a Comunidade, é possível
reconhecer a ligação da Comunidade no campo da Comunicação Social. Da forma,
a Publicidade pode ser pensada no ambiente comunitário, mesmo que aparentemente
sejam contraditórios (SALDANHA, 2015, 717).
Ao longo dos últimos anos temos observado a apropriação da publicidade como
ferramenta de divulgação/promoção de produtos comercializados pelo MST. À primeira vista
a assertiva não corresponde ao discurso do movimento sobre a utilização da publicidade. Em
outra pesquisa (SILVA, 2005) levantamos a hipótese da utilização da publicidade pelo MST,
inclusive, sugestionamos que a publicidade produzida por eles poderia se enquadrar em tipo de
publicidade moderada ou social. No entanto, o movimento tratou de rebater ao nosso
questionamento e em uma longa explanação durante a entrevista, explicou que não faziam uso
da publicidade em suas comunicações, mas sim que utilizavam a propaganda ideológica. A
grande questão reside menos na apropriação do termo, e mais nos usos que são feitos de
determinados dispositivos, ora engendrados de tal forma pelo sistema capitalista, que se torna
um disparate a publicidade servir a outra lógica que não seja a mercadológica. O que seria então
a propaganda ideológica ao agitar pessoas, discursos e dispositivos?
A publicidade social também pode ser utilizada para difundir ideias, produtos e serviços,
principalmente ao ser utilizada como uma ferramenta comunitária. Em nosso entendimento
quatro perguntas básicas são necessárias para fundamentar uma publicidade social: Quem
somos? Em que acreditamos? Como queremos que nos vejam? O que fazemos?
A seguir elencamos também seis importantes categorias iniciais para o
desenvolvimento deste tipo de publicidade. São elas: comunidade; vínculo; marca; organização;
território e negócio social. Estas categorias apresentadas podem atuar em conjunto, ou
137
isoladamente, isso vai depender do nível de organização de determinado movimento e/ou
comunidade.
A publicidade social utilizada como uma ferramenta comunicacional comunitária pode
auxiliar no desenvolvimento autossustentável de um meio comunitário dentro de uma
comunidade, por exemplo. Pode contribuir com a geração de vínculos entre os membros de
uma comunidade ao criarem, por exemplo, uma marca do local. E assim, podem promover os
produtos desenvolvidos peles moradores e fomentar a circulação do dinheiro na comunidade.
Outro ponto é que a publicidade social pode contribuir com a organização da comunidade em
termos de desenvolvimento local, de cuidado com os bens públicos gerenciados pelo coletivo.
Outra perspectiva importante é a noção de território que pode ser resgatada, tanto o físico quanto
o simbólico, no qual o sujeito passa a se perceber e a ser percebido dentro daquele local como
sujeito de sua história, e assim, passa a valorizá-lo. Por último, mas não menos importante é a
noção de negócio social formado pelo coletivo. A publicidade pode ajudar na divulgação dos
produtos e na construção de marcas que expressam o valor ou valores daquela localidade, e
conforme mencionado existe a geração de riqueza que vai circular dentro da comunidade.
Apesar do quesito financeiro e de autossustentação dos meios comunitários ser um
complicador para a continuidade de seus trabalhos, existem muitos aspectos positivos na prática
comunicacional dos movimentos (PERUZZO, 2004): diversificação dos instrumentos,
apropriação de meios e técnicas, conquista de espaços, conteúdo crítico, autonomia
institucional, articulação da cultura, elaboração de valores, formação das identidades,
mentalidade de serviço, preservação da memória, democratização dos meios, conquista da
cidadania. Nesse sentido, concordamos com a autora quando afirma que a comunicação dos
movimentos representa um campo rico em significação em termos políticos e culturais.
Alguns movimentos sociais trabalhados nesta pesquisa, mesmo com limitações
apresentam experiências avançadas de comunicação e que envolvem a participação conjunta.
Inclusive, observamos nos movimentos sociais analisados a presença dos pontos positivos
elencados acima. Líderes e militantes de grupos organizados de alguma forma podem produzir
e contribuir para uma comunicação que realmente seja útil ao processo de educação para a
cidadania e para a transformação social, ou seja, para o projeto de soberania popular.
Após apresentar as limitações e os pontos positivos na prática comunicacional
desenvolvida por segmentos subalternizados da sociedade - lembrando sempre que tais
processos são dinâmicos e que podem avançar ou se modificar em sua realidade concreta –
abordaremos a emergência dessas práticas na internet.
138
Até aqui mencionamos as características alinhadas por Cicilia Peruzzo (2004), inclusive
ela relata experiências avançadas na comunicação comunitária no âmbito dos movimentos
populares na América Latina. As limitações e os pontos positivos mencionados não deixam de
ocorrer no caso dos movimentos sociais que trabalhamos na pesquisa, seja em maior ou menor
escala. No último capítulo demonstramos como essas características se apresentam no contexto
dos 10 movimentos sociais mapeados no espaço híbrido da internet.
4.9 Movimentos sociais na internet
Na atualidade presenciamos a emergência de novas mídias, de novas formas de fazer e
compartilhar comunicação. Desde o refinamento da técnica propriamente dita como a CMC,
agora, comunicação online, ao espraiamento da comunicação pelo globo e em tempo real. Esta
última, com as possibilidades aventadas a partir da internet, assunto que trataremos mais
adiante. Os autores, Briggs e Burke (2006, p.15) orientam que a mídia precisa ser vista como
um sistema que está em constante mudança. E ao serem introduzidas novas mídias no sistema
de comunicação, ainda assim, antigas e novas coexistem e interagem.
Segundo Peruzzo (2010, p.231) ao que se refere à comunicação mediada por
computador ela contribui para ampliar os canais de participação ativa dos cidadãos e cidadãs.
A pesquisadora afirma que existem experiências crescentes que abarcam dinâmicas
colaborativas em rede com a participação autônoma dos sujeitos, desde comunidades virtuais
até sítios colaborativos. Para Miklos (2014, p.111), a comunicação comunitária “engloba os
meios tecnológicos e outras modalidades de canais de expressão sob controle de organizações
comunitárias e movimentos sociais”. Contudo, a ampliação desses canais de comunicação pode
se apresentar de forma distinta, assim como acontece com a comunicação mais rudimentar,
dependendo do nível de participação do grupo.
a. Convergência
Como a própria etimologia da palavra indica, convergência significa convergir, ou seja,
possibilitar que caminhos se encontrem. Para Henry Jenkins (2009, p.27-28), o sentido que a
convergência carrega vai contra o processo tecnológico que reúne várias funções dentro de um
único aparelho. “A convergência representa uma transformação cultural [...]”. Apoiamo-nos na
afirmativa de Jenkins, porque a convergência é um processo que vai se desenrolar em nosso
139
intelecto e nas práticas culturais, por conseguinte, nas mídias, nos aparelhos e nos sentidos que
atribuímos a eles.
De uma forma ou de outra, a comunicação dos movimentos sociais sempre existiu via
folhetos, marchas, reuniões etc., com o desenrolar da história novos processos comunicacionais
aparecem, desaparecem, ou passaram a ser utilizados com frequência menor. Tais processos
vão depender do contexto, dos recursos financeiros e materiais. Na atualidade, temos visto a
manifestação desta convergência e maneira como ela tem acontecido no âmbito dos
movimentos sociais. De forma gradual e convergente eles passam a atuar no espaço híbrido de
comunicação. A comunicação que sempre aconteceu no bojo dos movimentos sociais, se
reinventa e conquistam outros espaços, outros dispositivos apoiados nas TICCS.
Durante o ano de 2005 realizamos pesquisa52 sobre as formas de comunicação dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Naquela época a internet já tinha expressividade, não
como nos dias de hoje, mas já disponibilizava várias formas de conexão no universo online.
Desde a disponibilidade de criação de blogs, sites institucionais, participação em site de redes
de relacionamento, como o antigo Orkut, criação de web rádios, dentre outros. Do universo da
internet à época, o MST possuía apenas um site institucional que abordava a história do
movimento, sua mística, notícias, entre outros conteúdos. No estudo realizado fizemos o
levantamento dos seus principais instrumentos de comunicação, que colaboram para forjar a
identidade coletiva, política e cultural do movimento:
Como instrumentos de comunicação, possuem os seguintes meios: Jornal Sem
Terra, Revista Sem Terra, Assessoria de Imprensa, Página na Internet e Rádio
Comunitária (Vozes da Terra). Entretanto, a visibilidade é fortemente mantida
através de marchas com a bandeira erguida, acampando à beira de estradas e
em praças públicas, realizando vigílias, atos ecumênicos, ocupando fazendas
e órgãos públicos. A partir daí forma-se a identidade social do MST. É através
dessas ações coletivas, tidas por muitos como transgressoras da ordem legal,
que a identidade dos “sem-terra” é construída e é desta maneira que o MST se
constitui como sujeito coletivo (SILVA, 2005, p.36).
Hoje esta realidade está sendo modificada, na verdade ampliada culturalmente.
movimentos sociais tradicionais como MST e o Movimento dos Atingidos por Barragens
(MAB), já ampliaram suas formas de comunicação a partir das possibilidades apresentadas
pelas TICCS. Desde sua origem, o MAB foi reconfigurando sua comunicação e hoje uma de
52 Trabalho de conclusão de curso (TCC), sob o título: Formação e informação do MST. Comunicação e cidadania
como expressão coletiva de organização.
140
suas importantes frentes de atuação é a comunicação na internet. O MST também circula pelo
espaço híbrido da internet e mantém seus canais online atualizados. Agora, o que isso significa
em termos de participação e de disputa pelo espaço digital ainda não sabemos. O fato é que por
trás de toda ação existe uma intencionalidade política, principalmente, quando abordamos
movimentos sociais que buscam alterações estruturais da sociedade e do sistema que a constitui.
b. Participação na internet
Movimentos sociais, manifestações públicas, comunidades virtuais e redes online não
são espaços intocáveis (PERUZZO, 2017). A comunicação é um direito humano, e como tal
precisa ser garantido e exercido, pelo menos. Vimos à explosão dessa vontade de comunicar a
partir dos levantes da Primavera Árabe, dos diversos protestos espalhados pelo mundo e os
reflexos das manifestações que eclodiram no Brasil no ano de 2013. Para Castells (2013, p.11)
a mudança fundamental ocorrida nos últimos anos está no domínio da comunicação, no que ele
denominou como autocomunicação, ou seja, “o uso da internet e das redes sem fio como
plataformas da comunicação digital”. Castells (2013), as manifestações começaram nas redes
sociais digitais, porque estas são espaços de autonomia, que perpassam controles
governamentais e empresariais já que ao longo da história, ambos, haviam monopolizado os
canais de comunicação como base de seu poder.
Segundo Castells (2013) as manifestações não foram protestos espontâneos, mas sim
provocados por descontentamentos muito antigos ligados a organizações das sociedades civis
que existem em determinados países, sob a perspectiva social, política, econômica e ditatorial.
Nesse sentido, os atores sociais formaram redes, independente de suas opiniões ou filiações, se
uniram e compartilharam indignação e desejo por mudança, essas são análises otimistas
apresentadas por Castells (2013) sobre as recentes manifestações ocorridas no mundo e também
no Brasil.
Contudo, há que se diferenciar os protestos brasileiros – devido a uma demanda muito
específica, o aumento do preço das passagens de ônibus e metrô em São Paulo, e também,
transitória - dos movimentos sociais e grupos organizados anteriores ao movimento dos
indignados, assim denominado por Gohn (2014).
Nesse contexto os meios hegemônicos de comunicação, especialmente a televisão,
repercutiam as notícias que eram veiculadas em tempo real pelos próprios manifestantes e por
coletivos de comunicação, como a Mídia Ninja53. Em um primeiro momento para inviabilizar
53 A Mídia Ninja é uma rede de comunicação livre criada no ano de 2013 a partir das manifestações ocorridas no
Brasil e que levaram milhões de pessoas às ruas. Na ocasião realizou coberturas ao vivo nos protestos, com pontos
141
ou denegrir as ações dos grupos organizados. E em um segundo momento, a mídia hegemônica
passava a pautar suas notícias a partir dos assuntos e demandas veiculadas na internet, oriundos
das páginas ou canais de comunicação dos atores envolvidos. Peruzzo (2017) analisa o papel
da mídia hegemônica e também dos manifestantes durante os protestos e considera que:
Por um lado, as mídias convencionais penetram com suas versões e visões que
acabam ajudando a formar opiniões e a mobilizar quem participa desses
fóruns. Elas informam, mostram aglomerações, indicam lugares, apesar de
moldarem as reportagens segundo percepções de fora, visões de classe e da
própria política editorial. Tendem a desqualificar as manifestações [...]. Se não
fossem as mídias alternativas e as redes online no Facebook, Twitter,
Instagram etc. não saberíamos das muitas facetas reais dessas manifestações
públicas. Todos os meios editam, eis um bom motivo para que haja
diversidade deles. É uma das razões das lutas pela democratização da
comunicação. Só a amplitude de canais de comunicação e de emissores pode
ajudar na circulação diversificada de informações e dar conta das várias
dimensões que as grandes manifestações públicas contêm (PERUZZO, 2017,
p.11).
Não há como negar a importância das manifestações ocorridas no Brasil, pois sabemos
que as tecnologias de informação e comunicação tiveram um papel diferenciador no contexto
dos protestos. Velocidade, instantaneidade, popularidade e a emergência de novos
comunicadores, são aspectos marcantes dessas manifestações que apontam aos menos três
lados:
1. Tiros de borracha, spray de pimenta, porrada e bomba como reguladores da ordem
social.
2. Pedras, gritos de guerra e palavras de ordem, smartphones e câmeras.
3. A mídia hegemônica com sua visão maniqueísta das ações coletivas – que aos poucos –
foram se individualizando.
Este último aspecto, no que diz respeito a individualização das ações, diferencia
claramente a razão de ser dos movimentos sociais que buscam um bem comum daqueles outros
que, em partes, devido ao calor das emoções e da euforia tecnologizante fetichiza a ideia do
aqui e agora, do puro acontecimento. Resguardadas as diferenciações, os movimentos sociais
nas palavras de Castells (2013, p.17) são constituídos de indivíduos, de suas emoções, anseios,
subjetividade e autonomia e representam a chave para a mudança social.
de vista invisibilizados pela mídia tradicional. A Mídia Ninja busca formas de produção e distribuição de
informação a partir das novas tecnologias e de uma lógica colaborativa de trabalho. Para saber mais acesse
<http://midianinja.org/>
142
4.9.1 Armações
Os processos de comunicação desenvolvidos por alguns movimentos sociais na internet
de um lado são produzidos para circular na própria rede e causar repercussão e adesão dos
sujeitos e ou militantes que se identificam com a causa. No intuito de ocupar o espaço híbrido
da internet, e por vezes, pautar o noticiário dos veículos hegemônicos de comunicação. E por
outro, alguns movimentos utilizam a internet, apenas como mais um dispositivo de
comunicação. Em outras palavras, esses processos vão depender de algumas configurações do
movimento social em questão, por exemplo, da fase em que se encontra, da bandeira de luta e
do nível de organização.
Paralelamente, os movimentos sociais constroem alianças com outras organizações,
coletivos, associações, cooperativas no intuito de articular demandas específicas, de construir
projetos coletivos, ou simplesmente, para dar força e ampliar a luta coletiva. Ao juntar as
tecnologias a estes processos emancipatórios e de reivindicações cidadãs a participação é
ampliada e ecoada para outras instâncias, além da sociedade civil. Para Sodré (2012, p.175) na
prática, as tecnologias se entrelaçam com movimentos sociais, e mesmo com influências
externas, que se relevam amadurecidos num determinado momento histórico.
Assim é que as revoltas contra os governos de longa duração no mundo árabe
(monarquias e ditaduras militares) tinham no centro da movimentação grupos
islâmicos (como era bem o caso da Irmandade Mulçumana no Egito) – mas
principalmente uma classe média de considerável amplitude, com residências
próprias e participação importante no consumo tecnológico. No Brasil, por
sua vez, a campanha “ficha limpa” era de iniciativa da Confederação Nacional
dos Bispos do Brasil e de mais de 44 organizações da sociedade civil (SODRÉ,
2012, p.175).
No Brasil, são vários os exemplos das possibilidades de participação coletiva por meio
da “democracia eletrônica”, Sodré contextualiza a campanha popular pela exigência de “ficha
limpa” para candidatos ao parlamento no país no ano de 2010. De acordo com as explanações,
a partir das praças virtuais, milhões de assinaturas e mensagens levaram o Congresso a votar a
lei que proíbe o registro eleitoral a políticos condenados por crime grave. “A Lei da Ficha
Limpa, a despeito das eventuais dificuldades para sua completa aplicação, é provavelmente a
mais notável conquista da sociedade civil brasileira na primeira década deste século” (SODRÉ,
2012, p.173). Neste viés, Sodré (2012) acredita ser possível a aliança entre a imaterialidade do
espaço virtual à noção de uma territorialidade cultural. Em outras palavras, o campo cultural é
143
também o campo das diferenças sociais, que implicam uma redefinição do jogo de poder, que
é, sobretudo, político.
Em momento posterior, Peruzzo (2010) considera que as novas práticas possibilitadas
pelas TICCS atualizam as formas de comunicação de segmentos subalternizados da sociedade.
A pesquisadora salienta que essas práticas vêm do interesse social presente nos cidadãos e nas
organizações civis em interferir nos sistemas geradores e mantenedores da desigualdade,
além das possibilidades inovadoras, como a interatividade, criação de conteúdos apropriativos,
entre outras proporcionadas pelas tecnologias.
Na atualidade e na efemeridade do estado de coisas, quais armas os movimentos sociais
podem utilizar para perceber as idiossincrasias do poder no espaço de fluxos?
É preciso considerar o uso social da internet. Apesar dela faz parte da base que estrutura
as tendências mercadológicas, como a financeirização do capital alinhadas à comunicação e a
informação, pode servir aos movimentos sociais, a partir dos processos comunitários de
comunicação como ferramenta de articulação e mobilização cidadã. A sociedade em rede
apresenta-se de forma tão ambígua, que existe possibilidades participativas através da criação
de conteúdos autênticos que sejam relativos aos próprios setores subalternizados. A mesma
tecnologia que oprime, também liberta. É neste contexto de ambivalência que a internet está
circunscrita. Silveira (2017), apesar de criticar a sociedade informacional afirma que inúmeras
possibilidades de resistência a lógica do capital já estão em curso.
Entretanto, a internet, expressão da sociedade informacional, é uma rede de
compartilhamento de informações, sejam sinais ou produtos imateriais. As
possibilidades de criação e compartilhamento são utilizadas por indivíduos e
coletivos que, intencionalmente ou não, praticam também uma economia da
dádiva e de trocas sem finalidade econômica. Resistências à mercantilização
extrema e ao domínio das interações em rede pelo domínio do mercado
existem inúmeros processos de colaboração e compartilhamento de
iniciativas, conhecimentos e desejo de realização de trocas solidárias.
Expressão da ambivalência que podem adquirir algumas tecnologias
(SILVEIRA, 2017, p. 23-24).
Os movimentos sociais nascem desejantes de comunicação, e por si, já comunicam.
Parte desta natureza comunicante está alicerçada na vontade coletiva expressa por melhorias
em condições específicas (demandas de bairros, associações) ou em alterações estruturais na
sociedade, do ponto de vista das relações de produção estabelecidas em determinado momento
histórico. A exemplo, o movimento francês, datado de 1789, conhecido como a Queda da
Bastilha que foi motivado devido às péssimas condições de vida expressas pela fome, alto preço
dos alimentos e dos impostos sob os auspícios da nobreza.
144
Assim, protestos, mobilizações, saques, foram diferentes maneiras utilizadas pelas
camadas populares, com forte influência da burguesia para que tivessem participação política.
Foi um movimento de grande repercussão que origina a Revolução Francesa e a Declaração
dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos. Este breve comentário, evidencia a natureza
comunicativa de um movimento social, independente de meio técnico ou tecnológico de
comunicação, regime político ou momento histórico.
Mas há que se observar o oposto à precarização da vida. Há que se observar práticas que
sustentam e alimentam a dimensão coletiva de compartilhamento de saberes, fora das amarras
tecnologizantes que tendem a esgaçar os laços sociais e anular o outro. Para Sodré (2012,
p.185),
Do vazio da existência - que o mercado hoje tenta preencher pela
disseminação infinita de artefatos técnicos - emerge a reivindicação coletiva
de novos modos de inteligibilidade do fenômeno humano, dos, envie um
pensamento capaz de amenizar a distância em que o perspectivismo da
tecnociência nos coloca frente ao mundo um pensamento menos de econômico
menos para hoje e mais afinado com que na razão há, concretamente, de
sensível. A dimensão humana dos modos de transmissão do saber e do
relacionamento social não depende da natureza técnica dos dispositivos.
Um pé fora das redes é possível, desde que essa existência seja implicada de
“responsabilidade (obrigação) e parceria (ser junto a outro), mas principalmente a injunção de
se assumir, por sensibilidade, o destino da experiência do mundo como abertura para outros
mundos possíveis” (SODRÉ, 2012, p.185).
4.9.2 Cidadania com um pé na rede, é possível?
De acordo com Sodré (2012, p.177) assim como nos espaços históricos concretos, a luta
democrática em torno das formas tecnológicas de cidadania também leva em consideração a
possibilidade de se controlar digitalmente o espaço social. As discussões críticas a este respeito
podem tomar vários rumos (SODRÉ, 2012, p.180), desde uma “inclusão” forçada, repetindo
um mesmo ciclo de exclusões anteriores na educação, na escrita, a própria midiatização,
entendida como articulação da vida social, como dispositivos de mídia.
Aliás, a facilidade de acesso à internet e aos sites de redes sociais digitais não implica
dizer, que parte da população vilipendiada de seus direitos mais básicos como saúde, moradia,
emprego e educação estejam exercendo cidadania por meio das TICCS. E tampouco que os
145
movimentos sociais estejam ocupando o espaço privilegiado da internet, como forma de
reorganização de suas lutas.
Inversamente, existe outro rumo dessa afetação tecnológica na vida social. A internet
por ser um espaço plural pode ser utilizada para auxiliar na promoção da cidadania ao facilitar
o intercâmbio de processos comunicacionais. Desde que, sirva como instrumento de ação para
homens e mulheres na ampliação do debate sobre seus direitos. Os movimentos sociais, assim
como outras formas de organização social, podem utilizá-la como um instrumento privilegiado
para comunicar, informar, atuar, recrutar, resistir, organizar ou para simplesmente ocupar.
4.10 Rizomas
Na pesquisa teórica colocamos em dispersão a utilização do termo popular para adjetivar
movimentos sociais. E de igual modo para caracterizar a comunicação por eles desenvolvida, o
que sustentamos até aqui por comunicação comunitária. Neste ponto, defendemos que a outra
comunicação dita comunitária tem um misto de alternativa, popular, local, contra-hegemônica,
entre outros termos, como vimos anteriormente. Sendo assim, não cabe esvaziar sua dimensão
simbólica ao escolher um termo em detrimento do outro. Ou seja, não é a terminologia popular
ou comunitária que vai definir a comunicação dos movimentos sociais e/ou grupos
subalternizados, mas sim suas práticas. Muito embora, tenhamos defendido a noção do comum,
do comunitário e da categoria multidão o fizemos não isentos de questionamentos políticos e
teóricos. Mas sim por acreditarmos que a raiz da comunicação, da comunidade e da multidão
está no comum e na conjugação das diferenças.
Em outra parte do texto retomamos de forma breve a discussão sobre a crise do conceito
de povo ligada ao conceito de Estado em Hobbes, levantada pelos autores italianos Hardt, Negri
(2014) e Virno (2013) até chegar à categoria Multidão. Como já fora mencionado, a multidão
permite uma leitura das inquietudes do homem pós-moderno, que a primeira vista parece-nos
mais apropriada ao contexto da crise política vivenciada pelo país. E assim, esta categoria nos
permite reavaliar as roupagens dos movimentos sociais. E de igual modo a ideia de povo,
porque não tem estatuto universal ou uma única bandeira de luta. Sendo assim, povo pode
representar várias facetas da sociedade, desde àquelas que lutam pela injustiça social, pelas
minorias, aquelas que querem destituir politicamente um governo, por exemplo.
146
Se por um lado, defendemos e nomeamos os termos e abordagens que nos auxiliaram
na construção do marco teórico empregado até aqui, por outro, a tentativa pela teoria
fundamentada em dados aplicada ao último capítulo poderá confrontar tais teorias. Enfim, a
análise54 empreendida no contexto dos movimentos sociais na internet possibilitará o confronto
com as próprias teorias empregadas nos capítulos anteriores, assim como a utilização de certos
termos que deixamos em suspensão, e que estão fundamentalmente relacionados à pesquisa.
O caminho percorrido foi fundamental para o conhecimento e o reconhecimento do
campo. Porém, por ser um campo movediço e ubíquo, buscamos novas proposições que venham
orientar ou singularmente ofertar um panorama do, entre, de como ocorre no presente
momento, os processos comunicacionais dos movimentos sociais na internet.
54 Durante o exame de qualificação um questionamento importante foi levantado, a possibilidade de não haver
material suficiente para às análises. Não obstante, a nossa postura é de que um(a) pesquisador(a) não retorna
vazio(a) do campo. Sabemos que não retornaremos vazios do campo, pois a pesquisa sempre trará algo de novo,
posto que o mundo em que vivemos está em constante movimento. Há mais de 2.500 anos, o filósofo pré-socrático,
Heráclito de Éfeso já nos advertia que, ninguém pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, pois ao entrar nele
novamente, as águas não serão as mesmas, tampouco o ser humano.
147
CAPÍTULO V - AS MÚLTIPLAS VOZES DA MULTIDÃO
Capítulo empírico baseado em trabalho de campo online que visa a sistematizar a tese
por meio da confrontação e comparação dos capítulos teóricos às análises de dados obtidas. A
composição da presente metodologia descrita e aprofundada no capítulo primeiro será aqui
resgatada para demostrar como os resultados foram alcançados. A primeira parte do capítulo
consistirá no mapeamento da comunicação dos movimentos sociais na internet e as respectivas
mídias utilizadas. A segunda parte traz os resultados da pesquisa feita nos portais sobre a
abordagem que estes dão aos conteúdos publicados que envolvem os movimentos sociais. A
terceira parte focalizará os processos comunicacionais de dois movimentos, o MST e o MAB,
apresenta como ambos trabalham com a comunicação e traz a releitura dos conceitos utilizados
no decorrer do trabalho em detrimento das análises empíricas.
5 Mapeamento dos movimentos sociais
Após revisão de literatura descrita nos capítulos dois e três e do levantamento dos
movimentos sociais brasileiros que possuíam representação nacional e se enquadravam nas
categorias teóricas definidas por Gohn (2013), já tínhamos pistas teóricas de que os processos
comunicacionais estavam em transformação devido as mutações proporcionadas com o avanço
das tecnologias de comunicação e informação. Como explicitado no capítulo metodológico,
alguns dos critérios de escolha dos movimentos foram: representatividade, abrangência,
bandeiras de luta pautadas no direito da pessoa humana e, sobretudo, com base nos
antagonismos sociais, nos quais, grande parte dos atores sociopolíticos está alijada de seus
direitos. E, particularmente, aqueles cujas linhas de atuação, encontram-se a alteração da ordem
societária vigente. Nessa primeira fase, de entrada, dedicamos o tempo necessário para
compreender as características dos movimentos sociais, como, por exemplo, tempo de atuação,
bandeiras defendidas, assim como a identificação das plataformas55 que mais utilizam na
internet.
Antes de iniciarmos a apresentação do mapeamento realizado é necessário que façamos
a ressalva de que as categorias “Setor de Comunicações” e a “Movimento na área do Trabalho”
55 Os termos plataformas, canais e mídias sociais são empregados como sinônimos. No entanto, ao utilizarmos o
termo rede social digital estaremos nos referindo ao relacionamento das pessoas por meio de grupos, comunidades,
fóruns etc. E mais especificamente atenta à discussão sobre redes que empreendemos no referencial teórico.
148
não foram levadas em consideração de forma isolada por acreditarmos que ambas perpassam
todos os movimentos sociais.
A seguir apresentamos o mapeamento realizado, do qual foram selecionados o MAB e
o MST para posterior análise em profundidade.
1. Movimento social - questão urbana:
Para esta categoria foi considerado o movimento nacional específico de moradia,
denominado Movimento dos Trabalhadores Sem Teto - MTST. Este movimento surgiu no ano
de 1997 e organiza os trabalhadores a partir do local em que vivem, ou seja, por atuar nas
periferias se autodenominam como movimento territorial urbano. A principal bandeira de luta
do MTST é a moradia. A forma de organização é coletiva, e para efetivá-la atuam em frentes
formando Coletivos Políticos, Organizativos e Territoriais. O MTST também se organiza em
Setores, dentre eles, destacamos o de Comunicação e Simbolismo - responsável pela
comunicação do movimento, ou seja, pelos canais de divulgação, além de fortalecer as
identidades simbólicas do movimento. Os principais canais de comunicação utilizados pelo
MTST são:
a) Site institucional – www.mtst.org.br
Figura 1 - Tela inicial do site MTST
Fonte: Site MTST
149
b) Canal no Youtube - MTST Movimento dos Trabalhadores Sem Teto
Figura 2 - Canal no Youtube – MTST
Fonte: Canal Youtube MTST
c) Página na rede social Facebook - https://www.facebook.com/mtstbrasil
Figura 3 - Rede Social Facebook
Fonte: Facebook MTST
150
d) Aplicativo para dispositivos móveis - App MTST
Figura 4 - Aplicativo para dispositivos móveis – App MTS
Fonte: MTST
2. Movimento social - questão do meio ambiente - urbano e rural:
O Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB no ano de 1989 realizou o Primeiro
Encontro dos Trabalhadores Atingidos por Barragens com representantes de várias partes do
país. Gradativamente o movimento foi se organizando nacionalmente, pela defesa e luta dos
atingidos e atingidas por barragens, em consonância com a defesa da água e da energia. Entre
as principais plataformas utilizadas pelo MAB para a divulgação do movimento na internet
estão:
151
a) Site institucional - http://www.mabnacional.org.br
Figura 5 - Tela inicial do site MAB
Fonte: MAB
b) Página no microblog Twitter - https://twitter.com/MAB_Brasil
Figura 6 - Microblog Twitter MAB
Fonte: MAB
152
c) Página na rede social Facebook - https://www.facebook.com/MAB.Bras
Figura 7 - Rede social Facebook MAB
Fonte: MAB
d) Canal no Youtube – MAB Comunicação
Figura 8 - Canal no Youtube – MAB
Fonte: MAB
153
e) Instagram - atingidosporbarragens
Figura 8 - Instagram MAB
Fonte: MAB
3. Movimento social - identitário e cultural – gênero:
A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e
Intersexos – ABGLT é uma rede nacional fundada em 1995 por 31 grupos, na atualidade
congrega 300 organizações afiliadas, sendo a maior organização do gênero na América Latina
e Caribe. Sua principal bandeira está pautada na luta pelos direitos humanos de lésbicas, gays,
bissexuais, travestis e transexuais - LGBT -, a fim construir uma sociedade democrática para
que todas e todos não sejam submetidos a qualquer tipo de discriminação e violência, por causa
de sua orientação sexual e/ou identidade de gênero. Existem várias organizações e coletivos
LGBTs espalhados pelo Brasil com sítios, páginas de redes sociais na internet, canais no
Youtube etc. A inclusão da ABGLT no mapeamento ocorreu a partir dos critérios já apontados,
mas também, por corresponder a uma das fases - parcerias - pelas quais passam os movimentos
sociais, debatidas no capítulo III.
154
a) Site institucional - https://www.abglt.org/
Figura 9 - Tela inicial do site ABGLT
Fonte: ABGLT
b) Página na rede social Facebook - https://www.facebook.com/ABGLTnaLuta
Figura 10 - Rede social Facebook ABGLT
Fonte: ABGLT
155
4. Movimento social - identitário e cultural – etnia:
O Movimento Negro Unificado – MNU atua desde o ano de 1978 na luta do povo negro
no Brasil, sua principal bandeira é o combate ao racismo e a defesa da vida. O MNU é um dos
movimentos identitários mais antigos do Brasil, e hoje encontra-se organizado em vários
estados, atuando também em outras frentes que visam a construção de um projeto político para
uma nova sociedade. Estruturado como entidade, o movimento congrega várias organizações
que lutam contra a discriminação racial e pela defesa dos direitos dos negros e negras. A
comunicação faz parte de uma das frentes de atuação do MNU, destacamos as plataformas que
são mais utilizadas na internet:
a) Site institucional – mnu.org.br
Figura 11 - Tela do site MNU
Fonte: MNU
156
1. Página na rede social Facebook – Movimento Negro Unificado Brasil – MNU
Figura 12 - Rede social Facebook MNU
Fonte: MNU
5. Movimento social - identitário e cultural – gerações:
O Levante Popular da Juventude é uma organização de jovens militantes pela luta de
massas que buscam a transformação da sociedade. Uma das principais tarefas do Levante é
mobilizar e organizar os jovens brasileiros para lutar por seus direitos enquanto grupo social.
Assim, se organizam a partir de três frentes de atuação, estudantil, territorial e camponesa. O
Levante surge no ano de 2006 no estado do Rio Grande do Sul, a partir de debates da
organização política Consulta Popular e de movimentos sociais, principalmente, o MST, para
organizar os jovens militantes de esquerda. É um movimento extremamente jovem em sua
constituição e na forma de encaminhamento de suas reivindicações, apesar de não defender uma
bandeira única. O Levante está presente e organizado nas disputas sociais, promovendo várias
manifestações com o objetivo de repercutir suas ações local e nacionalmente. As lutas e
reivindicações do Levante se reverberam nas técnicas de Agitação e Propaganda, na realização
de escrachos, batucadas e de várias expressões artísticas e culturais. Devido ao perfil de seus
militantes, o Levante Popular da Juventude se destaca na utilização das plataformas digitais na
internet.
157
a) Site institucional - http://levante.org.br/
Figura 13 - Tela inicial do site Levante
Fonte: Levante Popular
b) Página da rede social Facebook - www.facebook.com/levantepopulardajuventude
Figura 14 - Rede social Facebook Levante
Fonte: Levante Popular
158
c) Canal no Youtube – Levante Popular da Juventude
Figura 15 - Canal no Youtube – Levante
Fonte: Levante Popular
6. Movimento social - questão da fome:
Ação da Cidadania56 atualmente é uma organização não governamental com sede no
centro do Rio de Janeiro. No entanto, não podemos deixar de evidenciar essa iniciativa
promovida pelo sociólogo Betinho que à época suscitou a mobilização da sociedade civil pela
temática. A fome é um problema estrutural e político da sociedade brasileira marcado por
profunda desigualdade, assim, quem tem fome realmente tem pressa. O que existe atualmente
são ações isoladas de grupos e ONGs espalhados em diversas partes do país.
O movimento social Ação da Cidadania, contra a Fome, a Miséria e pela Vida surgiu no
ano de 1993 com o conceito de “solidariedade, todos nós podemos”. Destarte, é importante
evidenciar essa iniciativa promovida pelo sociólogo Betinho que à época suscitou a mobilização
da sociedade civil pela temática. Desde então, a Ação da Cidadania formou uma rede de
56 A Ação da Cidadania atualmente é uma organização não governamental com sede no centro do Rio de Janeiro.
No entanto, não podemos deixar de evidenciar essa iniciativa promovida pelo sociólogo Betinho que à época
suscitou a mobilização da sociedade civil pela temática. A fome é um problema estrutural e político da sociedade
brasileira marcado por profunda desigualdade, haja vista que quem tem fome realmente tem pressa.
159
mobilização nacional para ajudar milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Esta rede
é composta por comitês locais da sociedade civil organizada, os quais são formados por
lideranças comunitárias e com a participação de vários setores sociais. Atualmente a Ação da
Cidadania é uma organização não governamental com sede no centro do Rio de Janeiro e busca
combater todos os tipos de “fome” com a ampliação do debate pelos direitos plenos de
cidadania. Não obstante, A fome é um problema estrutural e político da sociedade brasileira
marcado por profunda desigualdade, assim, quem tem fome realmente tem pressa.
a) Site institucional - http://www.acaodacidadania.com.br/
Figura 16 - Tela do site Ação da Cidadania
Fonte: Ação da Cidadania
b) Página na rede social Facebook - www.facebook.com/acaodacidadania/?fref=ts
Figura 17 - Rede social Facebook Ação da Cidadania
Fonte: Ação da Cidadania
160
7. Movimento social – área do direito:
Este eixo temático foi repensando diversas vezes durante a pesquisa, pois aparentemente
ele entrava em conflito com o eixo 3 que trata dos movimentos identitários e estaria ligado a
primazia dos direitos humanos. No entanto, o exercício de retornar ao campo diversas vezes
despertou o nosso olhar para outra configuração de movimentos, que busca na união de diversas
bandeiras de lutas, maior visibilidade e força política, mesmo que isso possa significar certo
esvaziamento de propósitos e razões de ser de cada movimento. Chamou-nos atenção à
evolução de conceito do Movimento dos Trabalhadores Desempregados para Movimento de
Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos e também a junção de um movimento urbano criado
mais recentemente na área da moradia.
Então, como o eixo Movimento na área do trabalho, assim como o eixo mencionado
acima, circula e se imbrica aos demais movimentos, decidimos estrategicamente por mapear o
MTD e MOTU, por estarem em fase de transição e unificação e assim, poderíamos observar
aspectos mais específicos no desenvolvimento da comunicação.
O Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos - MTD e o MOTU são
movimentos urbanos, cuja principal bandeira reivindicativa é a luta por moradia, mas não se
encerra nela. O MTD surgiu no ano de 1999 no Rio Grande do Sul, sendo fundado pelo MST e
outros movimentos próximos. Na época, o nome era Movimento de Trabalhadores
Desempregados, cuja inspiração era um movimento homônimo na Argentina. Já o MOTU –
Movimento Organizado dos Trabalhadores Urbanos surgiu entre os anos de 2005 e 2006.
Atualmente o MOTU tem frentes de atuação em Ceará e Sergipe. Já o MTD atua em seis estados
brasileiros: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Paraíba e Distrito Federal. A
partir do ano de 2013, os dois movimentos iniciaram uma reformulação estratégica cujo
objetivo é a unificação em uma só entidade: o Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores
por Direitos (MTD). Todos os estados, exceto o Sergipe, já fizeram a mudança do nome.
A comunicação desenvolvida por estes dois movimentos, segundo dados extraídos de
entrevista, consta de assessoria de imprensa, alimentação das páginas do Facebook, articulação
com mídias alternativas que têm parceira política com MTD, especialmente o Brasil de Fato,
Mídia Ninja e Jornalistas Livres. Além disso, produzem cartazes, panfletos e outros materiais
de agitação. Ainda não construíram uma política de comunicação e como plataforma para
divulgar suas ações utilizam o Facebook.
161
a) Página na rede social Facebook - www.facebook.com/MTD-e-MOTU-Brasil
Figura 18 - Rede social Facebook MTD e MOTU/Brasil
Fonte: MTD e MOTU/Brasil
8. Movimento social decorrente de questões religiosas:
O Grito dos Excluídos surgiu no Brasil a partir da ideia de aprofundar o tema da
Campanha da Fraternidade, realizada desde o ano de 1964 pela Igreja Católica Apostólica
Romana. Anualmente a Igreja desenvolve a temática da Campanha da Fraternidade a partir da
conjuntura vivenciada no país. A intenção da Campanha é chamar a atenção para as mazelas
humanas e sociais e tentar modificar a realidade concreta à época. O Grito surge como um
porta-voz dos excluídos e desde o ano de 1995 lança um lema e convida a população para
conclamar no dia 07 de setembro, “Dia da Independência” a alteração da ordem vigente. O grito
autointitulado como expressão das manifestações populares apregoa o ecumenismo, por
entenderem que ele faz parte da prática das lutas.
O Grito dos Excluídos, na verdade, não se configura nos moldes dos movimentos sociais
clássicos ou novos, doravante, centraliza as ações das manifestações dos grupos que tem suas
vozes silenciadas e visam uma profunda transformação da sociedade. No ano de 1999, o Grito
dos Excluídos alcançou a América e aglutinou várias vozes excluídas de processos
democráticos por uma melhor condição de vida.
162
a) Site institucional – http://www.gritodosexcluidos.org
Figura 19 - Tela do site Grito dos Excluídos
b) Página na rede social Facebook - https://www.facebook.com/grito.dosexcluidos
Figura 20 - Rede social Facebook Grito dos Excluídos
Fonte: Grito dos Excluídos
Fonte: Grito dos Excluídos
163
9. Movimento social – rural:
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST é um movimento nacional
específico pela Reforma Agrária Popular. Já fizemos aqui um brevíssimo regaste sobre este
Movimento. A comunicação desenvolvida para a internet é estruturada pelo site nacional do
Movimento. No entanto, nos últimos anos têm ampliando seus canais de comunicação na
internet, a utilização de Facebook, Twitter, Instagram e Youtube são explorados
gradativamente.
a) Site institucional - http://www.mst.org.br
Figura 21 - Tela do site MST
Fonte: MTST
b) Página na rede social Facebook - www.facebook.com/MovimentoSemTerra
Figura 22 - Rede social Facebook MST
Fonte: MST
164
c) Página no microblog Twitter - https://twitter.com/MST_Oficial
Figura 23 - Microblog Twitter MST
Fonte: MST
d) Canal do Youtube - Movimento Sem Terra
Figura 24 - Canal do Youtube
Fonte: MST
165
e) Instagram – MST Oficial
Figura 25 - Instagram MST
Fonte: MST
10. Movimento social global:
A Via Campesina é um movimento internacional que congrega em média 200 milhões
de agricultores pequenos e grandes, sem terra, jovens, mulheres, indígenas, imigrantes e
trabalhadores agrícolas de várias partes do mundo. A Via Campesina defende que a agricultura
do campesinato, pela soberania alimentar, é uma forma de promover justiça social e dignidade
a estes grupos. O grande embate político deste movimento global é com o agronegócio, pois
destroem a natureza e as relações sociais.
a) Site institucional - http://viacampesina.org/
Figura 26 - Tela do Site Via Campesina
166
Fonte: Via Campesina
b) Página na rede social Facebook - www.facebook.com/viacampesinaOFFICIAL
Figura 27 - Rede social Facebook Via Campesina
Fonte: Via Campesina
Retoma-se que a divisão acima é feita por uma questão didática, que nos permite
elucidar e contextualizar os movimentos sociais. Como apresentado no capítulo três, por meio
de Peruzzo (2004), os movimentos passam por transformações ao longo de sua existência,
assim, eles não podem ser colocados em categorias rígidas; a classificação serve, na verdade,
para orientar o debate e a discussão
5.1 Os MS nos portais jornalísticos
Conforme explicado em nosso capítulo metodológico os procedimentos teórico-
metodológicos empregados durante a investigação foram divididos em etapas. Inicialmente
realizamos a pesquisa bibliográfica focada no estado da arte sobre comunicação e movimentos
sociais. Em paralelo a isto, realizamos um mapeamento dos principais movimentos sociais que
poderiam compor o estudo, bem como o levantamento de seus principais canais de
comunicação, especialmente, os disponibilizados por meio da internet, vistos no tópico anterior.
Posterior à revisão de literatura iniciamos a pesquisa documental em conjunto com a
observação participante netnográfica, como discutiremos a seguir:
A pesquisa documental foi realizada nos principais portais de notícias brasileiros (IG,
G1, Uol, Terra), a fim de que conseguíssemos saber como os movimentos sociais em seus
diferentes eixos temáticos são abordados nestes portais.
167
Esta fase da pesquisa nos portais foi realizada em duas etapas. A primeira etapa ocorreu
durante 30 dias, no período de 01 a 30 de maio do ano de 2016. A segunda ocorreu um ano
após, ou seja, no período de 01 a 30 de maio do ano de 2017.
Durante 30 dias, período que compreendeu a primeira etapa da pesquisa, realizamos
observação diária dos conteúdos, com o auxílio do diário de campo. Na observação buscamos
identificar os conteúdos que foram publicados e que continham a palavra-chave movimento
social. Nesta etapa, encontramos 43 textos; desses descartamos dois que, embora tivessem a
palavra-chave em seu texto não abordavam de fato a temática aqui trabalhada.
Inicialmente coletamos os dados diretamente dos portais, utilizando o diário de campo
para registrar nossa contribuição com as impressões gerais que obtivemos no decorrer de cada
semana. Mais adiante, com o intuito de refinar esses dados e traçar um panorama geral sobre
como os movimentos sociais são abordados nesses principais portais brasileiros, buscamos
compreender nos 41 textos encontrados quais eram os movimentos abordados, qual a temáticas
das publicações e se os conteúdos publicados davam voz ou não aos movimentos sociais em
questão.
Sobre os movimentos que aparecem na mídia constatamos que 48,78% dos textos não
abordavam um movimento em específico, e sim trabalhavam com vários, muitas vezes
colocando no mesmo pacote sindicatos, associações etc. Dos textos que citavam movimentos
sociais específicos, 9,75% citava o LGBT, 7,37% abordava o MST, 7,37% a CUT, 7,37% o
MTST e 17% abordaram outros movimentos como das mulheres, do Levante Popular da
Juventude e o movimento indígena.
Gráfico 1- movimentos sociais presentes nos conteúdos dos portais
48,78%
9,75%
7,37%
7,37%
7,37%
17%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
Múltiplos movimentos
LGBT
MST
CUT
MTST
Outros
168
Também buscamos compreender qual temática os textos que tinham relação com os
movimentos sociais abordavam. A maior parte deles, 48,78% era sobre manifestação; 24,3%
sobre eventos; 7,3% sobre polícia; 7,3 % sobre ocupação; 7,3% sobre direitos humanos e 4,8%
sobre ocupação, conforme representado no gráfico a seguir.
Gráfico 2 - Assuntos explorados pelos conteúdos dos portais
As manifestações que foram o assunto mais abordado envolviam, principalmente,
protestos realizados contra o governo Temer. Já eventos, o segundo assunto mais abordado
trazia informações sobre ações organizadas pelos movimentos que iriam acontecer como, por
exemplo, a parada LGBT. Buscamos, ainda, verificar se os portais citavam alguma fonte dos
movimentos sociais em seus conteúdos. 65,8% continha algum entrevistado dos movimentos
sociais 34,14% não continha.
Gráfico 3 - Conteúdos dos portais que davam voz aos movimentos
48,78%
24,30%
7,30%
7,30%
7,30%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
Manifestação
Eventos
Direitos Humanos
Ocupação
Polícia
65,80%
34,14%
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%
Sim
Não
169
Embora a maior parte do conteúdo apresente entrevistas com pelo menos um membro
dos movimentos sociais isso não significa dizer que os portais dão voz aos movimentos sociais,
e nem que as temáticas abordadas apresentavam especificamente as lutas e as reivindicações
desses movimentos. Pois, na verdade, o que estava em pauta era a crise política vivenciada pelo
país, principalmente, com o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff e o
andamento da investigação Lava Jato. Os dados tabulados contribuem para exemplificar as
observações gerais obtidas nas notas de campo.
Quadro 5 - Observação do diário de campo
Semana Notas de campo
Primeira Foco na política. Ênfase no processo de impeachment da
presidenta Dilma e sobre o afastamento de Eduardo Cunha. A
abordagem sobre os movimentos sociais aparece diluída nas
matérias e notícias, às vezes, com foco em manifestações e
grupos de manifestantes.
Segunda Foco na política. Michel Temer presidente em exercício.
Terceira Foco na política. Em pauta: Ações do novo Governo. Protestos
contra Michel Temer na Virada Cultural em SP.
Quarta 20ª edição da Parada do Orgulho LGBT. Lei de Igualdade de
Gêneros.
Fonte: autoria própria
Após um ano, retomamos aos quatro portais e os observamos por novos 30 dias para
identificar se o comportamento dos veículos diante a temática movimentos sociais permanecia
o mesmo ou se havia se alterado. De forma geral, identificamos que movimentos sociais de
variados matizes e centrais sindicais continuaram sendo pauta nos veículos selecionados para
análise. No entanto, assim como na primeira rodada de coleta, o intuito dos veículos não era
visibilizar a luta dos movimentos, mas abordar se eles representavam uma parcela mais
significativa de enquadramento político dos movimentos, de esquerda ou direita. Já que
movimentos sociais engajados, que no ano anterior de coleta estavam na luta para se posicionar
contra o impeachment da presidenta Dilma, neste defendiam veemente a saída de Temer
alegando à sua chegada ao poder como um golpe.
As conturbadas modificações políticas que descrevemos acima também nos auxiliaram
a confirmar nossa escolha sobre quais movimentos sociais seriam utilizados na próxima etapa
da análise. O percurso cartográfico direcionou nosso olhar para o MAB e para o MST. O
primeiro porque não teve visibilidade nos veículos hegemônicos pesquisados durante o período
de coleta e o segundo como contraponto, uma vez que é um Movimento conhecido da mídia e,
170
portanto, com mais visibilidade. O objetivo desta etapa não foi o de comparar movimentos,
embora em alguns momentos tal ação tenha ocorrido devido à riqueza do dado gerado. Na
sequência, apresentamos e discutimos os dados da pesquisa netnográfica realizada sobre os
processos comunicacionais dos dois movimentos sociais selecionados.
5.2 Observação participante netnográfica – OPN
Nesta etapa, conforme descrito anteriormente, foram selecionados dois movimentos
sociais para que tivessem uma análise em profundidade sobre seus processos comunicacionais
na internet.
5.2.1 OPN - MST
A partir da observação notamos que os meios pelos quais o MST mais se engaja
comunicacionalmente são pelo site institucional e pela página no Facebook. Para identificarmos
como eles lidam com a ferramenta observamos o período de 01 a 30 de maio de 2017. Ressalta-
se que entre as motivações da escolha do período está o fato de ele abarcar datas importantes
para o movimento como, por exemplo, o dia do trabalhador e os desdobramentos do processo
de impeachment da presidenta Dilma.
Em um mês de análise foram identificadas 110 postagens, o que dá uma média de 3,6
publicações por dia. Sobre o envolvimento desses conteúdos com os usuários, identificou-se
que no período analisado houve 80.092 reações57, uma média de 728 por postagem. Além de
6.266 comentários, que representa a média de 56 por post e, ainda, houve 33.922
compartilhamentos, que nos dá uma média de 308 por publicação.
Esses dados são interessantes, pois nos trazem indícios sobre a interação que os usuários
possuem com as publicações oficiais do MST. Nota-se que a interação por reação foi a maioria
e ressalta-se que ela é uma atividade mecânica do usuário que exige apenas que acione ou não
um botão. Em comparação, o número de compartilhamentos é menor, uma vez que ele exige a
identificação e apropriação do usuário com o conteúdo, fazendo com que seja publicado na sua
página pessoal. Já os comentários, se comparados com a representatividade da página, ocorrem
57 Segundo definição do Facebook, “a métrica de curtidas na publicação agora se chama reações à publicação. Ela
mede a quantidade de reações em seus anúncios ou publicações impulsionadas. O botão de reações em um anúncio
permite que as pessoas compartilhem reações diferentes ao conteúdo: Curtir, Amei, Haha, Uau, Triste ou Grr”.
171
em baixa proporção. Por outro lado, identifica-se que os comentários não são estimulados, uma
vez que não sofrem interação por parte dos organizadores da página e não são respondidos.
Sobre o modo como as publicações da página do Facebook são trabalhadas
identificamos que há uma otimização dos conteúdos que são publicados pelo site institucional
do Movimento, uma vez que 40% do material publicado são originários do site. Além disso,
fotos e vídeos também são utilizados pelo Movimento. A seguir, o gráfico representa quais
formatos são explorados nas postagens realizadas pela página do Facebook do MST, vejamos:
Gráfico 4 - Formatos presentes nos posts do Facebook do MST
Por meio da OPN identificamos que os conteúdos compartilhados do site institucional
são, em sua maioria, notícias produzidas sobre o movimento. Assim sendo, a maior parte do
conteúdo presente no Facebook do MST se caracteriza como notícia que tem como finalidade
a informação. Já as fotos publicadas são acompanhadas por pequenos textos que as descrevem.
Importante acrescentar que as notícias compartilhadas no Facebook são sempre acompanhadas
de imagens. Com exceção das notas, sobre as quais falaremos mais adiante, todos os conteúdos
publicados possuem apelo imagético, tal ação é coerente com a tendência de consumo da
informação, uma vez os conteúdos com imagens são muito mais visualizados dos que os sem.
Os vídeos representam 18% dos formatos publicados e geralmente atendem a dois tipos
de produção: 1 – depoimento de pessoas que na maioria dos casos é gravado em primeiro plano
e contempla o posicionamento sobre algum fato; 2 – vídeos com produção mais sofisticada cuja
estrutura narrativa e estética se aproxima do documentário.
Em eventos estão às publicações que utilizam o próprio recurso do site Facebook que
cria um acontecimento com dia, horário e local marcado e permite que as pessoas confirmem
40%
36,36%
18,18%
2,72%
2,72%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Conteúdo originário do site institucional
Foto
Vídeo
Notas
Eventos
172
ou não a presença. Marcha e manifestações foram as motivações dos eventos criados. Em notas
estão os posicionamentos oficiais do Movimento sobre algum acontecimento em específico.
Estas postagens não possuem imagens, são escritas de maneira mais formal que as outras
publicações e também possuem uma extensão textual maior.
Também buscamos saber quais as temáticas que foram trabalhadas nas publicações do
Facebook do MST. Organizamos as temáticas em categorias para fins didáticos, embora
saibamos que muitas delas são correlacionadas. Por exemplo, muitos eventos são formas de
manifestações. Os três assuntos mais abordados nas publicações do MST foram: eventos,
conflitos e manifestações. A seguir a representação gráfica da presença da distribuição dos
assuntos por post:
Gráfico 5 - Temas presentes nas publicações do Facebook do MST
Importante mencionar que em apoio está tanto ações de apoio recebidas pelo
Movimento, quanto as realizadas por ele à outras instituições e pessoas e que houve um
equilíbrio entre as ações dos dois tipos de apoio. Na definição evento constam as publicações
sobre marchas realizadas, ações sobre datas comemorativas, festivais, jornadas e outros. Já na
categoria conflitos foram computadas tanto as publicações que abordavam diretamente os
embates, das ocupações às desapropriações, quanto os que traziam conflitos de ideologias,
posicionamentos e discussões como, por exemplo, o posicionamento do MST frente ao governo
Temer.
12,72%
31,81%
3,63%
16,36%
4,54%
21,81%
1,81%
1,81%
5,54%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%
Apoio
Evento
Histórico
Manifestação
Reunião
Conflito
Entrevista
Nota
Campanha
173
Observamos nas postagens que as publicações geralmente atentem a duas lógicas: 1 –
são sobre coberturas de ações instantâneas ocorridas (marchas, manifestações, conflitos,
ocupações etc); 2 – são publicações com tendências político-partidária apoiando governo e
figuras políticas do partido dos trabalhadores.
Outra ação feita durante nossa análise foi a busca por alguns indícios sobre o tipo de
material com maior aceitação por parte do usuário. O post que mais teve compartilhamentos e
reações no mês analisado foi o “Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia”,
publicado no dia 17 de maio de 2017, que teve 11.594 compartilhamentos e 9,2 mil reações,
vejamos:
Figura 28 - Post do MST com mais compartilhamento e reações
Fonte: MST
O segundo conteúdo com mais compartilhamento e também o segundo com mais
comentários foi o “João Pedro analisa afastamento de Eduardo Cunha”.
174
Figura 29 - Segunda postagem do MST com mais compartilhamentos e comentários
Fonte: MST
A terceira publicação com mais compartilhamento foi “MST apoia a luta dos estudantes
de São Paulo e todo o Brasil”. Já o conteúdo com mais comentários, 391, foi “Nesse momento,
o cantor Tico Santa Cruz canta para milhares de pessoas no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.
Foto: Mídia Ninja”, o qual foi também o segundo com mais reações. O terceiro post com mais
comentários foi o “Nesta manhã, as duas principais BRs que dão acesso à Brasília foram
trancadas por Sem Terras do MST e MTL. A manifestação integra a Jornada de Lutas pela
Democracia e Contra o Golpe. Confira o vídeo!”.
Por fim, o terceiro conteúdo mais reações foi o “Hoje é mais um dia de lutas. A Parada
LGBT de SP leva o combate à Transfobia à Avenida Paulista na maior manifestação LGBT no
mundo”. Sobre estes conteúdos com mais visibilidades é preciso dizer que quatro dos seis
materiais foram feitos em vídeo e dois com fotos, dois deles contam com celebridades (Tico
Santa Cruz e João Pedro Stédile e dois são posts relacionados a causa LGBT.
5.2.2 OPN - MAB
A página do Facebook do Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB tem 46.305
curtidas e em um mês de análise, de 01 a 30 de maio de 2017, contou com 98 postagens, o que
dá uma média de 3,2 por dia. Quanto a interatividade dos usuários com a página do MAB temos
que ao todo foram 4 mil reações, cerca de 40,8 por postagem, 180 comentários, o que dá uma
média de 1,8 por publicação e quanto aos compartilhamentos em um mês foram feitos 3413,
cerca de 34,8 por postagem.
A princípio esses dados podem nos levar a comparação com a página do MST e nos
levar a afirmação que o MAB possui muito menos repercussão e engajamento. Isso de fato
175
acontece, mas é preciso levar em consideração que o MST possui em sua página seis vezes mais
curtidas que o MAB, uma vez que o primeiro tem mais de 300 mil curtidas e o segundo mais
que 40. Por isso, não compararemos o alcance e a repercussão de ambas as páginas, apenas o
gerenciamento e a estratégia gerada por elas.
Quanto ao modo como as publicações são feitas, temos que foto e vídeo são os recursos mais
utilizados. Vejamos o gráfico a seguir:
Gráfico 6 - Formatos presentes nos posts do Facebook do MST
Fotografia, com 53% de presença das postagens, foi o recurso mais utilizado nas
publicações do MAB. Nesta categoria, enquadram-se também outros recursos visuais
imagéticos criados como cartazes, ilustrações entre outros. Todavia, estes outros recursos são
bem menos explorados, representam apenas 15% da amostra de foto.
Já o vídeo foi o segundo formato mais utilizado com 31,6% de presença nos materiais.
A maior parte dos vídeos corresponde a filmagens sobre as ações, manifestações e eventos que
o Movimento criou ou participou. Ainda, entre os formatos publicados temos 14% de
publicações de notícias de site institucional e apenas 1% das publicações são de eventos.
Enquanto estratégia comunicacional, nota-se que enquanto o MST aposta nas publicações de
conteúdo informativos, o MAB se prende mais a publicações de fotos.
Sobre os assuntos presentes nas publicações do MAB, manifestação foi o mais
abordado. O gráfico a seguir representa a divisão de temas por publicação feita na página do
Movimento.
53%
31,60%
14,28%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Foto
Vídeo
Site
Evento
176
Gráfico 7 - Temas presentes nas publicações do Facebook do MAB
Manifestação foi o tema mais presente nas publicações da página do Movimento, com
42,8%. O segundo assunto mais presente foi conflito, com 25,5%, lembrando que nesta
categoria foram inseridos não só os conflitos físicos de ocupação e confronto, mas também os
ideológicos que abordavam posicionamentos diferentes entre o Movimento e outras instituições
e/ou pessoas. A terceira temática mais comentada foi eventos, nesta categoria inclui-se atos
políticos, eventos culturais como lançamento de filmes, entre outros.
Sobre as publicações feitas, a que teve mais compartilhamento, mais reações e mais
comentários foi a postagem de uma imagem feita em protesto ao desastre ambiental provocado
pela empresa Samarco que ocorreu no município de Mariana em Minas Gerais, no ano de 2015.
Vejamos a publicação:
10,20%
15,30%
42,80%
4%
25,50%
1%
1%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%
Apoio
Evento
Manifestação
Reunião
Conflito
Entrevista
Nota
177
Figura 30 - Post do MAB com mais curtida, compartilhamento e reações
Fonte: MAB
A imagem acima teve 1600 compartilhamentos e 532 curtidas, médias bem acima da
página, na qual geralmente cada publicação receberia 40 compartilhamentos, por exemplo. O
segundo conteúdo que teve mais reações e compartilhamento também era relacionado ao
desastre de Mariana:
Figura 31 - Segunda postagem do MAB com mais reações e compartilhamentos
Fonte: MAB
178
A terceira publicação com mais reações foi o compartilhamento da notícia “MAB
denuncia golpe e violações de Direitos Humanos no Parlamento Europeu”. A terceira
publicação com mais compartilhamento e a segunda com mais comentário é um vídeo em
comemoração à chegada da ex-presidente Dilma. Por fim, o terceiro conteúdo com mais
comentários é o de uma notícia sobre “Fala do MAB na Câmara dos Deputados em Brasília,
durante a Comissão de Direitos Humanos e Minorias”. Interessante apontar que ao contrário do
MST, o MAB não é muito acompanhado por pessoas contrárias ao seu movimento e, com isso,
geralmente recebe comentários positivos:
Figura 32 - Comentários sobre a postagem do MAB
Fonte: MAB
Esta seção delineou parte importante da observação participante netnográfica, com a
interpretação do conjunto de dados extraídos sobre a forma como o MST e o MAB divulgam
seus processos comunicacionais na internet em âmbito nacional.
179
5.3 (Des)amarrando os conceitos
As entrevistas semiestruturadas foram codificadas conforme demonstra o quadro seis,
mais abaixo. Após submergirmos nas codificações propostas pela técnica da teoria
fundamentada em dados e resgatar os conceitos deixados em dispersão durante a pesquisa, os
explicitamos e buscamos as relações que, de alguma forma, os vinculavam. O refinamento das
categorias emergidas das falas dos respondentes foram comparadas com os dados extraídos e
já debatidos anteriormente. Pudemos apreender algumas categorias teóricas que emergiram de
ambos Movimentos, MST e MAB, em comparação aos dados extraídos na etapa anterior.
Ao empreender um estudo com base nas técnicas da teoria fundamentada em dados
objetiva-se, principalmente, pesquisar um fenômeno que seja comum a uma determinada
temática ou objeto específico de pesquisa, com o intuito de buscar correlações entre os
respondentes sobre um mesmo objeto específico. Assim, voltando ao campo comparando dados
e construtos teóricos até a sua saturação. Em nossa empreitada, o conjunto de procedimentos
descritos na metodologia ancorados nas técnicas da teoria fundamentada foi um desafio.
Primeiro, porque certamente não seria fácil realizar tal feito mesmo se tivéssemos realizado esta
pesquisa com um único movimento social, buscando teorizar sobre o uso das tecnologias de
informação e comunicação pelos militantes, por exemplo. Segundo, sem perder de vista que
toda pesquisa deixa sombras, buscamos analisar o fenômeno em questão na totalidade por nós
recortada. Assim, ao buscarmos as técnicas da teoria fundamentada em dados foi porque ao
estudarmos a netnografia percebemos que algo há mais que não estava na superfície poderia ser
acrescentado ao trabalho. Chegamos então, a metodologia da teoria fundamentada em dados ao
sistematizar nosso conhecimento sobre a netnografia, assim uma metodologia mesclando-se a
outras.
Destarte, após realizarmos o levantamento dos movimentos sociais e termos mapeado
de forma sumária seus processos comunicacionais na internet, buscamos os devires, a
construção de um mapa, sempre inacabado. Assim, com o respaldo da cartografia buscamos
ouvir e observar para além daquelas informações que fornecessem um conjunto de dados
precisos ou que revelasse constructos semelhantes ou díspares.
No contexto das entrevistas semiestruturadas, conforme descrito no capítulo
metodológico, realizamos quatro. Mantivemos um bom relacionamento com os informantes-
chaves, que inclusive, não solicitaram anonimato, mas mesmo assim preservaremos a
identidade de todos.
180
Conforme relatamos, apesar de termos construído um roteiro de questões bem
estruturado e organizado não tínhamos como focar em um incidente específico. Então,
buscamos com a utilização da codificação interpretar os constructos, códigos e categorias a
partir da elaboração de categorias mais universais que contemplasse a diversidade em termos
de bandeira de atuação e processos comunicacionais na internet do MAB e do MST, ambos
movimentos analisados. Fizemos três tipos de codificação, aberta, axial e seletiva trabalhando
com a codificação textual sequência por sequência. Após leitura de cada tópico frasal e/ou
sequência de linhas extraíamos rótulos dessas sequências. A exigência era de que cada estrutura
capturada ela exprimisse uma ação, dessa forma, realizamos a codificação aberta em mais de
60 páginas de transcrição literal.
Quadro 7 - Exemplo de codificação
Fonte: Autoria própria
A codificação aberta consistiu em levantar e selecionar o material bruto, para em seguida
criar novas categorias. A seguir apresentaremos abaixo as principais:
181
Quadro 4 – Codificação aberta
Categoria Aberta
Participação coletiva
Luta de classes
Construindo atrativos
Contra-hegemonia
Atuação em rede
Usando a tecnologia conforme a necessidade
Faltando definição das ações de comunicação
Divulgando
Pensando a segurança na rede
Preocupação com fake news
Criminalização / Silenciamento
Faltando debate sobre comunicação
Seguindo às tendências na internet
Fonte: autoria própria
A codificação aberta ocorreu no primeiro nível de abstração, no qual examinamos e
separamos os dados. As categorias emergiram das entrevistas, principalmente dos códigos in
vivo, porém estas, foram comparadas com os dados arquivais que selecionamos com o apoio do
programa Evernote, com as notas de campo escritas ao longo da coleta dos observáveis e
também com os dados tabulados na seção anterior.
A codificação axial depreendeu da anterior, com a formação e desenvolvimento de
rótulos e conceitos. Esta etapa esteve intimamente relacionada às notas de campo, nas quais nos
baseamos para refinar as categorias criadas. Assim, podemos apontar as categorias
depreendidas das anteriores:
182
Quadro 8 - Categorias
Categoria Aberta Categoria Axial
Participação coletiva Princípio organizativo, decisão coletiva
Luta de classes Todos os movimentos pela luta de classes.
Multidão
Construindo atrativos Estética, conteúdo com apelo imagético, memes,
cards, vídeos, filmes, documentários
Contra-hegemonia Disputa contra-hegemônica
Atuação em rede Discurso único, conteúdo jornalístico, Brasil de
Fato
Usando a tecnologia conforme a
necessidade
Inovação, criação de aplicativos
Faltando definição das ações de
comunicação
Fragilidade, comunicação técnica
Divulgando Publicidade e Propaganda ideológica
Pensando a segurança na rede Reavaliação/estudo da comunicação na internet
Preocupação com fake news Instrução aos militantes
Criminalização / Silenciamento MST e MAB
Faltando debate sobre comunicação Comunicação como direito humano
Seguindo às tendências na internet Divulgação de produtos e serviços no Instagram
Após esta etapa examinamos outras vezes o conjunto das entrevistas codificadas para
buscar mais informações e assim, poder saturar os dados até que não conseguíssemos mais
extrair informações. Com a sistematização desses dados chegamos a criação de conceitos mais
gerais, que interpretamos à luz das teorias empregadas nos capítulos anteriores e dos conceitos
que deixamos em dispersão.
A seguir apresentaremos a formulação das categorias seletivas emergidas apontando os
principais resultados sistematizados e interpretados. No entanto, as categorias publicidade,
notícias falsas e unidade política aparecem destacadas, mas isso não significa que elas estão
assim demostradas por ordem de relevância, mas para ilustrar como foi o processo de
construção e ampliação da teoria. As demais categorias aparecerão esmiuçadas no texto.
Muitas terminologias e conceitos têm sido utilizados para representar as manifestações
oriundas das classes ora, subalternizadas. Assim, munidos com uma amostragem teórica
183
concentrada nas categorias que emergiram das entrevistas dos respondentes, bem como dos
dados extraídos, conseguimos chegar a conceitos mais gerais para nos aproximarmos daqueles
que, num primeiro momento, deixamos em dispersão. Não foi tarefa fácil codificar, analisar e
interpretar o conjunto de dados composto por uma multiplicidade de imagens, vídeos e textos,
para buscar o que sempre nos moveu no percurso teórico-metodológico deste trabalho.
Entretanto, este processo nos permitiu encontrar as conexões, brechas, insurreições que só
poderiam ser encontradas com a confrontação de teoria existente ao trabalho netnográfico de
imersão nos canais mais utilizados pelos movimentos e principalmente, por meio das
entrevistas.
Publicidade – Chamada de propaganda ideológica pelo MST e de divulgação na
assessoria de imprensa do MAB, a publicidade é assim reverberada nas ações comunicacionais
de ambos os movimentos. Esta afirmativa complexa sustenta-se teórica e praticamente nesta
pesquisa, pois ao partimos da fundamentação teórica, seguida da observação e posterior
confrontação do rigor de pensamento dos respondentes, esta categoria tornou-se evidente na
observação participante netnográfica.
À primeira vista a assertiva não corresponde ao discurso dos movimentos sobre a
utilização da publicidade. Se por um lado, existe a resistência pela nomenclatura “publicidade”,
existe por outro, a ampla utilização do termo propaganda ideológica no caso do MST, quando
se trata da divulgação dos produtos da Reforma Agrária Popular, bem da conscientização sobre
o consumo desses tipos de produtos. Não obstante, o avanço vertiginoso das tecnologias de
informação, comunicação e conhecimento possibilitou maior abertura para a divulgação de um
dos pilares da Reforma Agrária Popular, a produção de alimentos saudáveis e a utilização de
técnicas publicitárias têm auxiliado cumprimento deste papel.
Nota-se que para os movimentos sociais a comunicação é compreendida como um
território quase sagrado de compartilhamento dos atos políticos e reverberação de suas lutas. A
partir da OPN e do próprio discurso dos respondentes verificamos que a comunicação, ou seja,
os processos comunicacionais desenvolvidos por eles não são estanques, e assim, por vezes
acabam por usar as mesmas ferramentas que a mídia hegemônica, as quais representam o capital
e oprimem a sociedade. No entanto, a utilização da publicidade ocorre de forma diferenciada e
focada nos objetivos do movimento. Apesar de negarem durante as entrevistas a utilização da
publicidade e de a ignorarem teoricamente em seu sentido político e social, acabam por se
empoderar dela na prática, ao realizarem uma publicidade contra-hegemônica e/ou social
184
(SILVA, 2005). Principalmente, quando divulgam e vendem os produtos orgânicos da Reforma
Agrária Popular.
Assim, apontam para a apropriação da propaganda ideológica em detrimento da
publicidade, pois esta última, estaria comprometida com a financeirização de mídia pelos
conglomerados de comunicação e com isso são avessos a utilização das técnicas publicitárias.
No entanto, afirmam que utilizam técnicas de fotografia e elementos estéticos para se
destacarem no Instagram, principalmente. As técnicas de fotografia aliadas aos recursos
publicitários nas redes sociais digitais colaboram com o discurso da propaganda ideológica
desses movimentos.
Vejamos a seguir uma elucidação sobre o uso da publicidade:
O MST ao realizar uma feira de agroecologia, divulga os produtos da agricultura
familiar. Por um lado, essa divulgação tem um apelo ideológico no tocante ao discurso da
soberania alimentar. Embora, também apresente aspectos e formatos publicitários na
organização e divulgação das feiras e produtos, muitos deles com identidade visual e
logomarca, que objetivam representar assentamentos, acampamentos e cooperativas espalhados
pelo país.
Um exemplo citado durante a OPN foi a divulgação do Armazém do Campo. Na mesma
linha de atuação, segue o MAB ao divulgar por meio de assessoria de imprensa, trailers e fotos
de documentários, como é o caso do filme “Arpilleras: bordando a resistência”, lançado no Sesc
de São Paulo em 2017. A seguir temos as imagens dos posts do Facebook que divulgaram o
documentário e o Armazém do Campo.
Figura 33 - Publicidade nas páginas do MAB e do MST
Fonte: MAB e MST
185
Mesmo que, ambos os movimentos desconsiderem o termo publicidade, chegam a
afirmar que o Brasil de Fato, por exemplo, um grande parceiro e idealizado pelos próprios
movimentos utiliza a publicidade para a sustentação do veículo.
Ainda, no quesito publicidade, ambos os Movimentos, têm utilizado o Instagram para a
divulgação das lutas, sobretudo, para a exposição dos produtos comercializados no caso do
MST e das produções artísticas no caso do MAB, ambos com direcionamento maior, que é a
própria luta contra o capital. As publicações de conteúdo direcionadas para o aplicativo
Instagram seguem às tendências e formatos de utilização própria dos aplicativos, ou seja, as
fotografias, ilustrações e outros formatos imagéticos exploram o recurso estético das imagens,
com a utilização de filtros, angulação em primeiro plano, entre outros.
Notícias falsas (Fake news) – O tema das notícias falsas que circulam na internet, surgiu
durante as entrevistas. Os respondentes demostraram preocupação com a crescente utilização
deste tido de conteúdo que ao ser disseminado na rede viraliza, geralmente, com o intuito de
criminalizar o MST. Outro fator atrelado as notícias falsas que pudemos observar foi a grande
preocupação com os ataques cibernéticos nas páginas e perfis destes movimentos. Segundo
relato de um dos respondentes, o MST chega a receber 6 mil ataques de robôs por mês. A partir
desta discussão, a temática da segurança e privacidade na rede também foi abordada durante as
entrevistas, o que parece estar relacionada a própria forma como a Coordenação Nacional de
Comunicação de ambos os movimentos dá as diretrizes de utilização das redes sociais digitais.
Entretanto, embora os movimentos estejam recebendo algumas diretrizes de como utilizar as
tecnologias, este processo ainda está em fase de amadurecimento.
Unidade política - Outro conceito emergido nas codificações e interpretado à luz das
teorias utilizadas nos capítulos anteriores foi o de luta de classes. No geral, os dez movimentos
sociais mapeados têm uma variedade de frentes de atuação que perpassam a lógica de
organização estrutural dos movimentos. Por exemplo, o MDT e o MOTU são movimentos
distintos, mas ao se fundirem ampliam suas frentes de atuação. Outro caso mais específico pode
ser ilustrado pelo MAB, ao incluir em suas frentes de atuação a luta LGBT. Assim, a definição
clássica de classes sociais passa estar fragmentada nas bandeiras e eixos de atuação dos
Movimentos. Isso comprova que na atualidade existe uma imbricação e correlação entre esses
eles, que têm uma ideologia maior que é a unidade política. Embora isso não signifique dizer
que esta noção de classes sociais está refutada em nossa pesquisa.
186
Apesar de não termos utilizado o termo unidade política na teoria, ela emerge a partir
das falas dos respondentes e do material analisado, uma vez que, não buscam apenas dar conta
de suas demandas específicas. A unificação das lutas, na atualidade parece conformar a ideia
de que eles formam uma rede, não somente pelo seu aspecto tecnológico, mas também por ser
uma rede de colaboração mútua e defesa e alargamento de direitos humanos e sociais.
Muito embora, militantes conservadores de esquerda desconsiderem este novo papel
desempenhado pelos movimentos sociais, por acreditaram em certo esvaziamento da luta, neste
trabalho percebemos que na atualidade o caminho para a justiça social e um projeto novo de
democracia passa necessariamente por relações colaborativas, em rede. Destarte, as redes de
colaboração em torno dos movimentos sociais, vão priorizar suas singularidades em relação às
suas frentes de atuação, que são múltiplas, mas que mesmo assim, refletem a luta pelo seu viés
revolucionário, bem como as micro lutas e embates que ocorrem no interior da sociedade
organizada. Seja o movimento de mulheres, negros, jovens, de ampliação dos direitos das
pessoas com necessidades especiais, ou pela defesa dos animais, do ambiente, etc., de uma
forma ou de outra, eixos e temáticas dos movimentos acabam se encontrando e se solidificando.
Essas novas relações podem ser compreendidas a luz de Hardt e Negri (2014, p.150), a partir
da introdução do conceito de biopolítico -, trabalhado no capítulo três desta pesquisa-, por meio
do qual compreende-se que o trabalho não pode ser restringido a atuação assalariada, mas sim
que ele envolve capacidades e práticas criativas, ou seja, corresponde às relações e a própria
vida social.
Assim, discute-se o que seria multidão, senão, esta forma subjetiva e comum de pensar
as alteridades humanas que se conjugam e se completam na busca por uma nova forma de
democracia global? O tecnocapitalismo, apenas, reinventa formas diferenciadas para a
manutenção e circulação do seu poder. As revoluções, que outrora, refletiam as massas
quebrando máquinas e grilhões, na atualidade se apresentam como forma heterogênea de
multiplicidades de forças. A luta de classes, que outrora, congregava trabalhadores operários,
na atualidade orienta o conflito e a busca por mudanças específicas da grande diversidade
humana que incide na formação de redes e, particularmente, de multidão. Assim, orienta a luta
de tod@s que buscam um novo projeto de sociedade igualitária e democrática, que, sobretudo,
priorize a defesa dos direitos humanos em sua amplitude, tais como movimentos vinculados a
melhorias nas condições de trabalho e de remuneração; a defesa dos direitos humanos relativos
aos segmentos sociais e aqueles que lutam para minimizar desigualdades que afetam grandes
contingentes populacionais (PERUZZO, 2014).
187
Dessa forma, cada período histórico dará conta da realidade concreta vivida pela grande
diversidade humana e de movimentos sociais. Aqui nesta pesquisa vimos uma reinvenção do
sentido de luta libertária e revolucionária para outro tipo de configuração, por uma luta que
demanda não somente o operário ou camponês, mas que busca o chamamento político de
tod@s, seja instituições, atores políticos e movimentos sociais, cada um ou tod@s, ao seu modo,
dando um grito pela multidão.
Em contrapartida, ao abordar esta nova configuração dos movimentos sociais e a
atuação em rede, conforme temos afirmado neste capítulo, não podemos deixar de lado outros
aspectos importantes que antes eram a razão de ser dos movimentos. Sim, os movimentos
sociais têm se mostrado muito mais pacíficos a luta de tod@s do que necessariamente a sua luta
específica, seja pela Reforma Agrária Popular, seja pela moradia, por exemplo. Esta
reconfiguração está pautada na conjuntura vivenciada pelo país marcada por profundas crises,
na ordem da política e consequentemente de representação do Estado. Alguns movimentos ao
se institucionalizarem perderam um pouco da autonomia e da capacidade de negociação ao
cederem as pressões impostas a uma certa abertura ao diálogo com os representantes desse
Estado desmantelado.
Por outro lado, o debate em torno dos direitos humanos tem crescido vertiginosamente
devido a fermentação provocada por grupos específicos e abraçada pelos movimentos sociais,
à guisa de referência, o MAB e o MST, ambos passam a atuar na frente da ampliação dos
direitos de cidadania e defesa dos direitos conquistados a duras penas. Apesar da palavra
cidadania ser pouco utilizada nas falas dos respondentes, percebemos que esses dois
movimentos têm atuado singularmente na causa LGBT. O MST, por exemplo, por meio da
militância e coordenação estadual na Bahia, conquistou uma cadeira no Conselho Estadual dos
Direitos da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.
O conjunto de dados analisados nesta pesquisa, à luz da técnica da teoria fundamentada
em dados, nos permitiu uma leitura diferenciada de como os movimentos sociais encaminham
as suas lutas por meio da internet. Muitos movimentos acompanharam as tendências e
novidades oriundas das tecnologias de informação e comunicação. A comunicação em torno
dos anos de 1980 e 1990 esteve refletida por meio de reuniões, panfletos, cartilhas,
manifestações artísticas e depois, foi se reinventando com a criação de estação de rádios
comunitárias e alternativas. Ainda que a década de 1990 represente uma guinada estratégica
para muitos movimentos sociais, antes rígidos e sem diálogo com as demais instâncias da
sociedade, passam a fortalecer suas redes de relacionamentos, se institucionalizam e assim
188
passam a priorizar também a comunicação. Já outros movimentos, trabalham a comunicação de
forma tão intrínseca que é difícil saber exatamente em que período ela passa a ser trabalhada
com mais veemência. Uma cartilha do MST datada de 1986 já alertava da importância da
comunicação para a organização dos assentamentos e acampamentos. Com a chegada dos anos
2000 a comunicação foi ganhando novas roupagens na internet.
Com o olhar voltado para os elementos constituintes do materialismo histórico-dialético,
a tendência histórica, a abstração real, o antagonismo e a constituição da subjetividade,
acreditamos ter compreendido como esses processos comunicacionais estão sendo construídos
dentro de um sistema hegemônico estabelecido, ou seja, como a realidade social concreta desses
movimentos é construída a partir de relações de poder, inclusive, no espaço híbrido da internet.
A comunicação dos movimentos sociais na internet e a utilização de novas ferramentas
comunicacionais, se desenvolve na medida em que a lavoura cresce, parafraseando um de
nossos entrevistados, orientando assim a prática social.
As brechas presentes podem servir de norte para a orientação de pesquisas no
desenvolvimento de tecnologias “populares”, para o fortalecimento da teoria crítica voltada
para a comunicação desenvolvida pelos movimentos, no que compete à sua dimensão como
direito humano desconfigurando, assim, a visão tecnicista da comunicação por hora
diagnosticada pelos próprios movimentos, como deficitária. Outra abertura importante diz
respeito às categorias “Construindo atrativos” e “Divulgando”, pois, estão relacionadas a uma
das formas pelas quais o MST e o MAB têm reinventado a comunicação. As narrativas
discursivas apresentadas no tema da Reforma Agrária Popular, por meio dos produtos da
agroecologia e pela afirmativa de que Água e Energia não são mercadorias, com a produção de
documentários e filmes, ambos divulgados na internet, recebem tratamento e apelo imagético
refinado ao trabalharem em seus processos comunicacionais, com o que chamamos de
publicidade social.
189
CONCLUSÃO
A disputa hegemônica pelo poder acontece no espaço híbrido da internet e representa a
abertura para outros espaços alternativos de construção de poder e resistência. Os movimentos
sociais apresentados nesta pesquisa apontam para o ser de muitos, que é a multidão, esta, que
compreende e visa a uma mudança profunda e estrutural da sociedade vigente.
Esta pesquisa demonstrou que a novidade é a forma perversa com que o
tecnocapitalismo refina as suas técnicas e se move no espaço entre fluxos, e que em sua
contradição, produz forças contrárias. Assim, pode a novidade residir nas próprias brechas deste
sistema que degrada, mata e excluí?58
Refletindo sobre a questão acima, a pesquisa explorou alguns encaminhamentos que
elucidaremos a partir de três hipóteses de trabalho que nortearam este trabalho, a saber:
Verificamos que os processos comunicacionais desenvolvidos pelos movimentos
sociais na internet fomentam um espaço de comunicação autônoma na medida em que forjam
dispositivos de resistência para auxiliar a luta pela democracia.
Além disso, identificamos que mediante os processos de comunicação, também há luta
pelos e nos espaços sociais da internet, sempre em busca de novas formas de democracia.
Notou-se ainda, a partir da terceira hipótese de trabalho que embora a internet não seja
o meio exclusivo, ela potencializa o processo comunicacional desses movimentos sociais.
Assim, o primeiro encaminhamento foi a partir da compreensão e reestruturação de 10
eixos temáticos utilizados por Gohn (2013) para categorizar os tipos de movimentos sociais,
dos quais apresentamos o seguinte resultado: movimentos sociais ao redor da questão urbana;
em torno da questão do meio ambiente; movimentos de gênero; etnia; gerações; demandas na
área do direito; ao redor da questão da fome; decorrentes de questões religiosas; movimentos
rurais e movimentos sociais globais. E assim, após essa reestruturação mapeamos os 10
movimentos sociais embasados nas características representatividade, abrangência, bandeiras
de luta pautadas no direito da pessoa humana e, sobretudo, com base nos antagonismos sociais,
nos quais, grande parte dos atores sociopolíticos estão alijados de seus direitos.
Assim, após esse ponto de partida seguimos para outro encaminhamento que resultou
na contextualização da primeira hipótese de trabalho. Portanto, a afirmativa de que os processos
comunicacionais desenvolvidos pelos movimentos sociais na internet fomentam um espaço de
58 Para lembrar o lema do 22ª Grito dos Excluídos.
190
comunicação autônoma na medida em que forjam dispositivos de resistência para auxiliar na
luta pela democracia pôde ser compreendida quanto os movimentos sociais passam a formar e
a formatar novas redes no espaço híbrido da internet. A comunicação desenvolvida pelos
movimentos torna-se autônoma na medida em que esses movimentos ao se empoderar do
próprio sentido do por em comum, o fazem também na internet. A posteriori, os dispositivos
forjados por eles são o seu próprio discurso, a razão de existir do movimento. Esta constatação
se deu principalmente, a partir da OPN do MST e do MAB, pois foram os movimentos
estudados em profundidade.
Além disso, identificamos que mediante os processos de comunicação, também há luta
pelos e nos espaços sociais da internet, sempre em busca de novas formas de democracia. Esta
assertiva complexa também norteou a pesquisa como hipótese de trabalho, como aponta
Bourdieu (2004, p.29) os agentes sociais também podem “lutar com as forças do campo,
resistir-lhes e, em vez de submeter suas disposições às estruturas”, e assim, tem-se a
possibilidade de modificar as estruturas em razão de suas disposições. Existe uma grande
discussão acerca do domínio da internet e de que seus interesses apontam mais para a
tecnocapitalismo do que para atuar em benefício de sujeitos comuns. Isto é fato, mas existe a
própria contradição capital, pois quanto mais se espraia, mas rastros e brechas constitui. O
campo é formado por lutas e tensões, sabemos disso, e os movimentos sociais representam a
possibilidade de mudar estruturas societárias vigentes que esgaçam o tecido social e degradam
os sujeitos excluídos de seus direitos.
Notou-se ainda, a partir da terceira hipótese de trabalho que embora a internet não seja
o meio exclusivo, ela potencializa o processo comunicacional desses movimentos sociais. Dos
10 movimentos pesquisados todos estão presentes na internet, seja por meio de páginas nas
redes sociais digitais, seja por meio de blogs – muitos sem atualização de conteúdo -, entre
outras plataformas, mas estão presentes no espaço de fluxos. Logo, a maioria dos movimentos
sociais pesquisados seguem às tendências e acompanham o fluxo das transformações
tecnológicas. Eles constroem novas teias comunicacionais no ambiente virtual, ou melhor, no
espaço entre fluxos. Porém, existe também aqueles movimentos que apenas aderem às certas
tendências, mas acabam por não dar continuidade ao processo comunicacional na internet. Esta
afirmação é uma brecha para se pensar o motivo pelo qual muitos sujeitos coletivos acabam por
seguir comportamentos, atitudes e moldar seus artefatos culturais.
No decorrer da pesquisa ao discutirmos a respeito da constituição dos movimentos
sociais, vimos que alguns atuam como agentes propulsores de mudanças societárias e que outros
191
atuam como fermentadores de ações que, se não buscam a mudança estrutural societária,
buscam localmente transformar suas demandas em ações concretas. Outro aspecto interessante
da discussão foi resgatar as fases descritas por Peruzzo (2004) mobilização, organização,
articulação e parcerias pelas quais os movimentos sociais passam ao longo de sua constituição
histórica. E assim, perceber que mesmo que esta análise das fases tenha sido feita no final dos
anos de 1990 é ainda aplicável nos dias de hoje, no caso dos movimentos e grupos sociais que
surgiram recentemente.
No capítulo quatro também apontamos como o estudo das fases ajudou na
contextualização deste estudo, porque ao refletir sobre as fases dos movimentos aqui analisados
percorremos pelas suas práticas comunicacionais e como elas estão sendo alteradas com o uso
das tecnologias de comunicação, informação e conhecimento. Os movimentos sociais sempre
compartilharam o comum, na verdade sua razão de existir passa por esse por em comum, que
liga indivíduos e acaba por formar coletivos. O compartilhar, cooperar e por em comum faz
parte da natureza da comunicação. A visibilidade conseguida por meio das redes sociais digitais
é consequência desse por em comum e da reverberação de suas ações. Como mencionamos a
luta comum de muitos homens e mulheres, excluídos de seus direitos básicos continua a cada
dia mais visível e urge por soluções, que na maioria das vezes, são resolvidas, e quanto não,
são visibilizadas por meio das ações coletivas.
Nossa intenção foi a de buscar o entre, ou seja, uma forma rizomática de compreender
os processos comunicacionais que não se encerraram em sua tecnicidade, ou mesmo em sua
origem. Compreendemos o entre ao deixarmos que as experiências, práticas durante a
observação participante netnográfica nos conduzisse pelas falas de cada movimento, num
processo dialético, no qual nosso olhar visou as descontinuidades e não a horizontalidade dos
acontecimentos analisados, já que na internet o tempo é relativo e o aqui e agora é um devir.
No decorrer da pesquisa ao refletirmos sobre a autonomia do campo comunicacional
recorremos a Muniz Sodré (2014) quando ele apresenta a especificidade da vinculação social
inscrita num núcleo objetivo de uma ciência comunicacional. Sodré demonstra que as práticas
socioculturais ditas comunicacionais ou midiáticas estão sendo formatadas como um campo de
ação social que corresponde a uma nova forma de vida, o bios midiático. Nesse quesito essas
práticas comunicacionais ou midiáticas, não esgotariam e nem sintetizariam o problema da
vinculação, já que esta nova relação social gerida por dispositivos midiáticos é fruto do mercado
tecnofinanceiro. A noção de vinculação social, aqui resgatada é definida como a radicalidade
da diferenciação e da aproximação entre os seres humanos (SODRÉ, 2002, p.223). Por
192
conseguinte, a complexidade da afirmação de Sodré mencionada acima, nos levou a pensar que
as formas de vida na contemporaneidade, estão atravessadas pelo bios midiático, inclusive, os
movimentos sociais, por serem formados por sujeitos imbuídos de suas subjetividades e
alteridades. E também das lutas que se travam nessa ambiência e das batalhas que podem ser
vencidas. Quem sabe fazer emergir daí, dessas batalhas, processos vinculativos atravessados
pela simbiose das identidades e das redes um outro lugar, uma outra ambiência em que a
alteridade seja percebida como o outro constituinte do eu.
Assim, outro encaminhamento que a pesquisa elucidou é que a vinculação social
ultrapassa a interação humana, já que interagir não é o mesmo que vincular. O MAB ao fazer o
corpo a corpo nas comunidades atingidas ou em risco, promovem um tipo de vinculação que
acaba por se repercutir entre os moradores daquela localidade, já que em muitos dos locais em
que o MAB atua a internet não chega. Então, esses moradores ainda são informados sobre as
ações do Movimento por meio de jornal impresso ou por comunicado oral das lideranças.
O MST quanto reúne seus membros para a realização de sua mística está num processo
mais singular do que o mero interagir, mais no processo de vincular e de se apropriar. Mas
como fica esse mesmo processo na internet? Ele acaba por auxiliar e fomentar espaços antes
não ocupados, mas que cuja significação está para além da interação homem máquina. A
intenção primeira deste movimento é difundir o seu discurso e enfrentar o capital, fomentando
discussões a respeito da Reforma Agrária Popular. Tanto para o MAB como para o MST a
vinculação acontece de forma orgânica em cada acampamento, assentamento, mobilizações,
atos, formando aí uma rede humana de vinculação social. Já a rede do espaço virtual funciona
como uma extensão rizomática de ampliação de suas lutas. No entanto, ainda assim, preservam
o aspecto de inserção social dos sujeitos militantes desde uma dimensão simbólica frente às
orientações de valores, ou seja, de conduta da razão de ser do movimento.
Destarte, a pesquisa aclarou a tendência da atuação em rede dos movimentos sociais,
seja com outros tipos de organizações ou com veículos de mídia alternativos. Ao mesmo tempo
em que as redes atuam potencialmente no fortalecimento do capitalismo tecnofinanceiro, elas,
a partir do momento em que são apropriadas pelos movimentos sociais passam a ser utilizadas
de modo subversivo ao sistema, atuando como fomentadoras de mudanças sociais.
Chamou-nos a atenção o fato de que essas mesmas redes ao fortalecerem o capitalismo
tecnofinanceiro poderiam também ser utilizadas de um modo subversivo grupos sociais. Muitas
questões envolvem estar na rede, e é claro que, o simples fato de estar na rede não resolve
questões estruturais da sociedade e nem mesmo promoverá a democratização da comunicação,
193
há ainda um debate intenso sobre essa discussão, e que ainda inclui como relembra Hardt e
Negri (2014) a deserção do Estado. Ainda mais, neste interregno, em que temos visto a retirada
de direitos humanos e sociais duramente conquistados.
As abordagens sociológicas que utilizamos no trabalho estruturam o saber sobre os
movimentos sociais em duas frentes, a de conflitos sociais e também a de demandas específicas
de direitos. Alinhada a estas abordagens a categoria multidão, evidenciou-se como alicerce
teórico, em busca de novas abordagens sobre os processos comunicacionais dos movimentos
sociais nesse mundo conectado, ubíquo e veloz.
Outro ponto que se tornou importante na discussão teórica e política da comunicação
desenvolvida por esses movimentos sociais na internet é que a própria comunicação está
intrínseca à relação de produção do comum, e assim, é o alicerce do poder, seja do próprio
capital, seja da multidão.
Embora a observação participante netnográfica tenha compreendido o movimento dos
Trabalhadores Sem Terra e o Movimento dos Atingido por Barragens, os dados coletados no
mapeamento sobre os oito movimentos sociais, também nos indicam que existe uma expressiva
apropriação dos recursos comunicacionais do ponto de vista tecnológico. Nota-se, no entanto,
que embora a comunicação desses movimentos sociais seja trabalhada na internet ainda falta
inseri-las ou ampliá-las no contexto menor em que também se situam, no caso de comunidades,
acampamentos e assentamentos, isto, quando existe a disponibilidade de conexão à rede
mundial de computadores, e principalmente, capacitação teórica e técnica para atuar na
comunicação comunitária.
Após submergirmos nas codificações propostas pela técnica da teoria fundamentada em
dados e resgatar os conceitos deixados em dispersão durante a pesquisa, os explicitamos e
buscamos as relações que de alguma forma os vinculavam. Muitas terminologias e conceitos
têm sido utilizados para representar as manifestações oriundas das classes ora, subalternizadas.
Assim, alguns termos que deixamos em dispersão durante a revisão focada de literatura como,
por exemplo, o de popular aliado à comunicação, puderam ser resgatados. Porém, a pesquisa
demonstrou que os conceitos de comunicação popular e comunitária debatidos na academia e
analisados com base nas práticas dos movimentos são feitos sem uma reflexão teórica do que
eles realmente representam, além da compreensão técnica do fazer comunicacional.
Dados empreendidos na pesquisa apontam que os movimentos sentem a necessidade
de potencializar a comunicação em duas grandes frentes: a primeira é da comunicação que
dialoga com os próprios militantes, ou seja, interna. E a segunda é uma comunicação pensada
194
estrategicamente para atuar para fora dos movimentos, ou seja, para a ampliação do debate com
a sociedade. Nestes quesitos apontados, tanto o MST como o MAB, estão buscando refletir
sobre o próprio sentido de comunicação, para assim, buscar formação técnica para os
comunicadores populares, cujo objetivo visa a inserir reflexão teórico-crítica ao produzir
conteúdo e atuar frente à comunicação na internet.
Os debates teóricos a respeito da comunicação em sua dimensão humana e a cerca dela
para o desenvolvimento da luta específica de cada movimento não é realizado de forma
consistente. Vários fatores colaboram para que este desenvolvimento acabe sendo prejudicado.
Um deles é a própria abrangência nacional do movimento em questão que em muitos casos,
desfavorece que militantes participem de forma ativa de formações. Outro fator encontrado na
pesquisa diz respeito aos custos de deslocamento etc.
À guisa de conclusão, a reboque do discurso de que a internet está aí, e que devemos
nos adaptar a esse novo modo de estar no mundo, em que a cada dia a realidade vivida passa a
ser tecnologizada e que, consequentemente, as relações humanas tendem a estar reverberadas
nas redes digitais precisamos repensar um projeto possível de sociedade democrática.
Multidão.
195
REFERÊNCIAS
ANTOUN, Henrique; MALINI, Fábio. A internet e a rua: Ciberativismo e mobilização nas
redes sociais. Porto Alegre: Sulina, 2013.
ASTI VERA, A. Metodologia da pesquisa científica. 7.ed. Porto Alegre: Globo, 1983.
BACHELARD, Gaston. A epistemologia. Tradução de Fátima Lourenço Godinho e Mário
Carmino Oliveira. Lisboa: Edições 70, 2006.
BARBOSA, Gustavo; RABAÇA, Carlos Alberto. Dicionário de comunicação. 2. ed. Rio de
Janeiro: Campus, 2001.
BAUMAN, Zygmunt; BORDONI, Carlo. Estado de crise. Rio de Janeiro: Zahar, 2016. 191p.
BAUMAN, Zygmunt. O Mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.
_______. Identidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.
BENJAMIN, César (Org.). Marx e o socialismo. São Paulo: Expressão Popular, 2003.
BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia: de Gutenberg à Internet. 2. ed.
Rio de Janeiro: Zahar, 2006. 375p.
BORDENAVE, Juan E. Díaz. O que é Comunicação? Coleção Primeiros Passos 67. São
Paulo: Brasiliense, 1997.
BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência. Por uma sociologia clínica do campo
científico. São Paulo: Editora UNESP, 2004. 86p.
BUBER, Martin. Eu e tu. 2. ed. São Paulo: Editora Moraes, 1974.
_______. Sobre Comunidade. São Paulo: Perspectiva, 1987.
CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a
sociedade. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
_______. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. Rio de
Janeiro: Zahar, 2013.
_______. Fim de milênio. A era da informação: economia, sociedade e cultura; v.3. 2. ed.
Tradução de Klauss B. Gerhardt e Roneide V. Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
CHARMAZ, Kathy. A construção da teoria fundamentada: guia prático para análise
qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009. 272p.
COLETIVOS de Comunicação, Cultura e Juventude da Via Campesina. Agitação e
Propaganda no Processo de Transformação Social. São Paulo, s/d. 60p.
196
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. v.1. 1. ed. 2.
Reimp. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995a.
_______. Mil Platôs: Capitalismo e esquizofrenia. v. 2. 1. Reimp. Rio de Janeiro: Ed. 34,
1995b.
DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: Para uma antropologia do
consumo. Rio de Janeiro: UFRJ, 2004.
DOWNING, John D. H. Mídia Radical: rebeldia nas comunicações e movimentos sociais.
São Paulo: Editora Senac, 2002. 544p.
FLUSSER, Vilém. Comunicologia: reflexões Sobre o Futuro – as conferências de Bochum.
Tradução de Tereza Maria Souza de Castro. São Paulo: Martins Fontes, 2014.
FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? 8. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 93p.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 22. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006.
GARCÍA CANCLINI, Néstor. Diferentes, desiguais e desconectados: mapas da
interculturalidade. Tradução Luiz Sérgio Henriques. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ,
2009.
GARRETÓN, Antonio. Sociedade civil, ciudadanía y movimientos Sociales: Discursos y
Estrategias y discursos em América Latina. XVI Congresso da Associação Internacional de
Sociologia, Durban, África, 2006.
GIANNOTTI, Claudia Santiago (Coord.). Experiências em Comunicação Popular no Rio
de Janeiro ontem e hoje: uma história de resistência nas favelas cariocas. Rio de Janeiro:
NPC. 2016. 212p.
Gil, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. 6. Reimpr. São Paulo: Atlas,
2014.
GLASER, Barney G; STRAUSS, Anselm L. The Discovery of Grounded Theory:
Strategies for Qualitative Research. New York: Aldine, 1967.
GOHN, Maria da Glória. Mídia, Terceiro Setor e MST: impactos sobre o futuro das cidades
e do campo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.
_______. Teorias dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. 4. ed.
São Paulo: Edições Loyola, 2004.
_______. Novas Teorias dos movimentos sociais. 4. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2012.
166p.
_______. movimentos sociais e redes de mobilizações civis no Brasil contemporâneo. 5.
ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 189p.
197
_______. Manifestações de junho de 2013 no Brasil e praças dos indignados no mundo.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 157p.
GOMES, Neusa Demartini. Publicidade ou propaganda? É isso aí! Revista FAMECOS.
Porto Alegre, nº 16, dezembro 2001, quadrimestral. 111-121.
GONZÁLEZ, Jorge A. Entre cultura(s) e cibercultur@(s): incursões e outras rotas não
lineares. São Bernardo do Campo: Metodista, 2012. 266p.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10. ed. Rio de janeiro: dp&a,
2005.
HARDT, Michael; Negri, Antonio. Império: 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001.
_______. Multidão: Guerra e democracia na era do Império. 3. ed. Rio de Janeiro: Record,
2014.
HOLFELDT, Antonio; MARTINO, Luiz C.; FRANÇA, Vera Veiga. Teorias da
Comunicação. Conceitos, Escolas e Tendências. 3. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2001. 277p.
HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: Arquitetura, Monumentos, Mídia. 2. ed. Rio
de Janeiro: Aeroplano, 2004.
KONDER, Leandro. O que é dialética. Coleção Primeiros Passos 23. 6 reimpr. da 28. ed. São
Paulo: Brasiliense, 2008.
KOZINETS, Robert. V. Netnografia: Realizando pesquisa etnográfica online. Porto Alegre:
Penso, 2014. 203p.
LUNA, Sérgio Vasconcelos de. Planejamento de Pesquisa: uma introdução. São Paulo: Educ,
1997.
MALERBA, João Paulo. Rádios comunitárias no limite: crise na política e disputa pelo
comum na era da convergência. Tese (Doutorado em Comunicação e Cultura) – Universidade
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Escola de Comunicação – ECO-UFRJ, 2016.
MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.
MARTÍN-BARBERO, Jesús. Ofício de cartógrafo: travessias latino-americanas da
comunicação na cultura. São Paulo: Edições Loyola, 2004.
MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. Trad. de Suely
Tomazini Barros Cassal. Porto Alegre, RS: L&PM Editores, 2001.
MATTERLARD, Armand; MATTERLARD, Michèle. História das teorias da
comunicação. 8. ed. Edições Loyola: São Paulo, 2005.
MIANI, Rozinaldo. Os pressupostos teóricos da comunicação comunitária e sua condição de
alternativa política ao monopólio midiático. Revista Intexto, Porto Alegre, UFRGS, v.02,
198
n.25, p. 221-233, dez. 2011. Disponível em: www.seer.ufrgs.br/intexto/article/viewFile/
16547/14492. Acesso em: 01 de março 2017.
MIKLOS, Jorge. Cultura e desenvolvimento local: ética e comunicação comunitária. São
Paulo: Érica, 2014. 136p.
MINAYO, Maria Cecília de Souza; DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, Romeu. Pesquisa
Social. Teoria, método e criatividade. 28. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.
MIRANDA, Orlando de (org.). Para ler Ferdinand Tönnies. São Paulo: Edusp, 2005.
MONTAÑO, Carlos; DURIGUETTO, Maria Lúcia. Estado, Classe e movimento social. 3.
ed. São Paulo: Cortez Editora, 2015.
MOVIMENTOS SOCIAIS na sociedade em transformação. Produção de Luis Nassif. Debates
Brasilianas.org. TV Brasil. Episódio exibido em 24 de agosto de 2015. Disponível em:
tvbrasil.ebc.com.br/brasilianas/episodio/movimentos-sociais-na-sociedade-em-transformacao.
Acesso em: março de 2016.
NEGRI, Antonio. De volta: Abecedário biopolítico. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2006. 221p.
PAIVA, Raquel. O Espírito Comum: comunidade, mídia e globalismo. 2. ed. Rio de Janeiro:
Maud X, 2003, 175p.
_______. (Org.). O retorno da comunidade: os novos caminhos do social. Rio de Janeiro:
Maud, 2007.
PERUZZO, Cicilia M. Krohling. Comunicação nos movimentos populares: a participação
na construção da cidadania. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 342p.
_______. Direito à Comunicação Comunitária, Participação Popular e Cidadania. Celacom,
2004. Disponível em encipecom.metodista.br/mediawiki/index.php/Direito_%C3%80_
Comunica%C3%A7%C3%A3o_Comunit%C3%A1ria%2C_Participa%C3%A7%C3%A3o_P
opular_e_Cidadania. Acesso em: 10 de jan. 2017.
_______. Televisão comunitária: Dimensão pública e participação Cidadã na Mídia Local.
Rio de Janeiro: Mauad X, 2007.
_______. Conceitos de comunicação popular, alternativa e comunitária revisitados e as
reelaborações no setor. ECO-Pós, v.12, n.2, maio-agosto 2009, p.46-61. Disponível em:
revistas.ufrj.br/index.php/eco_pos/article/download/947/887. Acesso em: 10 de jan. 2017.
_______. Observação participante e pesquisa-ação. In: DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio
(Orgs.). Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação. São Paulo: Atlas, 2005.
_______. O processo de participação na comunicação popular e comunitária. In:
THORNTON, Ricardo D.; CIMADEVILLA (Orgs.). Usos y abusos del participare. Buenos
Aires: Ediciones INTA, 2010.
199
_______. movimentos sociais, redes virtuais e mídia alternativa no junho em que “o gigante
acordou” (?). Matrizes. Ano 7, n 2, p. 73-93. jul/dez 2013.
PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassenezi (Orgs.). 6. ed. História da cidadania. São Paulo:
Contexto, 2013.
POLITZER, Georges. Princípios Elementares de Filosofia. 4. ed. São Paulo: Prelo, 1979.
PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho
científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico [recurso eletrônico]. 2. ed.
Novo Hamburgo: Feevale, 2013.
QUEROL, Ricardo de. Zygmunt Bauman: As redes sociais são uma armadilha. El País.
Disponível em brasil.elpais.com/brasil/2015/12/30/cultura/1451504427_675885.html. Acesso
em: 22 fev. 2016.
RIESMAN, David. A multidão solitária: Um estudo do caráter americano. 2. ed. São Paulo:
Editora Perspectiva, 1995. 390p.
ROLNIK, Suely. Cartografia Sentimental: transformações contemporâneas do desejo. São
Paulo: Estação Liberdade, 1989.
SALDANHA, Patrícia Gonçalves. Projeto Levante Caravelas 2011. In: PERUZZO, Cicilia M.
Krohling Peruzzo; OTRE, Maria Alice C. Comunicação popular, comunitária e alternativa
no Brasil: Sinais de resistência e de construção da cidadania. São Bernardo do Campo:
Universidade Metodista de São Paulo, 2015.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência
universal. 15. ed. Rio de Janeiro: Record, 2008.
SAMPAIO, Plínio Arruda Jr; SAMPAIO, Plínio Arruda (Orgs.). Clássicos sobre a revolução
brasileira. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2002.
SAMPAIO, Rafael. Propaganda e A a Z. Como usar a propaganda para construir marcas e
empresas de sucesso. 3. ed. 2003.
SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de movimentos sociais. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2005.
SILVEIRA, Sergio Amadeu da. Tudo sobre tod@s. Redes digitais, privacidade e venda de
dados pessoais. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2017.
SILVA, Suelen de Aguiar. Formação e informação do MST: comunicação e cidadania
como expressão coletiva de organização. Monografia (Graduação em Comunicação Social:
Publicidade e Propaganda) Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2005.
SODRÉ, Muniz. Antropológica do Espelho: Uma teoria da comunicação linear e em rede.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 268p.
_______. Reinventando a educação: diversidade, descolonização e redes. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2012.
200
_______. A ciência do comum: notas para o método comunicacional. Petrópolis, RJ: Vozes,
2014. 323p.
STRAUSS, Anselm; CORBIN, Juliet. Bases de la investigación cualitativa: Técnicas y
procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Colombia: Editorial Universidad de
Antioquia, 2002.
TAROZZI, Massimiliano. O que é grounded theory: metodologia de pesquisa e de teoria
fundamentada nos dados. Tradução de Carmem Lussi. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. 7. ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 261p.
TOURAINE, Alan. Na fronteira dos movimentos sociais: Sociedade e Estado, Brasília, v.
21, n. 1, p. 17-28, jan./abr. 2006.
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.
YAMAMOTO, Eduardo Yuji. Contribuições de Nietzsche e Foucault para as pesquisas em
Comunicação Popular: um projeto genealógico. Caligrama Revista de estudos e Pesquisas
em linguagem e Mídia. São Paulo: ECA-USP. Disponível em:
www.revistas.usp.br/caligrama/article/viewFile/65384/67989. Acesso em: 10 de jan. 2017.
VIRNO, Paolo. Virtuosismo e revolução: a ideia de mundo entre a experiência sensível e a
esfera pública. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 159p.
_______. Gramática da multidão: Para uma análise das formas de vida contemporâneas.
São Paulo: Annablume, 2013. 110p.
201
APÊNDICE A - Termo de Consentimento Informado Online
Universidade Metodista de São Paulo
Título do Projeto de Pesquisa: movimentos sociais na internet: comunicação, democracia e
resistência em rede
Pesquisadora: Suelen de Aguiar Silva
Termo de Consentimento Livre Esclarecido para Pesquisa Online
Você está sendo convidado(a) a ser um(a) participante voluntário(a) em um estudo científico.
Finalidade:
O objetivo deste estudo é mapear os processos comunicacionais dos 10 principais movimentos
sociais brasileiros presentes na internet. Esperamos saber mais sobre as práticas
comunicacionais dos movimentos sociais na internet e entender as imbricações destes com o
uso das tecnologias de informação e comunicação.
Terminada a investigação, a pesquisadora pretende publicar o estudo em uma revista acadêmica
e apresentá-lo em congressos.
Procedimentos:
Se você decidir fazer parte deste estudo, sua participação envolverá:
consentir uma entrevista a ser realizada pessoalmente, por telefone, por meio de chat ou
correio eletrônico;
essa entrevista levará cerca de duas horas;
a mesma entrevista focará em suas experiências online relacionadas a comunicação do
movimento social em que você participa;
no caso de uma entrevista face a face, a sessão será gravada; a entrevista por telefone
será gravada; a entrevista por meio de chat e correio eletrônico será arquivada para
referência futura.
Riscos
Sua participação no estudo pode envolver os seguintes riscos:
Não há riscos previsíveis ou desconfortos no presente estudo. Os riscos envolvidos não são
maiores do que aqueles envolvidos em atividades diárias, como falar ao telefone ou utilizar
202
correio eletrônico. Uma vez que alguns temas relacionados a luta dos movimentos sociais
podem ser sensíveis, é possível que suas lembranças sejam despertas e tornem-se emocionais.
Benefícios
Sua participação no estudo pode lhe trazer os seguintes benefícios:
Você não se beneficiará de nenhuma forma por participar do estudo. Contudo, sua participação
pode contribuir para o nosso mapeamento dos processos comunicacionais dos movimentos
sociais populares brasileiros na internet.
Compensação
Não há nenhum tipo de remuneração por sua participação nesta pesquisa.
Sigilo
Os seguintes procedimentos serão adotados a fim de manter a sua identidade pessoal em sigilo:
Para proteger o sigilo de sua identidade, seu nome não aparecerá em nenhuma publicação. Você
receberá um pseudônimo (nome falso) que será utilizado em vez do seu nome, para disfarçar
sua participação. No caso de citações sobre atividades que você realizou online (como
postagens, comentários etc), esse disfarce poderia ficar vulnerável. Usando um mecanismo de
busca, uma pessoa motivada poderia violá-lo, assim como poderia pegar uma citação feita na
pesquisa e usar um mecanismo de busca para encontrar a página online real. Eles poderiam,
portanto, violar o disfarce do pseudônimo usado na pesquisa e localizar a postagem original.
Não prevemos descobrir informações confidenciais nesta pesquisa. No caso de isso acontecer,
outras precauções serão utilizadas para proteger sua confidencialidade.
Os dados que coletarmos sobre sua participação no movimento social serão mantidos em sigilo
dentro dos limites da lei. Para assegurar que esta pesquisa está sendo conduzida de forma
adequada, ela será submetida ao Comitê de Ética da Universidade Metodista de São Paulo.
No caso de comunicações eletrônicas no consentimento online, você deve estar ciente de que
este documento não está sendo executado a partir de um servidor HTTPS “seguro”, como o tipo
utilizado para efetuar transações com cartão de crédito. Existe, portanto, uma pequena
possibilidade de que as respostas sejam visualizadas por pessoas não autorizadas.
Custos para você
203
Os participantes da pesquisa não terão nenhum custo como resultado de seu consentimento para
serem entrevistados.
Direitos dos participantes
Sua participação neste estudo é voluntária. Você não tem nenhuma obrigação de
participar.
Você tem o direito de mudar de ideia e sair do estudo a qualquer momento, sem
apresentar qualquer motivo e sem qualquer penalização.
Qualquer nova informação que possa fazer você mudar de ideia sobre estar no estudo
será fornecida a você.
Você receberá uma cópia deste documento de consentimento.
Você não renuncia a qualquer de seus direitos legais ao assinar ou concordar com este
termo de consentimento.
Perguntas sobre o estudo
Se você tiver alguma dúvida sobre esta pesquisa, pode contatar a pesquisadora Suelen Aguiar
pelo telefone (21) 99842-9135 ou via WhatsApp no mesmo número.
Você leu as informações nesta página, concorda em participar?
(Marque uma alternativa)
Li e entendi estas informações e concordo em participar.
Eu não quero participar.
Endereço de correio eletrônico:
(necessário para confirmar a identidade)
Enviar
204
APÊNDICE B – Roteiro de entrevista semiestruturada online
A temática da entrevista versa sobre os processos comunicacionais desenvolvidos pelo
movimento social (nome do MS). Espera-se, portanto, explorar informações concernentes ao
desenvolvimento da comunicação na internet em nível nacional.
Questões iniciais:
Nome59
Qual a sua formação?
Qual a sua idade?
Tempo de atuação no MS
Você atua em qual setor? Nacional/estadual
Rotina produtiva:
1. Quantas pessoas/militantes trabalham com a comunicação do MS?
2. Como a equipe que trabalha com a comunicação do MS está estruturada?
3. A comunicação é desenvolvida por coletivos?
4. Existe um manual de comunicação? Como são estabelecidas as regras de redação?
5. Quais são os meios de comunicação (próprios) utilizados?
6. Como o MS organiza a sua produção comunicacional em termos de pautas/conteúdos?
7. Quais são as estratégias de comunicação mais usadas?
8. Além do jornalismo utilizam alguma ferramenta publicitária para divulgar os
produtos/ações do MS?
Internet:
9. Utiliza a comunicação como processo organizativo e conscientização política? Caso
sim, você pode falar um pouco a respeito e também da transformação dessa comunicação ao
longo do tempo até chegar nas tecnologias de informação e comunicação (TICCS)/internet.
10. Qual o papel das TICCS hoje para as lutas sociais, em especial, para os militantes?
11. Como o MS faz uso e gerenciamento das redes sociais?
59 Adotaremos pseudônimos para preservar a identidade dos participantes na pesquisa.
205
12. Quando se define o conteúdo nas pautas, os recursos hipertextuais, multimidiáticos, de
interatividade, entre outros, são estabelecidos previamente?
13. Como o MS avalia a utilização da internet? Explique.
14. Com que frequência as mídias do MS são atualizadas?
15. Qual o direcionamento do MS para a produção de audiovisuais?
Relacionamento /interação na rede:
16. Como é feito o relacionamento com os leitores/militantes? Existe diálogo?
17. Visão do movimento sobre a comunicação e a comunidade externa/sociedade.
18. Avaliação final do uso das tecnologias de informação e comunicação (TICCS),
principais lacunas, perspectivas de mudanças, entre outros: