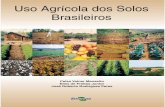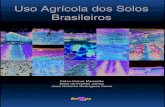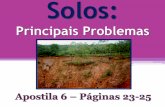Uso Agricola Solos Brasileiros
-
Upload
gilson-dos-santos-flora -
Category
Documents
-
view
341 -
download
0
Transcript of Uso Agricola Solos Brasileiros
Uso Agrcola dos Solos Brasileiros
Celso Vainer Manzatto Elias de Freitas Junior Jos Roberto Rodrigues Peres
Uso Agrcola dos Solos Brasileiros
Repblica Federativa do Brasil Fernando Henrique Cardoso Presidente
Ministrio da Agricultura e do Abastecimento Marcus Vinicius Pratini de Moraes Ministro
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa)
Conselho de Administrao Mrcio Forte de Almeida Presidente Alberto Duque Portugal Vice-Presidente Dietrich Gerhard Quast Alexandre Khalil Pires Srgio Fausto Urbano Campos Ribeiral Membros
Diretoria-Executiva da Embrapa Alberto Duque Portugal Presidente Bonifcio Hideyuki Nakasu Jos Roberto Rodrigues Peres Dante Daniel Giacomelli Scolari Diretores executivos
Embrapa Solos Doracy Pessoa Ramos Chefe Geral Celso Vainer Manzatto Chefe-Adjunto de Pesquisa & Desenvolvimento Paulo Augusto da Eira Chefe-Adjunto de Apoio Tcnico/Administrao
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria Embrapa Embrapa Solos Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento
Uso Agrcola dos Solos Brasileiros
Editores Tcnicos Celso Vainer Manzatto Elias de Freitas Junior Jos Roberto Rodrigues Peres
Rio de Janeiro, RJ 2002
Exemplares desta publicao podem ser adquiridos na: Embrapa Solos Rua Jardim Botnico, 1.024 22460-000 Rio de Janeiro, RJ Tel: (21) 2274-4999 Fax: (21) 2274-5291 E-mail: [email protected] Site: http://www.cnps.embrapa.br
Projeto grfico e arte-final Ingrafoto Reprodues em Fotolito Ltda Capa Paulo Maurcio de Souza Magalhes Tratamento editorial Ingrafoto Reprodues em Fotolito Ltda Reviso de Portugus Andr Luiz da Silva Lopes Reviso final Claudia Regina Delaia 1a edio 1a impresso (2002): tiragem 250 exemplaresEmbrapa Solos Catalogao-na-publicao (CIP) Manzatto, Celso Vainer Uso agrcola dos solos brasileiros / Celso Vainer Manzatto; Elias de Freitas Junior; Jos Roberto Rodrigues Peres (ed.). Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2002. 174 p. ISBN 85-85864-10-9 1. Solo brasileiro. 2. Uso agrcola Solo brasileiro I. Freitas Junior, Elias de. II. Peres, Jos Roberto Rodrigues. III. Embrapa Solos (Rio de Janeiro).
CDD (21.ed.) 631.4 Copyright 2002. Embrapa
Instituies Parceiras
Associao de Plantio Direto no Cerrado - APDC Instituto Agronmico de Campinas - IAC Instituto Agronmico do Paran - IAPAR Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria - INCRA Universidade Federal de Lavras UFLA Universidade Federal de Viosa - UFV Embrapa Agropecuria Oeste Embrapa Amaznia Oriental Embrapa Clima Temperado Embrapa Florestas Embrapa Meio Ambiente Embrapa Sede/SEA Secretria de Administrao Estratgica Embrapa Semi-rido Embrapa Solos Embrapa Trigo
Autores
Alberto Carlos de Campos Bernardi Engenheiro Agrnomo, D.Sc. em Solos e Nutrio de Plantas, Pesquisador da Embrapa Solos, e-mail: [email protected]. Rua Jardim Botnico, n 1024, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22460-000. Antonio Ramalho Filho Engenheiro Agrnomo, PhD em Estudo de Solos, Pesquisador da Embrapa Solos, e-mail: [email protected]. Rua Jardim Botnico, n 1024, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22460-000. Carlos Alberto Flores Engenheiro Agrnomo, M.Sc. Manejo do Solo, Pesquisador da Embrapa Clima Temperado, email: [email protected]. Br 392, Km 78, Pelotas, RS, CEP: 96001-970. Carlos Alberto Silva Engenheiro Agrnomo, D.Sc. em Cincia do Solo, Professor da Universidade Federal de Lavras, email: [email protected]. DCS/UFLA, Cx. Postal: 37, Lavras, MG, CEP: 37200-000. Celso de Castro Filho Engenheiro Agrnomo, PhD em Conservao de Solo, Pesquisador em Manejo e Conservao do Solo do Instituto Agronmico do Paran IAPAR, e-mail: [email protected]. Rod. Celso Garcia Cid, km 375, Londrina, PR, CEP: 86001-970. Celso Vainer Manzatto Engenheiro Agrnomo, D.Sc. em Produo Vegetal, Pesquisador da Embrapa Solos, e-mail: [email protected]. Rua Jardim Botnico, n 1024, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22460-000.
Clayton Campanhola Engenheiro Agrnomo, PhD em Entomologia, Pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, e-mail: [email protected]. Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 127,5, Bairro Tanquinho Velho, Jaguarina, SP, CEP: 13820-000. Elizabeth Presott Ferraz Bacharel em Estatstica, Consultora Interna da Presidncia do INCRA, e-mail: [email protected]. Ed. Palcio do Desenvolvimento, 18 andar, sala 1811 SBN, Braslia, DF. CEP: 70o57-900. Enio Fraga da Silva Engenheiro Agrnomo, D.Sc. em Solos e Nutrio de Plantas, Pesquisador da Embrapa Solos, e-mail: [email protected]. Rua Jardim Botnico, n 1024, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22460-000. Fernando Falco Pruski Engenheiro Agrcola, Doutor em Engenharia Agrcola Recursos Hdricos e Ambientais, Professor Titular da Universidade Federal de Viosa UFV, Pesquisador Bolsista do CNPq do Departamento de Engenharia Agrcola, e-mail: [email protected]. Av. P. H. Rolfs, s/n, Viosa, MG, CEP: 36571-000. Fernando Luis Garagorry Cassales Economista, PhD em Economia Agrcola, Pesquisador da Embrapa/SEA, e-mail: [email protected]. Parque Estao Biolgica PqEB, Final Av. W/3 Norte, Cx. Postal: 040315, Braslia, DF, CEP: 70770-901.
Flvio Hugo Barreto Batista da Silva Engenheiro Agrnomo, M.Sc. em Engenharia Agrcola, Pesquisador da Embrapa Solos UEP Recife, e-mail: [email protected]. Rua Antnio Falco, 402 - Boa Viagem, Recife, PE, CEP: 51020-240. Helosa F. Filizola Pedloga, D.Sc. em Cincias da Terra, Pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente, e-mail: [email protected], Rodovia SP-340, Km 127,5, Tanquinho Velho, Jaguarina, SP, CEP: 13820-000. Humberto Gonalves dos Santos Engenheiro Agrnomo, D.Sc. em Cincia do Solo, Pesquisador da Embrapa Solos, e-mail: [email protected]. Rua Jardim Botnico, n 1024, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22460-000. Ido Bezerra S Engenheiro Florestal, D.Sc. em Geoprocessamento/Sensoriamento Remoto, Pesquisador da Embrapa Semi-rido, e-mail [email protected], BR 428. km 152, Caixa Postal 23, Petrolina, PE, CEP 56.300-970. Isabella Clerici De Maria Engenheira Agrnoma, Doutora em Agronomia - Solos e Nutrio de Plantas, Pesquisadora Cientfica em Manejo e Conservao do Solo do Instituto Agronmico, e-mail: [email protected], Caixa Postal 28, Campinas, SP, CEP: 13001-970. John Nicolas Landers Engenheiro Agrnomo, Consultor e Secretrio Executivo da Associao de Plantio Direto no Cerrado APDC, e-mail: [email protected]. SMDB, Conjunto 9, Lote 5, Braslia, DF. CEP: 71600-000. Jos Eloir Denardin Engenheiro Agrnomo, Doutor em Solos e Nutrio de Plantas, Pesquisador e Chefe Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Trigo, e-mail: [email protected]. Rodovia BR 285, km 174, Caixa Postal 451, Passo Fundo, RS, CEP 99001-970. Jos Flvio Dynia Engenheiro Agrnomo, PhD Solos e Nutrio de Plantas, Pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, e-mail: [email protected]. Rodovia SP 340, km 127,5, Caixa Postal 69, Jaguarina, SP, CEP 13800-000.
Jos Maria Gusman Ferraz Bilogo, D. Sc. em Ecologia, Pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, e-mail: [email protected]. Rodovia SP 340, Km 127,5, Jaguarina, SP, CEP: 13820.000. Ladislau Arajo Skorupa Engenheiro Florestal, D.Sc. em Botnica, Pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, e-mail: [email protected]. Rod. Campinas/ Mogi Mirim, km 127,5, Jaguarina, SP, CEP: 13820-000. Luciano Jos de Oliveira Accioly Engenheiro Agrnomo, D.Sc. em Sistema Geogrfico de Informao, Pesquisador da Embrapa Solos, e-mail: [email protected]. Rua Antnio Falco, 402 - Boa Viagem, Recife, PE, CEP: 51020-240. Lus Carlos Hernani Engenheiro Agrnomo, Doutor em Agronomia Solos e Nutrio de Plantas, Pesquisador da Embrapa Agropecuria Oeste, e-mail: [email protected]. Rodovia BR 163, Km 253,6, Caixa Postal 61, Dourados, MS, CEP: 79804-970 Magda Aparecida de Lima Ecloga, Dra. em Geocincias, Pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente, e-mail: [email protected]. Rodovia SP-340, Km 127,5, Bairro Tanquinho Velho, Jaguarina, SP, CEP: 13820-000. Manoel Dornelas de Souza Engenheiro Agrnomo, Doutor em Fsica de Solos, Pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, e-mail: [email protected]. Caixa Postal 69, Jaguarina SP, CEP 13820-000. Marco Antonio Ferreira Gomes Gelogo, D.Sc. em Solos e Nutrio de Plantas, Pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, e-mail: [email protected]. Rod. SP 340, Km 127,5, Cx. Postal 69, Jaguarina, SP, CEP: 13.820-000. Maria Conceio Peres Young Pessoa Matemtica, D.Sc. em Automao, Pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente, e-mail: [email protected]. Rodovia SP 340, Km 127,5, Tanquinho Velho, Jaguarina, SP, CEP: 13820-000.
Maria de Lourdes Mendona Santos Brefin Engenheira Agrnoma, PhD em Cincia do Solo e Geomtica, Pesquisadora da Embrapa Solos, e-mail: [email protected]. Rua Jardim Botnico, n 1024, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22460-000. Mrio Luiz Diamante Aglio Gegrafo, M.Sc. em Cartografia Automatizada, Tcnico Nvel Superior da Embrapa Solos, e-mail: [email protected]. Rua Jardim Botnico, n 1024, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22460-000. Maurcio Rizzato Coelho Engenheiro Agrnomo, M.Sc. em Solos e Nutrio de Plantas, Pesquisador da Embrapa Solos, e-mail: [email protected]. Rua Jardim Botnico, n 1024, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22460-000. Paulo Choji Kitamura Engenheiro Agrnomo, Doutor em Economia, Pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, e-mail: [email protected]. Rod. SP 340 km 127,5 km, Jaguarina, SP, CEP 13 820-000. Paulo de Tarso Loguercio Economista, M.Sc. em Antropologia, Sociologia e Poltica, Assessor Parlamentar do INCRA, email: [email protected]. Ed. Palcio do Desenvolvimento, 18 andar, sala 2105 SBN, Braslia, DF. CEP: 70o57-900 Pedro Luiz de Freitas Engenheiro Agrnomo, PhD em Cincia do Solo, Pesquisador da Embrapa Solos, Colaborador Tcnico e Diretor da Associao de Plantio Direto no Cerrado, e-mail: [email protected]. Rua Jardim Botnico, n 1024, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22460-000. Pedro Luiz Oliveira de Almeida Machado Engenheiro Agrnomo, Ph.D. em Solos e Nutrio de Plantas, Pesquisador da Embrapa Solos, e-mail: [email protected]. Rua Jardim Botnico, n 1024, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22460-000.
Rainoldo Alberto Kochhann Engenheiro Agrnomo, Doutor em Solos e Nutrio de Plantas, Pesquisador da Embrapa Trigo, e-mail: [email protected]. Rodovia BR 285, km 174, Caixa Postal 451, Passo Fundo, RS, CEP 99001-970. Ronaldo Pereira de Oliveira Engenheiro Eletrnico e Analista de Sistemas, Mestrado em Sistemas de Geoinformao, Pesquisador da Embrapa Solos, e-mail: [email protected]. Rua Jardim Botnico, n 1024, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22460-000. Srgio Ahrens Engenheiro Florestal, Doutor em Cincias Florestais, Pesquisador da Embrapa Florestas, email: [email protected]. Estrada da Ribeira, Km 111, Cx. Postal: 319, Colombo, PR. CEP: 83411-000. Silvia Elizabeth de Castro Sampaio Cardim Bacharel em Administrao, Gerente Estratgica do INCRA, e-mail: [email protected], Ed. Palcio do Desenvolvimento, 18 andar, sala 2105 SBN, Braslia, DF. CEP: 70o57-900 Tatiana Deane de Abreu S Engenheira Agrnoma, D.Sc. em Fisiologia Vegetal, Pesquisadora da Embrapa Amaznia Oriental, e-mail: [email protected]. Trav. Dr. Enas Pinheiro, s/n, Marco, Belm, PA, CEP: 66095-100. Thomaz Correia e Castro da Costa Engenheiro Agrnomo, D.S. em Cincia Florestal, Pesquisador da Embrapa Solos, e-mail: [email protected]. Rua Jardim Botnico, n 1024, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22460-000. Valria Sucena Hammes Engenheira Agrnoma, D.Sc. em Planejamento Ambiental, Pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente, e-mail: [email protected]. Rod. SP-340, km 127,5 - Tanquinho Velho, Jaguariuna, SP, CEP: 13820-000. Wagner Bettiol Engenheiro Agrnomo, D.Sc. em Fitopatologia, Pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, e-mail: [email protected]. Caixa Postal 69, Jaguarina, SP, CEP: 13820-000.
Apresentao
Este livro relata a evoluo da agropecuria brasileira ao longo das ltimas trs dcadas, com foco principal no uso das terras. So relatos de vrios pesquisadores das reas de cincia do solo, da sociologia e da economia, fundamentais para o entendimento de como e onde as terras foram ocupadas e os resultados dessa ocupao, do ponto de vista econmico, social e ambiental. Retrata claramente o desperdcio dos recursos naturais ocorridos pelo mau uso das terras, levando a repensar esta ocupao como forma de se evitar os erros do passado. O que se pretende com este documento no mudar a historia, mas chamar a ateno para o papel fundamental dos solos e de seu uso adequado para a sustentabilidade da agropecuria que constitui hoje a base deste formidvel complexo agroindustrial gerador de divisas, com o qual pode contar o Brasil de hoje. Como bem diz Roberto Rodrigues na apresentao do livro Agribusiness Brasileiro A Histria editado pela ABAG, a agricultura hoje se faz com muita pesquisa, muito trabalho e com uso intensivo das tecnologias modernas. Por isto ela responsvel pelo supervit brasileiro, mas requer ateno redobrada quanto aos seus efeitos sobre os recursos naturais pelo uso inapropriado das terras, pela mecanizao intensiva, uso abusivo de fertilizantes e defensivos. Ao final dos diagnsticos realizados, pode-se concluir atravs de cenrios que so evidentes hoje, e que requerem medidas urgentes dos tomadores de deciso para manuteno ou aumento do atual status da agropecuria brasileira. O primeiro deles mostra que embora nestas trs dcadas o incremento do conhecimento e desenvolvimento tecnolgico tenha sido relevante, aumentando consideravelmente a produtividade da maioria das culturas, no foi suficiente para evitar o crescimento da rea agrcola, que cresceu em mais de 28%, e onde exerce atualmente grande presso para novas ocupaes. O segundo cenrio aponta para a necessidade de um grande esforo poltico de recuperao e reintegrao ao processo produtivo das chamadas terras velhas, que foram degradadas pelo mau e indevido uso. Chama-se este esforo de poltico, pois conhecimentos e tecnologia so j disponveis para esta recuperao. O terceiro cenrio aponta para a necessidade do apoio permanente pesquisa de gerao de conhecimentos e a transferncia de tecnologias junto a grande maioria dos pequenos e mdios produtores, que no utilizando as tecnologias disponveis deixam de contribuir para o necessrio aumento da produtividade. O quarto cenrio est relacionado ao melhor planejamento de uso das terras brasileiras, que necessita estar baseado nos Zoneamentos agrcola e ecolgico-econmico, que conjugam as informaes relativas potencialidade das terras, com as necessidades de controle dos riscos de produo e ambientais, tornando-se ferramentas essenciais aos processos de crdito e seguro agrcola. Jos Roberto Rodrigues Peres Diretor-Executivo, Embrapa
Sumrio
Introduo, XXI Capitulo 1 Captulo 2 Captulo 3 Captulo 4 Captulo 5 Captulo 6 Captulo 7 Captulo 8 Captulo 9 Captulo 10 Captulo 11 Captulo 12 Captulo 13 O Recurso Natural Solo, 1 O Potencial de Uso e o Uso Atual das Terras, 13 O Domnio do Uso do Solo, 23 Aspectos Gerais da Dinmica de Uso da Terra, 31 A Eroso e Seu Impacto, 47 Fertilidade do Solo e Demanda por Nutrientes no Brasil, 61 Contaminao dos Solos em reas Agrcolas, 79 Utilizao de Resduos Urbanos e Industriais, 87 Outras Formas de Degradao do Solo, 93 Valores e Conscientizao da Sociedade, 105 Legislao e Programas Nacionais, 121 Compromissos Internacionais: Conveno sobre Diversidade Biolgica, 135 Compromissos Internacionais: Convenes-Quadro das Naes Unidas sobre Mudana do Clima (UNFCCC) e sobre o Combate Desertificao (UNCCD), 145 Uma resposta conservacionista O impacto do Sistema Plantio Direto, 151 Cenrios sobre a adoo de prticas conservacionistas baseadas no plantio direto e seus reflexos na produo agrcola e na expanso do uso da terra, 163
Captulo 14 Captulo 15
Lista de Tabelas
CAPITULO 1 Tabela 1 Extenso e distribuio dos solos no Brasil, 1 Tabela 2 Extenso e distribuio percentual das classes de suscetibilidade natural dos solos eroso, 10 CAPTULO 2 Tabela 1 Aptido das terras do Brasil por regio e por nvel de manejo para os diferentes tipos de usos indicados, 14 Tabela 2 Uso Atual das Terras do Brasil, 16 Tabela 3 Variveis e Indicadores de Uso da Terra, 18 Tabela 4 Intensidade de uso agrosilvipatoril das terras municipais por Regies no Brasil, 19 Tabela 5 Indicadores da Irrigao no Brasil, 20 CAPTULO 3 Tabela 1 Brasil Estabelecimentos, rea, valor bruto da produo (VBP) e financiamento total (FT), 25 Tabela 2 Agricultores familiares Estabelecimentos, rea, VBP e financiamento total segundo as regies, 26 Tabela 3 Variao do nmero de imveis e da rea, segundo o Brasil e grandes regies (92/98), 27 Tabela 4 Brasil Estabelecimentos, rea, valor bruto da produo (VBP) e financiamento total (FT), 28 Tabela 5 Agricultores familiares Estabelecimentos, rea, VBP e financiamento total segundo as regies, 29
CAPTULO 4 Tabela 1 Variao percentual nas reas totais utilizadas, de 1970 para 1995, para o pas e por regio, 31 Tabela 2 Estruturas de uso da terra (em %), nos anos de 1970 e 1995, para o pas e por regio, 32 Tabela 3 Distribuio do nmero de microrregies, por quartil, e ndice de concentrao de Theil, 34 Tabela 4 Tabela de contingncia para a presena de microrregies em dois anos, 35 Tabela 5 Freqncia da presena de microrregies nos anos de 1976 e 1998, por grupo de contribuio, e medidas de persistncia e distncia, 36 Tabela 6 Contribuio percentual da parte persistente, no nvel de 75%, em 1976 e 1998, com respeito ao volume total em cada ano, 37 Tabela 7 Freqncia da presena de microrregies nos anos de 1976 e 1998, por faixa de contribuio, medidas de persistncia e distncia, 37 Tabela 8 Microregies de rendimentos mais altos da soja e do algodo herbceo, em 1976 e 1998, 39
CAPTULO 5 Tabela 1 Estimativa de perda anual de solo e de gua por eroso hdrica no Brasil em funo do tipo de ocupao de solo, 55
Tabela 2
Tabela 3
Tabela 4
Tabela 5
Estimativa de perda anual de nutrientes e matria orgnica (t ha-1 ano-1) por eroso hdrica em sistema convencional de manejo do solo no Brasil em funo do tipo de ocupao de solo e total, 55 Estimativa(1) do custo adicional em fertilizantes em funo da perda anual de nutrientes (N, P, K, Ca, Mg e S) e adubao orgnica por eroso hdrica no Brasil de acordo com o tipo ocupao de solo e total, 56 Estimativa dos custos anuais externos propriedade devidos eroso dos solos no Brasil, 56 Resumo da estimativa de valorao dos impactos anuais da eroso dos solos no Brasil, 58
CAPTULO 7 Tabela 1 Teores de metais naturalmente presentes nos solos no Estado de S. Paulo, 83 Tabela 2 Teores de alguns metais pesados em corretivos e fertilizantes, 84 Tabela 3 Teores de metais pesados em solos agrcolas, 84 Tabela 4 Valores de alerta para metais pesados em solo, 84
CAPTULO 8 Tabela 1 Teores de micronutrientes em alguns resduos orgnicos e no lodo de esgoto, 89 Tabela 2 Macronutrientes contidos em alguns resduos orgnicos, 89 Tabela 3 Composio do lixo slido urbano no Brasil, 90
CAPTULO 6 Tabela 1 Extenso geogrfica das maiores limitaes na Amrica Tropical, 63 Tabela 2 rea cultivada, proporo da rea que recebe fertilizantes e o consumo total de fertilizantes dos principais pases consumidores, 64 Tabela 3 rea plantada das principais culturas no Brasil, porcentagem darea fertilizada, taxa de aplicao e utilizao total de nutrientes, dados referentes a 1996, 64 Tabela 4 Consumo aparente de fertilizantes, nutrientes e matrias primas no Brasil no perodo de 1991 a 2000, 65 Tabela 5 Produo e consumo aparente de calcrio no Brasil no perodo de 1991 a 2000, 66 Tabela 6 Consumo aparente de calcrio nos principais Estados (1.000 t), 66 Tabela 7 Produtividade atual e tima e extrao de nutrientes das principais culturas no Brasil, 67 Tabela 8 Balano de macronutrientes primrios na agricultura brasileira, 69 Tabela 9 reas que podem ser salvas do desflorestamento por vrias opes de manejo, estimada para Yurimaguas no Peru, 75
CAPTULO 9 Tabela 1 rea em processo de desertificao nos estados do Nordeste, 94 Tabela 2 Escala desertificao e respectivas reas na Regio Nordeste do Brasil, 95 Tabela 3 Uso atual em percentagem por unidade de solos da rea piloto com 75.000 h do Ncleo de Desertificao do Serid RN, 96 Tabela 4 Biomassa da Caatinga por Unidade de solo da rea Piloto de Desertificao do Serid RN, 97 Tabela 5 Extenso e percentagem de ocorrncia de Areais por rea Municipal da regio sudeste do Estado do Rio Grande do Sul, 97 Tabela 6 Classificao dos solos quanto a salinidade, 99 Tabela 7 Dados referentes s reas salinizadas do Piau, 100 Tabela 8 reas salinizadas nos permetros irrigados do Cear, 100 Tabela 9 reas salinizadas no permetro irrigados do Rio Grande do Norte, 100 Tabela 10 reas salinizadas no permetros irrigados da Paraba, 100 Tabela 11 reas salinizadas no permetros irrigados de Pernambuco, 100 Tabela 12 reas salinizadas no permetros irrigados da Bahia, 100
Tabela 13 reas de solos (em km2) afetados por salinizao nos estados do Nordeste, 100 Tabela 14 Danos Fsicos do Uso do Fogo na Amaznia, 102 Tabela 15 Danos Econmicos do Uso do Fogo na Amaznia, 102
Tabela 5
Tabela 6
Outros impactos positivos, fora da propriedade rural, devidos adoo de Sistema Plantio Direto, em rea 14,3 milhes de hectares, 159 Benefcios devidos ao Sistema Plantio Direto, considerando a rea cultivada de 14,3 milhes de hectares no Brasil, 159
CAPTULO 14 Tabela 1 Evoluo da rea cultivada em Sistema Plantio Direto no Brasil, em mil hectares, em alguns Estados e regio do Cerrado (1996-2000), segundo Federao Brasileira de Plantio Direto na Palha, 153 Tabela 2 Reduo de fertilizantes e corretivos devido a menores perdas por eroso nos 14,3 milhes de hectares cultivados sob Sistema Plantio Direto no Brasil, 157 Tabela 3 Resumo dos benefcios internos propriedade rural para os 14,3 milhes de hectares em Sistema de Plantio Direto, 158 Tabela 4 Benefcios externos propriedade rural devidos adoo de Sistema Plantio Direto no Brasil, 158
CAPTULO 15 Tabela 1 Cenrios de rea desmatada na Amaznia para fins agropecurios, 166 Tabela 2 Produo, rea colhida e produtividade das culturas selecionadas na safra 1999/2000, 167. Tabela 3 Aumento da produtividade fsica em reas no irrigadas considerando apenas a adoo de sistemas conservacionistas baseados no plantio direto (safra + safrinha ou safra de inverno), 168 Tabela 4 Incrementos de rea com lavouras anuais e pastagens recuperadas, 172
Lista de Figuras
CAPITULO 1 Figura 1 Mapa de solos do Brasil, 3 Figura 2 Mapa interpretativo da suscetibilidade natural dos solos eroso hdrica, 10 CAPTULO 2 Figura 1 Uso Atual das Terras por Regio do Brasil, 16 Figura 2 Evoluo da rea ocupada pela agropecuria no Brasil no perodo de 1970 a 1998, 18 Figura 3 ndice relativo da intensidade de uso das terras dos municpios por atividades Agrosilvipastoris, 19 Figura 4 Evoluo das reas irrigadas no Brasil, 20 CAPTULO 3 Figura 1 Comportamento do ndice de Gini em 1992 e 1998, Segundo o Brasil e Grandes Regies, 24 Figura 2 Comportamento dos ndices de concentrao fundiria no Brasil 1972/1998, 26 Figura 3 Comportamento dos ndices de concentrao fundiria no Brasil 1972/1998, 27 Figura 4 Participao relativa das grandes regies no nmero total de imveis cadastrados no Brasil em 1992, 27 Figura 5 Participao relativa das grandes regies no nmero total de rea cadastrada no Brasil em 1992, 27 Figura 6 Participao relativa das grandes regies no nmero total de rea cadastrada no Brasil em 1998, 27 Figura 7 rea mdia dos estabelecimentos familiares em hectares, 29
Figura 8
rea mdia dos estabelecimentos patronais em hectares, 29
CAPTULO 4 Figura 1 Variaes do uso da terra no Brasil no perodo 1970 a 1985, 32 Figura 2 Taxas de crescimento anuais de produo de gros (arroz, feijo, milho, soja e trigo), 40 Figura 3 Indicadores de desempenho relativo das lavouras (arroz, batata inglesa, cebola, feijo, mandioca, milho, trigo, algodo em caroo, amendoim e soja), 41 Figura 4 Evoluo da rea colhida e produo agrcola de gros arroz, feijo, milho, soja e trigo, 42 Figura 5 Uso atual, aptido agrcola e balano da disponibilidade das terras aptas para pastagem plantada por regio do Brasil, 43 Figura 6 Evoluo da produo de carnes no Brasil, 44 CAPTULO 5 Figura 1 Degradao, perda de produtividade e conseqncias econmicas, sociais e ambientais resultantes do preparo do solo na agricultura tradicional, 50 Figura 2 reas vulnerveis eroso resultantes do cruzamento entre a presso de uso das terras e a susceptibilidade natural dos solos eroso, 53 Figura 3 Fator erosividade da chuva (R) na bacia do rio Paran, com a intensidade aumentando do azul para o verde e deste para o vermelho, 54
CAPTULO 6 Figura 1 Economia de uso de rea agrcola no Brasil no perodo de 19701998, em funo do acrscimo da produtividade mdia das culturas, 62 Figura 2 Consumo de fertilizante N, P2O5 e K2O no Brasil no perodo de 1975 a 1999, 65 Figura 3 Extrao de macronutrientes primrios N, P e K (A), secundrios Ca, Mg e S (B) e micronutrientes B, Cu, Fe, Mn e Zn (C), 68 Figura 4 Projeo de extrao dos macronutrientes N, P e K para produtividades timas, 69
Figura 2
Figura 3
rea de ocorrncia de areais no Sudoeste do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, 97 Localizao esquemtica dos solos com problemas de salinidade no Brasil, 99
Captulo 14 Figura 1 Evoluo da rea cultiva em Sistema Plantio Direto no Brasil (1972-2000), 153 Figura 2 Evoluo da rea cultiva em Sistema Plantio Direto no Rio Grande do Sul, no perodo de 1976 a 2000, 154
CAPTULO 7 Figura 1 Consumo de defensivos agrcolas, 79 Figura 2 Consumo de agrotxicos por estado, 80
CAPTULO 8 Figura 1 Composio do esgoto domstico, 88
CAPTULO 9 Figura 1 Mapa da Desertificao no Brasil, 95
Captulo 15 Figura 1 Estrutura da sociedade civil no setor rural voltada adoo do Sistema Plantio Direto como sistema conservacionista no continente americano, 164 Figura 2 Evoluo e projeo da relao entre a rea agrcola total e a populao brasileira, 166 Figura 3 Variao da Taxa Anual de Crescimento da rea de Adoo do SPD no Brasil, 168 Figura 4 Evoluo da rea de adoo de SPD, considerando trs cenrios quanto a taxa de adoo anual, 169
Introduo
A idia da realizao de um livro abordando o Uso Agrcola dos Solos Brasileiros nasceu aps o convite formalizado pelo IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renovveis, para que a Embrapa coordenasse a elaborao do Captulo de Solos do Geo Brasil 2002 Perspectivas do Meio Ambiente no Brasil. O esforo de elaborar um relatrio sobre a qualidade do meio ambiente brasileiro, informando sociedade, sua real situao, principais problemas e avanos, resultou numa srie de contribuies de pesquisadores da Embrapa e de outras instituies, aproveitados em sua verso expandida, na construo dos captulos desta obra. Como resultado, esta obra apresenta quinze captulos ordenados e elaborados utilizando-se adaptaes da metodologia utilizada pelo Programa das Naes Unidas para Meio Ambiente para a elaborao das sries GEO (Global Environment Outlook), como decorrncia do vis agrcola adotado. Possue ainda uma abordagem generalista, decorrncia em parte, das orientaes do Geo Brasil 2002 e, de outra, das dimenses continentais do Pas e seus mltiplos condicionantes de natureza local e regional. Os captulos iniciais tratam do estado atual dos solos brasileiros, compreendendo sua constituio, tipos, distribuio geogrfica, potencial de uso e uso agrcola atual. Os captulos que se seguem tratam das atividades e processos de origem antrpica, que agem sobre o recurso solo produzindo mudanas no seu domnio e uso atual, como resultado das dinmicas e transformaes verificadas na agropecuria ao longo das trs ltimas dcadas. Nos captulos cinco a nove so abordados os principais impactos decorrentes do uso dos solos pela agropecuria e, nos seguintes, as aes adotadas para mitigar ou prevenir impactos ambientais negativos ou mesmo conservar o recurso solo, que incluem a conscientizao da sociedade, as leis nacionais e suas regulamentaes, programas, convenes, acordos internacionais e respostas conservacionistas ao uso das terras. No ltimo captulo apresentam-se alguns cenrios sobre este uso conservacionista e seus reflexos sobre a produo, produtividade e expanso do espao agrcola. Cada captulo contou com a contribuio de vrios autores-colaboradores, cujos crditos tcnicos encontram-se listados em conjunto no incio do livro, e posteriormente, individualizados por captulos. Ressalta-se por fim, a importncia que os diferentes aspectos do uso dos solos possuem sobre o planejamento, ordenamento e desenvolvimento agrcola sustentvel do Pas. A forte competitividade no setor, decorrncia da globalizao e da abertura de mercados, vem determinando uma crescente necessidade de se agregar valor aos produtos da agropecuria. Progressivamente estes passam a ser avaliados ainda, no apenas pelo seu valor intrnseco, mas tambm como resultante de mecanismos limpos e sustentveis de produo. Ou seja, atualmente os mercados demandam cada vez mais produtos socialmente justos e ambientalmente corretos, com amplos reflexos na forma de uso e apropriao dos solos brasileiros.
O Recurso Natural Solo
1Maurcio Rizzato Coelho Humberto Gonalves dos Santos Enio Fraga da Silva Mario Luiz Diamante Aglio
Captulo
Introduo O solo uma coleo de corpos naturais, constitudos por partes slidas, lquidas e gasosas, tridimensionais, dinmicos, formados por materiais minerais e orgnicos, contendo matria viva e ocupando a maior poro do manto superficial das extenses continentais do planeta (Embrapa, 1999). O territrio brasileiro se caracteriza por uma grande diversidade de tipos de solos, correspondendo, diretamente, intensidade de interao das diferentes formas e tipos de relevo, clima, material de origem, vegetao e organismos associados, os quais, por sua vez, condicionam diferentes processos formadores dos solos. A esta diversidade, deve-se a natureza de nosso pas, suas potencialidades e limitaes de uso e, em grande parte, s diferenas regionais no que se refere s diversas formas de ocupao, uso e desenvolvimento do territrio. Assim, um quadro sinttico das paisagens brasileiras, por regio, mostra o Norte do pas como um territrio de plancies e baixos planaltos, de clima equatorial, calor permanente e alto teor de umidade atmosfrica, com predominncia de solos profundos, altamente intemperizados, cidos, de baixa fertilidade natural, e comumente saturados por alumnio txico para a maioria das plantas, o que diminui significativamente o potencial produtivo de suas terras, quando no adequadamente manejadas. Na regio Nordeste, observam-se tipos climticos que variam do quente e mido ao quente e seco (semi-rido), passando por uma faixa de transio semimida. Nela, ocorre, em grande parte, solos de mdia a alta fertilidade natural, em geral pouco profundos em decorrncia de seu baixo grau de intemperismo. O dficit hdrico e, em menor proporo, a ocorrncia
de salinidade e/ou sodicidade em alguns solos nordestinos so os principais fatores condicionantes produo agrcola nesta regio do pas. A regio Centro-Oeste, vasta superfcie aplainada pelos processos erosivos naturais, caracterizada pelo Planalto Central Brasileiro. A predominncia de um clima tropical quente com veranicos acentuados caracterstica da regio, destacando-se grandes extenses de solos profundos, bem drenados, de baixa fertilidade natural que so facilmente corrigidos pela adubao e calagem, porm com caractersticas fsicas favorveis, alm das condies topogrficas que permitem intensa mecanizao agrcola das lavouras. A regio Sudeste se caracteriza por planaltos e reas serranas com vrios pontos de altitudes superiores a 2.000 metros, clima tropical com veres quentes nas baixadas e mais amenos nas reas altimontanas; predominncia de solos bem desenvolvidos, geralmente de baixa fertilidade natural. Na regio Sul, os solos originados de rochas bsicas e de sedimentos diversos se encontram distribudos em uma paisagem com relevo diversificado, onde predomina o clima subtropical, com estaes bem definidas e solos predominantemente frteis com elevado potencial agrosilvipastoril. Como exposto, as diferenciaes regionais so resultantes da considervel variabilidade de seus solos, condies climticas e geomorfolgicas, refletindo diretamente no potencial agrcola das terras, na diversificao das paisagens e aspectos vinculados ao tipo predominante de uso do solo, com reflexos no desenvolvimento diferenciado das regies do pas. A ocorrncia, a diversidade e a distribuio geogrfica das principais classes de solos do Brasil so genericamente abordadas neste captulo, salientando alguns dos atributos agronmicos e taxonmicos mais relevantes e1
2
O Recurso Natural Solo
pertinentes aos diferentes tipos de solo que dominam as paisagens das regies brasileiras. Tipos, Caractersticas e Distribuio dos Solos A diversidade dos ecossistemas do territrio brasileiro extremamente grande e os solos, que so parte integrante desse complexo de recursos naturais, tambm variam significativamente. Com base no Mapa de Solos do Brasil (Embrapa, 1981) e no atual Sistema Brasileiro de Classificao de Solos (Embrapa, 1999), pode-se distinguir 13 grandes classes de solos mapeveis e representativas das paisagens brasileiras (Figura 1 e Tabela 1). As grandes classes de solos subdividem-se em diferentes tipos, conforme as caractersticas prprias de cada solo, separando-os em unidades mais homogneas. As definies, conceitos e critrios taxonmicos utilizados na classificao e diferenciao dos mais variados tipos de solos brasileiros esto detalhados no Sistema Brasileiro de Classificao de Solos (Embrapa, 1999). Neste captulo, as classes de solos so descritas e conceituadas sucintamente, generalizando-se as mais expressivas propriedades e caractersticas dos solos brasileiros, sua distribuio geogrfica e aspectos agronmicos. Latossolos: so solos resultantes de enrgicas transformaes no material originrio ou oriundos de sedimentos pr-intemperizados onde predominam, na frao argila, minerais nos ltimos estdios de intemperismo (caulinitas e xidos de ferro e alumnio), sendo a frao areia dominada por minerais altamente resistentes ao intemperismo. So de textura varivel, de mdia a muito argilosa, geralmente muito profundos, porosos, macios e permeveis,
apresentando pequena diferena no teor de argila em profundidade e, comumente, so de baixa fertilidade natural. Em geral, a macroestrutura fraca ou moderada, no entanto, o tpico horizonte latosslico apresenta forte microestruturao (pseudoareia), caracterstica comum nos Latossolos Vermelhos Frricos, solos de elevado teor de xidos de ferro. So tpicos das regies equatoriais e tropicais, distribudos, sobretudo, em amplas e antigas superfcies de eroso, pedimentos e terraos fluviais antigos, normalmente em relevo suavemente ondulado e plano. Os Latossolos so os solos mais representativos do Brasil, ocupando 38,7% da rea total do pas e distribuem-se em praticamente todo territrio nacional (Tabela 1). Existem variados tipos de Latossolos, que se diferenciam, dentre vrios outros atributos, pela sua cor, fertilidade natural, teor de xidos de ferro e textura. Argissolos: os Argissolos formam uma classe bastante heterognea que, em geral, tem em comum um aumento substancial no teor de argila em profundidade. So bem estruturados, apresentam profundidade varivel e cores predominantemente avermelhadas ou amareladas, textura variando de arenosa a argilosa nos horizontes superficiais e de mdia a muito argilosa nos subsuperficiais; sua fertilidade variada e a mineralogia, predominantemente caulintica. Os argissolos ocupam aproximadamente 20,0% da superfcie do pas; em termos de extenso geogrfica s perdem para os Latossolos (Tabela 1) e, semelhante a estes, distribuem-se em praticamente todas as regies brasileiras, desde o Rio Grande do Sul at o Amap e do Acre at Pernambuco. Habitualmente, ocupam terrenos de relevos mais dissecados quando comparados aos latossolos.
Tabela 1. Extenso e distribuio dos solos no Brasil Brasil Tipos de Solos Alissolos Argissolos Cambissolos Chernossolos Espodossolos Gleissolos Latossolos Luvissolos Neossolos Nitossolos Planossolos Plintossolos Vertissolos gua Total Absoluta (km2) 371.874,48 1.713.853,49 232.139,19 42.363,93 133.204,88 311445,26 3.317.590,34 225.594,90 1.246.898,89 119.731,33 155.152,13 508.539,37 169.015,27 160.532,30 8.547.403,50 Relativa ao total (%) 4,36 19,98 2,73 0,53 1,58 3,66 38,73 2,65 14,57 1,41 1,84 5,95 2,01 1,88 100,00 Relativa por Regies Norte 8,67 24,40 1,06 0,00 3,12 6,41 33,86 2,75 8,49 0,28 0,16 7,60 3,20 3,20 100,00 Nordeste 0,00 17,20 2,09 1,05 0,39 0,78 31,01 7,60 27,55 0,05 6,61 4,68 0,99 0,36 100,00 Centro-Oeste (%) 0,00 13,77 1,59 0,27 0,26 2,85 52,81 0,00 16,36 1,22 1,73 8,78 0,36 0,31 100,00 Sudeste 0,00 20,68 8,64 0,21 0,37 0,5 56,30 0,00 9,38 2,56 0,16 0,00 1,20 1,20 100,00 Sul 6,34 14,77 9,28 3,94 0,00 0,4 24,96 0,00 23,23 11,48 3,00 0,00 2,60 2,60 100,00
O Recurso Natural Solo
3
Figura 1. Mapa de Solos do Brasil. Adaptado de EMBRAPA (1981) por Embrapa Solos.
4
O Recurso Natural Solo
Alissolos: compreendem solos de baixa fertilidade natural e elevados teores de alumnio extravel (Al3+); em alguns solos desta classe ocorre um significativo aumento do contedo de argila em profundidade; em outros este aumento menos pronunciado. Em geral, so bem estruturados e distribuem-se na regio subtropical do Brasil, especialmente nos Estados do Paran, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas as maiores extenses deles na Amaznia Ocidental, sob condies tropicais e equatoriais, predominantemente. Cambissolos: devido heterogeneidade do material de origem, das formas de relevo e condies climticas em que so formados, as caractersticas destes solos variam muito de um local para outro. No entanto, uma caracterstica comum o incipiente estdio de evoluo do horizonte subsuperficial, apresentando, em geral, fragmentos de rochas permeando a massa do solo e/ou minerais primrios facilmente alterveis (reserva de nutrientes), alm de pequeno ou nulo incremento de argila entre os horizontes superficiais e subsuperficiais. Ocorrem em praticamente todo o territrio brasileiro. So particularmente importantes na parte oriental dos planaltos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paran, onde os Cambissolos existentes tm alto teor de matria orgnica e elevados contedos de alumnio extravel. Outras ocorrncias significativas so aquelas relacionadas com a Serra do Mar, estendendo-se desde o nordeste do Rio Grande do Sul at o Esprito Santo, serra da Mantiqueira e regies interioranas de Minas Gerais (Oliveira et al., 1992). Cambissolos de elevada fertilidade natural so comuns na regio nordestina e no Estado do Acre. Chernossolos: compreendem solos que apresentam atividade da frao argila bastante elevada no horizonte subsuperficial, sendo o superficial do tipo A chernozmico (espesso, escuro, bem estruturado, rico em matria orgnica e com alta saturao por bases). So normalmente escuros, pouco coloridos, moderadamente cidos a fortemente alcalinos, portanto, de elevada fertilidade natural e com presena de minerais de esmectita e/ou vermiculita na frao argila. Distribuem-se predominantemente em duas grandes reas situadas ao sul (Rio Grande do Sul) e leste do Brasil (Bahia). Espodossolos: so predominantemente arenosos, com acmulo de matria orgnica e compostos de alumnio em profundidade, podendo ou no conter compostos de ferro. So muito pobres e muito cidos, sendo peculiares os teores de alumnio extravel relativamente elevados em relao aos outros ons bsicos presentes no solo. Distribuem-se esparsamente nas baixadas litorneas ao longo da
costa leste do pas, especialmente na Bahia, em Sergipe, Alagoas e Rio de Janeiro, nas baixadas arenosas do Rio Grande do Sul e em reas interioranas da Amaznia Ocidental, onde so expressivos. Gleissolos: ocupam, geralmente, as partes depressionais da paisagem e, como tal, esto permanente ou periodicamente encharcados, salvo se artificialmente drenados. Comumente, desenvolvem-se em sedimentos recentes nas proximidades dos cursos dgua e em materiais colvio-aluviais sujeitos a condies de hidromorfismo, como as vrzeas e baixadas. Assim, situam-se indiscriminadamente em todas as reas midas do territrio brasileiro, onde o lenol fretico fica elevado durante a maior parte do ano. Como ocorrncias expressivas, no entanto, podemse citar aquelas relacionadas s vrzeas da plancie amaznica, em Gois e Tocantins ao longo do Rio Araguaia, em So Paulo e Rio de Janeiro s margens do rio Paraba, no Rio Grande do Sul s margens das lagoas dos Patos, Mirim e Mangueira (Oliveira et al., 1991). Luvissolos: compreendem solos com elevada fertilidade natural, dotados de argilas com alta capacidade de reteno de ons trocveis (argila de atividade alta) e saturao por bases tambm alta (elevada capacidade de reteno de nutrientes) nos horizontes subsuperficiais, imediatamente abaixo de horizontes do tipo A fraco ou moderado (baixos teores de matria orgnica, pouco espessos e baixa a mdia capacidade de reteno de nutrientes). reas expressivas so encontradas no nordeste brasileiro, onde se distribuem principalmente na zona semi-rida. Neossolos: pouco evoludos, apresentam pequena expresso dos processos responsveis pela sua formao, que no conduziram, portanto, a modificaes expressivas do material originrio. Diferenciam-se em grande parte pelo seu material de origem e paisagem, como depsitos sedimentares (plancies fluviais, sedimentos arenosos marinhos ou no) e regies de relevo acidentado. Existem quatro grandes tipos de Neossolos, que apresentam, genericamente, as seguintes caractersticas: Neossolos Litlicos solos rasos, com espessura inferior a 50cm, possuindo, em geral, uma estreita camada de material terroso sobre a rocha; Neossolos Regolticos solos mais profundos com espessura superior a 50cm e presena de minerais alterveis ou fragmentos de rocha; Neossolos Quartzarnicos solos mais profundos, com espessura superior a 50cm, de textura essencialmente arenosa por todo o solo e, praticamente, ausncia de minerais primrios alterveis (sem reserva de nutrientes); Neossolos Flvicos solos provenientes de sedimentos aluviais. Normalmente, possuem um horizonte escurecido superfcie sobre camadas estratificadas. Os Neos-
O Recurso Natural Solo
5
solos Litlicos, em geral, esto associados a muitos afloramentos de rocha. No mapa de solos esto apresentados como forma alongada, refletindo as cristas e partes mais instveis da paisagem (Resende, et al., 1988). No h distribuio regionalizada, ocorrendo por todo o territrio brasileiro. Os Neossolos Regolticos tambm so comuns no Brasil como um todo. No entanto, extensas reas ocorrem na regio semi-rida nordestina. As maiores ocorrncias de Neossolos Quartzarnicos esto nos Estados de So Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, oeste e norte da Bahia, sul do Par, sul e norte do Maranho, no Piau e Pernambuco, em relevo predominantemente plano. Os Neossolos Flvicos raramente ocupam apreciveis reas contnuas, pois so restritos s margens dos cursos dgua, lagoas e plancies costeiras onde, geralmente, ocupam as pequenas pores das vrzeas (Oliveira et al., 1992). Nitossolos: so solos de textura argilosa ou mais fina que apresentam pouco ou nenhum incremento de argila em profundidade. So normalmente profundos, bem drenados, estruturados e de colorao variando de vermelho a brunada. Em geral, so moderadamente cidos, com saturao por bases de baixa a alta, argila de atividade baixa e as vezes contendo elevados contedos de alumnio extravel. As maiores reas contguas esto nos Estados sulinos. No entanto, no Estado de So Paulo, extensas reas so encontradas nos planaltos baslticos que se estendem at o Rio Grande do Sul. Planossolos: so mal drenados, com horizonte superficial de textura mais leve, em geral arenosa, que contrasta abruptamente com o horizonte subsuperficial imediatamente subjacente, adensado e extremamente endurecido quando seco, geralmente de acentuada concentrao de argila, bem estruturado e de permeabilidade muito lenta, apresentando visveis sinais de hidromorfismo. Esses solos ocorrem predominantemente em reas de relevo plano ou suave ondulado, muito utilizados com arroz irrigado no Rio Grande do Sul e com pastagem na regio nordeste do pas (Resende, et al., 1988). Plintossolos: apresentam uma diversificao morfolgica e analtica muito grande, no entanto, a caracterstica mais importante desses solos a presena de manchas ou mosqueados avermelhados (plintita), geralmente compondo um emaranhado de cores bem contrastante com a matriz do solo, podendo ou no conter ndulos ou concrees (petroplintita), os quais so constitudos por uma mistura de argila, pobre em carbono orgnico e rica em ferro, ou ferro e alumnio, com quartzo e outros materiais. Freqentemente so cidos e com
baixa reserva de nutrientes. Encontram-se em relevo plano e suave ondulado, em reas deprimidas, plancies aluvionais e teros inferiores de encosta, situaes que impliquem no escoamento lento da gua do solo. As maiores extenses se encontram na regio Amaznica (alto Amazonas do territrio brasileiro), Amap, Ilha de Maraj, baixada Maranhense, norte do Piau, sudeste de Tocantins e nordeste de Gois, Pantanal Mato-Grossense e baixadas da regio da Ilha do Bananal (Oliveira et al., 1992). Plintossolos com predominncia de ndulos ou concrees (Plintossolos Ptricos) so comuns nas rupturas de chapadas em todo o Planalto Central Brasileiro e em muitas rupturas de declive na Amaznia (Resende, et al., 1988). Vertissolos: so solos de colorao acinzentada ou preta, sem diferena significativa no teor de argila entre a parte superficial e a subsuperficial do solo. No entanto, a caracterstica mais importante a pronunciada mudana de volume com a variao do teor de umidade devido ao elevado teor de argilas expansivas (argila de atividade alta), tendo como feio morfolgica caracterstica e facilmente identificvel, a presena de fendas de retrao largas e profundas que se abrem desde a superfcie do solo nos perodos secos. So de elevada fertilidade qumica, mas apresentam problemas de natureza fsica. Ocorrem, predominantemente, na zona seca do Nordeste, no Pantanal Mato-grossense, na Campanha Rio Grandense e no Recncavo Baiano (Oliveira et al., 1992). Ocorrncia e aspectos gerais dos solos por grandes regies. As diferentes regies do territrio brasileiro apresentam peculiaridades ambientais e culturais que refletem a ocorrncia, a distribuio, a aptido agrcola de suas terras, o uso e manejo diferenciados de seus solos. Aspectos dessa natureza adquirem, em termos gerais, o seguinte quadro sinttico das paisagens brasileiras por regio.Regio Norte
A regio Norte abrange 3.878 mil km2, ocupando aproximadamente a metade do territrio brasileiro. Solos profundos, bem drenados, muito intemperizados e de baixa fertilidade natural, como os Latossolos, so os mais representativos, estendendo-se por 34% da regio. Os Latossolos Amarelos ocorrem na depresso do Mdio-Baixo Rio Amazonas (Figura 1); so originados de sedimentos psamticos, pelticos e rudceos e ocupam uma rea de 582,5 mil km2, correspondendo a 15% da regio Norte. No entorno dos Latossolos
6
O Recurso Natural Solo
Amarelos predominam os Latossolos Vermelho-Amarelos, que se distribuem de maneira esparsa na paisagem e ocupam 726,3 mil km2, correspondendo a 18,7% de toda a regio Norte. Outra classe de solos de grande representatividade a dos Argissolos, que se distribuem por 26,6% da regio, normalmente em relevos ondulados. Entre os Argissolos, a classe de maior ocorrncia o Argissolo Vermelho-Amarelo, distribudos em aproximadamente 22% da regio, sendo a classe de maior ocorrncia individual do norte do Brasil. Nas reas declivosas, sob relevos ondulados a montanhosos, ocorrem os Neossolos Litlicos, ocupando 165 mil km2 (4,2% da regio). Os Alissolos se distribuem na depresso do Solimes e so originados de sedimentos pleistocnicos psamticos. Ocupam 347,5 mil km2, o que corresponde a 9% da regio. Nesses mesmos ambientes so comuns os Plintossolos, ocupando 269 mil km2 ou aproximadamente 7% da regio. J nas plancies fluviais ou flvio-lacustre h a predominncia de Gleissolos que se distribuem por 254 mil km2, cerca de 6,5% da regio. As principais limitaes, comuns na maioria dos solos da Amaznia, so a acidez elevada, a saturao alta por alumnio e a disponibilidade baixa de nutrientes. Estima-se que 90% de suas terras apresentam deficincia em fsforo, 75% toxicidade por alumnio, 50% baixa reserva de potssio, alm do fato de que 50% da regio estar sujeita a dficits hdricos elevados (Rodrigues, 1996). Entretanto, existem tecnologias que possibilitam contornar satisfatoriamente esses problemas, mas que refletem, necessariamente, no aumento dos custos com insumos. As limitaes de ordem fsica para explorao agrcola intensiva das terras do norte do pas so pouco representativas. Apenas 10% da rea apresenta declividade superior a 20%. Entretanto, a elevada precipitao em algumas sub-regies, acima de 2.000mm anuais, conjugada com solos de textura argilosa e drenagem deficiente, como Latossolos Amarelos e Plintossolos, dificulta ou mesmo inviabiliza o uso agrcola sustentvel. A ampliao da fronteira agrcola na regio Amaznica, apesar da grande oferta de terras com potencial para suportar atividades agrcolas, dever ser acompanhada de um incremento da difuso de tecnologias que permitam alcanar uma maior produtividade com sustentabilidade, contribuindo para o desenvolvimento socioeconmico e a preservao dos recursos naturais da regio.Regio Nordeste
madamente, 70% da rea daquela regio, bem como 63% da populao nordestina. Uma caracterstica peculiar do Nordeste brasileiro a grande variabilidade de seus solos e condies ambientais, com diferentes vocaes e potenciais para fins de produo. Considerando apenas duas grandes faixas a mida (Litornea) e a semi-rida seria possvel caracterizar aproximadamente os solos de cada uma delas de acordo com Souza (1979). A primeira faixa revela solos bem diferenciados. Compreende grande parte do Maranho, amplas reas do Piau e a faixa costeira que vai do Rio Grande do Norte at o sul da Bahia, incluindo os Tabuleiros Costeiros. Sobre ela repousa a economia agrcola do litoral mido a cana-de-acar, o cacau, as frutas, o arroz, etc. em substituio s matas desaparecidas. Os solos a so de profundidade variada, dotados de boa precipitao anual, e tiveram sua fertilidade reduzida graas ao uso agrcola contnuo e grande pluviosidade, favorecendo a lixiviao e a eroso. Nestas condies, dominam os Latossolos que ocorrem em relevos plano e suave ondulado e ocupam 488 mil km2, correspondendo a 31% da rea total do Nordeste. A Segunda, zona semi-rida (Agreste e Serto), com ndices de pluviosidade mais baixos, abrange vrias reas do interior do Nordeste. Em geral, os solos a so mais rasos, dotados de boa fertilidade natural, tendo em vista a reteno de elementos minerais. Sua extenso compreende a maior parte do polgono das secas. Ocupando as reas mais movimentadas, aparecem tanto os Argissolos com baixa reserva de nutrientes, distribudos por 290 mil km2 (18,4%), como os Luvissolos; esses, de elevada fertilidade natural, ocupam 107 mil km2. Nestas condies ocorrem, tambm, os Neossolos, solos jovens que se diferenciam em Litlicos, Quartzarnicos, e Regolticos, ocupando 28,5% da regio nordeste (451 mil km2). Em relevo plano e suave ondulado, destacam-se os Planossolos e Plintossolos, solos mal drenados, freqentemente utilizados com pastagens. Os solos do Nordeste se diversificam segundo os variados fatores de formao que lhes deram origem. H solos ricos, pobres e degradados pela eroso e pelo fogo. O uso irracional pela agricultura itinerante tem sido a causa mais importante de sua devastao. Isto tudo leva a afirmar que o Nordeste possui amplas reas de solos plenamente satisfatrios e diversificados que, uma vez explorados, permitiriam alimentar uma grande populao, desenvolvendo condies para que esta tenha renda mais alta e melhor nvel de vida, diferente da realidade atual nesta regio.Centro-Oeste
A regio Nordeste tradicionalmente dividida em trs zonas: Litornea, Agreste e Serto, as quais, totalizadas, ocupam 1.582 mil km2. Estas duas ltimas se caracterizam pelo clima semi-rido, abrangendo, aproxi-
A fisiografia e o clima quente e submido, a vegetao predominante de cerrados e de matas ao longo dos
O Recurso Natural Solo
7
cursos dgua ocupando chapadas e chapades, do ao Centro-Oeste uma fisionomia tpica, estendendo-se por uma rea total de 1.879.455km2. A pecuria constituiu a atividade tradicional mais importante durante dcadas na regio, provavelmente devido ao seu isolamento at a transferncia da capital do pas do Rio de Janeiro para o Planalto Central Brasileiro, nos idos de 1960. A ocupao do novo espao, abertura de reas para agropecuria, pesquisas direcionadas, melhor conhecimento do ambiente fsico com o aumento de investimentos na regio, construo de rodovias e a grande mobilizao de empresas agrcolas do Sul e do Sudeste do pas contriburam para mostrar outra realidade. Dentre as mudanas mais significativas ocorridas, destaca-se a expanso da agricultura nas reas de cerrados, em sua maior parte constitudas de grandes extenses de Latossolos de texturas variando de mdia a muito argilosa, em relevos altamente favorveis mecanizao, de excelentes propriedades fsicas e de fertilidade facilmente corrigida pela adubao e calagem. Com este potencial agrcola indiscutvel, abriu-se uma nova fronteira para a produo de soja, milho, trigo, arroz, feijo, caf, algodo e outras culturas climaticamente adaptadas, superando a importncia da pecuria na regio. De acordo com o Delineamento Macroagroecolgico do Brasil (Embrapa, 1992), o Centro-Oeste apresenta 31% de suas terras indicadas para preservao permanente, 3% para extrativismo e 66% para lavouras de ciclo curto e longo. Portanto, o potencial para pecuria considerado nulo segundo os critrios do zoneamento agroecolgico. No obstante, considerveis reas so ocupadas com pastagens plantadas e naturais, revelando uma distoro de uso da terra, principalmente pelo avano de pastagens sobre reas indicadas para preservao. Se no so essas reas de preservao invadidas, aquelas com vocaes mais intensivas, atualmente se encontram em estado de subutilizao com pastagens de m qualidade. Os Latossolos dominam nas paisagens do Centro-Oeste. Distribuem-se em aproximadamente 35% da regio, ocupando reas aplainadas, geralmente sob vegetao de cerrado, de textura variando de mdia a muito argilosa, fertilidade baixa a mdia e elevado potencial agrcola (Carvalho Filho et al., 1991). Devido sua mdia suscetibilidade eroso, atualmente tem-se implantado sistemas de manejo adotando o cultivo mnimo e o plantio direto; tcnicas amplamente difundidas e incentivadas por associaes de produtores regionais (Freitas, 2001). Outros solos comuns so os Argissolos, geralmente ocupando relevos mais dissecados, de fertilidade natural mdia a alta e, semelhante aos latossolos, apresentam considervel potencial agrcola. Distribuem-se em aproximadamente 20% da regio Centro-Oeste.
Os Neossolos Quartzarnicos tm expressiva ocorrncia na regio. So amplamente distribudos nas regies Norte, Oeste, Centro e Sudeste do estado de Mato Grosso, Centro e Norte do Mato Grosso do Sul e Nordeste de Gois, englobando aproximadamente 15% da superfcie do Centro-Oeste brasileiro. Apresentam severas limitaes ao uso agrcola, seja pela textura muito arenosa, fertilidade muito baixa, ou ainda devido ao alumnio em nveis de toxicidade, baixa capacidade de reteno de gua ou elevada suscetibilidade eroso. O desenvolvimento de processo erosivo nestes solos rpido e tem incio imediatamente aps a interveno antrpica. Os Cambissolos, Neossolos Litlicos e Plintossolos Ptricos, so solos pouco intemperizados, rasos ou pouco profundos, cascalhentos, concrecionrios, geralmente pedregosos, ocorrendo em relevos desde planos at fortemente ondulados, ocupam em torno de 17% da regio Centro-Oeste. So de potencial agrcola praticamente nulo, com limitaes de fertilidade, profundidade efetiva, impedimento ao emprego da mecanizao e altamente susceptveis eroso, constituindo, em geral, as reas onde se observam os altos ndices de degradao quando cultivadas. Outras reas de caractersticas peculiares compreendem as plancies fluviais inundveis, como o Pantanal Mato-Grossense e a Ilha de Bananal, onde predominam tipos de solos como Planossolos, Plintossolos, Gleissolos, Neossolos Flvicos, Neossolos Quartzarnicos Hidromrficos e Vertissolos. Estas reas requerem manejo especial e culturas adaptadas s condies de hidromorfismo, em funo do regime hdrico e da drenagem deficiente. Em caso de utilizlas com sistemas produtivos, permanece o risco da proximidade do lenol fretico e dos numerosos cursos dgua quando da aplicao de defensivos agrcolas e adubao, constituindo uma ameaa a contaminao de mananciais, com reflexos diretos ao meio ambiente. reas com estas caractersticas representam cerca de 10% da regio Centro-Oeste e so indicadas para preservao, constituindo ambientes ecolgicos frgeis.Regio Sul
Com uma extenso geogrfica de 577.723km2 a menor das regies brasileiras, com alta densidade populacional, clima subtropical e cobertura vegetal nativa de florestas e campos, atualmente desaparecidos quase por completo para dar lugar explorao agropecuria e florestal mais desenvolvida do pas. A regio mantm grande atividade comercial com os pases do Mercosul e com outras regies do Brasil, destacando-se, no setor agropecurio, como gran-
8
O Recurso Natural Solo
de produtora de milho, soja, trigo, arroz, alm de destacar-se na indstria madeireira, celulose, manufaturados e a j conhecida indstria vincola. Em grandes propriedades desenvolve-se a pecuria extensiva, atividade tradicional, onde se encontra um grande rebanho bovino, alm de suno e ovino, constituindo praticamente a metade do rebanho nacional. Constituda de trs estados, Paran, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, uma regio tpica de planaltos e serras com terras frteis originadas, em grande parte, do derrame basltico que se estende por toda a Bacia Sedimentar do Paran. Na regio predominam os Latossolos Vermelho-Amarelos, Vermelhos e Brunos, profundos, de excelentes propriedades fsicas e de fertilidade facilmente corrigvel pela adubao e calagem (Fasolo, 1991). So muito susceptveis eroso e as reas cultivadas seguem recomendaes tcnicas de conteno da eroso, onde comeam a surgir cultivos segundo o mtodo do plantio direto e estudos para aumento da eficincia da aplicao de corretivos e adubos atravs de tcnicas de agricultura de preciso. Outros solos, como os Nitossolos, Argissolos, Cambissolos e Chernossolos, de mdia a alta fertilidade natural so comuns na regio Sul e respondem por grande parte da produo de gros. As plancies representam grandes extenses no sul do pas, predominantemente no Rio Grande do Sul. A maior parte se encontra destituda de sua cobertura vegetal original, devido utilizao pelo homem com sistemas produtivos, principalmente, pecuria e orizicultura. Em virtude destas exploraes, tais plancies foram submetidas a sistemas intensivos de drenagens, a ponto de no se legitimar as condies hdricas originais da grande maioria dos solos. Esta considerao fortemente ratificada em situaes onde se observam plantios de soja, o qual necessita rebaixamento definitivo do lenol fretico. Solos como Gleissolos, Neossolos Flvicos, Cambissolos (derivados de sedimentos fluviais), Planossolos, Plintossolos e Organossolos so os mais representativos desses ambientes, muito importantes na economia da regio. O uso intensivo do recurso solo uma caracterstica desta regio que, aliado mecanizao agrcola, responsvel pelos altos ndices de eroso hdrica, observados principalmente nos Estados do Rio Grande do Sul e Paran. Em Santa Catarina, as serras dominam extensas reas de relevo forte ondulado a montanhoso, fator restritivo utilizao dos solos com culturas anuais. No obstante, tcnicas de manejo adaptadas a relevos acidentados tm sido implementadas com bons resultados, tais como o preparo mnimo do solo, plantio na palha, no remoo de restos culturais e o cultivo em faixas e em curvas de nvel, reduzindo significativamente as perdas por eroso.
Regio Sudeste
Os latossolos abrangem aproximadamente 56% da regio Sudeste e somados aos Argissolos, perfazem cerca de 78% desta importante regio do pas (Tabela 1), de elevado desenvolvimento social, tcnico e cultural e responsvel por setores estratgicos da cadeia produtiva brasileira. Parte desses ambientes, de solos profundos, muito porosos, bem drenados e situados em relevos de relativa planura de superfcie, caractersticas inerentes aos Latossolos, dominam nas zonas de recarga dos aqferos, contribuindo efetivamente para a sua capacidade de armazenamento de gua; esta depende diretamente da facilidade de infiltrao da gua da chuva, da a relevncia dos Latossolos na manuteno e recarga dos aqferos (Freitas, 2001). Em termos gerais, h uma estreita relao entre os grandes domnios geolgicos da regio Sudeste e os principais tipos e uso dos solos, conforme exposto a seguir. Nos domnios de rochas pr-cambrianas do embasamento cristalino, constitudos por complexos gnissicos-granticos-migmatticos, regio denominada por AbSaber (1970) de Mares de Morros, h uma predominncia de Argissolos, Latossolos e Cambissolos. So solos, em sua maioria, de baixa fertilidade natural, e acidentados, no entanto, a rea de maior densidade rural do pas, originalmente coberta por floresta tropical (Rezende & Resende, 1996). Na regio Sudeste, os Mares de Morros envolvem predominantemente o Leste do Estado de So Paulo, o Sul e o Leste de Minas Gerais, o Estado do Rio de Janeiro e a maior parte do Esprito Santo (AbSaber, 1996). Essas reas foram intensivamente ocupadas com lavoura cafeeira a partir da segunda metade do sculo XIX. Os nutrientes da mata original sustentavam a lavoura por algum tempo, no entanto, com o manejo inadequado dos cafezais e enfraquecimento das terras, essas eram transformadas em pastagens (Rezende & Resende, 1996). Atualmente, o parque cafeeiro dessas regies montanhosas permanece significativo, representando aproximadamente 35% da cafeicultura nacional (Guimares, 1996), embora sejam as pastagens plantadas mais extensivas, as quais, em geral, esto mal manejadas, com baixa capacidade suporte e degradadas. A Bacia Sedimentar do Paran outra ocorrncia geolgica expressiva no Sudeste brasileiro, ocupando cerca de 40% Estado de So Paulo, predominantemente na sua poro Centro-Oeste, bem como o Oeste de Minas Gerais (regio do Tringulo). Nesses ambientes predominam os arenitos cretcicos do Grupo Bauru, em sua maioria com cimentos ou ndulos carbonticos (IPT, 1981). Uma estreita relao solo-relevo-uso atual pode ser genericamente verificada na regio: latossolos de textura mdia e baixa fertilidade natural ocorrem nos topos em relevos aplainados, pre-
O Recurso Natural Solo
9
dominantemente cultivados com caf, pastagens e menos freqentes a culturas anuais, reflorestamento e fruticultura. Em seqncia, na parte intermediria das encostas, tem-se Argissolos de textura arenosa/mdia que se caracterizam por um manto arenoso superficial, geralmente transitando abruptamente para um horizonte inferior de textura mdia, as vezes argilosa, e de melhor fertilidade em relao aos latossolos. Esses solos predominam em relevos acidentados e so altamente susceptveis aos processos erosivos lineares, sendo comuns o desenvolvimento de ravinas e voorocas com pouco tempo de uso (Salomo, 1994). A vegetao primitiva praticamente no existe na regio, com predominncia de pastagens extensivas e degradadas nos locais de ocorrncia dos Argissolos. Juntos, Latossolos e Argissolos, perfazem aproximadamente 70% dos solos da regio Sudeste, sob domnio dos arenitos do Grupo Bauru. Os derrames baslticos mesozicos da Bacia Sedimentar do Paran constituem outro grande domnio litolgico do Sudeste. Restrito basicamente ao Estado de So Paulo, predominantemente na provncia geomorfolgica denominada por Almeida (1964) de Depresso Perifrica, composto na sua maioria por Latossolos Vermelhos, Nitossolos e Argissolos Vermelhos; solos com elevado teor de xidos de ferro e de fertilidade variada, predominando os de relativa pobreza em nutrientes. Esses domnios, principalmente em relevos planos ocupados com os Latossolos, so intensamente cultivados com cana-de-acar, que desalojou importantes reas outrora ocupadas com caf (Oliveira & Menk, 1984), embora esta cultura ainda permanea em grandes extenses, predominantemente no leste paulista. Alm dessas atividades, tais solos so aproveitados com citrus, culturas anuais, principalmente milho, algodo, soja, sorgo, com pastagens e, em menor extenso, reflorestamento. Os Latossolos Vermelhos, argilosos, muito porosos e com elevados contedos de ferro (Fe O 180g/kg) provenientes do 2 intemperismo das rochas 3bsicas da Bacia Sedimentar do Paran, ocupam aproximadamente 14% do Estado de So Paulo (Oliveira & Menk, 1984). Finalmente, os domnios representados por seqncias metamrficas (pr-cambriano), englobam grupos e formaes geolgicas diversas e distribuem-se predominantemente por todo o Centro-Oeste do Estado de Minas Gerais. Genericamente, recobrem o embasamento cristalino e caracterizam-se por ocorrncias de gnisses variados, xistos, filitos, quartzitos, mrmores, ardsias e rochas carbonticas, bem como formaes ferrferas localizadas, onde as exploraes minerais so expressivas. A diversidade de solos nessa regio reflete a diversidade litolgica, no entanto, extensas reas de Cambissolos e Latossolos com elevados teores de alumnio extravel, solos de baixa fertilidade
natural, so expressivos nos domnios do Grupo Bambu, ocorrncia geolgica significativa no Estado mineiro. Esses locais so predominantemente destinados pastagens extensivas, culturas anuais (milho e feijo) e fruticultura (bananicultura).
A suscetibilidade natural dos solos aos processos erosivos A suscetibilidade natural dos solos eroso uma funo da interao entre as condies de clima, modelado do terreno e tipo de solo, sendo um processo natural que pode ser intensificado pela ao antrpica. Da anlise emprica da interao destes fatores, juntamente com a avaliao de estimativas experimentais de perdas de solo, foi possvel estabelecer e classificar os solos em cinco classes de suscetibilidade natural eroso das terras do pas. As classes de suscetibilidade muito baixa e baixa englobam tanto os solos de baixadas, hidromrficos ou no, como aqueles de planalto, muito porosos, profundos e bem drenados, todos localizados em relevo de relativa planura da superfcie. Em condies mais favorveis ao desenvolvimento de processos erosivos, destacam-se solos comumente arenosos ou com elevada mudana de textura em profundidade, bem como aqueles rasos, localizados, em geral, em relevos dissecados, configurando classes de suscetibilidade eroso mdia, alta ou muito alta, dependendo, como relatado anteriormente, da interao entre os diversos fatores responsveis pela suscetibilidade dos mesmos eroso (Figura 2 e Tabela 2). Com base nestas interpretaes, as terras brasileiras podem situam-se, em sua maior poro, nas classes de baixa a alta suscetibilidade eroso (84% das terras), porm com composies regionais distintas, como resultado das peculiaridades em relao aos variados ambientes edafoclimticos e ao grau de suscetibilidade natural dos solos (Tabela 2 e Figura 2). A regio Norte se caracteriza pelos baixos nveis de suscetibilidade nas vrzeas do rio Amazonas e seus afluentes, bem como nos baixos plats, onde se desenvolvem solos argilosos ou muito argilosos, muito profundos, geralmente em relevo plano. Esses ambientes, sob domnio de Gleissolos, Neossolos Flvicos, Latossolos Amarelos e Latossolos Vermelho-Amarelos, representam aproximadamente 46% dessa regio do Brasil (Tabela 2). As terras com o maior potencial de eroso, distribudas em aproximadamente 36% da regio, ocorrem em relevos mais dissecados sob domnio de Argissolos, Luvissolos e Cambissolos. No Nordeste do Brasil, 33% das terras apresentam suscetibilidade muito baixa e baixa, 34% mdia e 33% tem classes de suscetibilidade alta e muito alta (Ta-
10
O Recurso Natural Solo
Figura 2. Mapa interpretativo da suscetibilidade natural dos solos eroso hdrica. Tabela 2. Extenso e distribuio percentual das classes de suscetibilidade natural dos solos eroso. Regies Classes de Eroso M.Baixa Baixa Mdia Alta M.Alta N km2 306.533 1.427.765 647.286 1.141.371 198.114 % 8 39 17 31 5 NE km2 38.389 461.989 517.856 349.041 155.860 % 3 30 34 23 10 CO km2 82.518 732.576 319.543 229.260 256.177 % 5 45 20 14 16 SE km2 7.493 423.368 125.002 189.422 168.970 % 1 46 14 21 18 km2 5.690 154.863 151.257 82.124 164.859 S % 1 28 27 15 29 BRASIL km2 440.623 3.200.561 1.760.944 1.991.218 943.980 % 5 39 21 24 11
bela 2). Solos como os Neossolos Quartzarnicos, Litlicos e Regolticos so os com maior potencial de eroso devido presena de contedos significativos de areia, associado, em alguns casos, a relevos dissecados. Embora as chuvas no semi-rido nordestino sejam de baixa durao e freqncia, sua elevada intensidade em alguns locais favorece o escoamento superficial, desagregao e transporte dos solos, mesmo em relevos mais aplainados. Solos como os Luvissolos, em geral com maiores contedos de argila e em relevos bastante disse-
cados, representam as terras com elevada suscetibilidade eroso. J reas expressivas de Latossolos, representando cerca de 30% da regio, so aquelas representativas das terras com baixa suscetibilidade eroso. A ocorrncia de horizontes superficiais arenosos, bem como o aumento do teor de argila em profundidade torna os Argissolos e Planossolos medianamente suscetveis eroso nas condies climticas caractersticas da regio. A regio Centro-Oeste apresenta cerca de 70% de seus solos com suscetibilidade eroso variando de muito
O Recurso Natural Solo
11 ALMEIDA, F. F. M. Fundamentos geolgicos do relevo paulista. Boletim do Instituto Geogrfico e Geolgico, So Paulo, n. 41, p.169-262, 1964. CARVALHO FILHO, A.; MOTA, P. E. F.; COSTA, L. D. da. Solos da regio Centro Oeste. Goinia: Embrapa-SNLCS- Coordenadoria Centro Oeste, 1991. 1 v. Digitado. EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa em Solos. Delineamento macroagroecolgico do Brasil, escala 1:5.000.000. Rio de Janeiro, 1992. 1 mapa color. EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa em Solos. Sistema brasileiro de classificao de solos. Braslia, DF: Embrapa Produo de Informao, 1999. 412 p. EMBRAPA. Servio Nacional de Levantamento e Conservao de Solos. Mapa de Solos do Brasil, escala 1:5.000.000. Rio de Janeiro, 1981. 1 mapa color. FASOLO, P. J. Situao atual do solo brasileiro nos Estados do Paran, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Curitiba: Embrapa - SNLCS - Coordenadoria Regional Sul, 1991. 1 v. Digitado. FREITAS, P. L. de. Sistemas conservacionistas, baseados no plantio direto e na integrao lavoura-pecuria, como instrumentos efetivos de manejo e conservao do solo, da gua, do ar e da biodiversidade. In: REUNIO TCNICA DE MANEJO E CONSERVAO DO SOLO E DA GUA, 2001, Braslia, DF. Anais... Braslia, DF: Agncia Nacional de guas, 2001. GUIMARES, R. T. Desenvolvimento da Cafeicultura de Montanha. In: ALVAREZ, V. H.; FONTES, L. E. F. (Ed.) O solo nos grandes domnios morfoclimticos do Brasil e o desenvolvimento sustentado. Viosa: SBCS: UFV, 1996. p. 251-260. IPT. Mapa geolgico do Estado de So Paulo: escala 1:500.000. So Paulo: IPT- Diviso de Minas e Geologia Aplicada, 1981. v.1, 126 p. OLIVEIRA, J. B. de; MENK, J. R. F. Latossolos roxos do Estado de So Paulo. Campinas: Instituto Agronmico, 1984. 132 p. (IAC. Boletim Tcnico, 82). OLIVEIRA, J. B.; JACOMINE, P. K. T.; CAMARGO, M. N. Classes gerais de solos do Brasil. 2.ed. Jaboticabal: FUNEP, 1992. 201 p. RESENDE, M.; CURI, N.; SANTANA, D. P. Pedologia e fertilidade do solo: interaes e aplicaes. Braslia, DF: MEC; [Lavras]: ESAL; [Piracicaba]: POTAFOS, 1988. 81 p. REZENDE, S. B. de; RESENDE, M. Solos dos mares de morros: ocupao e uso. In: ALVAREZ, V. H.; FONTES, L. E. F. (Ed.) O solo nos grandes domnios morfoclimticos do Brasil e o desenvolvimento. Viosa: SBCS: UFV, 1996. p. 261-288. RODRIGUES, T, E. Solos da Amaznia. In: ALVAREZ, V. H.; FONTES, L. E. F. (Ed.) O solo nos grandes domnios morfoclimticos do Brasil e o desenvolvimento sustentado. Viosa: SBCS: UFV, 1996. p. 51-260. SALOMO, F. X. T. Solos do arenito Bauru. In: PEREIRA, V. de; FERREIRA, M. E.; CRUZ, M. C. P. da. (Ed.) Solos altamente suscetveis eroso. Jaboticabal: UNESP-FCAV: SBCS, 1994. p. 51-55. SOUZA, J, G. O Nordeste brasileiro: uma experincia de desenvolvimento regional. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 1979. 410 p.
baixa a mdia, em decorrncia da dominncia de relevos aplainados do Planalto Central Brasileiro, associados a solos profundos e bem drenados, como os Latossolos. O restante das terras (30%) corresponde, em geral, aos solos com elevados teores de areia, como os Neossolos Quartzarnicos e alguns Latossolos de textura mdia, os quais apresentam fraca estruturao e so facilmente desagregados e carregados pelas guas da chuva, mesmo em relevo relativamente plano. Ressalta-se a ocorrncia, nessa regio, de severos processos erosivos lineares (ravinas e voorocas) nas terras situadas em algumas cabeceiras de drenagem, resultando da conjugao de solos de fraca estruturao e relevo movimentado, como ocorre, por exemplo, nos chapades da divisa dos Estados de Gois, Mato Grosso do Sul, Minas Geras e Mato Grosso, onde se originam diversos rios que formam as bacias do Prata e do Amazonas. A Tabela 2 mostra a regio Sudeste com predominncia de solos com baixa suscetibilidade aos processos erosivos (46%). Semelhante regio Centro-Oeste, a ocorrncia expressiva de Latossolos em relevos aplainados, com elevados contedos de argila e porosos, condicionam a baixa suscetibilidade eroso. As terras muito erodveis correspondem a 40% da regio e esto associadas a relevos dissecados e aos solos com elevados contedos de areia ou significativa diferena textural em profundidade, como ocorre, por exemplo, nos domnios dos arenitos do Grupo Bauru, predominantemente na regio Oeste do Estado de So Paulo e nos relevos acidentados ao longo da Serra do Mar. Para a regio Sul, observa-se a predominncia de solos com alta e muito alta suscetibilidade eroso (Tabela 2), condicionados pela presena significativa de solos rasos, como os Cambissolos e Neossolos Litlicos, ou mesmo mais profundos, como os Argissolos, todos localizados em relevos acidentados das serras e planaltos sulinos. Os solos com suscetibilidade muito baixa e baixa perfazem 29% da regio, geralmente associados aos planaltos e plancies sedimentares de relevos aplainados, onde ocorrem Latossolos e Planossolos respectivamente. Na classe de suscetibilidade mdia, destacam-se os Alissolos, Nitossolos e Chernossolos, em geral em relevo movimentado. Referncias BibliogrficasABSABER, A. N. Domnios morfoclimticos e solos do Brasil. In: ALVAREZ, V. H.; FONTES, L. E. F. (Ed.) O solo nos grandes domnios morfoclimticos do Brasil e o desenvolvimento sustentado. Viosa: SBCS; UFV, 1996. p.1-18. ABSABER, A. N. Provncias geolgicas e domnios morfoclimticos no Brasil. So Paulo: USP-Instituto de Geografia, 1970. 26 p. (USP. Geomorfologia, 20).
Potencial de Uso e Uso Atual das Terras
2Celso Vainer Manzatto Antonio Ramalho Filho Thomaz Corra e Castro da Costa Maria de Lourdes Mendona Santos Maurcio Rizzato Coelho Enio Fraga da Silva Ronaldo Pereira de Oliveira
Captulo
O uso adequado da terra o primeiro passo no sentido da preservao do recurso natural solos e da agricultura sustentvel. Para isso, deve-se empregar cada parcela de terra de acordo com a sua aptido, capacidade de sustentao e produtividade econmica (no foram consideradas outras potencialidades das terras e restries ambientais, como cobertura vegetal, biodiversidade, questes indgenas, refgios ecolgicos, patrimnios arqueolgicos...) de tal forma que os recursos naturais sejam colocados disposio do homem para o seu melhor uso e benefcio, ao mesmo tempo em que so preservados para geraes futuras (Lepsch et al., 1991). No Brasil, a grande extenso territorial, diversidade ambiental e socioeconmica determinam os padres de uso das terras, caracterizando-se regionalmente por diferentes formas de presso ao uso. A exemplo disso, tem-se o Estado de So Paulo que, apesar do grande desenvolvimento socioeconmico, tcnico e cultural, estava convivendo com uma perda anual de aproximadamente 130 milhes de toneladas de solo agrcola (Bertoni & Lombardi Neto, 1985), enquanto na regio Amaznica, o conhecimento tcnico-cientfico a respeito de seus ecossistemas ainda muito limitado, o que pode levar ao uso indiscriminado de seus recursos (Rodrigues et al., 1990). Destaca-se dessa forma, a preocupao e a necessidade de um ordenamento/reordenamento territorial, cuja ferramenta bsica o Zoneamento Ecolgico-Econmico (ZEE), o qual no pode prescindir de um diagnstico ambiental prvio. No caso brasileiro, este discernimento faz parte da Constituio (Brasil, 1988), como pode ser observado no seu artigo 21, inciso IX, onde delegada Unio a competncia de elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenao do territrio e de desenvolvimento econmico e social (Comisso..., 1991).
Este captulo apresenta o resultado de um diagnstico generalizado do potencial e uso das terras no Brasil, atravs da anlise da aptido agrcola e uso atual das terras bem como da intensidade de uso. Aptido Agrcola das Terras A avaliao da aptido de terras condio para o desenvolvimento de uma agricultura em bases sustentveis. Esta avaliao, assim como o conhecimento da disponibilidade de terras, obtida atravs da interpretao de levantamentos de recursos naturais, com nfase para o recurso solo, que juntamente com dados de clima e o nvel tecnolgico define o potencial dessas terras para diversos tipos de utilizao. O exerccio baseado na comparao da disponibilidade de terras, que funo da oferta ambiental, com a demanda por terras aptas determina o planejamento de uso de uma determinada regio. O conhecimento do potencial das terras do pas para diferentes tipos de utilizao funo da avaliao da aptido dessas terras, as quais so classificadas conforme as suas limitaes. A aptido das terras depende de algumas condies que influenciam a sua capacidade de produo, entre elas, os fatores de limitao do solo, basicamente, fertilidade, disponibilidade de gua, excesso de gua, susceptibilidade eroso e impedimentos mecanizao bem como o nvel tecnolgico adotado, denominado nveis de manejo A, B e C, (Ramalho Filho & Beek, 1997). Os nveis de manejo so assim definidos: primitivo (A) - prticas agrcolas que refletem um baixo nvel tcnico-cultural. Praticamente no h aplicao de capital para manejo, melhoramento e conservao das condies das terras e das lavouras.13
14
Potencial de Uso e Uso Atual das Terras
As prticas agrcolas dependem do trabalho braal, podendo ser utilizada alguma trao animal com implementos agrcolas simples; intermedirio (B) - prticas agrcolas que refletem um nvel tecnolgico mdio. Modesta aplicao de capital e de resultados de pesquisa para manejo, melhoramento e conservao das condies das terras e das lavouras. Prticas agrcolas que incluem calagem e adubao com NPK, tratamentos fitossanitrios simples, mecanizao com base na trao animal ou motorizada para desbravamento e preparo do solo; avanado (C) - Prticas agrcolas que refletem alto nvel tecnolgico, aplicao intensiva de capital e de resultados de pesquisa para manejo, melhoramento e conservao das condies das terras e das lavouras. Motomecanizao presente nas diversas fases da operao agrcola. A Tabela 1 apresenta a aptido agrcola das terras do Brasil, por regio, evidenciando os diferentes nveis
tecnolgicos de manejo, classe de aptido e tipos de usos indicados. Da anlise da Tabela 3, elaborada com base em Ramalho Filho & Pereira (1999), verifica-se que h uma grande predominncia de terras aptas para lavouras quando comparadas s demais atividades. Considerando-se os diferentes nveis tecnolgicos, o pas dispe de aproximadamente 65% do seu territrio (5.552.673km2) de terras aptas ao uso agropecurio. Este dado revela o alto potencial agrcola do territrio brasileiro quando considerada a adoo de diferentes nveis de manejo, para diagnosticar o comportamento das terras em trs nveis operacionais diferentes. Vale informar, no entanto, que terras aptas para lavouras o so tambm para os demais tipos de utilizao menos intensivos como pastagem e silvicultura que inclui o reflorestamento. Ao se analisar a atividade lavoura no conjunto de todas as regies do Brasil, observa-se que os nveis de manejo, ou seja, os graus de intensidade de uso de tecnologia no manejo do solo, foram preponderantes na definio do maior ou menor potencial de terras
Tabela 1. Aptido das terras do Brasil por regio e por nvel de manejo para os diferentes tipos de usos indicados.Tipo de Utilizao Classe de aptido por nvel de manejo (km2) Regio Boa N Ne Lavouras Se CO S Total N Ne Pastagem plantada 1 Se CO S Total N Ne Silvicultura2
Nvel de manejo A Regular 204.982 145.079 118.648 68.048 96.824 633.581 141.564 945 10.359 152.868 Restrita 2.046.873 435.307 147.506 358.065 142.717 3.130.468 9.469 290.781 77.084 209.181 3.102 589.617 Boa 106.878 15.555 102.929 10.708 64.975 301.045 4.908 2.957 34.125 41.990 1.939 3.127 5.066 -
Nvel de manejo A Regular 1.751.585 421.060 130.785 385.902 171.474 234.113 91.636 40.215 339.309 16.836 722.109 33.908 58.619 139.418 7.322 239.267 Restrita 427.377 321.150 330.767 579.222 162.399 4.935 27.967 96.807 22.119 10.210 162.038 3.816 71.854 9.415 71.006 11.238 167.329 Boa 30.032 7.482 78.230
Nvel de manejo C Regular 1.731.001 436.452 266.287 636.919 233.857 3.304.516 Restrita 326.120 267.025 45.966 231.460 48.078 918.649 -
25.850 13.394 22.715 2.508 46.191 110.658 287 19.789 20.076
107.426 38.388 261.558 -
2.860.806 1.820.915
Se CO S Total N Ne
Pastagem natural3
Se CO S Total
1 2
Terras com aptido exclusiva para pastagem plantada; no aptas para lavouras. Terras com aptido exclusiva para silvicultura; no aptas para lavouras e pastagem plantada. 3 Terras com ocorrncia exclusiva de pastagem natural. Fonte: Ramalho Filho (1985); Ramalho Filho & Pereira (1997).
Potencial de Uso e Uso Atual das Terras
15
aptas para este fim. evidente que, para o nvel de manejo A (primitivo), h um predomnio de terras com srias limitaes (classe Restrita) em todas as regies do pas, significando que a utilizao de tecnologias rudimentares limitam grandemente o cultivo de lavouras por agricultores (Tabela 1). No nvel de manejo B (pouco desenvolvido), verifica-se um certo equilbrio entre as terras com limitaes moderadas e fortes (classes de aptido Regular e Restrita) na maioria das regies brasileiras, enquanto no nvel de manejo C (desenvolvido; altamente tecnificado) ocorre um forte predomnio de terras com moderadas restries, considerando-se o atual nvel de tecnificao. Torna-se interessante destacar que as terras naturalmente mais frteis e propcias agricultura quando usadas com manejo com baixo nivel de uso de insumos so mais evidenciadas nos nveis de manejo A e B. Mesmo assim, essas terras tm uma performance melhor para lavouras tambm no nvel de manejo C, predominantemente nas regies Sudeste e Sul. Os nveis de manejo A, B e C e as classes de aptido de terras so definidos de acordo com Ramalho Filho & Beek (1997). Aproximadamente 10% do territrio nacional, ou cerca de 926.137km2 (Tabela 1) so terras indicadas para uso com pastagem plantada. A regio sul destacase positivamente, apresentando elevado potencial para essa atividade. Cerca de 56% de suas terras apresentam aptido Boa para pastagens plantadas, seguidas de 28% com aptido Regular e apenas 17% com restries severas para esse tipo de uso. As demais regies se apresentaram constitudas de terras com classe de aptido Regular e Restrita para pastagem plantada. Com relao silvicultura, destaca-se tambm a regio Sul, onde cerca de 48% de suas terras apresentam aptido variando de classe Boa a Regular (14% e 34%, respectivamente), sendo o restante (52%) da classe Restrita. A regio Nordeste, no obstante alta percentagem de suas terras com aptido Restrita (67%), apresenta o correspondente a 31% com aptido Regular, e apenas 2% com aptido Boa para utilizao com silvicultura. Quanto avaliao das terras para pastagem natural, a regio Sul ficou novamente evidenciada positivamente, pois 60% de suas terras ocupadas com essa atividade apresentam aptido Boa. A seguir, destaca-se a regio Nordeste, cujas terras apresentam, dominantemente, aptido Regular (33%) e Restrita (67%). As demais regies apresentam suas terras com classe de aptido quase que exclusivamente Restrita para pastagem natural. Tratam-se de solos rasos ou pedregosos predominantemente ocupados com campo cerrado. .Conforme ficou mencionado acima, terras aptas apenas para silvicultura no so aptas para pastagem plantada, da mesma forma que terras aptas para pastagem so aptas para silvicultura mas no
so aptas para lavouras por ser esta uma atividade agrcola mais intensiva. A partir da contextualizao e viso sinptica sobre a avaliao da aptido agrcola das terras brasileiras, observa-se que o pas possui um imenso potencial agrcola, pois dispe de 5,55 milhes de quilmetros quadrados (555 milhes de hectares) de terras aptas para lavouras, onde, salvo restries de ordem ambiental ou de legislaao, 2,79 milhes encontram-se na regio Norte. No mesmo contexto, possui tambm, expressiva extenso (964.334km2) de terras desmatadas e de baixo potencial para lavouras aptas para pastagem plantada e para silvicultura. Uso Atual das Terras As mudanas no uso e cobertura do solo, quando consideradas globalmente, so to importantes que chegam a afetar significativamente aspectos chave do funcionamento do sistema terrestre global. O impacto dessas mudanas, conforme est citado por Lambin et al (2001), pode se dar sobre a diversidade bitica (Sala et al., 2000), contribuir para as mudanas climticas locais e regionais (Chase et al.,1999), bem como para a mudana climtica global (Houghton et al., 1999), alm de contribuir diretamente para a degradao dos solos (Tolba et al., 1992), entre outros. A necessidade de compreenso das causas de mudanas no uso da terra tem sido enfatizada (Committee on Global Change,Research, 1999). Lambin et al., (2001) defendem que as causas das alteraes no uso e cobertura da terra so dominadas pelas polticas de desenvolvimento e ambientais. Eles concluram que estas no se devem unicamente ao crescimento populacional nem pobreza, mas principalmente, deve-se resposta da populao s oportunidades econmicas mediadas por fatores institucionais. Assim, oportunidades e limitaes para novos usos da terra so criadas por mercado e polticas locais e nacionais, porem a fora global a principal determinante das alteraes de uso da terra, que so potencializadas ou atenuadas por fatores locais. Estudos da FAO mostram que as atividades agrcolas e pecurias so as principais causas das mudanas no uso da terra nos trpicos (FAO, 1996). No Brasil, a atividade agropecuria causou 91% do desmatamento com nfase nos anos 80, sendo 51% devido ao uso agrcola com culturas anuais e perenes e 40% pela pecuria (Amelung & Diehl, 1992). Essa taxa no entanto, decresceu nos anos 90, devido suspenso dos subsdios para a expanso da atividade de pecuria. Durante a dcada de 90, o Brasil foi um dos poucos pases do mundo a aumentar sua rea agrcola, estimada ao final da dcada em cerca de 250 milhes de hectares, e ocupa atualmente 27,6% de seu territ-
16
Potencial de Uso e Uso Atual das Terras
rio com atividades agrosilvipastoris (Tabela 2 e Figura 1). As reas destinadas s unidades de conservao j demarcadas representam atualmente cerca de 55 milhes de hectares, estimando-se que brevemente alcance 10% do territrio nacional com os processos de
demarcao em curso. Embora seja um quantitativo expressivo, considera-se que este montante ainda seja insuficiente diante da necessidade de preservar os diversos biomas do pas para, entre outros fins, proteger a sua diversidade biolgica.
Tabela 2. Uso Atual das Terras do Brasil(*) I. Terras com Utilizao Econmica Lavouras Temporrias Lavouras Temporrias em Descanso Culturas Permanentes Pastagens Plantadas Pastagens Naturais Florestas Artificiais Terras Irrigadas SUB TOTAL(1)
Milhes de hectares 38,5 4,0 7,5 99,7 78,0 5,4 3,0 236,1
II. Terras com Outros Usos Reservas Indgenas(2) (homologadas, reservadas ou em processo de identificao fora da Floresta Amaznica) Centros Urbanos, Lagos, Estradas e Rios(3) Terras Devolutas(4) Terras Produtivas no Aproveitadas, Outros Usos ou Indefinidos SUB TOTAL TOTALFONTES: IBGE Censo Agropecurio, 1996.
101,9 30,0 6,1 16,3 99,3 618,6 854,7
(*) Tabela adaptada do livro Os Caminhos da Agricultura Brasileira, Esprito Santo, Benedito Rosa (2001). (1) CONAB Estimativa da Safra 2000/01. (2) IBAMA. (3) Estimativa Embrapa. (4) INCRA Resumo de Atividades do INCRA, 1985-94.
Figura 1. Uso Atual das Terras por Regio do Brasil.
Potencial de Uso e Uso Atual das Terras
17
A anlise da estrutura produtiva do pas revela que a principal ocupao do solo a pecuria, com 21% do territrio brasileiro ocupado com pastagens naturais e plantadas, ou seja, mais que o triplo das terras destinadas produo de lavouras permanentes e temporrias. Em termos regionais, observa-se que o uso com pastagens naturais ainda permanece bastante disseminado, apesar das diferenas regionais em termos climticos, valor da terra, padres culturais e dimenses territoriais das regies (Figura 1). De uma forma geral pode-se inferir que este tipo de atividade resultado da utilizao de terras marginais, com limitaes climticas e/ou pedolgicas, como o caso da caa