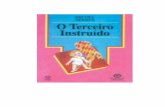UTILIZA˙ˆO DE METODOLOGIAS DE REESTRUTURA˙ˆO … · inœmeros ensinamentos, que nªo se...
Transcript of UTILIZA˙ˆO DE METODOLOGIAS DE REESTRUTURA˙ˆO … · inœmeros ensinamentos, que nªo se...
FACULDADE NOVOS HORIZONTES
UTILIZAO DE METODOLOGIAS DE REESTRUTURAO SOCIETRIA COMO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO
TRIBUTRIO: ESTUDO DE CASO
Alexandre Eduardo Lima Ribeiro
Belo Horizonte
2007
id9918390 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
Alexandre Eduardo Lima Ribeiro
UTILIZAO DE METODOLOGIAS DE REESTRUTURAO SOCIETRIA COMO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO
TRIBUTRIO: estudo de caso
Dissertao apresentada ao Programa do Mestrado Acadmico em Administrao da Faculdade Novos Horizontes, como parte dos requisitos para obteno do ttulo de Mestre em Administrao. Linha de pesquisa: Tecnologias de Gesto e Competitividade. Orientador: Prof. Dr. Poueri do Carmo Mrio
Belo Horizonte 2007
Ribeiro, Alexandre Eduardo Lima Utilizao de metodologias de reestruturao societria como ferramenta de planejamento tributrio: estudo de caso. / Alexandre Eduardo Lima Ribeiro. Belo Horizonte: FNH, 2007. 207 f
Orientador: Poueri do Carmo Mrio Dissertao (mestrado) Faculdade Novos Horizontes, Programa de Ps-graduao em Administrao
1. Reestruturao societria. 2. Planejamento tributrio. 3. Estudo de caso Agronegcio. I. Mrio, Poueri do Carmo. II. Faculdade Novos Horizontes, Programa de Ps-graduao em Administrao. III. Ttulo
CDD: 657.92
R484u
Ao meu querido mestre e amado pai,
Antnio Raimundo Rocha Ribeiro (in
memoriam).
AGRADECIMENTOS
Neste momento, arrisco-me a escrever esta pgina de agradecimentos, isso porque,
certamente, muitos nomes deixariam de ser citados, no por serem menos
importante, mas porque a memria me trairia se tentasse lembrar-me de todos.
Em especial, agradeo ao trino DEUS (Pai, Filho e Esprito Santo), pois sem Ele
nada seria possvel. Pois, por Tua palavra, todas as coisas foram criadas, Tu me
formaste desde o ventre de minha madre, deu-me de graa a Salvao, por
intermdio do teu filho, Jesus Cristo, e tem me guiado pelo teu Santo Esprito.
Jamais terei palavras ou gestos para expressar toda minha gratido ao SENHOR.
Louvo a DEUS pelos meus pais, Antnio Raimundo Rocha Ribeiro (in memoriam) e
Ester Nazar de Lima Ribeiro, pelo exemplo de simplicidade e humildade, pelos
inmeros ensinamentos, que no se aprendem em sala de aula, ou em livros, por
terem me instrudo no caminho da verdade, isto , nas Santas Escrituras, alm de
me ensinarem o valor dos estudos e do trabalho.
Aos meus irmos, Eduardo Alexandre Lima Ribeiro (in memoriam) e Dbora Elisa de
Lima Ribeiro, pelos inmeros momentos agradveis de convvio e pelos
ensinamentos, companheirismo, exemplos de pessoas, alm das preciosas
colaboraes no decorrer de minha vida.
A minha amada esposa, Lasa Oliveira Campos Ribeiro, e a nossa preciosa filha,
Rebeca Campos Ribeiro, ddiva de DEUS em nossas vidas, pelas inmeras
demonstraes de carinho e companheirismo, alm da sabedoria em compreender-
me pelos momentos de ausncia furtados ao convvio da famlia (que no foram
poucos), no entanto, superados pelo eterno amor existente em nossa famlia.
No posso deixar de agradecer de corao ao Professor Doutor Poueri do Carmo
Mrio, meu orientador, pela ateno, dedicao, valiosos ensinamentos e sugestes
feitas pesquisa, alm de sempre me trazer lucidez e me fazer voltar a pisar o cho,
em momentos obscuros. Pela amizade, cordialidade, compreenso demonstrada
nos momentos mais difceis vivenciados em minha vida.
Preciso tambm mencionar os Professores do Mestrado, por se prontificarem a
repassar-me conhecimento, experincias e novos paradigmas durante o tempo em
que convivemos na relao docente e discente. Em especial, aos Professores Dr.
Alfredo Alves de Oliveira Melo e Dr. Anthero de Moraes Meirelles, pelas suas
valiosas contribuies feitas e este trabalho.
Meu agradecimento tambm a Professora Doutora Vera Lcia Lins Santana, pela
sua generosidade e por suas contribuies de melhorias a esta dissertao.
Finalmente, no poderia de deixar de agradecer aos colegas de mestrado, pela
unio, companheirismo e edificao mtua. E, tambm, a todos aqueles que, de
uma forma ou de outra, contriburam para a concluso desta obra.
[...] Se o SENHOR no edificar a casa, em vo trabalham os que a edificam; Se o SENHOR no guardar a cidade, em vo vigia a sentinela. Intil vos ser levantar de madrugada, repousar tarde, comer o po que penosamente granjeastes; aos seus amados ele o d enquanto dormem.
Salmo de Salomo, 127:1-2 [...] Assim diz o SENHOR: No se glorie o sbio na sua sabedoria, nem o forte, na sua fora, nem o rico, nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o SENHOR e fao misericrdia, juzo e justia na terra; porque destas coisas me agrado, diz o SENHOR.
Profeta Jeremias, 9:23-24
RIBEIRO, Alexandre Eduardo Lima. Utilizao de metodologias de reestruturao societria como ferramenta de planejamento tributrio: estudo de caso. Dissertao (Mestrado Acadmico em Administrao) Faculdade Novos Horizontes, Belo Horizonte, 2007.
RESUMO
Esta dissertao descreve algumas possibilidades de utilizao das metodologias de reestruturao societria, tais como fuso, incorporao, ciso e holding, como ferramenta de planejamento tributrio. Em meio crescente carga tributria brasileira, inmeras empresas vm buscando meios legais de reduzirem seus custos com tributos, tornado-se mais lucrativas e capazes de enfrentar um mercado fortemente competitivo. Tais metodologias tm propiciado s empresas, maior competitividade perante esse mercado, seja em uma s organizao legal, de forma estratgica, em busca de economia de escala, ou seja em mais de uma entidade, separando por negcios que melhor atendam aos interesses operacionais. Uma das razes que vm tomando forte relevncia no contexto empresarial a aplicao de formas de reestruturao societria, visando economia fiscal. Um dos objetivos deste trabalho consiste em pesquisar a legalidade do uso de metodologias de reestruturao societria como instrumento de planejamento tributrio. Para isso, foi preciso apoiar-se em bases constitucionais e, tambm, segregar as figuras de eliso e evaso/simulao fiscal em dois plos distintos, alm de outros conceitos. O trabalho apresenta um estudo de caso, no qual se analisa a aplicabilidade das metodologias de reestruturao societria como ferramenta de planejamento tributrio em um grupo empresarial do setor de agronegcio situado no estado de Minas Gerais. Nesse desenvolvimento, primeiramente levantou-se a carga tributria prevista do grupo. Em seguida, apresentou-se proposta de reestruturao societria ao mesmo, de forma que assegura-se as reais participaes societrias dos scios e demonstra-se seus respectivos reflexos tributrios. Adiante foram realizadas anlises comparativas entre a situao prevista versus situaes propostas de reestruturaes societrias. Os principais achados desta obra foram: a identificao das metodologias de reestruturao societria utilizadas no Brasil, compreendendo aquisio, transformao, fuso, incorporao, ciso e holding; a legitimidade da aplicabilidade das metodologias de reestruturao societria como instrumento de planejamento tributrio; e a aplicao do uso de metodologias de reestruturao societria como ferramenta de planejamento tributrio em um estudo de caso, obtendo resultados satisfatrios, com reduo de at 18% de economia tributria. Palavras-Chave: Reestruturao societria. Planejamento tributrio. Participaes societrias.
RIBEIRO, Alexandre Eduardo Lima. A case study on the use of corporate restructuring techniques as tool for tax planning. Dissertation (Academic Master's degree in Administration) Faculdade Novos Horizontes, Belo Horizonte, 2007.
ABSTRACT
This dissertation presents some possibilities for the use of corporate restructuring methodologies, such as: merger, incorporation, scission and holding, as tools of tax planning. Amid the growing Brazilian tax burden, countless companies are looking for legal means capable of reducing their costs with tributes, turning them into more competitive and lucrative companies, capable of facing a strongly competitive market. Such methodologies have propitiated companies greater competitiveness in this market, be it in only one legal organization, as a strategy to obtain economies of scale, or in more than one entity, separating by businesses that better attend to the companies operational interests. One of the factors that have been gaining strong relevance in the business context is the application of corporate restructuring in order to obtain fiscal savings. However, one of the objectives of this work consists of researching the legality of using methodologies of corporate restructuring as an instrument of tax planning. In order to reach this goal, it is necessary to have a constitutional base and also to separate the fiscal evasion and simulation in two different poles, in addition to other concepts. This work presents a case study where it is analyzed the applicability of the use of the methodologies of corporate restructuring as tool of tax planning for a business group on the agronomy sector located in the state of Minas Gerais. In this development, firstly it was calculated the groups foreseen tax burden, then proposals of corporate restructuring were presented to the group as to assure the partners' real society participations and demonstrate their respective tax impacts. A comparative analysis between the foreseen situation and the proposed corporate restructuring was conducted. The main findings of this work were the identification of methodologies of corporate restructuring used in Brazil, namely, acquisition, transformation, merger, incorporation, scission and holding; the legitimacy of the applicability of the methodologies of corporate restructuring as an instrument of tax planning; and the application corporate restructuring as a tool for tax planning in a case study, obtaining satisfactory results with savings of up to 18% on tributes.
Key-Words: Corporate restructuring. Tax planning. Society participations
LISTA DE QUADROS
Quadro 01 - Simulao do prejuzo fiscal nos vrios tipos de operaes..................96
Quadro 02 - Das participaes societrias atualmente............................................102
Quadro 03 - Dos administradores e empregados....................................................103
Quadro 04 Formas de tributao das empresas do grupo....................................105
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Das participaes societrias originais...................................................101
Tabela 2 - Segregao dos ltimos trs meses de faturamento do grupo...............104
Tabela 3 Carga tributria mdia atual Empresa Distribuidor Ltda.........................106
Tabela 4 Carga tributria mdia atual Empresa Varejista Ltda. ...........................107
Tabela 5 Carga tributria mdia atual Empresa Abatedor Ltda......................... ..108
Tabela 6 Carga tributria mdia atual Empresa X Ltda........................................109
Tabela 7 Carga tributria mdia atual Produtor Rural Pessoas Fsicas.................110
Tabela 8 - Resumo geral da carga tributria do Grupo Empresarial........................111
Tabela 9 Previso da carga tributria mdia Empresa Distribuidor Ltda............. 112
Tabela 10 Previso da carga tributria mdia Empresa Abatedor Ltda................113
Tabela 11 Resumo geral previsto da carga tributria do Grupo Empresarial.......115
Tabela 12 Resumo geral previsto da carga tributria do mbito Estadual Fuso
Total..........................................................................................................................120
Tabela 13 Resumo de apurao PIS e COFINS no-cumulativo.........................122
Tabela 14 Demonstrao de Resultado consolidada Empresa Nova Ltda........124
Tabela 15 Resumo mensal da carga tributria da Empresa Nova Ltda................125
Tabela 16 Resumo geral previsto da carga tributria do mbito Estadual Fuso
parcial.......................................................................................................................127
Tabela 17 Resumo de apurao PIS e COFINS no-cumulativo.........................129
Tabela 18 Demonstrao de Resultado consolidada Empresa Nova1 Ltda......131
Tabela 19 Previso da carga tributria para Empresa Nova1 Ltda.......................132
Tabela 20 Previso Carga tributria Empresa X Ltda. Lucro Presumido..............133
Tabela 21 Resumo mensal da carga tributria da fuso parcial...........................134
Tabela 22 Resumo geral previsto da carga tributria do mbito Estadual Fuso
parcial.......................................................................................................................136
Tabela 23 Resumo de apurao PIS e COFINS no-cumulativo.........................138
Tabela 24 Demonstrao de Resultado consolidada Empresa Nova2 Ltda......140
Tabela 25 Previso da carga tributria para Empresa Nova2 Ltda.......................141
Tabela 26 Previso da carga tributria mdia da Empresa Abatedor Ltda...........142
Tabela 27 Resumo mensal da carga tributria da fuso parcial +2 PJ.................143
Tabela 28 Proposta de distribuio de participaes societrias..........................145
Tabela 29 - Previso da carga tributria para Empresa Nova2 S/A. (a)..................147
Tabela 30 Previso da carga tributria para Empresa Nova2 S/A. (b).................148
Tabela 31 Previso da carga tributria mdia Empresa Abatedor Ltda................149
Tabela 32 Resumo mensal da carga tributria da fuso parcial + 2.....................150
Tabela 33 Anlise da Proposta Fuso Total (a).................................................151
Tabela 34 Anlise da Proposta Fuso Total (b).................................................152
Tabela 35 Anlise da Proposta Fuso parcial acrescida de uma pessoa jurdica
(a).............................................................................................................................154
Tabela 36 Anlise da Proposta Fuso parcial acrescida de uma pessoa jurdica
(b).............................................................................................................................155
Tabela 37 Anlise da Proposta Fuso parcial acrescida de duas pessoas
jurdicas (a)...............................................................................................................156
Tabela 38 Anlise da Proposta Fuso parcial acrescida de duas pessoas
jurdicas (b)...............................................................................................................158
Tabela 39 Anlise da Proposta Fuso parcial acrescida de duas pessoas
jurdicas + holding (a)...............................................................................................160
Tabela 40 Anlise da Proposta Fuso parcial acrescida de duas pessoas
jurdicas + holding (b)...............................................................................................161
Tabela 41 Comparativo entre as anlises propostas............................................163
Tabela 42 Previso dos principais custos com implementao............................165
Tabela 43 Previso dos principais custos com manuteno ano.......................166
Tabela 44 Previso do Resultado Lquido financeiro das propostas (a)............167
Tabela 45 Previso do Resultado Lquido financeiro das propostas (b)............168
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
AVIMG - Associao dos Avicultores de Minas Gerais
CNAE-F- Classificao Nacional de Atividades Econmicas e Fiscais
CF/88 - Constituio Federal de 1988
CLT - Consolidao das Leis do Trabalho
CNPJ - Cadastro Nacional Pessoa Jurdica
COFINS - Contribuio para Financiamento da Seguridade Social
COSIT - Comisso dos Sistemas de Informao e Telecomunicaes do Estado
CPMF - Contribuies Provisrias sobre Movimentao ou Transmisso de Valores,
de Crditos e de Direitos de Natureza Financeira
CSLL - Contribuio Social sobre o Lucro
CTN - Cdigo Tributrio Nacional
DNP Programa Nacional de Desestatizao
EC - Emenda Constitucional
ECF - Emissor de Cupom Fiscal
EPP - Empresa de Pequeno Porte
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servio
FUNDESE - Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconmico do Estado
Minas Gerais
IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento
ICMS - Imposto sobre Circulao de Bens e Mercadorias
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veculo Automotor
IR-Imposto de Renda
IRPJ -Imposto de Renda Pessoa Jurdica
ISS - Imposto Sobre Servios
LALUR - Livro de Apurao do Lucro Real
LBO - Leverage buy-out
LC - Lei Complementar
LSA - Lei das Sociedades por Aes
ME - Microempresa
MVA - Margem de Valor Agregado
PAT - Programa Alimentao ao Trabalhador
PDTI/PDTA - Programa de Desenvolvimento Tecnolgico Industrial ou Agropecurio
PIB - Produto Interno Bruto
PIS - Programa de Integrao Social
RICMS - Regulamento do Imposto sobre Operaes Relativas Circulao de
Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicao
RFB Receita Federal do Brasil
RIR - Regulamento do Imposto de Renda
SEF/MG -Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Minas Gerais
SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuies
SUDENE - Superintendncia do Desenvolvimento do Nordeste
SUTRI - Superintendncia de Tributao
SUMRIO 1 INTRODUO .................................................................................. 17
1.1 Problemtica......................................................................................................20 1.2 Justificativa........................................................................................................23
1.3 Objetivos ............................................................................................................24 1.3.1 Geral ................................................................................................................24 1.3.2 Especficos .....................................................................................................25 1.4 Metodologia .......................................................................................................25
1.4.2 Coleta, tratamento e anlises dos dados.....................................................28 1.5 Estrutura ............................................................................................................29
2 FUNDAMENTAO TERICA ........................................................ 31
2.1 Formas de reestruturao societria...............................................................31 2.1.1 Aspectos introdutrios ..................................................................................31 2.1.2 Fatores que justificam a utilizao das metodologias................................33 2.1.3 Definies pela legislao societria ...........................................................36
2.1.3.1 Transformao de sociedades ......................................................................36
2.1.3.2 Aquisio de sociedades ...............................................................................38
2.1.3.3 Fuso de sociedades ....................................................................................39
2.1.3.4 Incorporao de sociedades .........................................................................42
2.1.3.5 Ciso de sociedades .....................................................................................43
2.1.4 Aspectos legais e societrios .......................................................................46
2.1.5 Aspectos burocrticos na reestruturao societria..................................47 2.1.6 Aspectos tributrios na reestruturao .......................................................51
2.1.6.1 Valores envolvidos na operao ...................................................................51
2.1.7 Sociedades holding........................................................................................55 2.1.7.1 Definio .......................................................................................................55
2.1.7.2 Espcies ........................................................................................................56
2.1.7.3 Vantagens das sociedades holding...............................................................56
2.1.7.4 Desvantagens das sociedades holding .........................................................57
2.1.7.5 Escolha do tipo societrio..............................................................................58
2.1.7.6 Aspectos tributrios das sociedades holding.................................................60
2.2 A tributao no Brasil .......................................................................................61
2.2.1 Conceito de tributo.........................................................................................61 2.2.2 Espcies de tributos ......................................................................................62
2.2.3 Competncia dos entes da Federao .........................................................63
2.3 Planejamento tributrio ....................................................................................69 2.3.1 Definio .........................................................................................................69 2.3.2 Finalidade do planejamento tributrio..........................................................71 2.3.3 Legalidade do planejamento tributrio.........................................................72
2.3.4 Evaso fiscal...................................................................................................74 2.3.5 Eliso fiscal.....................................................................................................77
2.3.6 Distino entre eliso, evaso fiscal e simulao.......................................80 2.3.7 Planejamento tributrio com obrigao dos administradores...................82 2.3.8 O problema da interpretao econmica dos atos e do abuso de formas83 2.3.9 A questo do negcio indireto......................................................................88 2.3.10 Desconsiderao da personalidade jurdica..............................................91 2.3.11 O planejamento tributrio e a norma anti-eliso .......................................93
2.4 Utilizao das metodologias de reestruturao societria no planejamento tributrio...................................................................................................................95
3 ESTUDO DE CASO .........................................................................101 3.1 Caracterizao do grupo empresarial ...........................................................101
3.2 Demonstrao da atual carga tributria do grupo .......................................107 3.3 Demonstrao da situao prevista da carga tributria com a implantao
do Simples Nacional .............................................................................................112 3.4 Demonstrao das propostas com os reflexos tributrios .........................117 3.4.1 Fuso total das empresas do grupo ...............................................................117
3.4.2 Fuso parcial do grupo acrescida de uma pessoa jurdica.............................127
3.4.3 Fuso parcial do grupo acrescida de duas pessoas jurdicas ........................135
3.4.4 Fuso parcial do grupo, acrescida da constituio de uma sociedade holding e
da transformao de sociedade limitada para sociedade annima.........................145
4 ANLISE DOS RESULTADOS........................................................152 4.1 Analise da fuso total do grupo.....................................................................152
4.2 Anlise da fuso parcial do grupo, acrescida de uma pessoa jurdica ......154 4.3 Anlise da fuso parcial do grupo, acrescida de duas pessoas jurdicas .157
4.4 Anlise da fuso parcial do grupo, acrescida de duas pessoas jurdicas, de constituio de uma sociedade holding e da transformao de sociedade limitada para sociedade annima. .......................................................................160 4.5 Comparao das anlises simuladas............................................................163
4.6 Custos com a implementao e manuteno das simulaes ...................165 4.7 Resultados lquidos financeiros das simulaes e seus riscos de
implantao. ..........................................................................................................167 4.8 Ato declaratrio Interpretativo RFB 15, de 26 de setembro de 2007. .........171
5 CONCLUSO E CONSIDERAES FINAIS ..................................172
REFERNCIAS...................................................................................176
APNDICES .......................................................................................185
ANEXOS .............................................................................................197
17
1 INTRODUO
O atual cenrio econmico brasileiro, influenciado pela tendncia mundial de
concentrao de atividades produtivas, tem causado mudanas em grande parte das
empresas1 de quase todos os setores da atividade econmica. Tal influncia se
justifica com base na acirrada concorrncia e na busca constante de melhorias dos
resultados econmico-financeiros.
Com o intuito de manterem-se competitivas, algumas empresas esto passando a
adotar modelos societrios diferentes daqueles definidos em seus planos
organizacionais originais. A utilizao de metodologias de reestruturao societria
tem sido uma das maneiras encontradas para que as empresas consigam sobreviver
no atual mercado nacional e enfrentar a grande concorrncia externa.
Segundo Linke (2006), a reestruturao societria pode ser feita de vrias maneiras,
tais como: transformao de um tipo de sociedade em outro, fuso, aquisio,
incorporao, ciso e formao de holding.
Tais metodologias tm propiciado s empresas maior competitividade perante o
mercado, seja em uma s entidade legal, de forma estratgica, em busca de
economia de escala, ou em mais de uma entidade, separadas por negcios que
melhor atendam aos interesses operacionais, tributrios e societrios. Tavares
(2007) destaca que uma razo que vem tomando forte relevncia no contexto
empresarial a aplicao das formas de reestruturao societria visando a
economia fiscal; isto , levar para o campo do Direito Tributrio as figuras societrias
de fuso, da ciso e da incorporao de sociedades como forma de praticar a eliso
fiscal.
Linke (2006) explica que os anos de 1980 foram dominados por acordos de origem
financeira iniciados por caadores de empresas e pelas compras alavancadas de
empresas, Leverage buy-out LBO.
1 Entende-se tanto empresa como o empresrio como sujeito de direito ao longo desse trabalho.
18
Estudo indito elaborado pela KPMG Brasil2 (2001) sobre a anlise das transaes
de fuses e aquisies no Brasil realizadas na dcada de 90, revela um crescimento
acumulado de 134% em relao dcada anterior e de mais de 44% do capital
estrangeiro em fuses e aquisies no Brasil na dcada de 90.
Percebe-se que o Brasil virou alvo do capital externo na dcada de 90 de diversas
nacionalidades, investindo em setores de expanso. A liderana destes
investimentos ficou com os Estados Unidos, que, de acordo com a pesquisa da
KPMG Brasil (2001), totalizaram 457 transaes, seguindo-se a Frana, com 111
negcios.
Estudo realizado pela KPMG Brasil (2007) analisou as transaes de fuses e
aquisies no Brasil do perodo de 1994 a 2006, (grfico 1).
81 82
161 168130
101 123146 143
116 100150
183
204194
84114
199
213
290230221
208
94
130
167
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
transaes envolvendo capital externotransaes envolvendo capital nacional
Grfico 1: Evoluo anual de nmero de transaes Fonte: KPMG Brasil (2007, p. 15) (adaptado). Nos ltimos cinco anos, os nmeros dessas transaes tm crescido
constantemente no pas: de 227 em 2002 para 473 em 2006.
2 KMPG Brasil, um das maiores empresas de auditoria do mundo, presente em onze cidades brasileiras, com mais de 1.200 funcionrios no Brasil.
19
No mesmo estudo, identificou-se que o setor de Alimentos teve a maior participao,
passando a ocupar nos anos seguidos a liderana no estudo em nmero de
transaes (total de 427 transaes no perodo). Grandes organizaes, como
Cargill, Arisco, Sadia e Parmalat, encheram o carrinho de compras de pequenas e
mdias empresas durante todo o perodo.
O estudo da KPMG (2007) identificou 473 transaes de fuso/aquisio realizadas
no Brasil em 2006, sendo 183 envolvendo apenas empresas brasileiras e o restante
290, empresas de capital estrangeiro. Interessante notar que no mesmo ano o setor
de Alimentos ficou em terceiro lugar em nmero de transaes de fuses e
aquisies (43), atrs apenas de Companhia Energtica (61) e Tecnologia de
Informao (46).
Outro mecanismo utilizado pelas empresas em meio crescente competitividade,
segundo Silva (2004, p. 1), a busca de meios que minimizem os custos
operacionais e agilizem todo o processo organizacional. Um dessas possibilidades
denominado planejamento tributrio, que faz parte da gesto de tributos3, o qual
tem por finalidade obter a diminuio, postergao ou anulao dos altos custos
tributrios4 das sociedades dos empresrios.
No entanto, percebe-se que as empresas brasileiras passam por grandes processos
de transformaes, motivadas pela maior lucratividade. Tambm buscam maior fatia
do mercado no qual esto inseridas.
Para se aplicar uma metodologia de reestruturao societria, h necessidade de
profissionais especializados em diversas reas, tais como: advogados, contadores,
administradores e analistas de mercado, com a finalidade de formar uma equipe
multifuncional, para que todo processo de transio seja observado de forma
extremamente minuciosa.
3 Tributo, conceito no tpico 2.2.1 desse trabalho. 4 Custos tributrios: expresso utilizada no dia-dia no meio empresarial, para definir o total da carga tributria do negcio.
20
Por se tratar de matria de grande complexidade, este trabalho tem por objetivo
pesquisar a utilizao de metodologias de reestruturao societria como ferramenta
de planejamento tributrio.
1.1 Problemtica
Segundo Bertolucci (2005, p. 11), um dos principais temas de discusso no campo
tributrio tem sido o peso da arrecadao sobre o PIB, que cresceu de 27,29% em
1997 para 35,68% em 2003. Em outro estudo, o autor (2001) informa que a
tributao total no Brasil com base no Produto Interno Bruto (PIB) no ano de 1984 foi
de 21,5%. Percebe-se que o aumento da carga tributria do pas tem sido de fato
relevante nos ltimos anos.
A Receita Federal (2006), ao elaborar o estudo sobre a carga tributria do Brasil,
divulgou a evoluo dos ltimos cinco anos (carga tributria em relao ao PIB), a
saber:
Grfico 2: Carga tributria bruta, por esfera de governo Fonte: Receita Federal do Brasil (2006) (adaptado)
21
A carga tributria total passa de 34,01% do PIB em 2001 para 37,37% em 2005.
Outro estudo desenvolvido pela Receita Federal (1997) apresenta a carga tributria
bruta no ano de 1995 de 28,47% em relao ao PIB.
Atualmente, de acordo com o estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributrio (IBPT) (2007), a arrecadao tributria brasileira no ano
2006 foi equivalente a 38,8% do PIB.
Bertolucci (2005) apresenta um grfico com a evoluo da arrecadao per capita
dos auditores da SRF, o aumento da quantidade de auditores fiscais no perodo e o
incremento real da arrecadao, superior a 80% no perodo de 1994 a 2003, a
saber:
Grfico 3 : Evoluo da arrecadao e do pessoal SRF Fonte: Bertolucci (2005, p. 73) (adaptado).
Nesse sentido, Silva et al (2004) relatam que, em meio crescente competitividade
entre as empresas inseridas no contexto globalizado atual, torna-se imprescindvel a
busca de meios que minimizem os custos operacionais e agilizem todo o processo
organizacional. Tal fato decorre da busca permanente da reduo dos custos
22
empresariais, preocupao que tem encontrado alternativas eficazes no
planejamento tributrio, tendo em vista a elevada carga tributria do pas.
No entanto, percebe-se que a elevada carga tributria vem impulsionando as
empresas a buscarem alternativas para alcanar o menor custo tributrio possvel,
ou, at mesmo, a sua eliminao.
Frequentemente, essas empresas extrapolam o permitido por lei para economizarem
tributos; isto , incorrem na prtica de crimes contra a ordem tributria.
Um exemplo bem comum em nossos dias a existncia de inmeras empresas que,
ao perceberem que esto crescendo, dividem-se, formando vrias empresas
menores, como forma de praticarem um simples planejamento tributrio, a fim de
se beneficiarem de programas de tributaes especficos a micros e pequenas
empresas. Muitas vezes, tal sugesto vem do prprio administrador ou dos scios,
mas sempre com a viso de reduzir tributo.
Essas empresas so constitudas com a finalidade nica de assegurar a opo por
um regime de tributao diferenciado. Dessa forma, criam-se empresas distintas,
at, com scios que, na verdade, no fazem parte do quadro societrio, causando
deformaes nos mesmos. Com essas prticas, as reais participaes societrias
dos scios, muitas vezes, perdem-se, causando vrias preocupaes.
A situao exposta pode causar diversos problemas aos verdadeiros scios, tais
como:
no assegura a original participao societria de cada scio, causando
preocupaes com o futuro, em relao sucesso das mesmas.
dificuldade na apurao do lucro;
dificuldade em distribuir dividendos;
dificuldade em comprovar rendimentos, para a declarao de imposto
de renda pessoa fsica dos scios e para a aquisio de bens patrimoniais;
dificuldade em comprovar os recursos recebidos de dividendos, na
declarao de impostos de renda pessoa fsica.
23
Diante dessas situaes, muitos empreendedores proprietrios de empresas
buscam solues que assegurem suas reais participaes societrias, sem que haja
aumento da carga tributria de suas empresas.
Nesse cenrio, elabora-se a seguinte pergunta de partida: Como possvel utilizar
as metodologias de reestruturao societria como instrumento de planejamento
tributrio?
1.2 Justificativa
Inicialmente, o que torna este trabalho relevante o grande nmero de empresas
que se encontram em uma situao semelhante apresentada no item anterior. Elas
esto em busca de formas de se reestruturarem, sem que incorram em aumento na
carga tributria.
Silva (2004) ensina que, em meio crescente competitividade, as empresas vm
buscando meios para minimizar os custos/despesas operacionais e agilizar todo o
processo organizacional. Este instrumento, quando aplicado reduo/controle dos
tributos, denomina-se planejamento tributrio, que faz parte da gesto de tributos,
o qual tem por finalidade promover a diminuio, postergao ou anulao dos altos
gastos tributrios das empresas.
A importncia deste trabalho consiste em revelar uma realidade comum a muitas
empresas brasileiras, em que os respectivos empresrios esto em busca de uma
frmula para assegurar suas reais participaes societrias.
A partir das propostas apresentadas neste trabalho, pretende-se contribuir para uma
melhor postura das organizaes perante o mercado e seus scios, que podero ter
suas participaes societrias asseguradas de forma eficaz, isto , utilizando
metodologias de reestruturao societria como ferramenta de planejamento
tributrio.
24
Espera-se, tambm, que este trabalho possa contribuir de forma significativa ao
meio empresarial, no que tange utilizao de metodologias de reestruturao
societria como ferramenta de planejamento tributrio, as quais podero ser
aplicadas em empresas dos diversos setores da economia brasileira, ressalvando-se
suas particularidades.
Igualmente, deseja-se contemplar o grupo empresarial pesquisado, oferecendo-lhe
os subsdios necessrios para assegurar as reais participaes societrias dos
scios sem que haja aumento da carga tributaria.
Por fim, figuram entre os beneficirios deste trabalho o prprio pesquisador, pela
possibilidade de aplicar esses conhecimentos em sua vivncia profissional, tericos
e prticos, extremamente necessrios para seu desenvolvimento na vida acadmica
como docente, e estudantes em geral, em especial aquele das reas da
Administrao, da Contabilidade e do Direito.
1.3 Objetivos
A partir da situao-problema apresentada, a pesquisa visa a atingir os seguintes
objetivos, a saber:
1.3.1 Geral
Identificar a aplicabilidade do uso das metodologias de reestruturao societria com
foco especfico no planejamento tributrio.
25
1.3.2 Especficos
a) Identificar na literatura as principais metodologias de reestruturao
societria utilizadas no Brasil;
b) Pesquisar a legalidade do uso de metodologias de reestruturao
societria como instrumento de planejamento tributrio; e
c) Analisar o processo de reestruturao societria como ferramenta de
planejamento tributrio em um estudo de caso.
1.4 Metodologia
Este tpico tem por objetivo apontar os meios e os instrumentos utilizados para a
obteno dos resultados desta pesquisa.
Vergara (2003) ensina que no so poucas as definies e discusses em torno do
que seja cincia. A autora apresenta uma definio simples de cincia: um processo
permanente de busca da verdade, de sinalizao sistemtica de erros e correes,
predominantemente racional (VERGARA, 2003, p. 11).
Marconi e Lakatos (1994, p. 80) definem cincia como "uma sistematizao de
conhecimentos, um conjunto de proposies logicamente correlacionadas sobre o
comportamento de certos fenmenos que se deseja estudar".
Ambos os autores tm pensamentos similares em relao a cincia. No entanto,
Vergara (2003) acrescenta que a pesquisa a atividade bsica da cincia.
Gil (2002, p. 17) define pesquisa como o procedimento racional e sistemtico que
tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que so propostos. Para
26
desenvolver uma pesquisa necessrio utilizar mtodos, que um caminho, uma
forma, uma lgica de pensamento.
Pode-se dizer que a metodologia constitui um conjunto de tcnicas fundamentais
para elaborao de um trabalho cientfico.
1.4.1 Tipo de pesquisa
Neste estudo, vrios tipos de pesquisa foram utilizados, como descritiva e aplicada,
associada aos meios de investigao, bibliogrfica e documental, alm de estudo de
caso, com abordagem de pesquisa qualitativa. Para Carvalho e Vergara (2002, p.
84) a pesquisa qualitativa a utilizao sistemtica de procedimentos cientficos,
em uma dinmica que envolve a obteno e a interpretao de material emprico,
coletado e analisado por meios diversos.
Collis e Hussey (2005, p. 24) classificam como pesquisa descritiva a pesquisa que
descreve o comportamento dos fenmenos. usada para identificar e obter
informaes sobre as caractersticas de um determinado problema ou questo.
Para os autores, a pesquisa descritiva vai alm da pesquisa exploratria, por
examinar um problema, uma vez que avalia e descreve as caractersticas das
questes pertinentes.
Percebe-se que a pesquisa descritiva tem por caracterstica permitir a elaborao de
um estudo proporcionando conhecimento sobre o mesmo, ora proposto, sabendo
exatamente o que se pretende pesquisar para que se possa obter um bom
conhecimento sobre o assunto, a fim de explicar os acontecimentos existentes.
Em relao pesquisa aplicada, Vergara explica que:
[...] a pesquisa aplicada fundamentalmente motivada pela necessidade de resolver problemas concretos, mais imediatos, ou no. Tem, portanto, finalidade prtica, ao contrrio da pesquisa pura, motivada basicamente pela curiosidade intelectual do pesquisador e situada sobretudo no nvel da especulao. (VERGARA, 2003, p. 47).
27
Essa definio revela os objetivos da pesquisa, isto , os problemas concretos
vivenciados pela empresas brasileiras; e a finalidade prtica de desenvolvimento de
simulaes, a fim de propor solues para os problemas existentes.
Em relao aos procedimentos de pesquisas cientficas, este trabalho enquadra-se
na pesquisa do tipo estudo de caso, o que se justifica pelos esforos concentrados
somente em um objeto de estudo. Uma das vantagens proporcionadas pelo mtodo
de estudo de caso est relacionada ao fato de que trabalha com situaes concretas
e proporciona condies de reunir detalhes, contribuindo para que se obtenha um
resultado amplo do assunto.
De acordo com o entendimento de Gil:
[...] o estudo de caso uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas cincias biomdicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir conhecimentos amplos e detalhados do mesmo, tarefa praticamente impossvel mediante os outros tipos de delineamentos considerados. (GIL, 2002, p. 54).
No mesmo sentido, Collis e Hussey (2005, p.72) esclarecem que o estudo de caso
um exame extensivo de nico exemplo de um fenmeno de interesse e tambm
um exemplo de uma metodologia fenomenolgica5.
Neste trabalho, tambm se utilizou a pesquisa bibliogrfica, que, segundo Gil (2003,
p. 44), desenvolvida com base em material j elaborado, constitudo
principalmente de livros e artigos cientficos. Este trabalho visa a buscar
informaes necessrias ao seu desenvolvimento, sejam em livros, artigos,
legislaes societrias e tributrias brasileiras atualizadas pertinentes ao assunto.
Ainda referindo-se ao tipo de pesquisa, o presente estudo tambm se utilizou da
pesquisa documental, a qual Gil (2002, p. 45) apresenta como pesquisa que vale-se
5 Metodologia fenomenolgica: ope-se corrente positivista, para firmar que algo s pode ser entendido a partir do ponto de vista das pessoas que esto vivendo e experimentando; prprio deste mtodo o abandono, pelo pesquisador, de idias preconcebidas (VERGARA, 2003, p. 13).
28
de materiais que no receberam ainda um tratamento analtico, ou que ainda podem
ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.
Esses mtodos foram utilizados para o desenvolvimento do estudo aplicado em um
grupo empresarial do setor de Agronegcios situado no estado de Minas Gerais,
composto por cinco unidades distintas, intituladas neste trabalho como: Empresa
Distribuidora Ltda., Empresa Varejista Ltda., Empresa Abatedor Ltda., Produo
Rural Pessoas Fsicas e Empresa X Ltda., formando o grupo empresarial
pesquisado. As verdadeiras identidades das unidades foram preservadas por motivo
de sigilo.
1.4.2 Coleta, tratamento e anlises dos dados
Neste estudo, utilizou-se de uma amostra de dados das unidades envolvidas,
referente aos meses de abril, maio e junho de 2007, coletados no ms de julho de
2007.
Tais amostras compreenderam informaes contbeis, fiscais e gerenciais, tais
como: balancetes de verificao, demonstraes de resultados, balaos
patrimoniais, contratos sociais e demais alteraes, declaraes de imposto de
renda pessoas jurdicas e fsicas, livros fiscais, planilhas e resumos de apurao de
impostos e contribuies, planilhas de controles de resultados e outros relatrios
necessrios, gerados pelo sistema de informao gerencial da administrao do
grupo.
O tratamento dos dados realizado no desenvolvimento desta pesquisa consistiu no
levantamento da atual/previso da carga tributria do grupo. Logo em seguida,
foram elaboradas propostas com as referidas simulaes das aplicaes de
metodologias de reestruturao societria ao grupo, tendo como base duas
premissas bsicas: primeira, assegurar as reais participaes dos scios; e
segunda, apurar os referidos reflexos tributrios com a aplicao dessas
metodologias.
29
As referidas proposta/simulaes foram ento analisadas de forma comparativa,
tendo como comparao a carga tributria previstas versus as respectivas
propostas.
Convm ressaltar que a aplicao deste estudo apresenta limitaes,
particularmente por tratar-se de um estudo de caso. Portanto, embora possam ser
aplicveis em outras realidades, as concluses no podem ser generalizadas sem
as devidas adaptaes para outras empresas, uma vez que a reestruturao
societria associada ao planejamento tributrio pode conter particularidades que
ensejam tratamentos especficos.
1.5 Estrutura
Na introduo deste trabalho, descrevem-se, de forma breve e para melhor
contextualizao do problema de pesquisa, a identificao do problema de pesquisa,
os objetivos, as justificativas que levaram ao objeto de pesquisa, a metodologia
aplicada no trabalho, o tipo de pesquisa, abordagem, coleta, anlise de dados e a
estrutura do trabalho.
O captulo 2 consiste na construo do referencial terico utilizado na explorao do
tema proposto, no qual se discutem, de forma detalhada, as formas de metodologias
de reestruturao societria, tais como: transformao de um tipo de sociedade para
outro, fuso, aquisio, incorporao, ciso e holding, alm dos principais aspectos
burocrticos da reestruturao societria. Neste captulo, tambm se apresenta o
planejamento tributrio, de forma detalhada, como: definio, finalidade, legalidade,
evaso e eliso fiscal, o problema da interpretao econmica dos atos e do abuso
de formas, a questo do negcio indireto e a desconsiderao da personalidade
jurdica. Finalizando este captulo, apresenta-se a utilizao das metodologias de
reestruturao societria no planejamento tributrio.
O captulo 3 dedica-se ao desenvolvimento da obra, a partir de um estudo de caso,
isto , a apresentao do grupo pesquisado, acompanhado da aplicao das
30
metodologias de reestruturao societria como instrumento de planejamento
tributrio em um grupo empresarial do setor de Agronegcio situado no estado de
Minas Gerais. Neste captulo, precedeu-se ao levantamento da carga tributria
atual/prevista do grupo empresarial e apresentao de algumas propostas, por
meio de simulaes.
O captulo 4 dedica-se exclusivamente elaborao das anlises das simulaes
propostas e desenvolvidas no capitulo anterior, fazendo-se a comparao entre a
carga tributria atual/previstas versus as propostas simuladas.
No captulo 5, apresentam-se as consideraes finais e as recomendaes da
pesquisa. Tambm, promove-se uma reflexo sobre as possibilidades de aplicao
em outros casos e indicam-se as limitaes de escopo do trabalho.
Ao final do trabalho apresentam-se as referncias bibliogrficas utilizadas na
pesquisa, as recomendaes de leitura complementar e os anexos.
31
2 FUNDAMENTAO TERICA
Neste captulo, apresentam-se temas de suma importncia para o perfeito
desenvolvimento deste estudo, como reestruturao societria e suas principais
metodologias, aqui entendidas como: fuso, ciso, incorporao, aquisio,
transformao e holding. Faz-se um breve comentrio sobre a carga tributria no
Brasil, planejamento tributrio e utilizao de metodologias de reestruturao
societria como ferramenta de planejamento tributrio.
2.1 Formas de reestruturao societria
Inicialmente, apresentam-se as principais formas de reestruturao societria,
processo tambm conhecido como reorganizao societria. Embora as
reorganizaes societrias j ocorram h algumas dcadas, pode-se notar que at
os dias de hoje no foi apresentado um conceito claro sobre essas operaes. No
entanto, verifica-se que as operaes de aquisio, transformao, fuso,
incorporao ou ciso certamente se configuram como tais, haja vista o consenso
dos autores.
Linke (2006) ensina que a reestruturao societria pode ser feita de vrias
maneiras, tais como: transformao de um tipo de sociedade em outro, fuso,
aquisio, incorporao e ciso. Alm dessas, pode-se acrescentar a formao de
holding.
2.1.1 Aspectos introdutrios
Segundo os ensinamentos de Bulgarelli (1996), as formas de reestruturao
societria podem ser claramente identificveis na poca que se seguiu Revoluo
32
Industrial, em fins dos sculos XVIII e XIX6. O processo concentracionalista evoluiu
acentuadamente at atingir o seu auge nos dias que correm acompanhados e
afirmando os traos das transformaes do capitalismo7. (BULGARELLI, 1996, p.
21).
Nesse sentido, mediante a publicao do trabalho de Arthurz Andersen8, Muniz
(1996, p. 7) afirma-se que reorganizaes de empresas tm sido praticadas no
Brasil desde h muito tempo, atravs de suas diversas formas, sejam fuses,
incorporaes ou cises. O autor, ainda acrescenta que:
[...] A fuso, incorporao e ciso constituem, antes de tudo, um processo de sucesso, ou seja, uma operao em que uma pessoa jurdica transfere para outra um conjunto de direitos e obrigaes, ou de ativos e passivos, ou ainda, um grupo de haveres e deveres, de forma tal que, sem que haja soluo de continuidade, uma pessoa jurdica prossegue uma atividade at ento exercida por outra (MUNIZ, 1996, p. 1).
No Brasil, conforme estudo desenvolvido pela KPMG (2007), j apresentado na
introduo deste trabalho, elaborou-se uma anlise das transaes de fuses e
aquisies realizadas de 1994 a 2006. Destacam-se aqui os principais achados
deste estudo.
Nos ltimos cinco anos, o nmero de transaes de fuses e aquisies tem
crescido constantemente no pas, passando de 227 transaes em 2002 para 473
em 2006.
O estado de So Paulo est em primeiro lugar quanto ao nmero de transaes
realizadas em 2006 (284), seguido do Rio de Janeiro (95), Rio Grande do Sul (64) e
Minas Gerais (59).
6 J. P. Rioux, A Revoluo Industrial, 1780-1880, trad. Waldimiro Bulgarelli, Ed. SP, 1975. 7 Jean Marchal, Cours dconimie Politique, Paris, 1950, tomo I; Franois Perroux, Lconomie du Xxe. Siecle, 1.ed. Paris, 1964; Andr Marchal, Systemes et Structures conomiques, Ed. Paris, 1963; Joseph Lajugie, Os Sistemas Ecnomicos, trad. Geraldo G. Souza, Ed. SP, 4 ed. 1974. 8 Arthurz Andersen, companhia que tinha mais de 90 anos, quando perdeu seu registro nos EUA com estouros das fraudes ocorridas nos balanos das empresas Enron e da Worldcom em 2001, as quais auditava.
33
Das transaes realizadas no Brasil, a maioria contempla empresas estrangeiras,
prevalecendo os Estados Unidos com o maior nmero de transaes ano (99),
seguindo-se a Frana (25), a Alemanha (21) e a Itlia (20).
So muitas as transaes envolvendo a entrada de capital estrangeiro no pas. Os
pases que mais se destacam so: Estados Unidos (33,2%), Frana (10,21%),
Alemanha (9,2%) e Itlia (8,7%).
No perodo de 1994 a 2006, os setores que mais se destacam em nmero de
transaes so: primeiro lugar Alimentos, Tecnologia da Informao e
Telecomunicaes, nessa ordem.
Interessante notar que o presente trabalho prope estudar a aplicabilidade das
metodologias de reestruturao societria em um grupo empresarial do setor de
Alimentos (agronegcios), que se encontra com o nmero maior de transaes (427)
acumulado deste o plano real, de 1994 at o a ano de 2006.
2.1.2 Fatores que justificam a utilizao das metodologias
Para Silva et al. (2004), atualmente, so vrias as razes que motivam as empresas
a utilizarem as metodologias de reorganizao societria, tais como:
mercadolgicas, econmicas, financeiras, administrativas, tecnolgicas e societrias.
Adota-se, ainda, forma desburocratizada de promover alteraes empresariais. Os
autores acrescentam, alm dessas razes, a possibilidade de alcanar benefcios
tributrios tem se mostrado um fator decisivo para a utilizao dessas metodologias.
Evans, Pucik e Barsoux (2002) explicam que as reestruturaes societrias esto
ligadas a domnio de mercado para ganhar economia de escala e o controle sobre
canais de distribuio, expanso geogrfica, aquisio e ou alavancagem de
competncias, aquisio de recursos e ajuste ao mercado competidor. Observa-se a
existncia de um consenso entre os autores citados no que tange a ajuste ao
mercado competidor, ganho e melhoria de posio no mercado.
34
Linke (2006) destaca trs importantes fatores que justificam a utilizao das
metodologias de reestruturao societrias: a) a existncia de uma
desregulamentao de alguns setores do mercado, como Telecomunicaes,
Transportes e Servios Financeiros; b) o excesso de capacidade de determinado
setor, o que leva a sua consolidao, como meio de sobrevivncia; e c) a corrida
para se tornar maior, ou seja, adquirir o tamanho e os recursos necessrios para
competir internacionalmente. Segundo a autora, para enfrentar a concorrncia, as
empresas precisam estar em setores com vantagens competitivas, ter capacidade
financeira, gesto especializada, tecnologia e foco em seu negcio. Isto requer unio
de foras (LINKE, 2006, p. 47).
No Brasil, Linke (2006, p. 47) acrescenta que os processos de fuses e aquisies
so ainda mais evidentes, no somente em razo da forte concorrncia do mercado,
mas tambm em razo dos processos de privatizaes que se agigantam no pas.
Silva (2007) ensina que so inmeros os motivos que levam as empresas a se
reorganizarem nos processos de reestruturao societria. Dentre eles, destaca: o
desmembramento de sociedade por litgio de acionistas, a conjuntura
socioeconmica do pas, o planejamento estratgico, o planejamento fiscal, a
proteo patrimonial, etc. (SILVA, 2007, p. 221). No desenvolvimento deste estudo,
pretende-se focar a utilizao dessas metodologias como uso para o planejamento
tributrio.
Iudcibus, Martins e Gelbcke (2003), apresentam alguns ensinamentos sobre os
motivos pelos quais se faz uma reestruturao societria:
a) reorganizao de sociedade de um grupo de empresas em relao a atual economia; b) reorganizao de sociedade, objetivando o planejamento sucessrio e a proteo do patrimnio da entidade e de seus scios; c) reorganizao de sociedade a ttulo de planejamento fiscal, objetivando minimizar a carga tributria; d) separao ou desmembramento de empresas ou parte delas, como soluo s divergncias entre acionistas, com maior freqncia entre herdeiros de empresas familiares; e) incorporao ou fuso entre empresas voltadas: (a) integrao operacional; (b) evoluo da tecnologia, dos sistemas de produo ou de comercializao ou (c) ao fortalecimento competitivo no mercado diante da concorrncia;
35
f) alteraes em face da mudana de ramo de atuao ou ingresso em novos produtos ou novas reas ou na internacionalizao das atividades operacionais; g) reorganizao de empresas estatais o processo de preparao privatizao; h) abertura de empresas privadas familiares ao mercado de capital. (IUDCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2003, p. 518, grifo nosso).
Os autores ensinam que pode ser relativamente simples detectar, definir e implantar
os processos de reorganizao societria. Todavia, usualmente, envolvem
operaes de grande complexidade, tais como:
a) a ampla identificao de todos os problemas e interesses envolvidos; b) a busca das inmeras alternativas de reformulaes possveis; c) o processo de deciso quanto melhor soluo; d) a negociao entre as inmeras partes envolvidas sobre os diversos temas e seus reflexos para encontrar solues de equilbrio e de viabilidade; e) o desenvolvimento e implementao formal e jurdica da soluo encontrada que reflita as negociaes efetivadas; f) a operaes posteriores do(s) empreendimento(s). (IUDCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2003, p. 518).
De fato, esses pontos devem contemplar todos os fatores relevantes que geram ou
podem gerar reflexos importantes nas operaes pretendidas para se fazer a melhor
escolha, pois uma m escolha pode at inviabilizar a operao da empresa ou lev-
la a incorrer em nus operacionais, tributrios etc. que a transforme em um fracasso.
Iudcibus, Martins e Gelbcke (2003) apontam alguns fatores a serem considerados:
a) interesses de natureza societria entre cotista ou acionista; b) reflexos tributrios seja quanto forma e poca em que a reorganizao for feita (incorporao, fuso, ciso ou outras formas), seja quanto incidncia dos diversos tributos nas operaes aps a reorganizao. Tal anlise deve contemplar os reflexos fiscais no s do ponto de vista da empresa. Como tambm de seus acionistas ou cotistas e abrange o IRPJ, a CSLL e os outros tributos como: IPI, ICMS, ISSQ etc.; c) aspectos operacionais, organizacionais e de sistemas, pois importante que as solues finais considerem estruturas hierrquicas com adequada relao de poderes e sistemas organizacionais e de controle compatveis com a nova forma das operaes; d) aspectos financeiros ou financiamento que requeira novos recursos dos atuais acionistas, de novos acionistas ou financiamento de terceiros; e) outros fatores, como legislao especfica do setor, aspectos relacionados ao pessoal, como a legislao trabalhista e previdenciria, sindical e etc. (IUDCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2003, p. 519).
36
Enfim, ao realizar uma reestruturao societria, seja ela qual for sua modalidade,
deve-se ficar atento aos reflexos envolvidos na nova forma de organizao. Este
trabalho se atentar aos reflexos tributrios do grupo empresarial estudado. A
seguir, apresentam-se as definies das principais formas de reestruturao
societria.
2.1.3 Definies pela legislao societria
Descrevem-se aqui as definies contidas na Lei das Sociedades por Aes (LSA)
(Lei 6.404, de 15/12/1976) e outras legislaes sobre as principais metodologias de
reestruturao societria, tais como: transformao de sociedades, aquisio, fuso,
incorporao e ciso.
2.1.3.1 Transformao de sociedades
Segundo Silva (2007, p. 225), o art. 220 da LSA define claramente a transformao
societria (pessoa jurdica) como a operao pela qual a sociedade passa
independentemente de dissoluo e liquidao, de um tipo para outro.
Para Carvalhosa (2002, p. 185) na transformao no existe dissoluo ou
liquidao da pessoa jurdica, mas sim extino dos atos constitutivos, que so
substitudos por outros.
Semelhantemente, o art.1 do Departamento Nacional de Registro no Comrcio
(DNRC), pela Instruo Normativa 88/2001, entende que transformao a
operao pela qual a sociedade muda de tipo jurdico, sem sofrer dissoluo e
liquidao, obedecidas s normas reguladoras da constituio e do registro da nova
forma a ser adotada (BRASIL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO NO
COMRCIO, 2001).
37
Silva (2007, p. 225) cita um exemplo clssico, a transformao de sociedade
annima para sociedade limitada, ou vice-versa.
Para Requio (2005, p. 258), por meio da transformao da sociedade torna-se
possvel, com a modificao do ato constitutivo, imprimir-lhe ou tipicidade. Pode-se,
como comum, constituir uma sociedade piloto sob a forma de sociedade limitada,
como primeira etapa, depois, de montada em toda a sua estrutura legal,
transformada em sociedade annima.
Requio (2005), explica que a transformao, no constitui um instituto exclusivo
das sociedades annimas, isto , aplicam-se em qualquer tipo de sociedade, cujos
scios desejam dar-lhe outra estrutura jurdica.
Para Linke (2006), o processo de transformao pode ser aplicado em qualquer tipo
de sociedade. No entanto, tal dispositivo no se aplica s antigas firmas individuais,
nem mesmos s operaes de fuso, incorporao e ciso (Lei 6.404/1976, art. 223
e seu 1).
A autora acrescenta que, quanto aos efeitos da transformao, o ato prprio
obedecer sempre s formalidades legais relativas constituio e ao registro do
novo tipo a ser adotado pela sociedade, seguindo as normas da LSA que so
aplicveis, subsidiariamente, a todas as demais formas de sociedade.
Silva (2007) ressalta que a transformao exige o consentimento unnime dos
scios ou acionistas, salvo se prevista no estatuto ou no contrato social, caso em
que o scio dissidente ter o direito de retirar-se da sociedade. Os scios podem
renunciar, no contrato social, ao direito de retirada no caso de transformao em
companhia.
Para Silva (2007) e Quintans (2006), a transformao no prejudicar os direitos dos
credores, pois a execuo da sociedade ou dos scios dar-se- na forma da
estrutura do tipo de sociedade, ao tempo da formao da dvida. No mesmo sentido,
a falncia da sociedade transformada somente produzir efeitos em relao aos
38
scios que, no tipo anterior, a eles estaria sujeito, se o exigirem os credores
anteriores transformao, e somente esses credores sero beneficiados.
Quintans (2006) ensina que, para efeito de arquivamento perante a Junta Comercial,
a transformao poder ser formalizada em instrumento nico ou em separado.
Havendo necessidade de transformao de um tipo societrio em outro, se esses
tipos foram registrados em registros diferentes (registro mercantil versus registro
civil), a sociedade ter que dar baixa em um registro e registrar-se como se
sociedade nova fosse no outro registro. Percebe-se que esse fenmeno impacta
fortemente as sociedades de natureza intelectual, que tm migrado do registro civil
para o registro mercantil.
Para Quintans (2006) existem profissionais do ramo do Direito que tm sugerido esta
metodologia especialmente s sociedades limitadas em se transformarem em
sociedades annimas, por acreditarem que as sociedades annimas no sofrem a
desconsiderao da personalidade jurdica por serem consideradas de capitais,
enquanto as limitadas so consideradas sociedades de pessoas e capitais. Assim,
acredita-se em uma proteo ao patrimnio dos scios / acionistas com essa
medida.
2.1.3.2 Aquisio de sociedades
Para Silva (2007), a aquisio de uma empresa d-se quando o comprador adquire
todas as aes do capital da adquirida, assumindo seu controle total. O 2 do art.
251 da LSA relata que a companhia pode ser convertida em subsidiria integral9
mediante aquisio, por sociedade brasileira, de todas as suas aes. (BRASIL,
2002, p. 105).
O dispositivo legal, art. 255 da LSA diz que a alienao do controle de companhia
aberta que depende de autorizao do governo para funcionar est sujeita a prvia
9 Subsidiria integral: Companhia que tem como nico acionista sociedade brasileira, baseada art. 251 a 253 da LSA.
39
autorizao do rgo competente para aprovar a alterao do seu estatuto social
(BRASIL, 2002, p. 105).
A aquisio de companhia aberta, que depende de autorizao para funcionar,
dever ser precedida de oferta pblica. Essa somente poder ser feita com a
participao de instituio financeira que garanta o cumprimento das obrigaes
assumidas pelo ofertante (Lei 6.404/76, art. 257).
Linke (2006) esclarece que, depois de adquirido o controle acionrio, a empresa
compradora, em assemblia geral, nomeia um novo Conselho Fiscal e Conselho de
Administrao, esse ultimo por sua vez, nomeia uma nova Diretoria, que se
encarregar de preencher todos os demais cargos da companhia. A autora
acrescenta que a adquirente pode manter a mesma denominao da companhia
adquirida, se for de seu interesse, ou alter-lo.
Outro ponto importante, segundo a autora, a correta avaliao do patrimnio
lquido da empresa que ser vendida. Essa avaliao, que deve ficar a cargo de
empresas especializadas nesse assunto, no deve considerar apenas o valor do
patrimnio lquido, mas tambm outros valores relevantes, tais como: O
desempenho econmico esperado com a adoo de novos mtodos de gesto e
novas tecnologias; os crditos tributrios que podem ser recuperados; e os prejuzos
acumulados que podem ser compensados.
Se o valor de aquisio da sociedade for superior ao valor contbil da sociedade
adquirida, o que for pago a maior considerado com gio.
2.1.3.3 Fuso de sociedades
Inicia-se com um conceito internacional. Weston e Brigham (2000) ensinam que a
fuso a combinao de duas empresas para a formao de uma nica. Gitman
(2002) apresenta a fuso como a combinao de duas ou mais empresas, na qual a
resultante mantm a identificao de uma das empresas, geralmente a maior. No
40
Brasil essa definio denominada incorporao. Tanto nos Estados Unidos como
na Europa em pases como Alemanha e Frana existem apenas operaes de fuso
e ciso.
Para Wright, Kroll e Parnell (2000), a fuso uma estratgia de crescimento, em que
uma empresa combina-se com outra, e a nova empresa referida como empresa
sucessora ou combinada. Donega et al. (2004) relatam que a fuso e a aquisio
so utilizadas como instrumentos para o crescimento organizacional. Rasmussen
(1989) e Copeland (2004) afirmam que as fuses e aquisies tornaram-se um meio
muito importante para a realocao de recursos na economia global e tambm para
a execuo de estratgias coorporativas.
Requio (2005, p. 261) explica que a fuso a operao pela qual se unem duas
ou mais sociedades, de tipos iguais ou diferentes, para formar sociedade nova que
lhes suceder em todos os direitos e obrigaes.
Semelhantemente o art. 228 da LSA define que a fuso a operao pela qual se
unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes suceder em
todos os direitos e obrigaes (BRASIL, 2002, p. 96).
O conceito de fuso tambm est indicado no art. 1.119 do Novo Cdigo Civil, Lei
10.406 de 2002: A fuso determina a extino das sociedades que se unem, para
formar sociedade nova, que a elas suceder nos direitos e obrigaes (BRASIL,
2003, p. 230).
Semelhantemente, o DNRC, pela Instruo Normativa 88/2001, entende como
fuso:
Art. 13. Fuso a operao pela qual se unem duas ou mais sociedades, de tipos jurdicos iguais ou diferentes, constituindo nova sociedade que lhes suceder em todos os direitos e obrigaes, deliberada na forma prevista para a alterao dos respectivos estatutos ou contratos sociais (BRASIL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO NO COMRCIO, 2001).
Barros (2003) acrescenta que a fuso um processo que envolve uma complexa
combinao de duas ou mais empresas, que deixam de existir legalmente para
41
formar uma terceira com nova identidade, teoricamente sem predominncia de
nenhuma das empresas anteriores.
Linke (2006, p. 48) explica que na fuso desaparecem todas as sociedades
anteriores para dar lugar a uma s, na qual todas elas se fundem, extinguindo-se
todas as pessoas jurdicas existentes, em seu lugar surgindo outra. Observa-se que
a sociedade que surge assumir todas as obrigaes ativas e passivas das
sociedades extintas.
Semelhantemente, Maia (1972, p. 44) j definia fuso como uma forma de unio, tal
como a incorporao, onde h o desaparecimento de uma ou mais pessoas
jurdicas, para que surja outra, com maior dimenso e maior capacidade econmica.
Bulgarelli, ao tratar do tema em sua tese A Incorporao das Sociedades
Annimas, relata que a fuso um instituto complexo, uno, sempre de natureza
societria, que se apresenta com trs elementos fundamentais e bsicos:
1. transmisso patrimonial integral e englobada, com sucesso universal; 2. extino (dissoluo sem liquidao) de, pelo mesmos, uma das empresas fusionadas; 3. congeminao dos scios, isto , ingresso dos scios da sociedade ou das sociedades extintas na nova sociedade criada (BULGARELLI, 1975, p. 181).
Apartando o conceito internacional, note-se que na fuso todas as sociedades
fusionadas se extinguem para dar lugar formao de uma nova sociedade com
personalidade jurdica distinta daquelas, que se torna a titular do somatrio do
patrimnio (em linguagem tcnica, designada de acervo lquido) at ento
pertencente s referidas pessoas jurdicas.
Alves (2003), Gallo (2000) e Silva et al. (2004), seguindo a mesma linha de
pensamento, destacam dois dos principais fatores que limitam a realizao das
fuses no Brasil, a saber: primeiro, a necessidade de abertura de uma nova
sociedade, o que inclui toda a burocracia e os custos exigidos para tanto (se esses
custos forem comparados com valores envolvidos em toda a operao, perceber
que eles so mnimos); segundo, pode-se dizer que o mais importante vem a ser a
42
perda dos prejuzos fiscais acumulados, o que, do ponto de vista tributrio,
extremamente negativo, j que no possibilita compensao de tais prejuzos.
Silva et al. (2004) esclarecem que sempre quando houver prejuzos a serem
compensados a fuso no interessar ao planejamento tributrio.
2.1.3.4 Incorporao de sociedades
Segundo Silva et al. (2004), o conceito de incorporao utilizado no Brasil difere do
conceito norte-americano e do europeu, que consideram essa operao como um
tipo especial de fuso. O autor acrescenta que tanto nos Estados Unidos como na
Europa existem apenas operaes de fuso e ciso.
A incorporao de sociedade considerada um tipo de fuso para a legislao
americana e a europia como a Alem e Francesa, diferentemente do que ocorre no
Brasil, a qual tem sua definio separadamente.
Requio (2005, p. 260) explica que a incorporao a operao pela qual uma ou
mais sociedades, de tipos iguais ou diferentes, so absorvidas por outra, que lhe
sucede em todos os direitos e obrigaes.
Semelhantemente o art. 227 da LSA define incorporao como a operao pela
qual uma ou mais sociedades so absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os
direitos e obrigaes (BRASIL, 2002, p. 96).
A definio de incorporao pode ser encontrada no art. 1.116, do Novo Cdigo
Civil, Lei 10.406, de 2002.
43
Semelhantemente, o DNRC, pela IN 88/2001, entendeu como incorporao:
Art.8. Incorporao a operao pela qual uma ou mais sociedades, de tipos iguais ou diferentes, so absorvidas por outra que lhes sucede em todos os direitos e obrigaes, devendo ser deliberadas na forma prevista para alterao do respectivo estatuto ou contrato social (BRASIL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO NO COMRCIO, 2001).
Para Alves (2003), na incorporao desaparecem as sociedades incorporadas, em
contraposio com a sociedade incorporadora, que permanece inalterada em termos
de personalidade, ocorrendo, apenas, modificaes em seu estatuto ou contrato
social, em que h indicao do aumento do capital social e do seu patrimnio.
Na incorporao, a sociedade incorporada deixa de existir, mas a empresa
incorporadora continuar com a sua personalidade jurdica, diferentemente do que
ocorre na fuso, em que h a extino de todas as pessoas jurdicas participantes
do processo, bem como a criao de uma nova pessoa jurdica que sucede s
demais.
No caso da incorporao, uma pessoa jurdica preexistente absorve o patrimnio de
uma ou mais pessoas jurdicas, que se extinguiro no processo. Assim, sobreviver
de uma nica pessoa jurdica, cujo patrimnio corresponder ao somatrio dos
patrimnios lquidos de todas as pessoas jurdicas absorvidas no processo de
incorporao, alm do seu prprio.
2.1.3.5 Ciso de sociedades
Para Linke (2006, p. 48), a ciso vem do latim scindere, que quer dizer cortar;
scissionis, separao, diviso.
Quintans (2006) ensina que, embora o Cdigo Civil omita sobre as operaes de
ciso, pode-se encontrar o conceito no art. 229, da LSA, a saber:
44
Art.229 a operao pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimnio para uma ou mais sociedades, constitudas para esse fim, ou j existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver verso de todo o seu patrimnio, e dividindo-se o seu capital, se parcial a verso (BRASIL, 20002, p. 97).
Outra definio da ciso pode se encontrar no DNRC, atravs da IN 88/2001, a qual
trs a posio do rgo federal.
Art. 19. A ciso o processo pelo qual a sociedade, por deliberao tomada na forma prevista para alterao do estatuto ou contrato social, transfere todo ou parcela do seu patrimnio para sociedades existentes ou constitudas para este fim, com a extino da sociedade cindida, se a verso for total, ou reduo do capital, se parcial (BRASIL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO NO COMRCIO, 2001).
Para Carvalhosa (2002, p.303) a ciso constitui negcio plurilateral, que tem como
finalidade a separao do patrimnio social em parcelas para a constituio ou
integrao destas em sociedades novas ou existentes.
Na ciso total, a empresa cindida extinta. Entretanto, a ciso pode ser parcial, se
houver acordo entre os scios. Nesse caso, a empresa cindida continua em
atividade, com a mesma denominao social e com o patrimnio e capital reduzidos
dos valores que foram transferidos para a outra ou as outras empresas envolvidas
na ciso.
Extinguindo-se, com a ciso a sociedade cindida, cabe aos administradores das
sociedades que absorverem o patrimnio promover o arquivamento e a publicao
dos atos relativos operao. Sendo apenas parcial a verso do patrimnio, esses
atos sero praticados pela companhia cindida e pela que absorveu parte do
patrimnio (MARTINS, 1997).
Para Alves (2003) e Requio (2005), a ciso com verso parcial do patrimnio a
sociedades j existente obedecer s disposies sobre incorporao. Isto , a
sociedade que absorver parcela do patrimnio da pessoa jurdica cindida suceder-
lhe- em todos os direitos e obrigaes previstas na legislao. Entretanto, nas
operaes em que houver criao de sociedade sero observadas as normas
reguladoras das sociedades de seu tipo (Lei 6.404/76, art. 223, 1 e 3).
45
De acordo com Muniz, podem ocorrer diferentes modalidades de ciso, conforme
abaixo:
a) sociedade cindida transfere parcela de seu patrimnio para outra sociedade j existente ou constituda em decorrncia da ciso; b) sociedade cindida transfere parcela de seu patrimnio para diversas outras sociedades, j existentes ou constitudas em decorrncia da ciso; c) sociedade cindida transfere a totalidade de seu patrimnio para sociedade j existentes, ou constitudas em decorrncia da ciso (MUNIZ, 1996, p. 5).
Constata-se, que a ciso guarda elementos comuns com a fuso e com a
incorporao, visto que a sucessora poder ser uma sociedade nova (conforme
ocorre no caso da fuso) ou uma sociedade preexistente, conforme se verifica na
incorporao.
Importante tambm observar o art. 233 da Lei 6.404/1976, que dispe sobre o direito
dos credores na ciso, a saber:
Na ciso com extino da companhia cindida, as sociedades que absorvem parcelas do patrimnio respondero solidariamente pelas obrigaes da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do seu patrimnio respondero solidariamente pelas obrigaes da primeira anterior ciso. Pargrafo nico: O ato de ciso parcial poder estipular que as sociedades que absorverem parcela do patrimnio da companhia cindida sero responsveis apenas pelas obrigaes que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si ou com a companhia cindida, mas, nesse caso, qualquer credor anterior poder se opor estipulao, em relao ao seu crdito, desde que notifique a sociedade no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicao dos atos da ciso. (BRASIL, 2002, p. 95).
Shingaki (1994) ensina que a sociedade que absorve parcela do patrimnio da
companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigaes relacionadas no ato da
ciso. Para o autor tal regra no valida para fins tributrios, pois respondem
solidariamente pelos tributos da pessoa jurdica todas as sociedades envolvidas.
Assim, a responsabilidade da sociedade cindida sobre os dbitos existentes
(tributrios) at a data do evento ou que venham a ser apurados posteriormente em
relao ao perodo da data da ciso solidria sobre o total do dbito e no
proporcional ao patrimnio vertido.
46
O autor acrescenta que a ciso de sociedade figura nova no Direito brasileiro,
tendo surgido com a Lei 6.404/76. Pouco trabalho tem sido produzido a respeito, e
por isso no pacfico o entendimento entre os doutrinadores quando forma de se
proceder ciso (SHINGAKI, 1994).
Vistos os principais tipos de metodologias de reestruturao societria, apresentam-
se a seguir os aspectos burocrticos envolvidos nessas operaes. Este estudo se
limita s operaes de fuso, incorporao e ciso, embora alguns desses aspectos
possam ser aproveitados nas demais metodologias de reestruturao societria.
2.1.4 Aspectos legais e societrios
Embora exista alguns dispositivos no novo cdigo civil a lei que rege o processo de
fuso, incorporao ou ciso a Lei das Sociedades Annimas (LSA). Ao leitor
desatento poderia parecer que o processo de fuso, incorporao ou ciso teria de
envolver necessariamente uma sociedade annima, sendo vedado s sociedades
revestidas de outras formas implementarem tais operaes.
No entanto, Muniz ensina que:
[...] No faz sentido, visto que as operaes de concentrao ou desconcentrao empresarial so igualmente importantes tanto para as sociedades annimas como para as demais formas societrias. Inexiste qualquer razo que justifique restringir tais operaes apenas s sociedades annimas (MUNIZ, 1996, p. 6).
Importa definir logo de incio que tais operaes no constituem privilgio de
sociedades annimas, podendo ser adotadas por sociedades de qualquer forma,
seja ela sociedade empresria limitada, sociedade em nome coletivo e etc. Nesse
sentido, vale transcrever o art. 223 da LSA, que cuida bem desta matria:
47
Art. 223 A incorporao, fuso ou ciso podem ser operadas entre sociedades de tipos iguais ou diferentes e devero ser deliberadas na forma prevista para a alterao dos respectivos estatutos ou contratos sociais (BRASIL, 2002, p. 94).
Outro aspecto importante que os scios das sociedades incorporadas, fundidas ou
cindidas recebero diretamente da companhia emissora as aes ou quotas que
lhes couberem. E, mais, nas operaes em que houver a criao de sociedade
sero observadas as normas reguladoras da constituio das sociedades do seu
tipo.
Finalmente, tambm ser necessria a aprovao pela assemblia geral do
protocolo e justificao da operao de incorporao, fuso ou ciso, em que dever
nomear peritos que avaliaro os patrimnios das sociedades envolvidas. No caso de
incorporao, o aumento de capital da sociedade incorporadora dever ser
igualmente autorizado pela assemblia (IUDCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2003).
2.1.5 Aspectos burocrticos na reestruturao societria
a) Protocolo e justificativa no processo de reestruturao
Segundo Requio (2005) e Silva (2007), no caso de fuso, incorporao e ciso
devero constar no protocolo firmado pelos rgos de administrao das
companhias ou scios das sociedades interessadas as seguintes informaes:
1.O nmero, espcie e classe das aes que sero atribudas em substituio dos direitos de scios que se extinguiro e os critrios utilizados para determinar as relaes de substituio; 2.Os elementos ativos e passivos que formaro cada parcela do patrimnio, no caso de ciso; 3.Os critrios de avaliao do patrimnio liquido, a data a que ser referida a avaliao, e o tratamento das variaes patrimoniais posteriores; 4.A soluo a ser adotada quando s aes ou cotas do capital de uma das sociedades possudas por outras;
48
5.O valor do capital das sociedades a serem criadas ou do aumento ou reduo do capital das sociedades que foram parte na operao; 6.O projeto ou projetos de estatuto, ou de alteraes estatutrias, que devero ser aprovados para efetivar a operao; 7.Todas as demais condies a que estiver sujeita a operao (REQUIAO, 2005, p. 265; SILVA, 2007, p. 231).
Com base na Instruo 319/1999, art. 3, da Comisso de Valores Mobilirios
(CVM), o protocolo, os pareceres jurdicos, contbeis financeiros, os laudos, as
avaliaes, as demonstraes financeiras, os estudos e quaisquer outras
informaes ou documentos que tenham sido postos disposio do controlador ou
por ele utilizados no planejamento, avaliao, promoo e execuo de operaes
de incorporao, fuso ou ciso envolvendo companhia aberta devero ser
obrigatoriamente disponibilizados a todos os scios desde a data de publicao das
condies da operao.
Adiante, no mesmo dispositivo legal (Instruo 319/1999), o art. 5 da CVM descreve
que as empresas e os profissionais que tenham emitido opinies, certificaes,
pareceres, laudos, avaliaes e estudos ou que tenham prestado quaisquer outros
servios relativamente s operaes de incorporao, fuso ou ciso evolvendo
companhias abertas, sem prejuzo de outras disposies legais ou regulamentaes,
devero:
1.Esclarecer, em destaque, no corpo das respectivas opinies, certificaes pareceres, laudos, avaliaes, estudos ou quaisquer outros documentos de sua autoria, se tm interesse, direto ou indireto, na companhia ou na operao, bem como qualquer outra circunstancia relevante que possa caracterizar conflito de interesses; e 2.Informar, no modo indicado no inciso anterior, se o controlador ou os administradores da companhia direcionaram, limitaram, dificultaram ou praticaram quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilizao ou conhecimento de informaes, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das respectivas concluses (BRASIL, 1999, p. 4-5).
Silva (2007) ensina que as operaes de incorporao, fuso e ciso sero
submetidas deliberao da Assemblia Geral das companhias interessadas,
mediante justificao, na qual sero expostos:
49
1.Os motivos ou fins da operao, e o interesse da companhia na sua realizao; 2.As aes que os acionistas preferenciais recebero e as razes para a modificao de seus direitos, se prevista; 3.A composio, aps a operao, segundo espcie e classes das aes, do capital da companhias que devero emitir aes em substituio as que se devero extinguir; 4.O valor de reembolso das aes a que tero direito os acionistas dissidentes (SILVA, 2007, p. 232).
b) Arquivamento dos atos de reestruturao societria
Arquivamento dos atos de fuso:
Conforme ensina o IOB Informaes Objetivas (2005), a fuso de sociedades de
qualquer tipo jurdico dever obedecer aos seguintes procedimentos:
a) a assemblia geral extraordinria ou instrumento de alterao contratual de cada sociedade dever aprovar o protocolo, a justificao e nomear trs peritos ou empresa especializada para a avaliao do patrimnio lquido das demais sociedades envolvidas; b) os acionistas ou scios das sociedades a serem fusionadas aprovam, em assemblia geral conjunta, o laudo de avaliao de seus patrimnios lquidos, e a constituio da nova empresa, sendo-lhes vedado votar o laudo da prpria sociedade; c) constituda a nova sociedade e extintas as sociedades fusionadas, os primeiros administradores promovero o arquivamento dos atos da fuso e sua publicao, quando couber (IOB INFORMAES OBJETIVAS, 2005, p. 2).
Para o arquivamento dos atos de fuso, alm dos documentos formalmente
exigidos, so necessrios:
a) ata da assemblia geral extraordinria ou a alterao contratual de cada sociedade envolvida, com a aprovao do protocolo, da justificao e da nomeao dos trs peritos ou de empresa especializada; b) ata da assemblia geral da constituio ou o contrato social (IOB INFORMAES OBJETIVAS, 2005, p. 2).
As Juntas Comerciais informaro ao DNRC sobre os registros de fuso efetuadas, a
fim de que este possa comunicar o fato, no prazo de cinco dias teis, Secretaria de
Direito Econmico do Ministrio da Justia, para, se for o caso, serem examinados,
conforme disposto no 10 do art. 54 da Lei 8.884/94 (esta lei dispe sobre a
preveno e a represso s infraes contra a ordem econmica).
50
Arquivamento dos atos de incorporao
Ainda observando IOB Informaes Objetivas, o arquivamento dos atos de
incorporao, alm dos documentos formalmente exigidos, so necessrios:
a) ata da assemblia geral extraordinria ou a alterao contratual da sociedade incorporadora com a aprovao do protocolo da justificao, a nomeao de trs peritos ou de empresa especializada, o laudo de avaliao, a verso do patrimnio lquido e o aumento do capital social, se for o caso, extinguindo-se a incorporada; b) ata da assemblia geral extraordinria ou a alterao contratual da incorporada com a aprovao do protocolo, da justificao e autorizao aos administradores para praticarem os atos necessrios incorporao (IOB INFORMAES OBJETIVAS, 2005, p. 2).
a) Arquivamento dos atos de ciso
Em relao ciso, o IOB Informaes Objetivas destaca que:
a) Ciso total: ata de assemblia geral extraordinria ou a alterao contratual da sociedade cindida que aprova a operao, com a justificao e o protocolo; e ata de assemblia geral ou extraordinria ou a alterao contratual de cada sociedade que absorver o patrimnio da cindida com a justificao, o protocolo, o laudo de avaliao e o aumento de capital. b) Ciso parcial: ata de assemblia geral ou extraordinria ou alterao contratual da sociedade cindida que aprovou a operao, a justificao com elementos do protocolo, e ata de assemblia geral ou extraordinria ou a alterao