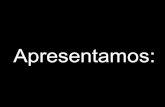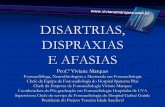VI Congreso ALAP · e seus descendentes em São Paulo acerca do ... são signos e significados que...
Transcript of VI Congreso ALAP · e seus descendentes em São Paulo acerca do ... são signos e significados que...
VI Congreso ALAP Dinámica de población y desarrollo sostenible
con equidad
A Reinvenção do Folclore boliviano em São Paulo na Circulação de Pessoas e Artefatos Culturais Willians de Jesus Santos
Etapa 3
A Reinvenção do Folclore boliviano em São Paulo na Circulação de Pessoas e Artefatos Culturais1
Willians de Jesus Santos2
Campinas - São Paulo Março de 2014
1
Trabalho apresentado durante o VI Congresso da Associação Latino-americano de Populações, realizado em Lima-Perú, durante 12 a 15 de Agosto de 2014. 2 Mestrando em Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp - (IFCH-Unicamp); E-mail: [email protected]; Projeto FAPESP (Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo – Brasil)
[3]
1. Introdução
Este artigo procura contribuir ao VI congresso da Associação Latino Americana de Populações levantando a questão de que no processo de migração os Sinais Diacríticos (CARNEIRO DA CUNHA, 1986) e os Signos Diacríticos (BARTH, 1998), trazidos da sociedade de origem, denominado de folclore na sociedade de chegada, são usados e ressignificados no novo contexto. Estes sinais constituem Tradições Inventadas (HOBSBAWN, [1984] 1997), do ponto de vista científico, e fornecem coesão, convívio e circularidade entre bolivianos e seus descendentes entre a cidade de São Paulo e a Bolívia. Neste sentido, procuramos dar vez para a fraternidade folclórica Caporales San Simón SP-Brasil e luz as suas gestualidades, os trajes e as festividades que mediam a socialidade do coletivo e que lhes permite também circular entre as duas regiões. Em nossa hipótese a Fraternidade Folclórica Caporales San Simón constitui uma Agência Cultural (ORTNER, 2007), com isto, observamos quais símbolos, ações e materialidades do país de origem são ressignificados em São Paulo, a sociedade de chegada, e como se articulam para a construção da tríade dos migrantes de ‘ser daqui, de lá, daqui e lá’ (TARRIUS, 2000, p. 41), que os mantém em contato com a sociedade de partida, a Bolívia. O estudo de método etnográfico inscreve, pois, através da escrita e da fotografia, os símbolos e as expressões corporais, mapeando assim os diversos significados sobre a origem da fraternidade na Bolívia e em São Paulo, a origem da dança folclórica boliviana e sua ressignificação no Brasil. Se a tradição denominada folclore boliviano é reinventada e lhes permite circularidade entre territórios durante algumas festividades: quais símbolos e práticas a fraternidade agencia para constituir esta socialidade na sociedade de chegada e como os atores sociais efetivam sua circularidade?
2. O Folclore e a Circularidade como perspectiva de análise da socialidade entre migrantes e estrangeiros.
Este trabalho compõe uma parte da reflexão presente no projeto de pesquisa “A reinvenção do Folclore Boliviano em São Paulo”3. O objetivo desta pesquisa tem sido compreender a reinvenção do folclore de imigrantes bolivianos na metrópole paulista, pois este constitui um conjunto de símbolos e significados (i) materiais que uma vez recriados pela prática da fraternidade media unidade e a vivência no novo contexto. Porém, este mesmo conjunto é de uso e meio para fornecer circularidade aos imigrantes entre São Paulo e alguns departamentos da Bolívia durante datas festivas.
A pesquisa que é fonte deste artigo contribui ao Projeto Temático Observatório das Migrações em São Paulo4: Migrações Internas e Internacionais Contemporâneas desenvolvido junto ao NEPO (Núcleo de Estudos de População) da Unicamp e coordenado pela Profª. Drª
3
Consideramos apresentar ao encontro um texto com base no projeto de mesmo nome aprovado recentemente pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (Brasil) uma vez que para além da bolsa concedida o trabalho atual traz reflexões de campo que precederam o presente e também nova discussão teórica contribuindo desta maneira e nestes aspectos ao congresso. 4 O Projeto Temático Observatório das Migrações em São Paulo: Migrações Internas e Internacionais tem apoio da Fapesp (Fundação de Amparo á Pesquisa no Estado de São Paulo), dedica seus esforços ao resgate da trajetória das migrações internas e internacionais no Estado de São Paulo, verificando suas implicações para a formação social paulista. Coordenado pela Profª. Drª Rosana A. Baeninger reúne pesquisadores doutores e mestres de diversas universidades e áreas de conhecimentos em ciências humanas.
[4]
Rosana Aparecida Baeninger.
Nossa reflexão teórica leva em consideração a interpretação dos imigrantes bolivianos e seus descendentes em São Paulo acerca do que significa uma fraternidade folclórica (conceito nativo), embora interpretamo-la enquanto uma forma de Agencia (ORTNER, 2007)5. A fraternidade folclórica, do ponto de vista científico, nos parece ser mediadora das relações sociais entre bolivianos e brasileiros no contexto de migração. Já o folclore (conceito nativo) é compreendido enquanto Tradições (Re) Inventadas (HOBSBAWN, [1984] 1997) que por sua vez são também um mediador do Território Circulatório (TARRIUS, 2000), ou seja, são signos e significados que conectam lugares e pessoas. A fraternidade, portanto, é uma original e interessante maneira de vida que transpassa as fronteiras culturais e os territórios políticos.
Voltamos nossa critica a compreensão da prática da fraternidade folclórica a qual parece fornecer unidade entre a primeira e a segunda geração de migrantes na cidade e que se constitui através da revitalização de representações agenciados da sociedade de origem. Existe uma dialógica entre a fraternidade - uma ação coletiva - e o folclore boliviano - uma tradição cultural – onde a socialidade destes atores sociais é mediada pela primeira e ocorre em torno da dança Caporal e de datas festivas criando ao mesmo tempo um grupo denominado fraterno - os integrantes da fraternidade - fornecendo-lhes uma diferencial experiência de diálogo entre espaços.
Além disto, o folclore, enquanto objeto de estudo, possibilita compreender novas formas da cultura popular. Encarado como ‘Patrimônio Imaterial’ (ROCHA, 2009, p.231) popular pode auxiliar, o ponto de vista cientifico, a observar e compreender a autoridade dos atores sociais na circulação de pessoas e artefatos culturais. O folclore permite a interpretação crítica científica compreender a autoria e criatividade popular em produzir artefatos culturais, em inventá-los e reavivá-los, constituindo sua coletividade e sua cidadania no processo migratório: “A invenção da cultura, mais do que fruto da imaginação ociosa dos homens, consiste no resultado de uma convenção” (ROCHA, 2009, p.231), cujo efeito é político. Este patrimônio boliviano revivido na capital paulista, visto cientificamente como tradição reinventada, acionada pela agencia cultural fraternidade, é o que permite dar voz ao povo. Este eixo nos possibilita compreender criticamente formas de coesão social nos novos contextos de inserção dos migrantes e sua contribuição para novas formas de socialidade na sociedade de chegada, são a “possibilidade de uma reflexão epistemológica sobre o papel das “teorias nativas” no pensamento antropológico [sociológico] contemporâneo” (ROCHA; 2009), ciências que se debruçam acerca dos deslocamentos.
A explicação por parte dos migrantes sobre o folclore enquanto representativo da cultura do país de origem, e como contribuinte da discussão sobre os patrimônios humanos, é fundamental a compreensão de seus usos nos novos espaços de circulação. È fundamental dar vez ao folclore e voz aos fraternos na medida em que estes mediam a produção de uma experiência coletiva e nova entre territórios. O folclore dos imigrantes dentro do contexto atual pode ser visto enquanto uma tradição [re]inventada que joga luz as formas históricas como os estrangeiros se tornam constituintes da riqueza sociocultural nas metrópoles e modificam a historicidade destes espaços. Uma riqueza que no entanto é trazida de alhures. O estudo sobre o folclore é pertinente na medida da: “[...] retomada da tradição, da memória e
5 Ao longo do texto denominaremos a fraternidade ou como ‘prática social’ ou ‘agencia’. Embora sejam palavras e conceitos diferentes ambos captam um mesmo fenômeno, sendo assim, cientificamente dão conta de uma forma de ação coletiva que media as relações sociais no uso de signos e sinais diacríticos.
[5]
dos processos de construção identitária, por meio do patrimônio imaterial, sem que isso signifique uma volta ao modelo folclorista consiste no peso dado á criatividade” (ROCHA, 2009; p. 230).
O processo de expressão e circulação do patrimônio imaterial é resultado do requerimento dos atores sociais em esforços para a inserção nos espaços públicos, portanto, políticos. Sublinha a formação de atores do processo migratório com legítimas intenções de produzirem não apenas valores e práticas comuns, mas, por um lado, a circulação de pessoas e idéias, conectando territórios, de outro a produção da memória e da cultura local obtendo, com isto, os direitos que estes títulos podem conferir.
Por fim, aprofundando a visão científica sobre o lugar da reinvenção da tradição na circulação de pessoas, poderíamos observar que os processos migratórios são constituídos por redes transnacionais conectando os territórios e as sociedades de origem dos migrantes e as receptoras. Estas redes, espaços ou “Territórios Circulatórios” (TARRIUS, 2000) são móveis e históricos. Nelas as alteridades se encontram sendo que também evidenciam ao fato de os migrantes, por meio delas, manterem vínculos com as suas sociedades, portanto, com práticas, símbolos e noções pretéritas contributivas para a construção de dispositivos coletivos de ação política, social, cultural e econômica:
“Las poblaciones en diásporas se caracterizan por três atributos esenciales: vínculos mantenidos con las ciudades, regiones, naciones atravesadas por lós suyos, complementariedad rápida morfológica, econômica, em las sociedades que acogen, aparición coyuntural en lós dispositivos colectivos de acción política, social, cultural y econômica.” (TARRIUS, 2000, p. 51)
O encontro de alteridades – entre aqueles que ficaram e aqueles que migraram - neste período é sempre transversal e se dá segundo o critério do tempo decorrido devido as mobilidades dos migrantes e a capacidade circulatória de cada indivíduo e agrupamento. Os migrantes, deste ponto de vista científico, são atores da condição de migração. E no caso dos migrantes bolivianos a atuação e a circularidade ocorrem durante, e devido, as festividades que são por sua vez os espaços onde a tradição reinventada é expressa.
3. Apreender a Tradição Reinventada no contexto migratório
As questões que levantamos e os sujeitos com quem temos dialogado nos exigem considerar, tal como fez Clifford Geertz (1978), os símbolos serem as “fontes extrínsecas” do mundo social intersubjetivo de compreensões coletivas. Tais fontes são centrais a pesquisa, deve ser observada em campo, são informativas acerca do modo de relação social entre os migrantes.
A fim de não reificar a (i)materialidade da tradição e as atuações dos migrantes, justamente, para questionar os estereótipos sobre a alteridade ,buscamos seguir o trajeto de se orientar por questões pretéritas (do pesquisador e da literatura científica) relacionando-as a interpretação do próprio migrante sobre o folclore.
È por meio desta dialógica que temos tido permissão para ouvir, observar e compreender os momentos de relações sociais e a mediação via dança, portanto, acesso as diversas interpretações, as fontes escritas impressas e visuais de aspectos que constituem os significados da (i)materialidade e das ações de cada fraterno que compõe o coletivo.
[6]
Através do estranhamento, que só vem do diálogo entre alteridades, podemos conter descrever e situar os acontecimentos cotidianos dos ensaios e especiais das festividades construindo com isto cadeias de significação científica. Nossa observação de campo é direta6 e não participava. Através dela temos reunido as partículas do real, ou seja, observamos e registramos as interpretações, as ações, os símbolos e a lógica de vida nativa inscritas no contexto do cotidiano (FONSECA, 2004, p.10) e das festividades.
Além disto, de acordo com Zaluar (1986), a alteridade se apresenta na pesquisa de campo etnográfica, em especial, nos gestos, nas posses de objetos, hábitos de comer, andar, vestir, falar ou nos rituais. Mas é também esta forma de operar uma história de relacionamento problematizado porque sujeito á relações de poder: “A alteridade e a desigualdade estão até mesmo nos obstáculos microscópicos postos á comunicação a serem vencidos passo a passo, nos desentendimentos e desencontros a serem contornados no cotidiano da pesquisa, na incomunicabilidade ás vezes conscientemente manobrada pelos nativos (ZALUAR; 1986, p.115)”.
A pesquisa etnográfica se realiza de fato, ou seja, compreende ‘o outro’ (sempre do seu ponto de vista), quando a experiência afeta e transforma o pesquisador. È por isto que o processo do “Estranhar” e do “Distanciar” (DA MATTA; 1981) é central. Não se trata de um fetiche metodológico, mas da construção dialógica do reconhecimento de ao menos alguns importantes aspectos da lógica nativa. Fundada na relação de alteridade que se torna guia e espelho aliado a todo um sentimento (por parte do pesquisador) de se sentir marginal, solitário e saudoso no mundo social este método permite a apreensão das práticas e interpretações do outro por meio do diálogo entre contextos.
Por isto procuramos seguir esta reflexividade do método e do trabalho científico, tal como pondera Cardoso (1986), pois supomos também que o observador olhe para si mesmo, contextualize seu discurso e o da pessoa com quem dialoga. Uma vez que o conhecimento pessoal, que se transforma em científico após a interpretação científica, advém da interlocução durante a observação das relações sociais mediada por artefatos culturais: “O objeto do conhecimento é aquilo que nenhum dos dois conhece e que, por isto mesmo, pode surpreender. Logo, a novidade está na descoberta de alguma coisa que não foi compartilhada e não – como quer a noção usual de empatia – na comunhão.” (CARDOSO, 1986:103)
Assim sendo, uma das primeira considerações que fazemos neste artigo é trazer a tona que os grupos e coletivos culturais se estruturam, muitas vezes, em torno de diferenças étnicas e, também, através de traços diacríticos tais como rituais, cultos, o parentesco e a tradição. Os grupos étnicos em especial se utilizam de Signos Diacríticos (BARTH, 1998) á fim localizar-se e se unirem. Em outros termos, coletividades criam-se através da revitalização de traços historicamente emergentes frente a novos contextos e ímpares. Por meio dos signos diacríticos configuram regras, práticas e fronteiras que permitem a inserção de novos indivíduos, mediam a coabitação e o comércio. Segundo Barth (1998) a identidade étnica mediada por signos e valores é imperativa, pois modela o comportamento de seus integrantes,
6 A Observação direta deste trabalho é concretizada por meio do diário de campo e do caderno de campo. Estas duas técnicas são utilizadas para o registro do conteúdo das entrevistas com integrantes da fraternidade. Estes dados permitem compreendermos as interpretações dos migrantes sobre o que ocorre na Bolívia e o que ocorre em São Paulo, inferindo-se, posteriormente, numa análise sociológica, quais práticas sociais e símbolos circulam entre os dois países, ou seja, são ressignificados e como mediam a socialidade dos migrantes aqui e lá.
[7]
através da imposição de papéis sociais e status morais, ou seja, através da tradição produzem coesão social.
Neste caminho é possível afirmar que a identidade étnica, durante os processos de deslocamento e migratórios, mantém-se através da celebração de festas típicas, da alimentação e da religião, etc, portanto não é natural, mas socialmente criado por seus atores que se utilizam de regras de pertencimento e de reconhecimento dispondo “[...] de suas próprias regras de inclusão e exclusão (MANUELA; 1986 p.111).”
Apesar de sua aparente anacrônia os grupos étnicos - reconhecidos e compreendidos neste artigo como tradicionais - não são vestígios de um passado que ainda permanece, embora, sua atuação coletiva perpasse pela seleção de alguns artefatos ulteriores que exibem áqueles que serão seus novos filiados. O que fazem é resgatar certa tradição cultural diferenciando-se de outros parceiros ou rivais e o que ressignificam são os Sinais Diacríticos (MANUELA, 1986) para novas necessidades. Coletividades em processo de inserção em novos contextos fazem da tradição cultural um modo de prestígio e, por outro, uma forma de construir sua socialidade e sua unidade:
“A cultura original de um grupo étnico, na diáspora ou em situações de intenso contato, não se perde ou se funde simplesmente, mas adquire uma nova função, essencial e que se acresce ás outras, enquanto se torna cultura de contraste: este novo princípio que a subtende, a do contraste, determina vários processos. A cultura tende ao mesmo tempo a se acentuar, tornando-se mais visível, e a se simplificar e enrijecer, reduzindo-se a um número menor de traços que se tornam diacríticos.” (MANUELA, 1986, p.99)
Estes traços diacríticos culturais resgatados estão longe de ser determinados biologicamente, mas, são constantemente reinventados, recompostos e ressignificados. A organização coletiva e a socialidade realizada por meio de seus usos é a resposta ás condições políticas e econômicas novas, portanto, estes grupos servem-se de certo arsenal cultural pretérito não para conservarem-no, mas para recriá-lo com novos finalidades. Os elementos culturais da tradição são rearranjados e apresentados como novos, embora extraídos de seu contexto original e pretérito, recebam ressignificações outras. Um destes traços, justamente, é a língua. Ela é o elemento mais concreto da permanência dos sistemas simbólicos que organizam a percepção e atuação no mundo, além do fato de ser um diferenciador social, embora em nosso caso a língua é a dança e o traje folclórico.
Nosso objetivo não é pensar a fraternidade enquanto um grupo étnico, nem, tampouco, ver a constituição da identidade dos imigrantes no contexto migratório. A proposta destes dois antropólogos cabe a nossa reflexão sobre a formação de coletivos em processo de usos de artefatos culturais no contexto migratório. É um bom ponto de partida ao compreendimeto da fraternidade folclórica como um coletivo constituído em torno do projeto de agenciamento e uso de signos e sinais diacríticos para composição de suas relações sociais na capital paulista e com alteridades na Bolívia. Portanto, os migrantes ao fazer uso da tradição reinventando-a evidenciam que são atores sociais utilizando as tradições para recriar experiências e dialogar entre contextos.
A fraternidade folclórica pode ser vista cientificamente como Prática Social (ORTNER, 2007) que faz uso de símbolos, de danças, artefatos culturais diversos, trajes, festas, de seus países de origem para mediarem suas Relações Sociais (ORTNER, 2007). Seus fraternos são, portanto Atores Sociais (ORTNER; 2007) que reproduzem e transformam a mesma cultura da qual partilham. Tal prática social indica que estas vidas sociais são
[8]
construídas para a realização de metas e projetos, são Jogos Sérios7 (ORTNER; 2007), envolvem ações intencionais.
Uma fraternidade folclórica, cientificamente, pode ser compreendida enquanto Agencia (ORTNER, 2007), ou seja, uma linguagem, um projeto cultural historicamente determinado e ao mesmo tempo transformador da história e da cultura; um improvisado de relações voltado para a construção de socialidades. È uma linguagem que não só ressignifica símbolos, mas, constroem aos seus atores como tais, sujeitos históricos e de ação social:
“Assim, como todos os humanos têm capacidade de linguagem, mas precisam aprender a falar um idioma particular, todos os humanos têm também a capacidade de agência, mas as formas específicas que esta assume variam nos diferentes tempos e lugares.” (ORTNER, 2007:55)
Por fim, os fraternos são os atores que recriam a fraternidade. São sujeitos histórica e
culturalmente determinados sendo que suas práticas – a recriação da fraternidade - trata-se de um projeto que ressignifica o folclore mediando por meio dele a socialidade dos migrantes: “esses projetos culturais são jogos sérios, o jogo social de metas culturais organizadas em e em torno de relações locais de poder” (ORTNER, 2007). E é justamente esta agencia cultural, historicamente reconstruída e jogada na metrópole paulista, que reinventa práticas e símbolos ulteriores (o folclore) relacionados a Bolívia, as quais mediam ainda a circulação destes atores, que procuramos trazer a tona.
A tradição inventada vista por Hobsbawn ([1984] 1997), e que nos serve de luz para pensar o folclore, trata-se, das práticas ritualizadas e dos artefatos culturais reinventados que mediam a constituição da coletividade migrante. O que a fraternidade reinventa é a tradição. A Tradição [re] Inventada8 produz continuidade em relação ao passado e a Bolívia, mas um passado histórico reapropriado que lhe é inerente neste processo, regulando-o através de tais práticas rituais e simbólicas as quais são meio de inculcar valores e normas.
As tradições históricas e culturais são recriadas no tempo e embora possam desfalecer expressam do ponto de vista científico processos de transformação social que produzem, por sua vez, novos padrões sóciohistóricos. Sua referencia é um tempo pretérito, por exemplo muitas danças bolivianas se referem a personagens do período colonial, mas seu efeito no processo de migração fornece ao migrante coesão para este lhe dar com as novas realidades territoriais, temporais e culturais encontrados no novo contexto vivido. Portanto, enquanto realidade sóciohistórica a reinvenção da tradição boliviana expressa a produção de representações socialmente partilhadas e identificações comunitárias que circulam.
7 Este conceito indica que os atores sociais são culturalmente variáveis, embora universais (porque participam de uma mesma estrutura social), são também subjetivamente complexos. São os atores sociais que jogam os jogos sérios, portanto, são eles os agentes da vida social, estão envolvidos em processos, sistemas mais amplos e complexos onde costuram solidariedades, relações de poder, relações econômicas e políticas. 8 O conceito que Hobsbawn (1997) utiliza no livro A Invenção das Tradições (1997,5ªed.) é, justamente, “Invenção das Tradições”. No entanto, reafirmamos que partimos da qualidade de sua compreensão sobre os usos de artefatos e do folclore e não de sua reprodução, sendo assim, insistimos que apesar de concordar com o autor de que as tradições são criadas por grupo políticos, neste caso dos bolivianos, trata-se de um novo uso de tradições criadas num passado e não criação de algo inédito. Nossa perspectiva é que os migrantes recriam, como uma espécie de “Bricoleur” levistrousseano, diversos símbolos, gestualidades, trajes, etc.
[9]
William9, 25 anos, integrante da fraternidade na condição de guia10 de tropa, tem uma das visões mais significativa sobre a fraternidade, ou melhor, em como no processo de reinvenção de tradições no processo migratório que ela media há também a produção de coletividade. Comentando sobre porque resolveu participar de uma fraternidade nos mostra a força de coesão que fornecem aos migrantes e seus descendentes:
“Eu to na San Simón faz cinco anos, eu não tinha contato nenhum com a comunidade boliviana, aí eu resolvi entrar, eu só jogava bola com boliviano. Minha irmã dançava num grupo chamado Kantuta há uns dez anos mais ou menos, ai eu nunca queria dançar, na realidade eu nunca queria dançar, tomei gosto assim do nada, meu contato com o boliviano era somente no futebol, jogava bola, só que aí eu acabei vendo um ensaio só, acho que é assim a paixão, porque muita gente fala muito....porque quando eu falo assim pro amigo assim brasileiro, ah você dança num grupo folclórico boliviano, ah o pessoal não tem muita cultura, alguns acham assim a coisa bonita, outros não. Tem que ir lá e assistir, eu assisti um ensaio, tomei gosto e entrei...tem que olhar, porque assim, o boliviano é muito pregado á cultura. Eu acho isso legal da Bolívia, eles não largam a cultura por nada, tem uma festa, o carnaval da Bolívia você faz com danças culturais, então é...acho uma coisa sensacional, uma coisa que eu não vejo aqui, entendeu? Muita cultura, eles pegam as raízes, roupas típicas, dançam com fé e devoção, acho isto bem legal.”11
A fala interpretativa deste fraterno é explicativa sobre como a dança do país de origem
é um modelo para a convivência social dos mais jovens através de signos e sinais diacríticos (a tradição reinventada) em novas cidades mediadas pela fraternidade. Embora seja um relato sobre sua trajetória. Ela nos fornece uma noção de como a tradição é recriada por seus atores, justamente, para que detenham modelos para o comportamento diante das mudanças (a migração, por exemplo), embora a referencia não seja um passado político, no caso, é por meio da linguagem da dança, da linguagem da tradição, a inserção no novo, portanto:
“Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado”. (HOBSBAWN, [1984] 1997, p.09)
Pode-se pensar, então, que a tradição inventada é um sistema simbólico diacrítico que em contextos de encontro, circulação e mudança fornecem e mediam a construção da coletividade. A dança folclórica boliviana uma vez institucionalizada serve aos propósitos das fraternidades.
Por fim, afirmamos haver um processo dialético entre a fraternidade ser projeto cultural de agenciamento da tradição inventada - ressignificando e revivendo signos e sinais diacríticos - e ser também a produtora de socialidade fornecendo-lhes por isto mesmo um original modo de vida na metrópole paulista, ou melhor: “Mais interessante, do nosso ponto 9 Todos os nomes presentes neste artigo são fictícios. 10 Mais a frente explicaremos uma série de títulos inerente a prática da fraternidade e sua relação com os símbolos e valores da tradição cultural. 11 Esta entrevista foi realizada no contexto de uma apresentação da fraternidade folclórica San Simón durante a 18ª do imigrante no Museu do Imigrante em São Paulo no ano de 2013. Embora não reproduzimos todo o diálogo, alertamos que a fala do jovem foram respostas á algumas perguntas nossas sobre o contato que ele possuiu com o folclore e a fraternidade ao longo de sua trajetória.
[10]
de vista, é a utilização de elementos antigos na elaboração de novas tradições inventadas para fins bastante originais” (HOBSBAWN, [1984],1997, p. 14), e um destes fins é o atravessamentos das fronteiras políticas, culturais e históricas.
4. Descrever Visualmente e Compreender o Patrimônio (I) material de Lá e Cá
A) A descrição visual como auxilio dos dados etnográficos
A imagem fotográfica12 é um importante recurso na pesquisa de campo sobre
imigração e cultura pois auxilia o registro do ato da dança e os trajes utilizados no contexto
festivo da sociedade de chegada e de partida.
A fotografia, como recurso etnográfico, pode ser vista como um meio de observação
etnográfica e interlocução com os imigrantes, produzida no ato da pesquisa destinada ao
objetivo de obter informações. Já enquanto dado bruto a ser analisado dentro de uma reflexão
científica pode demonstrar e enunciar conclusões nas análises sociológicas. As imagens
produzidas pelo pesquisador durante a observação direta expressam tanto uma parte do real, a
própria subjetividade que move a pesquisa, quanto uma intervenção e diálogo com este real
através da câmara e do ato fotográfico, quer dizer, a familiarização do ator científico com os
atores sociais ‘pesquisados’, a formulação das primeiras questões teóricas e, principalmente,
vivencia no cotidiano da comunidade relacionada com a percepção inicial de aspectos que os
envolvem.
As imagens fotográficas, portanto, podem ser classificadas de acordo com Guran
(2000) em Emique e Etique. A Emique é o conjunto que expressa a auto-reapresentação da
comunidade estudada, são as fotos produzidas pelos atores sociais e utilizadas pelo
pesquisador em meio ao seu texto científico. Estas fotos revelam a maneira como o grupo se
vê ou preferia ser visto. È um tanto o instrumento de pesquisa quanto objeto de pesquisa. A
Etique, por sua vez, é a foto produzida pelo pesquisador, este material portanto está
relacionado aquilo que o pesquisador quer constatar, ou seja, sua hipótese a se confirmar, por
isto é mais um procedimento de recolha de dados. Este tipo de fotos subdividem-se em
fotografias “para descobrir”13 (GURAN, 2000) e fotografias “para contar”14 (GURAN,2000).
12 A saber sugerimos alguns bons trabalhos que fazem abordagens teóricas e metodológicas sobre o uso de imagens e de fotografia nas áreas da sociologia e da antropologia, ver: Antropologia e Imagem (2006) de André Barbosa e Edgar T. da Cunha; Sociologia da Fotografia e da Imagem (2008) de José de Souza Martins; O ato Fotográfico (1998) de Etienne Samain (org.); Desafios da Imagem. Fotografia, iconografia e vídeo nas Ciências Sociais (1998) de Bela Feldman Bianco (org.) e Miriam L. Moreira Leite (org.). 13 A fotografia para descobrir possibilita captar o inesperado, o imprevisível e ainda absorver fatos singulares. È aplicável aos estudos das relações sociais em que os indivíduos se definem por sua linguagem
[11]
Barbosa & Cunha (2006) explicam que o uso de imagens para registro de informações
em situações de campo assume o objetivo de ser exemplo palpável de contextos. São formas
de descrições visuais e de situações úteis enquanto ponto de partida para reflexão sobre
determinadas situações, sobretudo, estas imagens são mediadores de vínculos e diálogo entre
sujeitos no campo. Além do dialogo as fotos possibilitam compreender as regras e os códigos
de uma cultura, assim, são a expressão das situações significativas, os estilos de vida, os
gestos, os atores sociais e seus rituais, aprofundando a compreensão de expressões estéticas e
artísticas. O contexto da produção da imagem é importante para se perceber os significados de
cada gesto registrado, quanto viabiliza a construção de um quadro visual, e ainda quais
significados estão em jogo com a presença da imagem. “As imagens fílmicas, tal como mitos, rituais, vivências e experiências, condensam sentidos e dramatizam situações do cotidiano, descortinando a vida social e seus contextos de significação. Os aspectos recorrentes e inconsistentes do agir social estão igualmente presentes nas imagens fílmicas e fotográficas, cabendo ao pesquisador investigar as relações que se constroem e os significados que as constituem.” (BARBOSA & CUNHA, 2006, p. 58)
Por fim, embora seja auxílio e meio de registro e de contextualização as imagens
fotográficas são maneiras de olhar e pensar do pesquisador. A compreensão do real, ou seja,
das relações sociais dos imigrantes e seus descendentes só é capaz de captar e compreender se
estiver auxiliada por teoria social e por interpretação ‘nativa’. A descrição visual, enquanto
descrição visual construída na relação entre o pesquisador e os atores, pode e deve ser
utilizada com outros dados e fontes a fim de aprofundar a compreensão do universo social que
expressam visualmente, tais como, os sistemas de atitudes, a relação das cores e das roupas, a
formação das identidades, das mentalidades e das coletividades, permitindo compreender a
organização social, os valores e padrões de comportamento envolvido nos usos do folclore.
B) A Fraternidade Folclórica Caporales San Simón
Atualmente ocorre um aumento de fraternidades folclóricas bolivianas em São Paulo diversificando a expressão do gênero artístico da dança na cidade, mudando a forma da
gestual, como as danças, por exemplo, mediando a compreensão de interesses de representação, portanto, permite o acesso de informações centrais que não seriam de outra forma por outros meios, tais como os olhares, as expressões faciais, as mímicas, o movimento do corpo segundo ordem de valores, etc, em outros termos, ela media a descrição etnográfica. Segundo Guran (2000) este tipo de material fotográfico pode ser utilizado em entrevistas com os informantes, ser referencia de construção do objeto de estudo, e também podem fornecer mais significados a medida que a pesquisa avance, ampliando compreensões e explicações. 14 Já este tipo de foto revela o momento em que o pesquisador compreendeu seu objeto, considerando as situações e os gestos da cultura estudada e desenvolvendo com ela reflexões teóricas. A foto, neste caso, é um apoiador da teoria ou de outras técnicas e informações.
[12]
visibilidade sobre os bolivianos para outro lugar que não só a questão do mundo do trabalho15, fatores que se conectam, justamente, com a entrada em cena de uma nova geração16. Um dos grupos de maior destaque neste momento é a Fraternidade Folclórica Universitários Caporales San Simón que em todas suas apresentações e festas expressa a dança folclórica ‘Caporal’, embora não seja a única a fazê-la.
A fraternidade San Simón é originária da Universidad Mayor de San Simón, fundada por estudantes locais por volta dos anos 1978 em Cochabamba, espalha-se ao longo dos anos por outros departamentos da Bolívia, emergindo em 2007 na Paulicéia. Com 34 anos de existência para a primeira e 6 anos de existência a segunda esta mesma fraternidade ainda está presente em outros países: EUA, Inglaterra, Argentina, Espanha, Suécia, etc.
Auto intitula-se uma família dedicada a “bailar” para as “mamitas” (santas) e expressar toda a “riqueza” cultural do país de origem, a Bolívia. Lê-se a riqueza das danças, das músicas, das cores, dos trajes, etc. Neste caso, é composta por jovens bolivianos, recém chegados a cidade, e brasileiros filhos de bolivianos. Muitos de seus integrantes originam-se de diversas regiões boliviana, apesar de haver predominância de cochabambinos, muitos deles são pascenhos, orurenhos e crucenhos, aproximadamente 123 pessoas compõem-na.
A expressão fraternidade folclórica é antes de tudo um conceito nativo que interpreta a prática de construção de uma coletividade, uma unidade, composta por fraternos. Fraternos é denominação e um título que recebem alguns migrantes ou brasileiros ao serem inseridos e aceitos na fraternidade após um ‘batizado’. Ao receber esta posição têm acesso a certos direitos: receber informações dos dias de ensaios e apresentações, serem convidados para festas, poder comprar camisas, jaquetas e o traje folclórico, ter o prestígio de dançar e carregar o nome da fraternidade na cidade, poder viajar para a Bolívia e compor a tropa estrangeira da fraternidade durante o carnaval lá, etc.
Reinaldo17, 34 anos, diretor da fraternidade San Simón, e dançarino da mesma, numa interpretação que nos forneça uma compreensão aproximada a realidade brasileira compara a 15 Boa parte dos grupos folclóricos e as fraternidades bolivianas em São Paulo estão organizadas pela centralidade da Associação Cultural Folclórica Brasil Bolívia, fundada em 2006 é composta por 13 grupos folclóricos, reconhecidos dentro e fora da comunidade boliviana. Esta associação teria por seu histórico na cidade de São Paulo a participação em 2007 do Carnaval Pholia no Memorial da América Latina em um evento realizado pela associação de Bandas, Blocos e Cordões Carnavalescos do Município de São Paulo em que se manifestaram tanto membros do carnaval brasileiro quanto estes grupos. A associação se dedica a organizar, principalmente, a festa que acontece nos dias 3 e 4 de agosto e que comemora a indenpendencia da Bolívia e a devoção ás Virgens de Urkupiña e Copacabana. Deve-se dizer ainda que os 13 grupos não fazem parte da totalidade daqueles presentes na cidade, conforme constatei em pesquisa de campo, mas são uma grande maioria e os de maior visibilidade. 16 Do estoque de bolivianos identificado pelo censo demográfico de 2000 (20.388 pessoas), apenas 10% dos imigrantes haviam chegado antes dos anos 1960 (2.658 bolivianos e 2.594 entre 1960-1969), marcando a importância desse movimento migratório desde os anos 1970 (3.263 imigrantes entre 1970 - 1979). Depois dos anos 1990 chegaram ao país 7.700 imigrantes, explica BAENINGER (2012, p.16). Contudo, a quantidade de bolivianos parece ser maior do que indicam os dados do censo demográfico de 2000 nos conta Bassegio (2006 apud BAENINGER e SOUCHAD; 2007, p.5) entre 150.000 a 200.000 bolivianos estariam irregulares na Grande São Paulo. Quanto a situação geracional destes migrantes Camargo & Baeninger (2012, p.188-89) indicam, a partir de dados do Censo IBGE de 2000, na cidade de São Paulo haver cerca de 7.722 bolivianos. Desta quantidade: “(...)5.824 pessoas que foram declarados como filhos, é possível observar que 4.887 são de segunda geração, ou seja, nascidos brasileiros que tenha ao menos um dos pais de origem boliviana; 801 são da geração 1.5, ou seja, nasceram no exterior mas chegaram ao Brasil com 12 anos ou menos; e 134 são de primeira geração, ou seja, chegaram ao Brasil com 13 anos ou mais, embora a maioria tenha chego antes dos 20 anos de idade.” 17 Todos os nomes dos entrevistados neste texto são fictícios.
[13]
fraternidade com uma outra forma coletiva de expressão de dança e bem conhecida dos brasileiros, a qual, faz uso de danças populares durante datas festivas. Em em sua visão uma fraternidade:“È igual escola de samba; Por exemplo, eu sou da gaviões [da fiel] e você da vai-vai”. Mas, de acordo com Fabio, homem de meia idade, integrante sob o título de Achachi em 2013, a fraternidade significa mais do que um coletivo que expressa danças tradicionais:
“Fraternidade significa amizade. Por exemplo, eu e o Fernando nos conhecemos na fraternidade, foi ele quem me apresentou. Cada um dançava em um grupo, daí montamos este. Muita gente saí de um e entra em outro. Em cada fraternidade que você passa deixa amigos. Muitos jovens tão aqui porque gostam da dança, porque tem amigos, a gente sabe que nem todos é por devoção.”
Esta foto é significativa acerca do que procuramos compreender: descrevendo sujeitos que afirmativamente posaram para o fotógrafo, ou seja, sabiam que eram fotografados, mais as interpretações da parte dos fraternos sobre o San Simón, enquanto um coletivo a semelhança dos brasileiros que participam e expressam a ‘cultura popular’, relacionam-se com a alteridade local e com conterraneos devido a familiaridade que constroem, expõe o particular caso das fraternidades bolivianas que investem no resgate de simbolos e práticas no contexto migratório como vem ocorrendo na cidade de São Paulo e com isto fazem uso de seus espaços.
O recado aí é claro: nós carregamos um ‘nome’ cuja importância ultrapassa fronteiras e representa um coletivo muito maior, um país até, com um passado e uma história comum. Bem como representa um coletivo que não possui um brasão por que é só uma associação que expressa uma dança. Mais do que isto se trata de um coletivo que expressa gestos históricos e
Foto 1 Fraternos segurando chapéus e bandeira descrevendo a origem da Fraternidade Folclórica San Simón em apresentação no Memorial da America Latina no dia 4 de agosto de 2013.
Fonte: Material do Pesquisador
[14]
possui também certa origem, certa ‘tradição’, digamos. Quer dizer, a bandeira e o orgulho dos fraternos diante dela (presente na foto), bem como a significativa fala dos fraternos entrevistados, dão conta de uma unidade que se forma por meio do uso de símbolos e práticas diferenciadoras e de senso de “nós” cujo eixo são os sentimentos de pertença e reconhecimento, embora veiculado aos locais, participando do espaço público.
C) A Dança e o Traje Folclórico mediando relações
Se existe algo do que os fraternos se orgulham, certamente, são seus trajes e suas danças. Embora, o folclore boliviano envolva uma série de narrativas, gestos, cores, sabores, imagens, ícones, etc. temos como eixo duas características mais fortes e evidentes que envolve a socialidade da fraternidade sob os quais aqueles sentimentos de reconhecimento e pertença media a inserção no espaço público local e são certamente os signos e sinais diacríticos mais resgatados neste processo migratório e de circulação.
O folclore é um conceito nativo que classifica um complexo de artefatos e práticas. As danças bolivianas, em especial, são historicamente emergentes e muitas vezes se referem á idéias, acontecimentos ou personagens antigos da região de origem, sendo expressas no contexto da devoção religiosa ou em eventos ligados aos cidadãos locais. A ressignificação da dança ocorre durante os ciclos de festas marcando usos dos espaços da cidade e apesar de algumas modificações em relação aos usos que acontecem na Bolívia, sua expressão na capital, durante o ritmo de vida na localidade, cria de certa forma um diálogo com os cidadãos paulistanos.
A dança folclórica expressa pela fraternidade San Simón em diversas ocasiões religiosas ou não religiosas é o Caporal. Contam os migrantes que o Caporal é a dança que se origina com os africanos na Bolívia, é a dança ‘dos negritos’. Tem origem noutra dança chamada Saya, também afro boliviano, sendo descrita ainda enquanto uma expressividade mais valorada pelos jovens. Embora seja originaria da região dos Yungas boliviano ao passar dos anos é reutilizada no contexto do carnaval de Oruro quanto em Cochabamba e, atualmente, também na cidade de São Paulo durante as festividades que envolvem as celebrações as santas.
A dança representa dois personagens: um homem de chapéu que significaria o ‘Capataz’, aquele que açoitava os escravos, agredindo-os com chicote e que usava um chapéu e botas com cascáveis. Outro personagem se trata da filha do fazendeiro onde trabalhavam os escravos. Embora, também a dançarina seja interpretada como a personagem que provocava o capataz através do seu charme. Sendo assim, os fraternos, durante o ato da dança devem usar roupas folclóricas que representem estes personagens. Os homens, por exemplo, utilizam botas com chocalhos que quando andam ou saltam acompanham e compõem com o corpo parte da musicalidade da dança; devem usar chapéus ou chicotes nas mãos. As mulheres, por sua vez, fazem uso de saltos, saias curtas, dançando de maneira elegante e expressando sorriso demonstrando certo charme.
Foto 2 Foto 3 Fraternos apresentando o Caporal durante a 18ª do Imigrante no Museu da
imigração em São Paulo
[15]
Fonte: Material do Pesquisador18
No ato da dança, fazendo uso do traje folclórico, os fraternos organizam-se conforme uma série de classificações, assim, em Tropas os integrantes subdivididos em coletivos conforme seus gêneros executam passes em devoção ás santas. A tropa é um conceito que interpreta a divisão entre masculino e feminino durante o ato da dança caporal, alias, esta relação se expressa em gestualidades diferentes, ou seja, em maneiras de se bailar masculina e feminina. Neste sistema a tropa masculina é classificada em diversas categorias tais como Machos, Ruchos e Achachis. E as mulheres de Cholitas. No entanto, talvez como uma subversão de gênero, na tropa masculina há alguns personagens interessantes como as Machotas - mulheres que no ato da dança executam os mesmos gestos que os homens, embora o contrário não ocorra. Na tropa feminina há também algumas categorias que, porém, diferenciam umas de outras, dotando-lhes um certo prestígio. As Tinas são diferenciadas e admiradas por sua altura, por exemplo. A Miss e a Preferida são diferenciadas por sua ‘beleza’. Cada tropa detém um Guia, aquele (a) que orienta os ritmo dos dançarinos, intensificando ou não o seu movimento, numa gestualidade que explora e perpassa os espaços.
As roupas folclóricas, utilizadas apenas neste momento, são um importante conjunto de signos e sinais diacríticos que compõem a tradição reinventada e define a socialidade dos migrantes, inclusive determinando quem é de dentro e quem é de fora. Sem o traje de dança não é possível se integrar a fraternidade, não é possível ser um dançarino do San Simón, ou seja, não é possível ser um fraterno. Produzidas apenas na Bolívia em diferentes departamentos locais e diferentes oficinas são enviadas para todos os integrantes na cidade de São Paulo. Os trajes atuais, porém, diferenciam-se do emergente na época da colonização, bem como do início da fraternidade nos anos 1970, sendo que agora estão mais ‘estilizados’, segundo os migrantes, e ano a ano suas cores, seus signos e a sua costura muda.
18 Estas fotografias descrevem dois Fraternos. A foto dois descreve a gestualisação dos sentimentos de simpatia e de charme de uma integrante durante a 18ª Festa do Imigrante no Museu da Imigração em 2013. E a foto três descreve um fraterno, sob o título ainda de Guia – por isto do seu uso de apito na boca – dançando gestualisando com o chapéu que represente o ‘capataz’.
[16]
Fonte: Material do Pesquisador19
A justificativa de Reinaldo para a roupa ser produzida na Bolívia é o fato de que a produção na cidade de São Paulo ser custosa. Porém, não é incomum integrantes afirmarem que o motivo se deve porque lá há qualidade única de confecção e costura que não há em outros lugares. Contudo, é preciso dispor de elevada verba para deter este artefato cultural de pouco mais de R$700,00 dólares ao menos no caso do San Simón durante o ano de 2013.
È preciso lembrar que a dança folclórica não é de uso ‘cotidiano’. Se na Bolívia é comum o uso de certos trajes, como a Polera (saia extensa utilizada por mulheres) e das longas tranças. Estes trajes folclóricos são apenas de uso para o caso de festividades, nem nos ensaios – com excessão de outras vestimentas como botas ou camisetas e jaquetas com descrições que contém o nome da fraternidade e seu ‘logo’, quer dizer, símbolo de nomeação – é de uso. Por outro é marcante também como são meios não apenas de demarcar o reconhecimento entre fraternos, ou seja, ‘quem é de dentro’, mas, paraxolmente, classifica quem é de fora. Assim sendo, as práticas de resgate a despeito de um desejo de que sejam para todos devido a forma como é produzido os trajes, o valor material, e o valor simbólico que gera o ato da delimitação, esta experiência acaba sendo para alguns.
5. Considerações Finais: Criar lá, reinventar aqui, ser daqui e de lá !
No processo de migração a formação dos coletivos é determinada pela temporalidade. Tarrius (2000), neste sentido, propõe observar este fenômeno histórico através da tríade “espaço, tempo e identidade20”, pois o tempo conforma os ritmos de vida social onde se 19 As duas fotos servem bem a título de comparação. As duas tropas são masculinas, na primeira (foto quatro) os fraternos vestem azul, dourado, branco e prata e fazem uso do traje utilizado durante as festividades de 2012, embora a foto seja o registro de apresentação durante a 18ª Festa do Imigrante em São Paulo em 2013. A segunda (foto cinco) é um registro sobre os Achachis trajando vermelho, marrom, branco e detalhes em azul e laranja, roupa esta de 2013 utilizada durante a festa em 4 de Agosto no Memorial da América Latina. 20 Tarrius (2000) é crítico ao uso da categoria “etnia” para definir este ator que circula, prefere, por isto, a terminologia estrangeiro. O estrangeiro é definido em relação ao autóctone ou nativo (aquele que permanece no território circulatório). O termo estrangeiro capta melhor a diversidade de sujeitos envolvidos no processo circulatório além do fato de que os espaços são constituídos por normas e regras que muitas vezes não tem referencia étnica. Embora o autor não descarte que os migrantes compõem este território circulatório e que a identidade é produzida e reafirmada neste processo, Tarrius (2000) procura dar luz ao fato de que a circulação
Foto 4 Foto 5
Tropas masculinas apresentando-se durante a 18ª do Imigrante em São Paulo (foto 4). E durante a festa de 4 e 5 de Agosto no Memorial da America Latina em 2013 (foto5).
[17]
conformam as práticas coletivas de participação em ciclos de festas e a reativação de coletividade através da cultura (i) material, por exemplo. A memória no processo de migração é a marca especial da consciência histórica que perfaz a consciência de coletivo, e sua produção simbólica, e que por sua própria característica de circulação está incessantemente em negociação e reconstrução. Por isto o território ocupado pelos imigrantes seja na circulação rápida ou em permanência acima de tudo é memória (i) material.
O Território Circulatório21 (TARRIUS, 2000) construído pelos atores sociais é a memória que permite aos circulantes possuírem referencia de movimentação, de agregação de redes e pessoas e é o que lhes permite fazer circular materiais e idéias. A fraternidade folclórica enquanto ação de reinvenção da tradição na cidade de São Paulo relaciona Bolívia e Brasil porque é também um coletivo constituído no contexto da imigração internacional conformando territórios (políticos) circulatórios por meio do uso da cultura recriada e da circulação de seus bens. O uso que os fraternos fazem do espaço de São Paulo e de Cochabamba conforma-se ao longo dos ciclos de festas religiosos, festas de caráter nacional e eventuais festas sem caráter sacro, possibilitando aos imigrantes e seus descendentes justamente a experiência do intercâmbio histórico-cultural, questionando por isto mesmo valores nacionais, normas jurídicas e fronteiras políticas.
O traje folclórico, a dança e o ciclo de festas religiosas são dois importantes aspectos de construção desta memória circulatória e do coletivo fraternidade San Simón em São Paulo. O traje folclórico evidencia regras de produção do valor uma vez que são apenas confeccionadas na Bolívia, em diferentes cidades e diferentes oficinas, enviadas para todos os integrantes na cidade de São Paulo. A sua circulação – portanto, a roupa é quase um agente migratório – é o que permite materialidades carregadas de significado relacionar a produção de valor material, o comércio e os cidadãos de Brasil e da Bolívia.
A outra forma de contato, portanto, de circularidade entre fraternos, tempos e espaço, são as regras22 corporais constituídas pela dança. A circulação motivada para a expressividade da dança permite no território de São Paulo certa participação cidadã e noutra medida contato entre pessoas de cidades diferentes. A composição corporal é ressignificada na cidade de São Paulo durante as apresentações. As gestualidades, a composição coletiva no ato da dança em divisão em tropas e os trajes utilizados nestes momentos, levam em consideração simbologias e significações produzidas no contexto Boliviano, que uma vez autorizados por outros sujeitos em Cochabamba, mediam aqui a socialidade dos migrantes.
Certamente uma das práticas que conformam a circularidade e a relação entre Brasil e Bolívia é a participação dos fraternos em datas festivas. Muitos fraternos mantêm relação com bolivianos e outros estrangeiros na Bolívia justamente durante as festas religiosas,
não opera pela via jurídica, mas pelas redes constituídas por regras éticas, valores e códigos de honra, das quais, os migrantes e seus artefatos participam. 21 O território circulatório é um conceito que permite ver os migrantes enquanto autores do processo migratório, agenciando espaços, veiculando símbolos e práticas, atravessando e convivendo com diversos traços e espaços. O território circulatório enquanto conceito é mais do que o modelo de uso dos espaços ele descreve e dá conta do tributo pago pelos circulantes para conseguirem proteção, atravessar fronteiras, superar a clandestinidades, conseguir emprego e constituir comércio. Ele demonstra e explica a constituição de temporalidades e ritmos sociais. 22 Um destes exemplos das regras em torno da dança e da fraternidade se refere aos títulos atribuíveis aos integrantes. Há uma proibição de participação de brasileiros na diretoria da fraternidade em São Paulo - títulos exclusivos de bolivianos ou filhos de bolivianos – embora, os estrangeiros não sejam proibidos de se integrarem, somente detém o título e a condição de atuarem como dançarinos.
[18]
principalmente, devocionais e do Carnaval23, conhecendo novas formas de dança, reatando laços, trazendo novas cores, sabores e trajes.
Uma prática comum das fraternidades é ser devota de alguma santa do pais de origem realizando para expressar esta fé alguma festa de novena ou velada durante o ano. O San Simón é devoto de três santas e por isto em datas diferentes homenageiam-nas tanto em festas privadas como em festas públicas. Na Bolívia, por exemplo, no mês de fevereiro os fraternos dançam em devoção á Virgem de Socavón, padroeira de Oruro e onde se localiza o principal Carnaval do país. O Carnaval Orurenho é um dos principais momentos de expressão da dança e da apresentação da daquela fraternidade no ano, pois a cidade é interpretada como o principal lugar na Bolívia onde se comemora esta festa. Também são devotos da Virgem de Urkupiña (virgem da integração nacional e padroeira de Cochabamba), local onde surgiu a fraternidade, festa esta que ocorre em agosto e é comemorada tanto na Bolívia quanto em São Paulo. Como são devotos também da Virgem de Copacabana (padroeira nacional e de La Paz) expressam sua devoção dançando o Caporal no mês de julho. Embora em São Paulo a santa seja comemorada em Agosto.
Se no país a principal festividade em que expressam o Caporal e se apresentam é este período, em São Paulo, certamente, é a festa que ocorre em agosto no Memorial da América Latina, a qual é comemorativa também da Independência do país, da Virgem Urkupiña e da Virgem de Copacabana, quando muitas fraternidades se encontram numa apresentação de dois dias. Alguns integrantes da fraternidade de São Paulo durante o Carnaval orurenho vão á Bolívia integrar um dos blocos que compõem a tropa de dançarinos e dançarinas do San Simón cochabambino durante a festa, e no mês de agosto após dançarem no Memorial da América Latina vão á Bolívia, também, comemorar a Virgem de Urkupiña. Reatualizando os períodos festivos de lá e daqui, relacionando contextos, marcando ritmos de vida e usos dos espaços, apesar de algumas modificações nos locais e nas formas dos usos.
Quer dizer, por um lado, para expressar o folclore a fraternidade agencia espaços24 da cidade de São Paulo e com isto realiza encontros para ensaios e apresentações públicas mediando a relação dos fraternos com a metrópole paulista e seus habitantes, de outro, nesta particularidade a circularidade de valores simbólicos e corporalidades são capazes de produzir 23 Em nossa experiência de campo as festas de maior destaque pelos imigrantes e os brasileiros que compõem a fraternidade foram as que se realizam durante o mês de junho e de agosto. Ainda assim para maior compreensão dos ciclos de festas bolivianos, dos significados que as envolvem e outros aspectos mais na Bolívia e em São Paulo, dos quais, porém não abordaremos neste artigo, indicamos a leitura da obra de Sidney A. da Silva: Virgem/Mãe/Terra: Festas e Tradições Bolivianas na Metrópole. São Paulo: Hucitec / Fapesp, 2003. 24 Os ensaios da Fraternidade Folclórica Caporales San Simón ocorridos no ano de 2013 na Escola Estadual Prudente de Moraes localizada na Avenida Tiradentes, no Bairro da Luz, região central próximo ao metrô Tiradentes, ao metrô Estação Luz e ao Parque da Luz, embora suas apresentações ocorram em outras lugares: igrejas, praças, etc. A escola situa-se ao lado do Parque da Luz, da Estação Pinacoteca, do Museu da Língua Portuguesa e a pouco mais de cinco minutos do Memorial da Resistência. Segundo Reinaldo, 35 anos, integrante e diretor da fraternidade, o uso da escola pelos fraternos para realizar ensaios funciona em função de autorização que a escola deve conceder. Um pedido de uso do espaço escolar por parte dos fraternos deve ser feito a direção da escola. A escola avalia e libera a presença deles nos dias acordados entre os dois. “Em troca a gente ajuda em coisas que a escola precisar. Em se apresentar em algum evento da escola”. Outro fator que permite a presença não só dos fraternos naquele espaço aos fins de semana foi a aplicação do Programa Escola da Família. Quem trabalha nelas e quem aplica o projeto são universitários bolsistas ou funcionários da instituição. Estes devem estar presentes durante quatro horas aos fins de semana em troca de ter o direito aos estudos em universidades cadastradas no programa. Com a presença deles controlando a entrada e saída das pessoas alguns espaços dela são usados para desenvolvimento de atividades esportivas, educativas e brincadeiras. Para mais informações sobre o projeto Disponível em: <http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/v2/Subpages/sobre.html>. Acesso: 28 ago.2013.
[19]
uma consciência de coletivo que relaciona o brasileiro filho de bolivianos com seus parentes – de aqui e de lá - diferenciando-se ao mesmo tempo em relação aos ‘outros’ da cidade brasileira, uma vez que esta coletividade se constitui sem perder de vista referencias de significados originários da Bolívia.
Referencias Bibliograficas BAENINGER,Rosana &Souchad, Sylvain. Vínculos entre a Migração Internacional e a Migração Interna : o caso dos bolivianos no Brasil. In: Taller Nacional sobre “Migración interna y desarrollo en Brasil: diagnóstico, perspectivas y políticas”. Organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CELADE-División de Población, con el apoyo y auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 30 de Abril 2007, Brasilia, Brasil. Pg:2-34.
BARBOSA, André. Antropologia e imagem / André Barbosa e Edgar Teodoro da Cunha. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006 (Passo –a – Passo;68)
BARTH, Frederik. Grupos Ètnicos e suas Fronteiras. In: POUTIGNAT, Philippe. Teorias da Etnicidade. Seguido de Grupos Étnicos e suas fronteiras de Frederik Bath / Philipe Poutignat, Jocelyne Striff-Fenart; tradução de Elcio Fernandes. – São Paulo: Fundação Editora da Unesp, 1998. – (Biblioteca básica).
CARDOSO, Ruth C.L. Aventuras de antropólogos em campo ou como escapar das armadilhas do método. In: DURHAM, Eunice. A pesquisa antropológica com populações urbanas: problemas e perspectivas. In: DURHAM, Eunice. A Aventura Antropológica. Teoria e Pesquisa. / Eunice R. Durham... ‘et.al.’Organizadora: Ruth C.L. Cardoso. – Rio de Janeiro: Paz e Terra,1986. pp.95-105.
CAMARGO, Gabriela de Oliveira & BAENINGER,Rosana. A segunda geração de bolivianos na cidade de São Paulo. In: Imigração Boliviana no Brasil / Rosana Baeninger (Org.). – Campinas: Núcleo de Estudos de População-Nepo/Unicamp; Fapesp; CNPq; Unfpa, 2012. 316p.
CUNHA, Manuela Carneiro da. Antropologia do Brasil: mito, história, etnicidade / Manuela Carneiro da Cunha. – São Paulo: Brasiliense: Editora da Universidade de São Paulo,1986.
FONSECA, Claudia. O Anônimato e o Texto Antropológico. Dilemas éticos e Políticos da Etnografia ‘em casa’. Teoria e Cultura. Juiz de Fora. V. 2 / n.1 e 2 Jan / Dez 2008. PP 39 – 53. Profa. e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - Participação na Mesa Redonda organizada por Leopoldo J. Bartolomé e Maria Rosa Catullo: Trayectorias y diversidad: las estrategias em investigación etnográfica: um análisis comparativo, VI RAM, Montevideo, 2005.
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Traduzido da edição publicada em 1973 por BASIC BOOKS, INC., PUBLISHERS, de Nova York, Estados Unidos da América.Tradução de FANNY WROBEL. Revisão técnica de GILBERTO VELHO. ZARAR EDITORES S.A. Rio de Janeiro, RJ. 1978.
GURAN, Milton. Fotografar para descobrir, fotografar para contar. Rev. Cadernos de Antropologia e Imagem, Rio de Janeiro, 10(1):155-165,2000. PP 155-165.
HOBSBAWN, Eric. & RANGER, Terence. A invenção das Tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 5ª Edição. (Coleção Pensamento Crítico; v. 55).
MATA, Roberto Da. Relativizando:Uma introdução á antropologia social \ Roberto da Mata – Petrópolis:vozes,1981.
[20]
ORTNER, S. Uma atualização da teoria da Prática. In: ECKERT, C.; GROSSI, M. P.; FRY, P. (orgs) Conferências e Diálogos: saberes e práticas antropológicas. Blumenau: Nova Letra, 2007.
ORTNER, S. Poder e projetos: Reflexões sobre a Agência. In: ECKERT, C.; GROSSI, M. P.; FRY, P. (orgs) Conferências e Diálogos: saberes e práticas antropológicas. Blumenau: Nova Letra, 2007.
ROCHA, Gilmar. Cultura Popular: Do Folclore ao Patrimônio. Rev. Mediações v, 14, n.1, pp. 218-236, jan / jun.2009
SILVA, Sidney A. da. Virgem/Mãe/Terra: Festas e Tradições Bolivianas na Metrópole. São Paulo: Hucitec / Fapesp, 2003.
TARRIUS, Alain. Leer, Describir, Interpretar. Las circulaciones migratórias: conveniência de La noción de “territorio circulatório”. Los nuevos hábitos de la identidad. Alain Tarrius / Universidad de Toulouse le Mirail, relaciones 83, verano 2000. Vol. XXI, pp.39-92.
ZALUAR, Alba. Teoria e prática do trabalho de campo: alguns problemas. In: CARDOSO, Ruth C.L. Aventuras de antropólogos em campo ou como escapar das armadilhas do método. In: DURHAM, Eunice. A pesquisa antropológica com populações urbanas: problemas e perspectivas. In: DURHAM, Eunice. A Aventura Antropológica. Teoria e Pesquisa. / Eunice R. Durham... ‘et.al.’Organizadora: Ruth C.L. Cardoso. – Rio de Janeiro: Paz e Terra,1986. pp.107-125.