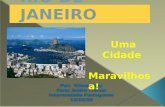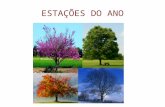Vilma Aparecida
-
Upload
natalia-luiza -
Category
Documents
-
view
245 -
download
2
description
Transcript of Vilma Aparecida
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLNDIA
INSTITUTO DE LETRAS E LINGUSTICA
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM ESTUDOS LINGUSTICOS
A interveno do professor no processo de construo da
escrita: um olhar sobre o aluno com dificuldades de
aprendizagem
VILMA APARECIDA GOMES
-
Vilma Aparecida Gomes
A interveno do professor no processo de construo da escrita: um olhar sobre o aluno
com dificuldades de aprendizagem
Tese apresentada ao Programa de Ps- Graduao
em Estudos Lingusticos da Universidade Federal de
Uberlndia curso de mestrado e doutorado, como requisito parcial para obteno do ttulo de Doutora
em Estudos Lingusticos.
Linha de pesquisa 2: Linguagem, texto e discurso
Orientador: Prof. Dr. Ernesto Srgio Bertoldo
Uberlndia
2013
-
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)
Sistema de Bibliotecas da UFU, MG, Brasil.
G633i
2013
Gomes, Vilma Aparecida.
A interveno do professor no processo de construo da escrita: um
olhar sobre o aluno com dificuldades de aprendizagem / Vilma Aparecida Gomes. -- 2013.
255 f. : il.
Orientador: Ernesto Srgio Bertoldo.
Tese (doutorado) - Universidade Federal de Uberlndia,
Programa de Ps-Graduao em Estudos Lingusticos.
Inclui bibliografia.
1. Lingustica - Teses. 2. Anlise do discurso - Teses. 3. Ensino e
aprendizagem - Teses. 4. Escrita Teses. I. Bertoldo, Ernesto Srgio. II. Universidade Federal de Uberlndia. Programa de Ps-graduao em
Estudos Lingusticos. III. Ttulo.
CDU: 801
-
Dedico este trabalho
memria de meu pai, Geraldo, pelo exemplo de serenidade, alegria e sabedoria.
minha me, Maria, por nos mostrar que o amor pela vida no tem dimenso.
Aos meus irmos, Jos Eurpedes e Maria de Ftima, pela oportunidade de
compartilharmos uma vida.
Elisa e ao Alexandre pelo carinho e cumplicidade.
-
Uma homenagem....
A meu pai
Que no escrevia com a caneta,
Mas escrevia com o olhar,
Escrevia com o sorriso,
Escrevia com a bondade.
Escrevia com a voz,
O destino da humanidade,
Que caminhava sem rumo,
Sem destino, sem amor.
Escrevia com o sorriso,
O amor pela esposa, filhos e netos.
Com o sbio olhar,
Escreveu no rosto seu ltimo Adeus!
Vilma
-
Agradecimentos
A Deus, essa fora maior, que me lana pelo mundo da determinao, da perseverana,
condio pela qual me oportunizou ensinar.
Ao meu orientador, Prof. Dr Ernesto Srgio Bertoldo, pela motivao, pela seriedade e pelo
respeito com que conduziu as suas intervenes, sobretudo, em momentos em que me
encontrava emocionalmente frgil. Agradeo, imensamente, sua acolhida, sua confiana, o
que de certa forma, contribuiu para a concluso desta pesquisa.
Aos meus pais, Geraldo (in memoriam) e Maria Jos, que souberam nos educar pelo exemplo,
nos conduzindo pelo caminho da honestidade, justia e determinao. Agradeo, ainda, pelos
ensinamentos e pelas exigncias ao longo da vida.
Aos meus irmos, Jos Eurpedes e Maria de Ftima, pela motivao e pela cumplicidade em
nosso percurso de vida, que de certa forma, singularizou a minha existncia. Muito obrigada.
Marlene que, h doze anos, dedica o seu trabalho cuidando dos meus pais.
As professoras Dr Carmen L. H Agustini e Dr Carla Nunes Vieira Tavares pela leitura
criteriosa que fizeram do meu trabalho na ocasio dos exames de qualificao.
Ao professor Dr Joo Bsco Cabral dos Santos que me acolheu muito gentilmente e aceitou
orientar-me no trabalho de rea complementar. Agradeo imensamente.
Prof. Dr Eliane Mara Silveira pela outra leitura de Saussure.
prof Dr Carmen L. H. Agustini por mergulhar-me no mundo singular de Benveniste.
Aos colegas da ps-graduao e do grupo de pesquisa- GELS, pela convivncia, pelas
discusses que muito contriburam para que eu pudesse repensar o desenvolvimento desta
pesquisa.
amiga Lazuta, pela leitura cuidadosa e ao amigo Mrcio, pela excelncia do Summary.
Muito obrigada.
Aos colegas da ESEBA: Giulliana, Walleska, Claudia, Neli, Dorinha, Mrcio, Juliano,
Clemilda, Marileusa e Vilminha Botelho pela fora e apoio em momentos em que precisei
garantir o meu direito.
amiga Vilminha Botelho pelas interlocues, o que fez com que fortalecesse a nossa
amizade.
Aos amigos, Joo de Deus e Onilda, para alm das interlocues, as boas risadas em
momentos de descontrao.
s alunas, Luza e Mariana, razo do desenvolvimento desta pesquisa.
-
O escrito no para ser lido, porque h um abismo entre o que se escreve e o que se l.
(Lacan)
-
Resumo
Esta tese surgiu das minhas inquietaes advindas da experincia em sala de aula como
professora de Lngua Portuguesa. Em sendo assim, ao examinar os dizeres que constituem as
leis que regulamentam o processo de educao inclusiva no Brasil, constatei que as discursividades engendradas, a partir desses dizeres, afetavam os agentes escolares e,
consequentemente, traziam implicaes para o processo de ensino da escrita. Analisei alguns
enunciados dessas leis, embasando-me na Anlise de Discurso de linha francesa. Mostrei
como os dizeres dessas leis foram sendo discursivizados no Brasil e no mundo e apresentei
possibilidades de interpretao que puderam engendrar discursividades as quais possibilitam
afetar aqueles responsveis pelo processo de incluso na escola. A pesquisa se desenvolveu por meio de um trabalho longitudinal o qual acompanhei, como professora e como
pesquisadora, por um perodo de dois anos, o percurso de trabalho de escrita de Luiza e
Mariana, em uma escola de ensino fundamental de uma Universidade Pblica. Essas alunas
foram afetadas pelas consequncias das discursividades engendradas pelos agentes escolares a
partir do dizer das leis sobre a incluso ao serem consideradas alunas que apresentavam dificuldades de aprendizagem na escrita. Tendo em foco essas consideraes, desenvolvi a pesquisa perseguindo a hiptese de que considerando o papel que o parecer, que designou Luiza e Mariana como alunas com dificuldades de aprendizagem, exerce na perspectiva das polticas de incluso, o professor, uma vez implicado fortemente com a subjetividade daquele que escreve scriptor pode suscitar, nesse caso especfico, mudana de posio discursiva a partir do processo de escrita, que, de certo modo, desestabiliza a perspectiva do
parecer que se pretende to categrico. Para confirmar ou refutar essa hiptese constru uma interlocuo entre os campos tericos da Anlise de Discurso de linha francesa, da Teoria da
Enunciao e da Psicanlise freudo-lacaniana. Analisei a escrita e reescrita dos textos de
Luiza e Mariana para responder pergunta: tomando como base as minhas intervenes feitas
no trabalho de escrita dessas alunas, houve indcios de que elas estabeleceram uma relao
diferente com a escrita? Os resultados da anlise indicam que os efeitos de minhas
intervenes alteraram a posio discursiva de Luiza e Mariana, uma vez que elas se
implicaram com o trabalho de escrita e buscaram meios para enfrentar as dificuldades no
momento da escrita. Puderam ainda entrar no jogo da linguagem, o que lhes possibilitou uma
relao com a escrita que nos parece ser de constituio e, em decorrncia, lhes possibilitou,
ainda, relaes outras com o saber na escola.
Palavras chave: escrita, ensino, discurso, enunciao.
-
Summary
This thesis emerged from my anxieties originated from the classroom experiences as a
Portuguese teacher. Therefore, examining the words that constitute the governing laws of the
"inclusive" education process in Brazil, I have found that the discourses engendered, from
these sayings, affected school stakeholders and, consequently, brought implications to the
writing teaching process. I analyzed some of these law statements, basing myself in the
Discourse Analysis of French line. I showed how the words of these laws were being
discoursed in Brazil and abroad, and presented possible interpretations that could engender
discourses which make it possible to affect those responsible for the "inclusion" process in
school. The research was developed through a longitudinal study in which I followed, as a
teacher and as a researcher for a period of two years, Luizas and Marianas course of writing in an elementary school at a public university. These students were affected by
consequences of discourses engendered by school workers from the "inclusion" law words
being considered students who had "learning difficulties" in writing. Taking these
considerations into focus, I developed the research pursuing the hypothesis that considering
the role that the "opinion" which appointed Luiza and Mariana as students with "learning
difficulties" has a view of the "inclusion" policies. The teacher, once heavily involved with the
subjectivity of that who writes - scriptor - may raise in that particular case, changing the
discursive position from the writing process, that somehow destabilizes the perspective of the
"opinion" that is intended to be as categorical. To confirm or refute this hypothesis I built a
dialogue between theoretical Discourse Analysis of French line, the Linguistics of
Enunciation and The Psychoanalysis of Freudian and Lacanian fields. I analyzed the writing
and rewriting of Luizas and Marianas texts to answer this research question: taking into account my interventions made in the writing work of these students, has there been evidence
that they have established a different relationship with writing? The analysis results indicate
that my intervention effects altered the discursive position of Luiza and Mariana, since they
were involved with the work of writing and sought ways to cope with difficulties at the time of
writing. They could even get into the language game, which enabled them to have a
relationship with writing that seems to be that of a constitution and, as a result, they also
resulted in relationships with other knowledge
Fields in school.
Keywords: writing, teaching, speaking, enunciation.
-
Lista de Imagens
Primeira verso do texto - A gata .............................................................................. 126
Segunda verso do texto - A gata .............................................................................. 131
Terceira verso do texto - A gata ............................................................................... 135
Primeira verso do texto - O Machucado .................................................................. 137
Primeira verso do texto - O fantasma ....................................................................... 140
Primeira verso do texto - O mito de Orfeu ............................................................... 148
Segunda verso do texto - O mito de Orfeu .............................................................. 150
Resenha do filme - A Bssola de Ouro ...................................................................... 155
Segunda verso da resenha do filme - A Bssola de Ouro ........................................ 156
Resenha do programa - TV Culinria ........................................................................ 158
Segunda verso da resenha do programa - TV Culinria .......................................... 160
Relatrio das oficinas ................................................................................................ 163
Crnica - O ladro ..................................................................................................... 163
Texto expositivo-argumentativo ................................................................................ 171
Texto - Dona Dalva ................................................................................................... 177
O fantasma ................................................................................................................ 180
Selo do correio da copa do mundo de 2010 .............................................................. 186
O povo do Egito comemora o fim da ditadura .......................................................... 189
Imagem jogo Brasil e Frana no Stade de France ..................................................... 189
Notcia - Brasil perde por 1 a 0 ................................................................................. 190
Segunda verso da notcia - Brasil perde por 1 a 0 ................................................... 191
Quadrinho da Mnica ................................................................................................ 192
Primeira verso texto em quadrinhos ........................................................................ 192
Regras do jogo ........................................................................................................... 196
-
Sumrio
Introduo.................................................................................................................. 23
PARTE I
Anlise do discurso, Teoria da Enunciao e Psicanlise: uma interface ................ 37
Captulo 1 O discurso e seus efeitos ....................................................................... 39
1. Discurso e seus efeitos ........................................................................................... 41
1.1. Os discursos da incluso: uma contextualizao ................................................ 41
1.2. Contextualizao terica: o discurso como acontecimento ................................ 46
1.3. Algumas regularidades enunciativas: as discursividades ................................... 52
1.4. Movimento dos discursos da incluso no meio escolar .................................. 60
Captulo 2 Espao escolar e construo de procedimentos de anlise .................... 65
2. Descrio da escola onde se realizou a pesquisa ................................................... 67
2.1. O funcionamento da escola ................................................................................ 68
2.2. A natureza da pesquisa ....................................................................................... 70
2.3. Um pouco de Luza ............................................................................................ 71
2.4. Um pouco de Mariana ........................................................................................ 74
2.5. Procedimentos de anlises ................................................................................. 75
2.6. Metodologias utilizadas em sala de aula: ensino de escrita por meio dos
gneros ......................................................................................................................
77
Captulo 3 Lingustica e escrita .............................................................................. 81
3. Lingustica e escrita .............................................................................................. 83
3.1. Linguagem e Lngua .......................................................................................... 83
3.2. A escrita ............................................................................................................. 88
3.3. O ensino da escrita ............................................................................................. 91
Captulo 4 - Escrita e subjetividade .......................................................................... 99
4. Escrita e subjetividade .......................................................................................... 101
4.1. A escrita como suporte material da subjetividade ............................................. 101
4.2. Um sujeito que no evidente ....................................................................... 111 4.3. A questo da transferncia em sala de aula ....................................................... 116
Parte II
A lgica que subjaz a construo lingustico-discursiva dos textos de Luza e
Mariana e o percurso de anlise..........................................................................
119
-
Captulo 1 O percurso das anlises ............................................................ 121
1.1. O percurso de escrita de Luza: um trao de singularidade .............................. 125
1.2. Outro momento de produo: outra enunciao ............................................... 161
Captulo 2 - O percurso de escrita de Mariana ........................................................ 173
2. A escrita de Mariana: um percurso imprevisvel ................................................. 175
2.1. Um possvel deslocamento enunciativo frente escrita ................................... 185
2.3.1. Os efeitos da interveno da professora na escrita de Luza e Mariana ........ 197
3. Consideraes finais ........................................................................................... 203
Referncias .............................................................................................................. 211
Anexo 1 .................................................................................................................... 223
1. Primeira verso do texto - A gata ......................................................................... 225
1.1. Segunda verso do texto - A gata ...................................................................... 226
1.2. Terceira verso do texto - A gata ...................................................................... 227
1.3. Primeira verso do texto - O Machucado .......................................................... 228
1.4. Primeira verso do texto - O fantasma .............................................................. 229
1.5.Primeira verso do texto - O mito de Orfeu ....................................................... 230
1.6. Segunda verso do texto - O mito de Orfeu ..................................................... 231
1.7. Resenha do filme - A Bssola de Ouro ............................................................. 232
1.8. Segunda verso da resenha do filme - A Bssola de Ouro ............................... 233
1.9. Resenha do programa - TV Culinria ................................................................ 234
1.10. Segunda verso da resenha do programa - TV Culinria ................................ 235
1.11. Relatrio das oficinas ...................................................................................... 236
1.12. Crnica - O ladro ........................................................................................... 237
1.13. Texto expositivo-argumentativo ..................................................................... 238
Anexo 2 - Textos produzidos por Mariana 2009 e 2011 .......................................... 241
2.1. Texto - Dona Dalva ......................................................................................... 243
2.2. O fantasma ....................................................................................................... 244
2.3. Notcia - Brasil perde por 1 a 0 ........................................................................ 245
2.4. Segunda verso da notcia - Brasil perde por 1 a 0 .......................................... 246
2.5. Primeira verso texto em quadrinhos .............................................................. 247
2.6. Regras do jogo ................................................................................................. 248
Apndice - Entrevistas .............................................................................................. 249
3.1. Entrevista 1 ..................................................................................................... 251
3.2. Entrevista 2 ..................................................................................................... 255
-
23
Introduo
______________________________
-
24
-
25
1. INTRODUO
O que me motivou a desenvolver esta pesquisa foi a minha experincia em sala de aula
como professora de Lngua Portuguesa. A minha prpria prtica em sala de aula suscitou-me
inquietaes advindas de questes relacionadas aos alunos que vo avanando para o ano
escolar subsequente sem vencer algumas habilidades de escrita. Em todas as escolas nas
quais trabalhei, um grande nmero de alunos chegava ao sexto ano do Ensino Fundamental
com dificuldades de compreenso e interpretao de textos considerados de baixa
complexidade lexical, alm de no conseguir articular o texto escrito.
Nos momentos de reunies pedaggicas, em todas as escolas em que atuei como
professora de Lngua Portuguesa, quando havia questionamento a respeito da necessidade de
reter determinados alunos para que eles pudessem desenvolver as habilidades de escrita ou de
leitura que no haviam sido alcanadas naquele ano, o argumento para que isso no
acontecesse era de que aqueles eram alunos de incluso 1 e, por esse motivo, poderiam dar
sequncia aos anos escolares mesmo sem apreender as habilidades de leitura e escrita nas
quais apresentavam dificuldades.
Mesmo quando a escola decidia reter esses alunos, alguns reprovavam por vrios anos,
outros avanavam para o ano seguinte sem superar as dificuldades e muitos deles
abandonavam a escola. Dentre as vrias razes que justificariam esses desdobramentos,
interessam-me as situaes as quais foram consequncias das discursividades produzidas no
meio educacional com a implementao da proposta de uma educao inclusiva. Beyer
(2009, p.73) afirma que a educao inclusiva caracteriza-se como um novo princpio
educacional, cujo conceito fundamental defende a heterogeneidade na classe escolar; como
situao provocadora de interaes entre crianas com situaes pessoais as mais diversas.
Mas as discursividades engendradas pelo princpio da educao inclusiva parecem-me que se
tornaram uma justificativa para facilitar o percurso dos alunos que no conseguem
desenvolver o processo de escolarizao, obedecendo ao tempo cronolgico que priorizado
1 A Conferncia Mundial de Educao para Todos, realizada em Jomtien, na Tailndia, em 1990, e a Conferncia
Mundial de Educao Especial, realizada em 1994, em Salamanca, na Espanha, de onde se originou o importante
documento denominado Declarao de Salamanca. Essa Declarao reitera e enfatiza a importncia de se
orientar uma Educao para Todos com o objetivo de atender aos grupos minoritrios, mas o fio condutor que
alinhava esse documento o acesso de crianas, jovens e adultos, considerados pessoas com necessidades
educacionais especiais, educao. Tendo como base essa declarao, foi elaborado um novo documento que
orienta os paradigmas da educao brasileira, Lei de Diretrizes e Bases da Educao/96. As consideraes sobre essa conferncia sero expandidas no captulo desta tese Discurso e seus efeitos. Alm disso, a palavra incluso est com aspas, por no acreditar que haja incluso, ao mesmo tempo em que se tenta incluir h a excluso, conforme mostro em minhas anlises.
-
26
na escola. Digo isso porque pude presenciar muitos alunos aprovados para o ano seguinte sem
terem apreendido habilidades necessrias para o desenvolvimento da aprendizagem do ano a
cursar.
Paralelamente a essa proposta de educao inclusiva que garante a matrcula de
alunos com deficincia na escola regular, foi institudo pelas Secretarias de Estado e
Educao de vrios estados brasileiros o processo de avaliao por meio da progresso
automtica. Nesse processo, o aluno era aprovado para cursar o ano subsequente sem
desenvolver as habilidades/competncias necessrias do ano em curso. A justificativa para a
aprovao do aluno era de que, no ano seguinte, seria proposto um trabalho com atividades de
reforo para que ele conseguisse desenvolver as habilidades/competncias ainda no
adquiridas. Muitas vezes essas atividades no eram realizadas, ficavam apenas no plano das
intenes, porque a prpria escola encontrava dificuldades em viabilizar o retorno do aluno e
do professor escola, e, ainda, havia a dificuldade da famlia em garantir a presena do aluno
no extraturno. Por essa razo, o aluno continuava, nos anos seguintes, com as mesmas
dificuldades.
Compreendo que as dificuldades enfrentadas pelos alunos em relao ao processo de
escrita devem ser tratadas de outra maneira. Nunca concordei com essa perspectiva de
avaliao do processo de aprendizagem de alunos com dificuldades de aprendizagem,
porque, em meu entendimento, nesses casos, os princpios da educao inclusiva no devem
ser aplicados aos alunos que no apresentam problemas de ordem cognitiva e/ou
neurolgica, caso contrrio, devem ser devidamente diagnosticados por um laudo mdico.
Por isso, nesta tese, proponho-me a mostrar como as intervenes realizadas por mim,
como professora, nos textos escritos das alunas, Luza e Mariana, que foram consideradas, por
meio de um parecer como alunas com dificuldades de aprendizagem da escrita,
possibilitaram que elas se deslocassem de um lugar passivo, at ento designados a elas, uma
vez que este lhes fora imposto pela instituio. Na escola havia vrias realidades, muitos
professores preocupavam-se e implicavam com essas questes, outros nem tanto. Deparei-me
com a realidade dessas alunas, especificamente, e pude observar que o fato de terem sido
designadas como alunas com dificuldades de aprendizagem fez com que alguns agentes
escolares2 se eximissem da responsabilidade3 de desenvolver um trabalho com essas alunas.
2 Os agentes escolares so pedagogos, psiclogos, psicopedagogos, gestores e coordenadores pedaggicos e
docentes.
-
27
Esse parecer, imputado a essas alunas, foi definido em reunies de conselho de
classe, momento em que os agentes escolares socializam os problemas enfrentados no dia-
a-dia da sala de aula e, em consenso, definem aes para resolver questes relacionadas ao
aprendizado do aluno. Embora esse parecer no tenha sido elaborado por um especialista,
ele ganha peso de um diagnstico.
Entendo que dependendo da interpretao dada lei que regulamenta o processo de
incluso, podem ser produzidas discursividades de forma a afetar a comunidade escolar,
suscitando conflitos de diversas ordens. Um dos conflitos, suscitados por esse gesto de
interpretao, foi o fato de a escola, lcus desta pesquisa, considerar as alunas participantes
deste estudo como alunas que apresentavam dificuldades de aprendizagem, sem que
houvesse um laudo mdico, apontando algum parecer de dificuldade cognitiva e/ ou
neurolgica, referente ao seu processo de aprendizagem de escrita.
Considero importante ressaltar que o parecer sobre Luza e Mariana, elaborado pelos
agentes escolares como um todo, tomou como base a histria delas desde quando ingressaram
na instituio. No caso de Luza, a famlia procurou a escola algumas vezes para conversar
sobre a timidez da filha. Os pais estavam preocupados com o desempenho escolar dela, pois
eles achavam que a timidez estava prejudicando o seu desempenho. J, em relao a Mariana,
a escola que convocou os pais para conversar sobre o seu desempenho escolar. O setor
psicopedaggico solicitou uma avaliao de um especialista, psicopedagogo, e convocou a
aluna para oficinas extraturnos. No entanto, os pais alegaram que a filha ainda no havia
despertado para o aprendizado e no acataram as sugestes da escola.
Alm desses impasses, outro fator que contribuiu para a elaborao desse parecer foi
o modo como essas alunas se inscreveram no processo de produo de textos escritos: ainda
3 Os termos responsabilidade, responsvel e ato responsvel esto sendo usados, nesta tese, tanto para se referir
s aes dos professores, como para se referir s aes de Luza e Mariana. O sentido que pretendo construir ao
usar esses termos mostrar que os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem assumem uma postura compromissada no momento em que a demanda escolar assim os exige. Na viso de Bakhtin, essas aes
de no indiferena no campo de atuao dos professores so consideradas um ator responsvel. Segundo esse
autor: o ato responsvel , precisamente, o ato baseado no reconhecimento dessa obrigatria singularidade. E
essa afirmao do meu no-libi no existir que constitui a base da existncia sendo tanto dada como sendo
tambm real e forosamente projetada como algo ainda por ser alcanado. E apenas o no-libi no existir que
transforma a possibilidade vazia em ato responsvel real (atravs da referncia emotivo-volitiva a mim como
aquele que ativo). E o fato vivo de um ato primordial ao ato responsvel, e a cri-lo, juntamente com seu peso
real e sua obrigatoriedade; ele o fundamento da vida com ato, porque ser realmente na vida significa agir, ser
no indiferente ao todo na sua singularidade (BAHTIN,2010, p. 99 grifos do autor).
-
28
no dominavam o mecanismo e o funcionamento da pontuao de acordo com a gramtica
normativa, cometiam erros ortogrficos que, em tese, j deveriam ter sido superados. H a
possibilidade de fazer essa afirmao, porque os erros ortogrficos cometidos pelas alunas
podem ter sido motivados por homofonia. Alm disso, apresentavam dificuldades em
construir os pargrafos de seus textos e, muitas vezes, escreviam em um registro muito
informal. Somadas a todos esses problemas, estavam as dificuldades de leitura e interpretao
de textos. Esse panorama em tela contribuiu para que os agentes escolares, de uma maneira
geral, apresentassem s alunas, famlia e prpria comunidade escolar, um parecer de
alunas com dificuldades de aprendizagem.
Dadas essas consideraes, todas as questes discutidas acima ganham estatuto de
problema. Isso porque as alunas que receberam essa designao sofrem efeitos advindos desse
parecer, efeitos que se mostram negativos, j que emperram ainda mais o seu processo de
aprendizagem, embora eu no discorde necessariamente de que as alunas tenham
dificuldades de aprendizagem, sobretudo na escrita. Dado o carter do parecer e, em
decorrncia de seus efeitos, nada foi feito em relao essas dificuldades, isto , algo que
pudesse se reverter em uma situao escolar a favor das alunas, Luza e Mariana. Assim, eu,
como professora e pesquisadora, no fiquei apenas com a constatao das dificuldades de
Luza e Mariana, assumi uma postura diferente diante desse quadro, ou seja, parti para um
trabalho caracterizadamente de interveno.
Nesse sentido, minhas preocupaes sempre estiveram relacionadas ao efeito perverso
que esse parecer acarretava para o processo de aprendizagem da escrita das alunas. No caso
das participantes desta pesquisa, elas se assujeitaram ao lugar que lhes fora colocado: o de
alunas com dificuldades de aprendizagem. Por essa razo, elas haviam deixado de cumprir
as atribuies que todo estudante tem a funo de assumir, tais como: procurar resolver as
dificuldades solicitando a ajuda do professor, fazer tarefas de casa e de sala de aula, realizar
leituras solicitadas pelos professores, dentre outras.
Diante do parecer apresentado pelo conselho de classe, isto , o de categorizar as
participantes desta pesquisa como alunas com dificuldades de aprendizagem em leitura e
escrita, o corpo docente como um todo deveria agir de forma a reverter a questo apresentada
a favor das alunas. No entanto, percebi que as aes que foram combinadas, em consenso,
entre a equipe pedaggica e professores, ao longo dos anos das alunas na escola,
permaneceram no nvel das intenes, porque elas chegaram ao sexto ano com as mesmas
-
29
dificuldades de escrita identificadas em anos anteriores, o que, a meu ver, contribuiu para que
elas fossem excludas pelos colegas na prpria sala de aula.
Dessa forma, eu, como professora e pesquisadora, optei, ao ter contato com a situao
das alunas, como sempre fiz durante toda a minha carreira, por intervir no processo de
aprendizagem de escrita4 dessas alunas. Intervir nesse caso significa assumir uma posio
enunciativa e discursiva de professora, e tentar fazer algo no processo de escrita das alunas
que, de alguma forma, pudesse vir a reverter em uma situao a favor de tais alunas, por
acreditar, assim como Coracini (2010, p. 40), que a escrita permite dar visibilidade
identidade da criana, mas, por outro lado, pode tambm ser o lugar do sintoma e no h uma
nica resposta para diagnosticar dificuldades de escrita, que pode ser desconhecida, pois tem a
ver com as formaes inconscientes. As dificuldades advindas da inscrio dessas alunas no
processo de ensino-aprendizagem da escrita podem estar relacionadas ao processo de
constituio do sujeito pela linguagem. Segundo Coracini (op.cit. p. 44), a criana quando se
interessa em aprender a lngua daqueles que a fizeram sujeito da linguagem, o faz por uma
espcie de reconhecimento ou gratido; porque essa lngua chamada materna ser sempre
estranha, estrangeira porque a lngua do outro.
Desse modo, entendo que, apesar dessas alunas serem designadas, pela escola, como
alunas que apresentavam dificuldades de aprendizagem, na prtica, possvel que elas
sejam capazes de desenvolver habilidades que poderiam lev-las estruturao lingustica de
um texto escrito, conforme descrito pelo ensino normativo. Por isso, acredito que, em relao
s dificuldades de se ensinar a escrever, a escrita um processo subjetivo e singular,
[...] mas possvel o professor provocar uma situao semelhante da
transferncia na clnica sem transformar a sala de aula em div. O professor
se colocaria em uma posio de sujeito suposto saber inexistente no aluno,
4 O conceito de posio enunciativa e posio discursiva, que estou mobilizando nesta pesquisa, parte do pressuposto que h
um processo enunciativo em que a subjetividade constitutiva. Em sendo assim, esse conceito perpassa por uma articulao
entre os pressupostos tericos da Teoria da Enunciao e Anlise de Discurso de linha francesa. O fato de Benveniste (1995)
definir a enunciao como um evento lingustico nico e irrepetvel, possibilitou-me entender, conforme Guimares, (2005,
p.14), a enunciao como um acontecimento. Esse entendimento viabilizou uma articulao com os pressupostos da Anlise
de Discurso da terceira fase da teorizao de Pcheux, que foram mobilizados nesta tese, o discurso como acontecimento.
Posio enunciativa da professora como um evento de acontecimento passa pelo entendimento de que um processo
envolvido de subjetividade em um determinado espao de enunciao (GUIMARES, 2005, p.18). Esse processo
reatualizado por uma memria discursiva, sendo que tanto a professora como as alunas articulam isso de modo a fazer operar
o seu desejo, ou seja, de modo a fazer operar um investimento subjetivo nesta posio. Sendo assim, o professor enuncia do
lugar de algum que detm o conhecimento e possui autoridade para ensinar e, as alunas, por sua vez, enunciam de um
espao de enunciao de quem busca esse conhecimento.
A posio discursiva da professora refere-se ao fato de que ela, em uma determinada posio enunciativa, deve assujeitar-se e
subjetivar-se quilo que est previsto discursivamente para que algum ocupe essa posio, ou seja, implica apostar no
envolvimento da docente com as suas atividades, com responsabilidade com a formao das alunas. no se colocar numa
posio de indiferena, mas assumir uma postura compromissada com o aprendizado das alunas.
-
30
que se sentiria instigado pelo desejo de saber, pelo desejo de ser o desejo do
outro, e, assim, seguir em busca do que lhe falta. (CORACINI, 2010,
p.46),
A partir dessa perspectiva, o parecer apresentado pela instituio, em relao s
alunas, caracteriza-se como uma expectativa de homogeneizao do processo de ensino-
aprendizagem da escrita, porque considera que todas as crianas desenvolvem esse processo
no mesmo ritmo e que possuem as mesmas vivncias. Essa viso de que as crianas aprendem
de forma homognea cristaliza-se justamente porque o corpo pedaggico da escola, incluindo
os professores, ao fazer a leitura das leis e documentos oficiais sobre incluso, privilegiou
uma leitura que desconsiderou a singularidade o de cada um. Segundo Mrech (2005, p. 25),
em favor de um Todo,
Pensar em uma Educao para o sujeito no a mesma coisa que pensar em
uma Educao para Todos. O Todos no diz respeito a cada um. O Todos
da ordem de um modelo moderno de Educao, que privilegia o social da
categoria e no a especificidade de cada aluno.
Esses profissionais, ao no enfrentarem o fato de que as duas alunas participantes
desta pesquisa, Luza e Mariana, tm um desenvolvimento e um ritmo que lhes so prprios,
particulares, abrem uma brecha para se afastarem da possibilidade de fazer uma diferena
nesse espao da escola, tratando as alunas como Todos e possibilitando que isso seja visto no
tratamento dado ao ensino da escrita. Por isso, assumi a postura de intervir no processo de
escrita dessas alunas, apostando na premissa da singularidade, pois justamente por esse
percurso que h, a meu ver, a possibilidade de resultados outros, uma vez que questiono a
noo de incluso da escola e entro no universo de singularidade das alunas.
Para desenvolver esta pesquisa, neste estudo estabeleo uma interface entre a Anlise
do Discurso, a Teoria da Enunciao e a Psicanlise, com a finalidade de discutir as
implicaes dai advindas para o processo de ensino da escrita, ao assumir que esses trs
campos tericos esto perpassados fortemente por um sujeito efeito de linguagem. Segundo
Kupfer (2007, p. 123-124),
[...] a principal dificuldade na apreenso da noo de sujeito reside no fato
de que ela, em muitos textos, acaba por confundir-se com a noo cartesiana,
na qual o sujeito fundamentalmente agente de seu prprio discurso e est
centrado em seu prprio eixo. Para a psicanlise lacaniana, o sujeito no se
confunde com o ego ou, se quiserem, com o eu. No responde lgica ou ao
tempo da conscincia, no se faz regular pelo princpio da realidade. Este
sujeito no coincide com o sujeito do cogito da filosofia cartesiana,
tampouco com o sujeito-organismo de Piaget. Para a psicanlise, o sujeito do
-
31
inconsciente se constitui na e pela linguagem. Desta perspectiva, a
linguagem no instrumento de comunicao, mas a trama mesmo de que
feito o sujeito. Tal formao aparece de modo evanescente, nos interstcios
das palavras, como produto do encontro entre elas. Como a fasca que surge
quando duas pedras se chocam, no est nem em uma nem em outra.
Tomando como base esses pressupostos, a noo de escrita para o desenvolvimento
desta pesquisa, por sua vez, est fortemente vinculada noo de processo de trabalho de
escrita, conceito este elaborado por Riolfi (2003, p. 47) em sua pesquisa em educao. Para a
elaborao desse conceito, Riolfi (op.cit.) d vazo noo de sujeito do inconsciente e
argumenta que existe uma especificidade no trabalho de escrita que faz com que ele se torne
radicalmente diferente das demais atividades lingusticas, porque
[...] o sujeito quem trabalha efetuando deliberadamente diversas operaes
discursivas para a construo de uma ficcionalizao, atravs da qual o
processo de construo do texto escrito fica escondido e velado para o leitor.
a escrita que, uma vez depositada grosseiramente no suporte, trabalha no
sujeito, fazendo com que ele mude de posio com relao ao prprio texto e
possa, sobre ele, exercer um trabalho (RIOLFI, 2003, p. 47).
Esse conceito desenvolvido por Riolfi (op.cit.) fundamental para o desenvolvimento
de minha pesquisa, visto que um dos focos de minhas investigaes so os deslocamentos
enunciativos, marcados textualmente na escrita das alunas ao longo dos dois anos de
acompanhamento. Observei esses deslocamentos pelos diferentes encaminhamentos dados
pelas alunas ao processo de trabalho de escrita por meio da escrita e (re)escrita dos textos,
aps minhas intervenes.
Conforme dito anteriormente, a palavra interveno est sendo aqui usada para nomear
a tomada de posio de um professor que se constitui, diferentemente, em uma posio
enunciativa e discursiva de professor. Essa tomada de posio incide no processo de trabalho
de escrita, tanto no que se refere s correes indicativas marcadas no texto, quanto na
relao intersubjetiva estabelecida entre professor e aluno.
Com o olhar voltado para esse conceito de trabalho de escrita, percebi que as alunas
puderam aprender a escrever e aprender ao escrever. Esse postulado me autoriza a trazer
para as minhas argumentaes o que Andrade (2008, p.4) considera a faceta pedaggica da
escrita. Para essa autora, a escrita ocupa um lugar privilegiado no ensino ao proporcionar a
possibilidade de os alunos serem formados e transformados ao serem submetidos aos efeitos
da linguagem em si mesmo. Nesse vis, Andrade defende que a escrita pode ser um
dispositivo a partir do qual uma pessoa aprende. O fato de trabalhar com esse pressuposto,
isto , de que a escrita ensina, permitiu-me considerar as alunas participantes desta pesquisa,
-
32
Luza e Mariana, como scriptors, termo utilizado por Calil (2008, p. 20) para apresentar suas
pesquisas sobre os manuscritos escolares. Segundo ele,
[...] O termo scriptor, e no escrevente, procurar, por um lado, evitar o sentido atestado no dicionrio eletrnico Houaiss (2001): diz-se de ou aquele que, por profisso, copia o que o outro escreveu ou dita; escriturrio,
copista; por outro, manter o termo consagrado nos estudos sobre processos de escritura e criao, em que no se tem um escritor senhor de sua escritura, mas sim um sujeito dividido, cindido, muitas vezes refm daquilo
que escreve. Assumirei ainda que o texto , para o scriptor, um espao em
que se funde aquele que escreve e aquele que l, enredado por foras de diferentes ordens (lingusticas, discursivas, culturais, histricas) que
convergem no texto produzindo-o.
Esses conceitos os quais mencionei acima so fundamentais para este trabalho,
porque, no caso desta pesquisa, a investigao tendo como suporte o texto manuscrito das
alunas, possibilitou-me desconstruir um parecer que as nomeava, e imputando-lhes o
rtulo de alunas que apresentavam dificuldades de aprendizagem.
Tendo em foco as consideraes acima, com o intuito de compreender os movimentos
ocorridos no trabalho de escrita das alunas, defendo a tese de que as discursividades
engendradas com base nos discursos de uma educao inclusiva podem afetar a constituio
da subjetividade dos agentes escolares e trazer implicaes para o processo de ensino-
aprendizagem da escrita. Por isso, considerando o papel que o parecer exerce na perspectiva
das polticas de incluso, avento a seguinte hiptese: o professor, uma vez implicado
fortemente com a questo da subjetividade daquele que escreve - scriptor (CALIL, 2008,
p.64), pode suscitar, nesse caso especfico, deslocamentos na relao das alunas com a escrita
que, de certo modo, coloca em questo a perspectiva do parecer que se pretende to
categrico.
Entendendo que o processo de ensino-aprendizagem da escrita de ordem subjetiva,
procuro responder s seguintes perguntas: a) Que efeitos as discursividades engendradas, a
partir dos discursos produzidos pelo dizer das leis sobre a incluso, podem provocar
naqueles que so responsveis na escola por esse processo de incluso? E, em decorrncia,
no tratamento dado aos alunos com dificuldades de aprendizagem? b) Baseando-se nas
intervenes feitas no processo de escrita dos textos das alunas, em diversos momentos, h
indcios de uma relao diferente com a escrita?
Tomando como base essas perguntas, desenvolvo esta pesquisa perseguindo o objetivo
geral de considerar que, por meio deste estudo, seja possvel a construo de novos sentidos
para o processo de incluso nas prticas escolares do ensino - aprendizagem da escrita. Por
-
33
sua vez, os objetivos especficos que norteiam a minha discusso procuram: a) compreender
como as discursividades, engendradas a partir dos dizeres sobre a incluso, afetam o
processo de produo escrita das alunas; b) mostrar os efeitos que as intervenes feitas pela
professora, enfatizando como essas intervenes possibilitaram o movimento das alunas com
seu processo de escrita, as quais haviam recebido um parecer de alunas com dificuldades
de aprendizagem.
Organizei a escrita da tese em duas partes e seis captulos. A primeira parte compe-
se de quatro captulos. No primeiro Captulo, intitulado O discurso e seus efeitos, discuto as
implicaes advindas dos efeitos das discursividades disseminadas a partir dos discursos de
uma educao inclusiva. Efeitos esses que podem trazer implicaes para o processo de
ensino-aprendizagem da escrita. Inicialmente, fao uma contextualizao histrica e social em
que foram elaboradas as leis que orientam a perspectiva de uma educao inclusiva. Em
seguida, busco apresentar revises tericas da Anlise de Discurso Francesa, tal como teoriza
Pcheux, dando relevncia terceira fase de sua teorizao - o discurso como estrutura e
acontecimento. Aps essa explanao terica, coloco em causa a transparncia da lngua e
apresento os conceitos que foram sendo discursivizados ao longo dos anos, no Brasil e no
mundo, tomando como base o dizer das leis sobre a incluso escolar. Apresentei tambm
anlises de alguns enunciados das leis, apresentando possibilidades de interpretao que
podem engendrar discursividades as quais possibilitam afetar aqueles que so responsveis
pelo processo de incluso.
Finalizando o captulo, coloco em foco o dizer dos agentes escolares que fazem parte
do corpo docente da escola em que a pesquisa foi realizada, apresentando como esses
profissionais subjetivaram as discursividades engendradas, tendo como foco o dizer das leis
que sustentam o processo de uma Educao Inclusiva. A partir das anlises das entrevistas,
percebi que o conceito de incluso, que disseminado na escola, o de incluso referente
deficincia e necessidade de educao especial. De acordo com esse conceito, considera-se
as dificuldades individuais que se apresentam para cada estudante, durante o seu percurso
escolar, pelas mais diversas razes, desde a deficincia mental ou fsica, at as dificuldades
que todos encontram em seu percurso de vida.
No segundo Captulo, intitulado Espao escolar e construo de procedimentos de
anlise, fao uma descrio da escola na qual se realizou a pesquisa, descrevendo sua
estrutura, corpo docente e funcionamento dirio. Fao uma descrio detalhada da natureza da
pesquisa e da construo do corpus, inclusive, discorrendo sobre a perspectiva terica
-
34
segundo a qual os textos foram produzidos e tambm apresento o perfil das participantes da
pesquisa.
No terceiro Captulo, intitulado Lingustica e escrita, apresento os conceitos de
linguagem, de lngua e de escrita que podem servir como ponto de partida para a anlise no
trabalho feito com as alunas. Para tal fim, neste captulo, trato desses conceitos tal como so
teorizados pela Lingustica na viso de Saussure (1972). Em seguida, fao algumas reflexes
sobre o ensino da escrita tomando como base a minha prtica como professora de Lngua
Portuguesa de uma escola pblica do Ensino Fundamental.
No quarto Captulo, Escrita e subjetividade apresento o recorte conceitual que tomo
como base para pensar e analisar a situao especfica de sala de aula, qual seja: a relao
professor-aluno e a produo de textos escritos. Inicialmente, exponho a teorizao de
Benveniste, apontando os indcios de que o sujeito pensado por ele no se elenca na
perspectiva de sujeito logocntrico. Em seguida, discorro acerca das noes de sujeito e
de transferncia na viso da Psicanlise freudo-lacaniana e aponto as possveis interseces
com a intersubjetividade que, segundo Benveniste, o que torna possvel a enunciao
lingustica.
Na segunda parte da tese, intitulada A lgica que subjaz a construo lingustico-
discursiva dos textos de Luza e Mariana, est organizada em dois captulos. No quinto
Captulo, O percurso de escrita de Luza: um trao de singularidade, o desenvolvimento das
anlises ocorreu em dois momentos. No primeiro ano de acompanhamento, analiso o
desenvolvimento do trabalho de escrita da aluna sob minhas intervenes, inclusive, so
analisados os textos aps a reescrita. Para isso, discuto o funcionamento lingustico discursivo
do gnero textual produzido, apontando as estratgias utilizadas por ela para estabelecer a
coerncia ao desenvolver em seu texto os aspectos discursivos, textuais e estruturais.
Paralelamente a essa discusso, problematizo os erros cometidos pela aluna em relao aos
aspectos normativos: ortografia, pontuao, concordncia verbal e nominal, enfatizando a
importncia de entender que [...] fundamental considerar o princpio de diferencial
constitutivo do funcionamento da lngua (CALIL, 2007, p. 91).
No segundo momento de anlise, Outro momento de produo: outra enunciao, as
anlises baseiam-se nos textos produzidos pela aluna no segundo ano de acompanhamento.
Nesse momento, tomei como objeto de anlise a primeira verso dos textos produzidos, sem
levar em considerao a reescrita, com o propsito de investigar os possveis deslocamentos
enunciativos que podem ter ocorrido no processo de trabalho de escrita de Luza.
-
35
No sexto Captulo, O percurso de escrita de Mariana, as anlises foram desenvolvidas
tambm em dois momentos. No primeiro momento, A escrita de Mariana: um percurso
imprevisvel, analisei os textos do primeiro ano de acompanhamento de Mariana, levando em
considerao a reescrita dos textos, e, no segundo momento, Um possvel deslocamento frente
escrita, as anlises privilegiaram a primeira verso dos textos sem levar em considerao a
reescrita. Os procedimentos de anlise dos textos de Mariana seguiram os mesmos
procedimentos utilizados para a anlise dos textos de Luza.
Nesse momento, convido o leitor a entrar no meu universo de escrita e percorrer
comigo as trilhas da escrita de Luza e Mariana, enfrentando, inclusive, os labirintos tericos
que alinhavam e entrelaam os recursos lingusticos, razo pela qual, elas perderam o controle
dos fios da escrita.
-
36
-
37
Parte I
_________________________________
Anlise do discurso, Teoria da Enunciao
e Psicanlise: uma interface.
-
38
-
39
Captulo 1
O Discurso e seus efeitos
A palavra meu domnio sobre o mundo Clarice Lispector
-
40
-
41
1. O DISCURSO E SEUS EFEITOS
Neste captulo, discorro sobre o desenvolvimento terico da Anlise de Discurso
Francesa. Esse campo terico o que me autoriza a discusso realizada, a partir do meu
objeto de anlise, em funo da maneira como a Anlise de Discurso prope a articulao
entre lngua, sujeito e histria. Na introduo, argumentei que a interpretao dada ao dizer
das leis que regulamentam a educao inclusiva gera discursividades as quais podem
acarretar implicaes para o processo de ensino-aprendizagem da escrita, visto que essas
discursividades provocam efeitos na constituio da subjetividade dos docentes da escola.
Primeiramente, tomando como base a viso metodolgica dos estudos foucaultianos,
problematizo os discursos que veiculam nas escolas sobre uma educao inclusiva e os
efeitos desses discursos no processo de subjetivao docente. Em seguida, busco sinalizar um
espao de produo de sentido que propiciou a produo de discursividades, tomando como
base a Anlise do Discurso Francesa, tal como teoriza Pcheux, dando relevncia terceira
fase de sua teorizao, o discurso como estrutura e como acontecimento e as interseces
possveis com os fundamentos de Foucault sobre o discurso, especificamente, ao que se refere
constituio da subjetividade, da verdade e do poder-saber.
1.1 Os Discursos da Incluso: Uma Contextualizao
O termo incluso escolar comeou a ser discursivizado nas escolas, fundamentado
nos princpios de uma educao inclusiva. A discusso e a elaborao das leis que orientam
essa perspectiva de escola aconteceram em meio a um contexto histrico e social de uma
poltica neoliberal. Embora ainda sejam realizadas vrias pesquisas e publicaes que versam
sobre essa temtica, parece que j se exauriram todas as possibilidades de anlises.
No entanto, entendo que ainda seja produtivo problematizar tal temtica,
especialmente, porque, na presente tese, no pretendo desenvolver uma apologia em favor de
uma escola inclusiva, exaltando os seus benefcios para a sociedade. Tampouco, pretendo
aqui apresentar crticas negativas em relao s prticas desenvolvidas nas escolas sob o vis
das polticas de incluso. A minha problematizao est focada em compreender os efeitos
dos discursos sobre as leis de uma educao inclusiva para os docentes que esto
envolvidos com o ensino da escrita.
Lopes (2009, p.154) faz um estudo a partir de anlises polticas de assistncia e de
educao, problematizando a excluso via polticas de incluso social. Ela desenvolve o seu
-
42
estudo, tomando a incluso como prtica poltica de governamentalidade. Tomando como
base o referencial terico foucaultiano, tais como os cursos: Segurana, Territrio, Populao
e Nascimento da Biopoltica que Michel Foucault ministrou no collge de France, a
pesquisadora articula tcnicas de sujeio e subjetivao com conceitos de incluso",
excluso, norma, normalizao, (neo)liberalismo e governamentabilidade e argumenta que
incluso e excluso esto inscritos no jogo econmico de inveno de um estado
neoliberal. Na perspectiva de Foucault (2004, p. 242) , a incluso um objeto do discurso,
que ele define como
[...] conjunto das prticas discursivas e no discursivas que faz alguma coisa
entrar no jogo do verdadeiro e do falso e o constitui como objeto para o
pensamento (seja sob a forma da reflexo moral, do conhecimento cientfico,
da anlise poltica, etc.).
Gomes (2004, p. 44), em sua leitura de Foucault, argumenta que as condies
histricas sob as quais o objeto do discurso imiscui-se so fundamentais para que se possa
dizer alguma coisa e a partir dele vrias pessoas possam dizer coisas diferentes para que se
possa estabelecer com ele, objeto do discurso, relaes de semelhana, de vizinhana,
afastamento, diferena e transformao.
Como objeto do discurso, esse movimento da educao inclusiva emergiu em meio
aos reflexos de uma poltica educativa, perpassada por um pensamento neoliberal. O
neoliberalismo uma corrente de pensamento conservador que, na perspectiva social, volta
aos antigos valores que idealizam instituies, como a famlia e a religio. Na perspectiva
econmica, implementa uma poltica que se harmoniza com uma conjuntura de crise e com os
postulados do Fundo Monetrio Internacional, ou seja, um regresso aos postulados do
capitalismo liberal.
No campo educacional, esta poltica efetiva-se por meio de uma real reduo do
oramento para a educao, pois a ideia produzir mais por menos. Barriga (2002, p. 53)
afirma que os fundamentos conceituais do neoliberalismo:
[...] so expressos atravs de noes como: qualidade da educao, eficincia
e eficcia do sistema educativo, maior vinculao entre sistema escolar
(entenda-se currculo) e sociais, entenda-se modernizao e/ou reconverso
industrial.
Para a lgica neoliberal, a situao catica em que se encontra o sistema educacional
considerada uma consequncia da m administrao e do desperdcio dos recursos financeiros
-
43
por parte dos rgos pblicos, porque os professores e gestores educacionais no estudam e,
consequentemente, os mtodos de ensino so considerados atrasados e obsoletos, e os
currculos inadequados. Silva (2001, p.19) faz uma crtica a essa constatao, ponderando
que:
[...] dado um tal diagnstico natural que se prescrevam solues que lhe
correspondam. Tudo se reduz, nessa soluo, a uma questo de melhor
gesto e administrao e de reforma de mtodos de ensino e contedos
curriculares inadequados. Para problemas tcnicos, solues tcnicas, ou
melhor, solues polticas traduzidas como tcnicas (tal como a privatizao,
por exemplo). nesse raciocnio que se insere o discurso sobre a qualidade e
sobre a gerncia da qualidade total.
Silva (op.cit.) observa que h uma dificuldade em se discordar da descrio do quadro
educacional na perspectiva do discurso neoliberal. Torna-se mais difcil ainda discordar de
uma proposta de mais qualidade, sobretudo, quando essa qualidade anunciada como
total. Por outro lado, o que o discurso neoliberal em educao ofusca o carter poltico,
presente na educao pblica do pas.
Nesse sentido, Amarante (1998, p. 269) analisa o cenrio scio-histrico desse
perodo, apontando que:
[...] aps o perodo da ditadura militar, a emergncia de discursos centrados
no Estado desperdiador como responsvel pelo quadro de crise em todos os
mbitos da vida nacional propiciou a instalao de governos neoliberais,
cujo discurso de mudanas apregoava as vantagens do Estado mnimo e a
eficincia dos setores privados. Nesse cenrio, consideramos que, durante o
governo Collor, a hiperinflao vem a ser a fora motriz de nova investida
neoliberal que culmina com a eleio de Fernando Henrique Cardoso,
legitimando, por fora de sua autoridade intelectual e acadmica, um projeto
neoliberal que aponta a estabilidade econmica globalizada como os
caminhos para a democratizao poltico-social. Apontamos, ainda, que o
quadro que ento se apresenta de exacerbamento das desigualdades sociais,
conduzindo ao individualismo possessivo.
Dessa forma, uso do recurso da memria discursiva5 para trazer para as minhas
discusses a histria do papel que a educao inclusiva cumpre na sociedade e na escola.
5 Memria discursiva so todos os dizeres enunciados antes, e em outro lugar a respeito do objeto do discurso, e
todos os no ditos tambm (PCHEUX, 1983).
-
44
Edler (2004, p. 20) destaca o papel de relevncia que a educao exerce na sociedade,
considerando-se que esta possui uma grande capacidade de influncia sobre os homens. Por
isso,
[...] revisitando as correntes tericas, a primeira constatao a de que as
ideias que se tm cunhado sobre educao refletem o momento histrico da
prpria sociedade, bem como a filiao filosfica dos pensadores. Estes,
geralmente, traduzem em seus escritos o modelo de homem ideal vigente, cabendo educao concretiz-lo.
Em virtude disso, o movimento das polticas de educao inclusiva organizou-se em
meio a um ideal de resgate histrico do igual direito de todos a uma educao de qualidade.
Os princpios da educao inclusiva comearam a veicular, a partir da Conferncia Mundial
sobre as Necessidades Educativas Especiais: acesso e qualidade; e foram reiterados no Frum
Mundial de Educao e apoiados pelas Regras Bsicas das Naes Unidas em Igualdade de
Oportunidades para pessoas Portadoras de Deficincia.
Esse princpio foi discutido novamente em novembro de 2008, durante a 48
Conferncia Internacional de Educao em Genebra. A educao inclusiva de qualidade se
baseia no direito de todos crianas, jovens e adultos a receberem uma educao
(DIFOURNY, 2009, p. 6). O documento internacional mais importante na rea de educao
especial - Declarao de Salamanca - defende que as escolas regulares orientadas por uma
educao inclusiva [...] constituem o meio mais eficaz de combater atitudes
discriminatrias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo educao para todos
(AINSCOW, 2009, p.12).
A incluso, como educao para todos, foi um movimento institudo em 1990, sob a
coordenao, principalmente, da UNESCO. Tinha como finalidade gerir um conjunto de
polticas educacionais, preocupadas com o acesso de crianas, jovens e adultos de todo o
mundo, s escolas. Esse movimento ganhou fora, por meio de duas grandes conferncias
internacionais, realizadas em Jontiem, em 1990, e em Dacar, em 2000 (UNESCO, 2000).
Segundo Aisncow (2009, op.cit.), muitas pessoas envolvidas nesse movimento
concebiam a educao como instruo e se preocupavam em refletir sobre algumas regies
mais pobres do mundo, com o propsito de pensar a escola como um entre vrios outros
meios de oferecer educao para as comunidades. Os organizadores dessa conferncia,
preocupados com o fracasso de muitos pases em atingir os objetivos, institudos uma dcada
-
45
antes, chamaram a ateno para o grande nmero de meninas a quem foram negadas
oportunidades educacionais no mundo todo, embora fossem apontados alguns avanos no
sentido de se oferecer um sistema educacional inclusivo, que atendesse a todas as crianas,
inclusive, as pessoas com deficincia. Isso s veio a ser institudo na Declarao de
Salamanca.
A Declarao de Salamanca foi um evento que contou com a participao de noventa e
dois governos e de vinte e cinco organizaes internacionais. Essa Declarao reitera e
enfatiza a importncia de se orientar uma Educao para Todos com o objetivo de atender aos
grupos minoritrios, mas o fio condutor que alinhava esse documento o acesso de crianas,
jovens e adultos, considerados pessoas com necessidades educativas especiais, educao.
Por esse motivo, os princpios dessa Declarao orientam que as escolas devem possibilitar as
condies necessrias para que todos os indivduos, independentemente de suas dificuldades
ou diferenas, aprendam no mesmo espao. Conforme enuncia o excerto abaixo:
[...] as escolas integradoras devem reconhecer as diferentes necessidades de
seus alunos e a eles atender, como tambm devem adaptar-se aos diferentes
estilos e ritmos de aprendizagem assegurando a elas um ensino de qualidade
por meio de um adequado programa de estudos, de boa organizao escolar,
criteriosa utilizao dos recursos e entrosamento de suas comunidades [...]
(UNESCO, 1994, p.23).
O discurso que perpassa esses documentos sugere que as escolas regulares, com a
orientao voltada para a incluso, passem a representar [...] o meio mais eficaz de
combater atitudes discriminatrias, de criar comunidades acolhedoras, construir uma
sociedade integradora e dar educao para todos (UNESCO, 1990, p.10).
Nessa perspectiva, parece-nos poder dizer que o fracasso ou o sucesso do aluno de
inteira responsabilidade da escola se ela oferecer todo esse ambiente para o aluno. A esse
respeito, Carmo (2001, p.45), ao no concordar com essa viso, faz a seguinte ponderao.
interessante ressaltar que a equidade de oportunidades como forma de
igualar os desiguais remete para o indivduo toda a responsabilidade de seu
xito ou fracasso, isentando mais uma vez, a escola e as polticas pblicas de
qualquer responsabilidade pelo fracasso e a disseminao dos mecanismos
de excluso social.
A citao acima faz uma crtica importante no que se refere ao processo de incluso,
porque o parecer de alunas com dificuldades de aprendizagem que foi imputado a Luza e
Mariana enderea a elas a responsabilidade do xito e do fracasso.
-
46
1.2 Contextualizao Terica: O Discurso como Acontecimento
Tendo em vista as consideraes acima, a respeito da contextualizao poltica e ou
histrica em que foram construdas as leis que direcionam o processo de incluso, ancorada
nas bases tericas da Anlise do Discurso de linha francesa, terceira poca, busco apontar
indcios de algumas regularidades enunciativas que foram marcadas por discursividades
construdas com base no dizer das leis. As implicaes advindas desse posicionamento
terico para o pesquisador esto relacionadas responsabilidade de uma anlise que no seja
fundamentada apenas em uma suposta descrio e, tambm, na impossibilidade de uma
interpretao definitiva.
Tendo em vista que as discursividades so construdas discursivamente, para a
compreenso de como esse processo foi subjetivado no espao escolar, busco as bases
tericas em que Pcheux ( [1983], 2006) fundamentou-se para elaborar sua teoria, do discurso
como acontecimento.
Parafraseando Gregolin (2004, p.60-61), a teoria da Anlise do Discurso Francesa,
cuja epistemologia de base marxista, foi desenvolvida em trs perodos os quais Pcheux (
[1983], 2006) denominou de trs pocas da anlise do discurso. O quadro epistemolgico
ao qual Pcheux e Fuchs ( [1975], 2010) recorreram para propor um dilogo entre a
Lingustica e a Teoria do Discurso articulou trs regies do conhecimento cientfico: a) o
materialismo histrico, como teoria das formaes sociais e de suas transformaes, incluindo
a ideologia; b) a lingustica, como teoria dos mecanismos sintticos e dos processos de
enunciao; c) a teoria do discurso, como teoria da determinao histrica dos processos
semnticos. O mais importante dessa articulao a reflexo dos autores sobre o fato de
esses trs campos tericos serem atravessados e articulados por uma teoria da subjetividade de
cunho psicanaltica.
As trs pocas da Anlise do Discurso foram perpassadas por controvrsias, advindas
das implicaes ocorridas em funo das articulaes entre discurso, lngua, sujeito e
histria. As discusses de Pcheux sobre o discurso iniciaram-se por meio de dois textos cuja
autoria foi assumida pelo seu pseudnimo, Thomas Herbert (1966; 1968). Esses textos
abordam questes da epistemologia das cincias sociais e de uma teoria geral das ideologias.
O ltimo, intitulado, Em torno de Observaes para uma Teoria Geral das Ideologias, tinha
como objetivo:
-
47
[...] apontar alguns elementos formulados que constituem o fundamento da
Anlise do Discurso que o autor institui, a partir de 1969. Essa disciplina se
inscreve no contexto da crtica antipositivista que caracterizou as cincias
humanas no sculo XX, impulsionada pelos trabalhos da trilogia
Marx/Freud/Saussure. Ao mobilizar os conceitos de ideologia e inconsciente
para repensar a lngua saussuriana, Pcheux formula um novo objeto, o
discurso, e coloca questes relevantes tanto para a Lingustica como para as
cincias sociais (RODRIGUEZ-ALCAL, 2005, p.15).
A primeira poca da Anlise do Discurso originou-se de uma proposta terico-
metodolgica, marcada pelo livro Analyse Automatique Du Discours (2010) em que Pcheux
faz a leitura de Saussure (1996), colocando o sistema da lngua e seu carter social como a
base do funcionamento discursivo, envolvendo tambm o sujeito e a histria: na [...]
concepo do objeto discurso, cruzam-se Saussure (relido por Pcheux), Marx (relido por
Althusser) e Freud (relido por Lacan) (GREGOLIN, 2004, p.61). Com base nas teses
althusserianas sobre os aparelhos ideolgicos e o assujeitamento, o sujeito tinha a iluso de
que falava por si mesmo, mas era assujeitado por uma maquinaria. Portanto, quem falava
eram as instituies, tais como: a igreja, a teoria da cincia, as comunidades polticas e sociais
que defendiam uma determinada ideologia. Nesse sentido, os discursos eram produzidos por
uma mquina autodeterminada e fechada sobre si mesma, de tal modo que um sujeito-
estrutura determina os sujeitos produtores de seus discursos (PCHEUX, 1990, p. 311).
A crtica feita por Pcheux ([1983], 2006), em relao ao princpio metodolgico
adotado na anlise automtica, pautou-se nas consequncias advindas de se assumir esse
posicionamento terico, ao vislumbrar que as anlises realizadas na primeira poca no
passavam de parfrases de enunciados que se repetiam. Reagindo a essa perspectiva, inicia-se
o que foi chamado de segunda poca. poca esta em que se apostou na insero das
heterogeneidades e do Outro nos processos discursivos. Entendendo que os discursos so
constitudos heterogeneamente por outros discursos que lhes so exteriores, h uma
impossibilidade de afirmar a respeito do possvel incio e fim de um discurso, porque sempre
haver outro discurso j-dito, ou seja, todo discurso constitui-se por vrios outros.
Essa noo de que os discursos so constitudos pela sua exterioridade que lhe
constitutiva o que Pcheux (1997, p.167) define como interdiscurso. Esse interdiscurso o
recorte discursivo que viabiliza todo dizer e que emerge por meio do pr-construdo, o j-
dito. Ele influencia na maneira como o dizer significa em um referido lugar discursivo. Em
virtude disso, o interdiscurso no reduz o dizer s suas determinaes histricas, porque est
-
48
sempre apresentando situaes e significaes novas, produzir sentidos outros que no
estejam atrelados apenas s condies histricas de produo do discurso.
No artigo escrito com Fuchs ( [1975], 2010), Pcheux faz um reposicionamento das
anlises entre lngua, discurso, ideologia e sujeito, fazendo outra leitura das formaes
discursivas, ao formular a teoria dos esquecimentos - nmero um e nmero dois (PCHEUX
2010, p. 176-177). O falante pode e deve se inscrever na zona do esquecimento nmero dois,
uma vez que ele usa de estratgias discursivas para estabelecer
[...] um retorno de seu discurso sobre si, uma antecipao de seu efeito, e
pela considerao da defasagem que a introduz o discurso de um outro. Na
medida em que o sujeito se corrige para explicitar a si prprio, o que disse,
para aprofundar o que pensa e formul-lo mais adequadamente, pode-se dizer que esta zona n 2, que a dos processos de enunciao, se caracteriza
por um funcionamento do tipo pr-consciente/consciente (PCHEUX;
FUCHS, 2010, p.176).
J o esquecimento nmero um o oposto, uma zona em que no h acessibilidade do
sujeito, por isso
[...] aparece como constitutivo da subjetividade de lngua. Desta maneira,
pode-se adiantar que este recalque (tendo ao mesmo tempo como objeto o
prprio processo discursivo e o interdiscurso, ao qual ele se articula por
relaes de contradio, de submisso ou de usurpao) de natureza
inconsciente, no sentido em que a ideologia constitutivamente inconsciente
dela mesma ( e no somente distrada, escapando incessantemente a si
mesma...) (PCHEUX; FUCHS, 2010, p.177).
Sob a tutela da interpelao ideolgica, o falante tem a iluso de que a fonte de seu
dizer. Por isso, ele se reveste pelas vozes que povoam o seu universo discursivo, por meio de
diversificadas situaes discursivas, inscreve-se em outros discursos e lhes atribui sentidos
outros. Alm dessa possibilidade, h ainda as prticas de silenciamento, apagamento e da
denegao. Essas prticas possibilitam ao sujeito apagar os sentidos indesejveis e fazer
emergir os sentidos que ele tem a iluso de ser capaz de produzir.
No que se refere a esta tese, as alunas Luza e Mariana sofreram os efeitos das prticas
de silenciamento. O fato de serem consideradas alunas com dificuldades de aprendizagem,
-
49
automaticamente, foram apagadas as possibilidades de construir outros sentidos para a relao
delas com a escrita. Por isso, importante trazer para a discusso terica essas questes do
silncio.
Os silncios, para Orlandi (2002, p.105), no esto apenas relacionados ao no-dito,
porque h silncio nas palavras, ou seja, o silncio para significar no precisa ser proferido, o
silncio significa, ele no fala. A referida autora diferencia as manifestaes do silncio, em:
silncio fundante e a poltica do silncio (silenciamento). O silncio fundante constitutivo
de significao, j a poltica do silncio est relacionada ao fato de que, ao dizer o sujeito est,
inevitavelmente, apagando outros sentidos.
Os apagamentos evidenciam-se, tambm, por meio de uma denegao ou opacidade
dos sentidos, ou seja, dependendo da formao discursiva e da situao de enunciao, os
sentidos considerados, ilusoriamente, imprprios, so apagados. J, a denegao processa-se
por meio de um dizer que se sustenta em um no-dito. Nesse sentido, Pcheux e Fuchs (
[1975], 2010, p.177) alertam que no pretendem resolver a questo entre ideologia,
inconsciente e discursividade, mas caracterizar o fato de que uma formao discursiva
constituda, margeada pelo que lhe exterior e que no pode ser confundida com o espao
subjetivo da enunciao.
Pcheux ( [1975], 2010) acirra esse posicionamento, ao assumir uma teoria
materialista do discurso, com a publicao do livro, Les Vrites de la Palice (1975).
Motivado pelos processos ideolgicos, Pcheux (2009, p.81) reafirma a sua posio de que
pela lngua, enquanto materialidade que os processos discursivos so elaborados. Nesse
momento de sua elaborao terica, Pcheux articula alguns fundamentos de filosofia da
linguagem, tomando como referncia algumas questes de base semntica as quais ele recorre
para propor uma possibilidade de analisar o discurso. Essa elaborao terica pautou-se na
interface entre Lgica, Lingustica e Teoria do Discurso, desencadeando a posio de que os
processos discursivos esto circunscritos por uma relao ideolgica de classe, mas essas
relaes so contraditrias.
Isso significa dizer que os sentidos so construdos, a partir de uma posio discursiva,
colocando em causa a transparncia da linguagem, porque nem sempre uma palavra ou um
enunciado queiram dizer o que realmente dizem, porque os sentidos so produzidos a partir da
interpretao que o sujeito faz de determinado enunciado. Como no h o entendimento
claro sobre o processo de incluso, os discursos da incluso vo se materializar nas
escolas das mais diversas formas. Essa tomada de posio mascara o que Pcheux ([1975],
-
50
2010) denomina de o carter material do sentido das palavras e dos enunciados. Sendo
assim, sob a perspectiva desse argumento, Pcheux (2009, p.150) retoma o pensamento
althusseriano, ao evocar a tese da interpelao ideolgica, partindo do princpio de que o
efeito do assujeitamento acontecer de maneira nica para cada um, uma vez que a ideologia
no tem um carter s de reproduo, mas opera tambm no sentido de transformar as
relaes de produo. Pcheux ([1975], 2010), nesse momento de elaborao terica, retoma
o conceito de formao discursiva, impingindo a ele outra leitura, luz da materialidade do
discurso e do sentido, defendendo que [...] os indivduos so interpelados em sujeitos
falantes (em sujeitos do seu discurso) pelas formaes discursivas que representam na
linguagem as formaes ideolgicas que lhes so correspondentes (PCHEUX, 2009,
p.148).
Em um momento de crise da esquerda na Frana, Pcheux ( [1983], 2006) rompe com
sua posio defendida at aquele momento e estabelece uma discusso, colocando em foco
discurso, interpretao, estrutura e acontecimento. Nesse momento, inicia-se a terceira
poca de sua elaborao terica. Evidentemente, que, at esse momento, Pcheux ( [1983],
2006) no havia dado a relevncia necessria para a questo da equivocidade do sentido, na
perspectiva das implicaes entre estrutura e acontecimento, tal como tratado no livro de
(1983), intitulado, O discurso: estrutura ou acontecimento.
Pcheux ( [1983], 2006), na elaborao da terceira poca de sua teorizao, dentre
as possibilidades apontadas por ele para propor a reflexo do discurso como estrutura e
acontecimento - tomar uma sequncia discursiva e problematiz-la ou tomar uma reflexo
filosfica -, opta por fazer o entrecruzamento entre o acontecimento, a estrutura e a tenso
entre a descrio e a interpretao existentes no interior da Anlise do discurso. O texto
elaborado por Pcheux ( [1983], 2006 ) contempla um estudo que d realce ao acontecimento,
conceituando-o como o encontro de uma atualidade e de uma memria, e ao estatuto das
discursividades que o trabalha (LEITE, 1994, p.174).
Pcheux ( [1983], 2006, p. 19), para problematizar a construo do discurso por meio
de um acontecimento, desenvolve uma anlise tomando como base o enunciado On a gagn
[ Ganhamos], situando-o no espao e no tempo: enunciado em Paris, 10 de maio de 1981;
s 20 horas (hora local), anunciando a vitria do ento futuro presidente francs, Franois
Mitterand. A partir desse enunciado, ele coloca em discusso o estatuto de espao, tempo e
pessoa em uma determinada cena enunciativa. Pcheux desenvolveu a anlise desse
enunciado, enfatizando a questo da equivocidade do enunciado, por meio da tenso entre
-
51
transparncia e opacidade, [...] referidas quer no plano de uma abordagem lxico-sinttica,
vale dizer, da estrutura do enunciado, quer ao jogo metafrico que estabelece uma matriz
determinada de leitura (LEITE, 1994, p.175).
Pcheux ([1983], 2006) descreve como o enunciado Ganhamos ganha o estatuto de
acontecimento na medida em que vai sendo discursivizado por meio do confronto discursivo6
e sendo atualizado por meio da memria que lhe convocada. O autor segue dizendo que o
confronto discursivo para esse acontecimento comeou bem antes do dia 10 de maio, por um
grande trabalho de articulaes polticas de um lado e de outro do meio poltico, [...]
tendendo a prefigurar discursivamente o acontecimento, e dar-lhe forma e figura, na
esperana de apressar sua vinda... ou de impedi-la (PCHEUX, 2006, p.20). Esse
esclarecimento no tira a opacidade do acontecimento, os enunciados relatam o mesmo
fenmeno, mas no constroem as mesmas significaes.
Leite (1994, p.171-174) pondera que tomar o discurso como estrutura e como
acontecimento significa pensar para alm do fato de testemunhar os deslocamentos que j
vinham ocorrendo no interior das anlises e construes tericas da Anlise do Discurso.
Convoca a necessidade de pensar outro conceito de estrutura, uma vez que esse campo terico
prope pensar o real no seu estatuto de contingncia. Alm de outro conceito de estrutura,
necessrio se faz, ento, pensar que se essa tese enuncia a Anlise do Discurso como um
referencial terico que d lugar interpretao, h a necessidade da incluso do sujeito do
desejo inconsciente, que fora duplamente foracludo do percurso da Anlise do Discurso.
Pcheux ([1983], 2006) mobiliza, dentro da perspectiva terica da Anlise do Discurso
Francesa, as questes que acarretam maior implicao para viabilizar uma anlise como
descrio e uma anlise como interpretao. A reflexo desencadeia-se em direo
existncia do real, que constitutivo de uma disciplina que trata da interpretao, isto , h
algo no interior de uma teoria sobre o discurso que desestabiliza o que no logicamente
estvel. O que entra em voga nesse momento de elaborao de Pcheux ([1983], 2006)
tomar partido de um real que prprio de uma disciplina de interpretao. H real, pontos
de impossvel, determinando aquilo que pode no ser assim. (O real o impossvel... que
seja de outro modo) (PCHEUX, 2006, p.29).
O real prprio de uma disciplina de interpretao convoca uma viso de que
o no - logicamente estvel no seja considerado a priori como um defeito um simples furo do real. Um real constitutivamente estranho univocidade
6 Formas de circulao dos enunciados
-
52
lgica, e um saber que no se transmite, no se aprende no se ensina, e que,
no entanto, existe produzindo efeitos" (PCHEUX, 2006, p. 43).
Essa elaborao terica de Pcheux ([1983], 2006) pauta na primazia da descrio das
materialidades discursivas, o que no deve ser confundido com a interpretao, embora haja
um imbricamento entre os dois gestos. Ao se conceber a descrio, a partir das materialidades
discursivas, implica admitir que h um real sobre o qual ela se instala: o real da lngua.
Nesse momento, Pcheux faz remisso ao texto de Milner (78) L amour de la langue.
Eu disse bem: a lngua. Isto , nem linguagem, nem fala, nem discurso, nem
texto, nem interao conversacional, mas aquilo que colocado pelos
linguistas como a condio de existncia (de princpio), sob a forma da
existncia do simblico, no sentido de Jakobson e de Lacan (PCHEUX,
2002, p. 50).
Tomar a lngua nessa perspectiva significa entender que ela est exposta ao equvoco,
partindo do pressuposto de que no h metalinguagem, as descries esto sensveis ao
equvoco. Segundo Pcheux (2006, p. 53), todo enunciado linguisticamente descritvel
como uma srie de pontos de deriva possveis, possibilitando, assim, um lugar para a
interpretao. Sendo assim, nesse espao que pretende trabalhar a anlise do discurso.
a partir desta perspectiva de lngua e discurso que encontro subsdios para
problematizar os efeitos dos dizeres das leis que propem uma educao inclusiva, tomando
como base as discursividades construdas em funo das materialidades discursivas dos
documentos oficiais que defendem uma escola inclusiva.
1.3 Algumas Regularidades Enunciativas: As Discursividades
Trazendo essa teorizao para o contexto escolar, especificamente, no que se refere ao
dizer das leis sobre a educao inclusiva, os conflitos gerados em escolas brasileiras e em
escolas de todo mundo, no que diz respeito educao inclusiva, esto relacionados ao
modo como cada agente escolar subjetiva as discursividades sobre os discursos da incluso.
Para Ainscow (2009, p.12), pode [...] ser um avano tomar como base a ideia de que
a incluso um conjunto de princpios. Em pesquisas realizadas no Brasil e em vrios
outros pases, o pesquisador aponta alguns problemas enfrentados pelos rgos que
administram o processo educacional. No que se refere a incluso de crianas com
-
53
deficincia e com dificuldades de aprendizagem nas escolas regulares, de acordo com as
pesquisas realizadas, foi possvel verificar que a perspectiva de se tornar as escolas em
espaos de uma educao inclusiva perpassou por vrios estgios. Nesse perodo, elas
experimentaram diferentes maneiras de atender s crianas com deficincia e com
dificuldades de aprendizagem.
Para que esse processo fosse viabilizado, vrias alternativas foram desenvolvidas pelas
escolas tanto no Brasil como em outros pases. Uma das alternativas utilizadas por algumas
escolas foi a transplantao de prticas especiais para o ambiente comum (AINSCOW,
2009, p. 12), assumindo, assim, uma perspectiva de escola especial dentro de uma escola
regular e, como consequncia, acarretou a falta de mudanas organizacionais nas escolas.
Outra consequncia, acarretada por essa perspectiva de educao inclusiva em
escolas de muitos pases, foi o fato de que houve um aumento significativo do nmero de
alunos que foram considerados especiais, resultando, assim, em um maior nmero de crianas
que receberam o rtulo de deficientes. A hiptese mais provvel para esse aumento da
proporo de crianas com deficincia estava relacionada ao fato de que as escolas
receberiam mais verbas para poder atender a essa demanda. De acordo com Ainscow (op.cit),
pesquisas realizadas por Fulcher (1989), tendo como objeto de anlise polticas de educao
especial de pases como Austrlia, Escandinvia e Estados Unidos apontaram para o fato de
que isso pode ter sido consequncia do que previa a legislao da educao especial desses
pases: mais dinheiro para as escolas que atendessem um maior nmero de crianas especiais.
Essas pesquisas apontam que, em funo dessas questes, o rtulo de crianas com
necessidades educacionais especiais passou a ser observado com cautela por alguns
pesquisadores. A insatisfao gerada em funo desse grande nmero de alunos, designados
como crianas com necessidades especiais, causou algumas preocupaes. Alguns
pesquisadores adotaram um ponto de vista mais criterioso para se referir forma como os
estudantes passaram a ser designados como pessoas com necessidades especiais.
Na viso de Ainscow (2009, p. 13-14), esse um processo social, portanto,
caracteriza-se como um desafio. Ele argumenta [...] que o uso contnuo do que por vezes
referido como modelo mdico de avaliao pelo qual as dificuldades educacionais so
explicadas, somente em termos da deficincia da criana, traz algumas implicaes no que se
refere ao desenvolvimento do processo de uma escola inclusiva, porque desvia a ateno de
questes, como: por que as escolas falham ao ensinar com xito tantas crianas? Esse
-
54
questionamento possibilitou um debate que desencadeou em outro conceito de necessidades
especiais.
A partir dessa (re)conceptualizao, o foco no era mais a criana, mas, sim, a escola.
As crticas passaram a ser direcionadas ao modelo de escola que era oferecido. A grande
questo girava em torno de que as escolas deveriam ser reformadas e o projeto pedaggico
reelaborado de forma a atender diversidade dos alunos