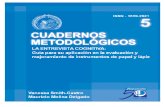Violações dos Direitos das Crianças e Adolescentes no ... · A necessidade do adulto em...
-
Upload
duongtuyen -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of Violações dos Direitos das Crianças e Adolescentes no ... · A necessidade do adulto em...
Violações dos Direitos das Crianças e Adolescentes no Brasil no Início do século
XXI Um Olhar sobre Determinados Grupos
Palavras-chave: crianças, adolescentes, direitos, SIPIA
Luíza Paula Calado da Silva
Discente do Curso de Engenharia de Produção
Laboratório de Estatística Aplicada e Estudos Demográficos – LEAED/UNIVASF
Paulo José Pereira
Doutor em Demografia
Docente do Colegiado de Engenharia de Produção
Laboratório de Estatística Aplicada e Estudos Demográficos – LEAED/UNIVASF
1.Introdução: Infância e adolescência e suas concepções
A concepção de infância, tal como apresenta-se na modernidade, ocorreu
mediante um processo de construção social complexo, uma vez que foi considerada
inexistente na sociedade medieval, na qual, segundo Ariés (1978), a criança era vista
como um adulto em tamanho reduzido, sendo então, a infância compreendida como um
período passageiro e transitório, ao qual não deviam-se voltar os interesses e as atenções
sociais. Dessa forma, as particularidades das crianças em relação ao adulto não faziam
parte da consciência coletiva, de modo que estas misturavam-se no mundo dos adultos
sem qualquer ressalva, assim que adquiriam independência da mãe ou da ama de leite.
Consequentemente, as crianças participavam da vida adulta ouvindo e vendo
tudo que acontecia, bem como sendo tratados de forma grosseira e hostil, pois não havia
a noção de respeito à infância, uma vez que o conceito desta não estava ainda, ligado à
inocência e pureza. Não se fazia presente também, a consciência de que estas aprendiam
suas condutas e valores através das experiências e convivências sociais, ou seja, não
estava presente, ainda, a noção de educação, permitindo que fossem disseminadas
formas de violência, incluindo castigos físicos e humilhações.
Desse modo, a violação dos direitos de crianças e adolescentes na
contemporaneidade revela-se envolvido numa conjuntura de aspectos psicológicos,
sociais, políticos e históricos, visto que a garantia de tais direitos constituiu-se como um
processo longo, o qual encontra-se ainda em continuidade.
A necessidade do adulto em ausentar-se para o trabalho, fez com que as
crianças passassem a ocupar instituições como creches e escolas, convivendo cada vez
menos com adultos e delimitando-se, progressivamente, as fronteiras entre estes dois
momentos da vida. Tal fato contribuiu, portanto, para estruturar características próprias
e singulares da infância como categoria diferenciada do ser adulto.
Neste processo, diversos fenômenos históricos constituíram importantes
influencias, a exemplo da Revolução Francesa, a qual atribuiu ao Estado maiores
responsabilidades sobre a vida social, bem como a Revolução Industrial, que ajudou a
delimitar ainda mais os espaços entre adultos e crianças, devido à necessidade dos pais
em ocupar um espaço no mercado de trabalho e institucionalizar as crianças em locais
como creches e escolas. Foi-se constituindo então, a concepção de infância tal como se
tem atualmente na cultura ocidental.
A adolescência por sua vez, institui-se com as novas organizações sociais
advindas da revolução industrial como a maior permanência do jovem na escola, a fim
de qualificar-se melhor para o trabalho, bem como a maior permanência dos adultos
neste, como consequência, inclusive do aumento da expectativa de vida devido ao
desenvolvimento da ciência, principalmente da medicina. Dessa forma, a adolescência
constitui-se como um novo grupo social advindo da contemporaneidade, legitimado e
categorizado pela sociedade (BOCK, 2007).
Já no século XX, os conceitos de infância e adolescência, bem estabelecidos,
passam a contar com a instituição de leis normativas, que tentam assegurar seu melhor
desenvolvimento, conseguidas através da Declaração dos Direitos Humanos e da
Criação da ONU no pós segunda guerra, em 1948.
Especificamente no contexto Brasileiro houve a criação, antes da ONU e da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Código de Menores, em 1927, que
tratava crianças e adolescentes como “menores infratores”, observando e valorizando a
solução de um problema: os próprios “menores”, ou seja, estes eram os problemas da
sociedade, e deveriam receber penas por suas infrações, atribuídas pelos Juízes de
Menores. Não havia uma preocupação social com os grandes problemas que haviam por
trás dos delitos cometidos.
Após várias décadas, é com a constituição de 1988 que o Estatuto da Criança e
do Adolescente teve seus primeiros passos dados, dando origem também a um
complexo Sistema de Garantia de Direitos, com vários órgãos envolvidos, na tentativa
de assegurar direitos de crianças e adolescentes, através de Conselhos Nacional
(CONANDA), Estadual e Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, além
dos Centros de Defesa (CEDECAS), conselhos de direito e tutelares, e juizados
especializados. Porém, o funcionamento desse Sistema está atrelado às condições
específicas de cada sujeito de direitos, sendo composto por diversos órgãos e possuindo
peculiaridades em sua formação.
Sob a perspectiva indigenista e negra, as concepções de infância e adolescência
diferem, pois passaram por processos histórico-culturais diferenciados, o que resultou
em sistemas de garantias de direitos também distintos. Para Teixeira (2002), de acordo
com relatos dos jesuítas, o contato com a criança indígena foi mais fácil através do
processo de catequese. Diante desse e de tantos outros relatos, podemos inferir o quanto
os indígenas brasileiros tiveram na sua cultura interferências significativas. As ideias
civilizatórias do homem branco foram aprendidas pelos índios, tanto no convívio com
os adultos, jesuítas, quanto no convívio com crianças europeias, filhas de colonos, como
também com os órfãos que frequentavam, muitas vezes, os mesmos espaços na
sociedade brasileira.
Mattoso (1996) afirma que os africanos, na posição de escravos, tornaram-se os
vetores principais deste sistema monocultor-escravista-agroexportador, fazendo parte da
engrenagem da produção colonial. Dentro desta perspectiva, não se incluíam as crianças
escravas na concepção de infância Europeia, trazida e adaptada pelos jesuítas. Eram
vistas como escravos em potencial que se diferenciavam do escravo adulto pelo
tamanho e pela força, mas que logo se tornariam “úteis” para a sociedade escravista. O
período da infância era curto para o escravo, onde ele aprendia as condutas sociais e
adquiria as artimanhas de sobrevivência, frente à ordem senhorial escravista.
Quanto à infância e adolescência da criança com deficiência, podemos afirmar
que o processo de reconhecimento de seus direitos ainda não se concretizou, tal qual os
indigenistas e negros, sendo um dos fatores de contribuição para isto as diferentes
necessidades que os diversos tipos de deficiências geram. Este longo processo de
formulação de um sistema de garantia de direitos eficiente para os portadores de
necessidades especiais poderá andar a passos largos quando houver um maior
comprometimento da sociedade em reconhecer suas obrigações para com estes.
Dessa forma, o objetivo deste trabalho é realizar um levantamento longitudinal
da situação desses direitos, observando e quantificando as violações ao Estatuto da
Criança e do Adolescente, avaliando também o funcionamento do Sistema utilizado
pelos conselhos tutelares.
2. Referencial Teórico
2.1. A formação da infância negra e indígena no Brasil e a garantia de seus direitos
No contexto brasileiro, a ascensão da infância possui a peculiaridade de não só
passar a haver reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos,
como também da distinção entre infância lusitana e as infâncias negra e indígena, estas
sendo vistas como exóticas, com traços físicos e culturais diferentes e próprios. A
origem de cada uma proporcionar-lhes-ia um destino diferente, seja na Casa Grande, no
Engenho ou nas Aldeias.
O processo de catequização das crianças indígenas serviu para que houvesse
uma troca cultural, caracterizada pela europeização dos índios, convertendo-os ao
cristianismo e utilizando-os como canais para a aproximação e conversão das aldeias. O
mesmo não ocorreu com as crianças negras que, trancadas em senzalas, puderam
vivenciar um pouco mais da sua matriz cultural e religiosa, que foi disseminada pelo
país e se apresenta fortemente nos traços culturais da atualidade.
Desta forma, não só crianças e adolescentes, mas índios e negros no geral,
passaram por um processo de exclusão de direitos, seja pela privação de vivenciar sua
própria cultura, seja pelo trabalho escravo que foram submetidos, e tais acontecimentos
são alguns dos fatores que desencadearam, já na atualidade, na criação de redes
específicas de proteção aos seus direitos, que visam manter vivas suas identidades e
matrizes raciais, além da tentativa de assegurar a igualdade de oportunidades perante a
sociedade.
Portanto, a infância e adolescência ganham um novo significado, que agora não
é apenas definido por divisões em faixas etárias, mas determinado também por
vivências culturais, proporcionadas por suas condições de político-sociais, e por seus
valores. No caso de crianças e adolescentes indígenas esta definição está ainda mais
vinculada a traços culturais e até mesmo tribais, pois, é comum que a passagem de fases
na vida do indivíduo seja marcada por rituais próprios de cada tribo, seguindo condições
bem específicas, quase nunca ligadas à idade (BRITO; FARIA, 2013).
A partir de então, tornou-se necessária a instituição de leis normativas que
visam garantir e assegurar seus direitos fundamentais, uma vez que constituem-se como
sujeitos em vulnerabilidade social, principalmente, diante de um contexto nacional que
envolve exploração sexual infantil, violência física e psicológica, abandono, dentre
outras questões. Neste sentido, (VIEIRA, 1999) aponta que fatores como a Declaração
Universal dos Direitos Humanos em 1948, que reconhece a dignidade humana,
independentemente de crenças, sexo, idade, cor, ou qualquer outra especificidade, a
Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, fraternidade e igualdade, bem como
a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que acarretou na criação da Organização das
Nações Unidas (ONU) também em 1945, foram acontecimentos históricos propulsores
para a legitimidade dos direitos humanos (VIEIRA, 2009).
A Constituição de 1988 e a Convenção dos Direitos da Criança (1989),
tornaram perceptível a necessidade de ações direcionadas à infância e adolescência e,
posteriormente, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, contemplou-se a visão do
menor de forma integral, ou seja, que a infância e adolescência como um todo merecem
maior atenção, cuidado e proteção, independentemente da condição social ou criminal
do menor.
No que diz respeito especificamente ao direito da criança e do adolescente
indígena, o Sistema de Garantia de Direitos é complementado pela inserção de dois
órgãos: Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e Fundação Nacional do Índio
(FUNAI), ambos inseridos numa esfera federal, sendo o primeiro vinculado ao
Ministério da Saúde e o segundo destacando-se como órgão indigenista oficial.
Enquanto a SESAI atua diretamente, através de equipes multidisciplinares, implantando
ações preventivas e educativas, intervindo em casos de violência, vulnerabilidade e
risco nutricional, a FUNAI não possui uma atribuição específica quanto à infância e
adolescência, porém atua com missão de promover e proteger os direitos dos povos
indígenas como um todo.
Na perspectiva da infância negra no Brasil, percebe-se que, desde a
implantação do sistema colonial nas terras “descobertas”, os negros, tanto adultos
quanto crianças, tiveram até seus mínimos direitos violados, sendo privados de sua
própria liberdade, de condições dignas para a sobrevivência e submetidos ao trabalho
escravo, que sustentaria durante séculos as forças produtivas do modelo agroexportador
escravista que aqui foi adotado.
Mattoso (1996) afirma que a passagem da infância para a fase adulta, no caso
dos negros, se dava por volta dos oito anos de idade, quando ingressavam
compulsoriamente no trabalho produtivo, porém, antes disso, após pronunciar as
primeiras palavras, as crianças negras e escravas já executavam tarefas domésticas. De
acordo com Santos (2007), havia também, por outro lado, crianças brancas de classe
social baixa, chamadas de “enjeitadas”, que eram abandonas nas ruas, muitas vezes
morrendo, e, quando sobreviviam, eram criadas para ter sua mão de obra explorada.
Surge então uma ramificação na definição de infância: crianças negras escravas,
indígenas e brancas “enjeitadas”, e para ambos, a exploração de seu trabalho marcaria a
passagem para a fase adulta de suas vidas.
Santos (2007) ainda afirma que os primeiros passos para a mudança de posição
do Brasil em relação ao tráfico de escravos negros foram dados por uma pressão da
Inglaterra, que estava estreitando seus laços comerciais com o Brasil, resultando
também na sanção da Lei do Ventre Livre em 1871, que garantia a liberdade aos filhos
das mulheres escravas nascidos a partir daquele ano. Entretanto, na prática, a criança
negra “livre” pertenceria ao senhor de escravos até os 21 anos, tendo seu trabalho
explorado durante 14 anos, deixando claro que a nova Lei não seria suficiente para
mudar a concepção do senhor de escravos de que a criança negra continuara sendo um
investimento rentável, por ter um grande potencial de trabalho.
Todo este contexto histórico está intimamente ligado à formação da identidade
negra no Brasil, e à autoestima da criança negra, que hoje é um sujeito de direitos, como
qualquer outra criança, independente de cor ou sexo. Porém, sabe-se que a realidade
conta com as barreiras do preconceito, e que muito ainda se deve caminhar para que
alcancemos a igualdade racial.
Na tentativa de reduzir essas desigualdades, principalmente nas últimas
décadas do Século XX e neste início do Século XXI, o Estado começa a atuar como um
dos principais atores para a formulação de um sistema que visa garantir à população
negra no geral que a justiça seja feita em relação aos seus direitos. Um dos principais
fatores que contribuem para a criação de tal sistema está na legislação atual, tendo como
precursora a Constituição Federal de 1988, que através da Lei 7.716/89, chamada de
“Lei Caó” - por ser proposta pelo então deputado Carlos Alberto de Oliveira –
substituiu a Lei 1.390/51, conhecida como Lei Afonso Arinos, que considerava a prática
de racismo uma contravenção penal, ou seja, menos grave que um crime.
A partir de então, surge uma série de aparatos sociais, que visam proteger a
identidade negra, com destaque para o Estatuto da Igualdade Racial, promulgado em
julho de 2010, que condena práticas de discriminação étnico-racial, esclarecendo que é
dever da sociedade e do Estado garantir a igualdade de oportunidades, independente da
cor da pele, e a participação na comunidade, em atividades políticas, econômicas,
educacionais, culturais, esportivas e empresariais.
2.2. Infância, adolescência e deficiência: uma luta constante por proteção
Historicamente crianças e adolescentes com quaisquer tipos de deficiências, ou
até mesmo bebês recém-nascidos fora dos padrões estabelecidos por algumas
sociedades, estariam predestinados a sofrer não só discriminação, mas a perderem suas
vidas, como era o caso da Grécia Antiga, onde os nascidos com qualquer condição
“anormal” eram sacrificados ao nascer. Fernandes (2011), em seu estudo sobre a
trajetória do indivíduo com deficiência, relata sobre como era decorrente o abandono de
crianças em cestos, muitas vezes crescendo e tornando-se atrações em circos, por
exemplo. Isso decorria pelo fato de serem considerados serem diabólicos, e estarem
submetidos aos “castigos de Deus”.
Nesta perspectiva, a Igreja Católica, em seu papel de instituição normatizadora,
veio a deixar contribuições no que diz respeito ao acolhimento, com sua atuação
marcada através dos hospitais de acolhimento aos deficientes e indigentes que surgiram
no século IV. Fernandes (2011) afirma que, no Brasil, este papel da Igreja Católica foi
desenvolvido por meio das “Rodas dos expostos”, criadas em 1726.
A primeira atenção realmente voltada à saúde dos deficientes é dada apenas no
final do século XVIII e no início do século XIX, quando indivíduos com perturbações
mentais passaram a ser tratados como doentes, recebendo assistência à saúde. É neste
período a medicina e a educação mostram seus avanços para essa causa: a primeira, no
que tange os estudos sobre a fisiologia e anatomia, já a segunda quanto à iniciativas
isoladas de integração de crianças portadoras de deficiências nas escolas e institutos
surdos, a exemplo do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, criado pelo Imperador
Dom Pedro II em 1854, e do Imperial Instituto de Surdos Mudos em 1857 - sendo, na
atualidade, o Instituto Benjamin Constant e Instituto Nacional de Educação de Surdos,
respectivamente. O primeiro disponibilizando ofícios de tipografia e encadernação para
cegos e tricô para as meninas, enquanto no segundo eram ensinados encadernação,
sapataria e pautação para os surdos mudos.
Na atualidade a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
promulgada em 2006, reconhece o valor de cada indivíduo independente de sua
funcionalidade e apresenta linhas de ação pra que todas as pessoas atinjam seu
potencial. É a partir deste momento que Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos
da Pessoa com Deficiência – SNPD passa a integrar a SDH, tendo como principal
competência coordenar ações de prevenção, orientar e acompanhar as medidas de
promoção, garantia e defesa dos preceitos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, mediante o desenvolvimento de políticas públicas de inclusão da
pessoa com deficiência.
De acordo com Rosa (2013), dados da Organização Mundial da Saúde,
utilizados em seu estudo sobre violência contra crianças deficientes, mostram que há
cerca de 200 milhões de crianças e adolescentes no mundo com alguma deficiência.
Segundo o Censo (2010) no Brasil este número ultrapassa 45 milhões, chegando a
23,9% do total da população. Nas crianças de 0 a 14 anos as deficiências atingem 7,53%
do total das crianças desta faixa etária, representando um número de 3.459.401, sendo
2,39% destas deficiências severas, ou seja, em níveis de grande comprometimento de
visão, audição, atividade motora e intelectual.
Um ponto importante, e que merece atenção neste estudo, é a definição das
violações de direitos as quais pretende-se aqui analisar. Para a Associação de Pais e
Amigos de Excepcionais (APAE) as violações aos direitos de crianças e adolescentes
com necessidades especiais são, basicamente: violência física, violência psicológica,
negligência e abandono por parte dos responsáveis e violência sexual, mesma
classificação utilizada por Rosa (2013). Porém, o Sistema de Informação Para Infância e
Adolescência (SIPIA), aborda a temática da violação com maior abrangência, de acordo
com os direitos predefinidos no ECA, sendo eles: direito à vida e à saúde; à liberdade,
ao respeito e à dignidade; à convivência familiar e comunitária; à educação, cultura,
lazer e esporte; e à profissionalização e proteção no trabalho.
A prevenção da violência contra crianças com deficiência, primordialmente,
deve levar em conta a criança com deficiência e a sua vulnerabilidade diante da
violência (ROSA, 2013). Dada a situação de maior vulnerabilidade de pessoas com
deficiência no geral constata-se que a violação aos seus direitos ocorre com maior
frequência, sejam estes direitos fundamentais ou específicos, com destaque para uma
maior ocorrência em casos de crianças e adolescentes portadoras de deficiências
intelectuais, que pode ser reflexo da sua menor capacidade de defesa em situações de
risco.
A autora ainda enumera oito fatores que propiciam esta maior ocorrência: o
aumento da dependência de outras pessoas para cuidados em longo prazo; a negação de
direitos humanos, refletindo em uma percepção de ausência de poder tanto pela vítima
quanto pelo agressor; percepção de menor risco de ser descoberto por parte do agressor;
dificuldades da vítima em fazer com que os outros acreditem em seus relatos; menor
conhecimento por parte da vítima do que é adequado ou inadequado, no que tange à
sexualidade, dada sua vulnerabilidade aos cuidados de segundos e terceiros; isolamento
social, aumento do risco de ser manipulado por outros; potencial para desamparo e
vulnerabilidade em locais públicos; falta de independência econômica por parte da
maioria dos indivíduos com deficiência mental.
3. Metodologia
A pesquisa consistiu em uma primeira parte, na qual realizou-se o
levantamento histórico da infância e adolescência de indígenas, negros e portadores de
deficiência e da construção de seus respectivos sistemas de garantia de direitos. Na
segunda parte foi feita a coleta dos números de notificações das violações a seus direitos
no Sistema de Informação para Infância e Adolescência (SIPIA), com três datas de corte
distintas, dado que a construção dos textos foi realizada em espaços temporais também
distintos. A partir da obtenção dos dados, foi feita a descrição da atual situação da
violações dos direitos de crianças e adolescentes indígenas, negros e de pessoas com
deficiência no Brasil, mostrando fatores que podem exercer influência sobre tais
números.
4. Resultados e discussões
4.1. A Situação Indígena
Do total de 276.693 notificações registradas no período de 1º de janeiro de
2009 a 31 de dezembro de 2014, 1.121 (0,4%) eram relativas à violação dos direitos de
crianças e adolescentes indígenas, percentual relativamente baixo quando comparado à
cor amarela 5.872 (2,12%); branca 181.664 (65,66%); parda 72.829 (26,32%); negra
14.946 (5,4%), ficando à frente apenas das violações nas quais a cor do agente violado
não foi informada 261 (0,1%). Este fato não significa diretamente que os direitos sejam
garantidos na prática, e sim que há tanto a possibilidade de uma não notificação da
violação destes, uma vez que a comunidades indígenas muitas vezes estão afastadas do
convívio social, dificultando a percepção destas infrações, quanto um distanciamento
dos órgãos competentes da responsabilidade de garantir sua proteção.
Quanto às violações específicas aos direitos de crianças e adolescentes
indígenas, quase metade - 553 (49,33%) - correspondem ao direito fundamental
“Convivência familiar e comunitária”, com 553 notificações. Destas, 290 (52,44%)
referentes à inadequação no convívio familiar ou privação a este convívio; 250
(45,21%) sendo violações à dignidade ou negligência familiar; e 13 (2,35%) atos
atentatórios ao exercício da cidadania ou ausência de programas e ações específicos
para aplicação de medidas de proteção.
O direito fundamental à vida e à saúde possui um quantitativo de 90
notificações, representando 8,03% do total das violações contra os direitos indígenas,
sendo em sua maioria referentes a atos atentatórios à vida e à saúde (47,78%); prejuízo á
vida e à saúde por ação ou omissão 19 (21,12%); O não atendimento em saúde 12
(13,33%); e 16 notificações (17,77%) tanto ao atendimento inadequado em saúde e
insegurança alimentar/nutricional, quanto à ausência de ações específicas para
prevenção de enfermidades e promoção da saúde.
Os direitos a Educação, Cultura, Esporte e Lazer receberam 151 notificações, o
que representa 13,47% do total, sendo a ausência de educação infantil ou impedimento
ao acesso à subcategoria mais notificada 45 (29,80%), seguida da inexistência de ensino
fundamental ou dificuldade no acesso 34 (22,52%); impedimento de permanência no
sistema escolar 33 (21,86%); atos atentatórios ao direito à educação 24 (15,89%); e a
falta de condições educacionais adequadas, bem como a inexistência ou dificuldade ao
acesso do ensino fundamental 15 (9,93%).
As violações ao direito à liberdade, respeito e dignidade dizem respeito a
28,46% do total, com 319 violações, sendo os atos atentatórios à cidadania o maior
número - 114 notificações (35,74%). Em seguida 93 (29,15%) são de violência sexual,
tanto de abuso quanto exploração sexual comercial. A violência física aparece com um
número de 54 notificações, representando (16,93%), enquanto 30 (9,4%) são de
violência psicológica e 28 (8,78%) de discriminação, negação do direito à
liberdade/respeito, restrições ao direito de ir e vir e a submissão de
crianças/adolescentes a atividades ilícitas ou contravenções sociais. Quanto ao direito à
profissionalização e proteção no trabalho há apenas 8 registros (0,71% do total), sendo
referentes a condições irregulares de trabalho ou inexistência de condições para
formação técnica e profissional.
4.2. A Situação dos Negros
No período de coleta das violações contra os direitos de crianças e adolescentes
negros (1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2014) foi observado no SIPIA um
número total de 279.364 notificações, destas, 15.139 (5,42%) referentes às violações
envolvendo direitos de crianças e adolescentes negros, número subnotificado, uma vez
que mais da metade da população brasileira se autodeclara parda e negra. Em relação
aos direitos violados, dessas 15.139 notificações 52,06% são referentes a Convivência
Familiar e Comunitária; 7,45% ao direito à Saúde e a Vida; 19,12% ao acesso a
educação, Lazer, Cultura e Esporte; 20,4% ao direito a Liberdade, Respeito e
Dignidade; e 0,97% ao direito à profissionalização e proteção no trabalho, percentuais
que não apresentam grande disparidade quando comparados à ocorrência em crianças e
adolescente indígenas.
Quanto aos aspectos regionais dessas notificações, as regiões sul e sudeste
representadas respectivamente por Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São
Paulo apresentam baixos números de notificações de violações especificamente aos
direitos de crianças e adolescentes negros, com seus respectivos percentuais em 4,32% e
6,69%. Esse percentual aumenta com a mudança da região, subindo para 7,67% no
nordeste; 8,48% no Centro-Oeste e chegando a 12,26% na região norte, o que mostra
que, em relação ao Sul/Sudeste há um aumento em até 3 vezes no número de violações
aos direitos de crianças e adolescentes negros, e um dos fatores que levam a esta
ocorrência está na maior quantidade de pessoas autodeclaradas negras nessas regiões.
Deste modo, é notório que uma grande atenção deve ser dada a esses jovens,
uma vez que estão expostos a vários tipos de violências dentro e fora de casa, sendo
muitas vezes a convivência familiar responsável pelo descumprimento de seus direitos.
O direito a um lar com atenção e cuidados é o primeiro passo para que, na rua, os
demais direitos sejam buscados. Quanto à educação, saúde, profissionalização e
liberdade cabe ao conjunto família-sociedade-Estado agir para que os direitos
preconizados no ECA sejam garantidos e praticados no dia a dia.
4.3. A Situação dos Deficientes
De acordo com o Censo 2010, neste mesmo ano 45.606.048 de brasileiros
apresentaram pelo menos um tipo de deficiência, sendo o aumento da ocorrência na
população diretamente proporcional ao aumento da idade dos indivíduos. No que diz
respeito à infância e adolescência, o percentual de portadores de deficiências é descrito
no Gráfico 01, que mostra a ocorrência de deficientes por faixa etária. Dado este
percentual de incidência, é importante analisar o total de notificações registradas no
SIPIA no período de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2014, como é mostrado
do Gráfico 02, a fim de observar as infrações aos direitos específicos deste grupo de
sujeitos de direitos, evidenciando sua vulnerabilidade social e a importância de medidas
de proteção especiais.
Gráfico 01 – Percentual de deficientes por faixa etária
Fonte: Cartilha Censo 2010, adaptado
2,79%
7,67%
11,22%
11,88%
0 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
Percentual de deficientes por faixa etária
Gráfico 02 – Total de violações por direito violado: 2009 a 2014
Fonte: SIPIA I (2015)
Nesta perspectiva, o Estatuto da Criança e do Adolescente esclarece, em 8
artigos, a existência de obrigações especiais do Estado para com este percentual
específico da população. No Art. 11 o ECA prevê o atendimento integral à saúde,
determinando a prestação de serviços de saúde especializados, incumbindo ao poder
público o fornecimento gratuito de medicamentos, próteses e tratamentos diversos para
as crianças e adolescentes portadores de deficiência. Deste modo, o SIPIA deve estar
apto a analisar notificações de infrações a este direito, uma vez que o Sistema de Saúde
brasileiro passa por grandes dificuldades e não está preparado para cumprir tal
legislação à risca, como é sua obrigação. Porém, não encontra-se no Sistema registro
algum sobre tais notificações, podendo este fato estar relacionado tanto ao Sistema não
possuir seções específicas para estes dados, em quaisquer tipo de pesquisa – no que diz
respeito ao Direito à Vida e à Saúde, quanto à subnotificação da situação real deste tipo
de atendimento em saúde.
No que diz respeito ao Direito à Convivência Familiar e Comunitária, o ECA
prevê, no Art. 87, linhas de ação da política de atendimento voltadas à campanha de
estímulo ou acolhimento sob a forma de guarda de crianças e adolescentes, entre outras
especificidades, portadoras de deficiências e doenças crônicas, reforçando em seu Art.
47 a prioridade na tramitação dos processos de adoção quando o adotando for possuir
alguma deficiência.
48,14%
6,25%
26,50%
18,26%
0,85%
Total de violações por direito violado: 2009 a 2014
Convivência família ecomunitária
Direito à vida e à saúde
Educação, cultura, esporte elazer
Liberdade, espeito e dignidade
Profissionalização e proteçãono trabalho
Quanto a esta categoria de direito, o CNA mostra que no dia 5 de março de
2015 havia 5681 crianças e adolescentes disponíveis para adoção no Brasil. Destas, 217
(3,82%) com deficiência física, 473 (8,32%) com deficiência mental, e 693 (12,2%)
com doenças tratáveis e não tratáveis, além de portadoras do vírus HIV. Vale salientar
que o Art. 197-C antecipa-se quanto à possível infração dos direitos à vida, à saúde e a
convivência familiar, por parte dos adotantes de portadores de deficiências, prevendo
intervenção da Justiça da Infância e da Adolescência no intuito de aferir a capacidade e
o preparo dos postulantes à adoção, oferecendo subsídios para que haja preparação
psicológica para o exercício da paternidade e maternidade responsável, como prevê a
lei.
Destarte, 24,34% das crianças disponíveis para adoção possuem deficiências e
necessidades especiais, podendo este número ser relacionado tanto à grande quantidade
de abandonos de crianças e adolescentes com deficiência, quanto à importância de
políticas mais eficientes de estímulo ao seu acolhimento, uma vez que, de acordo com
uma reportagem realizada pelo Fantástico (2015), apenas 7,5% dos mais de 33 mil
adotantes da fila de espera dizem estar dispostos a adotar deficientes.
O Art. 54 do ECA assegura ainda que é dever do Estado prestar atendimento
especializado aos portadores de deficiência, de preferência na rede regular de ensino e,
consequentemente, o SIPIA disponibiliza dados quanto à infração deste direito. Das
73014 violações ao Direito à Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 4393 (6,02%) são
referentes à falta de condições educacionais adequadas para crianças no geral, destas,
748 (17,11%) são violações afirmando sobre a falta de serviços especializados, não
especificando quais serviços são, porém, como esclarece o ECA, crianças e adolescentes
com deficiência possuem prioridade na prestação de serviços especiais.
Quanto ao Direito à Profissionalização e Proteção No Trabalho, o ECA dispõe,
no Art. 66, que ao adolescente com deficiência é assegurado trabalho protegido. Assim,
o SIPIA mostra que 0,85% do total de violações aos direitos de crianças e adolescentes
são referentes à infração deste direito, o que diz respeito a um número de 2343
notificações, das quais 608 estão associadas à inexistência ou insuficiência de condições
para formação técnica e profissional, 2 quanto à ausência de capacitação para pessoa
com deficiência e 5 quanto ao impedimento ao acesso para pessoa com deficiência.
O Eca, em seu Art. 70, estipula que O Estado, os Estados e os Municípios
deverão atuar na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a
coibir o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel e degradante a crianças e
adolescentes, acrescentando que famílias com crianças e adolescentes com deficiências
terão prioridade de atendimento em ações e políticas públicas de prevenção e proteção.
Neste sentido, o SIPIA não disponibiliza dados referentes a agressões ou castigos físicos
em crianças e adolescentes com deficiências. No entanto, quando ao Direito à
Liberdade, Respeito e Dignidade, o Sistema mostra que, das 20302 notificações de
infrações a este direito, 804 (3,96%) referem-se à discriminação, sendo 83 (10,32%)
quanto ao tratamento desigual por ter deficiência. Vale destacar a existência de uma
seção para notificação de discriminação quanto à situação de adotados, sendo 17 o
número de notificações desta espécie no período analisado.
O Estatuto ainda prevê medidas para práticas de ato infracional por parte da
criança e do adolescente. No Art. 112, parágrafo 3º, esclarece ainda que pessoas com
deficiência receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas
condições. Neste caso, não há dados no SIPIA referentes à infrações cometidas por
deficientes ou pessoas com doenças crônicas, deixando evidente a importância de haver
notificações destes casos.
5. Considerações Finais
A qualidade da informação é um elemento primordial para a fomentação de
políticas adequadas, neste caso, as que atuem para a melhoria do Sistema de Garantia de
Direitos de crianças e adolescentes indígenas, negros e com qualquer tipo de
deficiência. No entanto, esta pesquisa mostra que, apesar do avanço percebido ao longo
do tempo, há uma subnotificação no SIPIA, além da falta de seções especiais para
obtenção de dados sobre violações aos direitos dos deficientes, especialmente para
questões relacionadas à vida e à saúde.
Observa-se também uma falta de notificações sobre violência física sobre este
grupo de sujeitos, uma vez que estes são mais dependentes dos cuidados de terceiros,
consequentemente sendo mais expostos a atos violência que podem ser cometidos por
eles. Quanto aos dados referentes às violações contra crianças negras e indígenas, o
SIPIA possui seções específicas, porém sem informações disponíveis, mostrando a
necessidade de adequação ao Sistema não só em todas as localidades do país, mas
também às regiões de maior concentração de comunidades indígenas e quilombolas.
A conscientização da população quanto ao seu papel fundamental de
notificadora, além de uma melhor estruturação do SIPIA - e de sua implementação e
manutenção em conselhos tutelares, também são fatores essenciais para o conhecimento
real da situação destas crianças, além de proporcionar a melhoria de tal situação através
de ações adequadas. Apesar da melhora na regulamentação deste Sistema de Direitos,
um conjunto de atos diários são necessários para que se alcance a proteção integral dos
direitos de crianças e adolescentes.
6. Referências
Associação de Pais e amigos dos Excepcionais – APAE. Disponível em
<http://www.apaesp.org.br/> Acesso em dezembro de 2014.
ARIÈS, P. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
BOCK, B. M. A. A adolescência como construção social: estudos sobre livros
destinados a pais e educadores. Revista Semestral da Associação Brasileira de
Psicologia Escolar e Educacional. Rio de Janeiro, 2007.
BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Programa
Nacional de Direitos Humanos. Brasília, 2010.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Disponível em <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm> Acesso em dezembro de 2014.
BRASIL. Sistema de Informação para Infância e Adolescência (SIPIA). Disponível
em < http://www.sipia.gov.br/> Acesso de janeiro a maio de 2015.
BRASIL. Secretaria Nacional de promoção dos direitos da Pessoa com Deficiência
(SNPD). Disponível em <http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sobre-a-
secretaria> Acesso em dezembro de 2014.
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em <
http://www.ibge.gov.br/home/> Acesso em março de 2014.
BRITO, A. J. G.; FARIA, B. P. O direito multicultural e a rede de proteção dos
direitos da criança e do adolescente indígenas em Dourados (Mato grosso do Sul).
Revista da Faculdade de Direito UFPR, Curitiba, v. 58, p. 53-81, 2013.
Cartilha do Censo 2010 - Pessoas com Deficiência / Luiza Maria Borges Oliveira /
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) / Secretaria
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD) / Coordenação-
Geral do Sistema de Informações sobre a Pessoa com Deficiência; Brasília : SDH-
PR/SNPD, 2012.
Diretrizes da Política Nacional Da Pessoa com Deficiência. Disponível em <
http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/dh/cc/a_pdf/modulo3-tema5-aula7.pdf > Acesso
em dezembro de 2014.
FERNANDES, L. B., SCHLESENER, A., MOSQUERA, C. Breve histórico da
deficiência e seus paradigmas. Revista do Núcleo de Estudos e Pesquisas
Interdisciplinares em Musicoterapia. Curitiba, v.2, p.132 –144, 2011.
MATTOSO, K. Q. O Filho da Escrava. In: Mary del Priore (org) História da Criança
no Brasil. 4° Edição. São Paulo: Contexto, 1996.
ROSA, D. P. VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA: A
PROTEÇÃO À LUZ DO DIREITO. Defesa de Monografia, 2013. Disponível em
<http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/direitouni/direitouniCapa/
direitouniGraduacadireitouniGraduacaoDireito/
direitouniGraduacaoDireitoConclusaoCurso/direitouniGraduacaoDireitoConclusaoCurs
oPublica#20131> Acesso em dezembro de 2014.
SANTOS, J. D. F. As diferentes concepções de infância e adolescência na trajetória
histórica do Brasil. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.28, p.224 –238, 2007.
TEIXEIRA, M. G. S. A criança indígena no seu universo lúdico. MR 07 – Sociedade
e Resistência Indígena (2002).
VIEIRA, M. J. Transição para a vida adulta em São Paulo: cenários e tendências
sócio-demográficas. São Paulo, 2009.