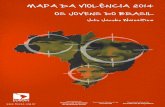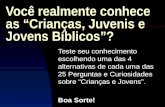Violência e Direitos de Crianças e Jovens
-
Upload
maria-dolores-brito-mota -
Category
Documents
-
view
230 -
download
1
description
Transcript of Violência e Direitos de Crianças e Jovens

1
Violência e Direitos de Crianças e Jovens: mudanças com arte, educação e políticas públicas.
2012 Copyright by Maria Dolores de Brito Mota (org.)
Dilma Rousseff Presidente da República
Aloísio Mercadante Ministro da Educação – MEC
Claudia Pereira Dutra Secretário de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e
Inclusão – SECADI/MEC
Jesualdo Pereira Farias Reitor da Universidade Federal do Ceará
Antonio Salvador da Rocha Pró Reitor de Extensão da Universidade Federal do Ceará
Promoção Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI Ministério de Educação e Cultura
Realização Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero, Idade e Família – NEGIF Universidade Federal do Ceará
ISBN-13: 978-1496159458

2
Violência e Direitos de Crianças e Jovens:
mudanças com arte, educação e políticas
públicas
Organizado por:
Maria Dolores de Brito Mota
Fortaleza-Ce
2014

3
SUMÁRIO
Projeto Novas Cores e Escola que Protege: Facilitações com Arte
e Cultura de Paz. Dyseane Maria Araújo Lima; Rafaella Maria de
Carvalho Cruz; Juliana Hilario Maranhão; Camila Brasil Uchoa de
Albuquerque / p. 05
Diversidade Sexual e Mobilização Social: Questões conceituais e
políticas para educadores e educadoras
Alexandre Martins Joca /p. 27
Escola que Protege - Formação de Educadores para a
Interrupção do Ciclo de Violência contra a Criança e o
Adolescente: Um olhar Crítico.
Liliane Batista Araújo; Ana Maria Frota /p.56
A Escola Protetiva na Ótica do(a) Professor(a)
Ernny Coêlho Rêgo /p. 95
Sexismo e racismo: algumas considerações sobre o perfil
identitário e o movimento das mulheres negras
Zelma Madeira /p. 118
Trajetórias Juvenis: Trocas e Negociações Identitárias de
Meninas Envolvidas na Prática De Homicídio
Rilda Bezerra de Freitas /p. 126
A Relação entre Instituições de Acolhimento para Crianças e
Adolescentes com Direitos Violados e as Escolas: Uma
Experiência de Avanços e Desafios
Luciana Gomes Marinho / p. 160
Para (Re)encantar a Infância. Perspectivas da infância na pós –
modernidade: proteção, direitos e autonomia
Maria Dolores de Brito Mota; Julia Mota Farias /p. 179

4
Sobrevivência Ameaçada: Assassinatos de Jovens em Fortaleza e
Região Metropolitana
Rita Claudia Aguiar Barbosa; Rafaela Menezes Martins; Rafael
Leite Neves /p. 191
Reflexões sobre a Práxis do Projeto Novas Cores na Escola Padre
Rocha
Juliana Hilario Maranhão; Liana Araújo Scipião; Anna Thércia de
Assis Ferreira; Camila Brasil Uchoa de Albuquerque;Rafaella Maria
de Carvalho Cruz; Alana Isla Montenegro Feire; Deyseane Maria
Araújo Lima /p. 204

5
Projeto Novas Cores e Escola que Protege: Facilitações com Arte
e Cultura de Paz
Deyseane Maria Araújo Lima
1
Rafaella Maria de Carvalho Cruz2
Juliana Hilario Maranhão3
Camila Brasil Uchoa de Albuquerque4
Introdução
O Novas Cores é um Projeto de extensão do Núcleo Cearense de
Pesquisa e Estudos sobre a Criança e o Adolescente (NUCEPEC), que há
nove anos atua na construção da cidadania e na defesa dos direitos das
crianças e adolescentes, através dos recursos artísticos.
Em 2010.1 este Projeto iniciou uma parceria com o Programa
Nacional denominado Escola que Protege, que tem como intuito trabalhar a
violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Para isto, é necessário a
capacitação dos profissionais para a sua atuação em situações de violência
identificadas, produzidas ou vivenciadas no ambiente escolar.
1 Psicóloga. Mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
Especialista em Educação Inclusiva (UECE) e Educação a Distância (SENAC).
Integrante do Nucepec e supervisora do Projeto Novas Cores.
[email protected] 2 Estudante de Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC). Integrante do
Nucepec e membro do Projeto Novas Cores. [email protected] 3 Estudante de Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Bolsista
do Programa de Educação Tutorial – PET do Serviço Social. Integrante do
Nucepec e membro do Projeto Novas Cores. [email protected] 4 Estudante de Serviço social da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e da
Psicologia d Universidade Federal do Ceará (UFC). Bolsista do Programa de
Educação Tutorial – PET do Serviço Social. Integrante do Nucepec e membro do
Projeto Novas Cores. [email protected]

6
Esta parceria teve como finalidade realizar palestras e oficinas com
os professores pautados na problematização das situações de violência na
escola, utilizando a arte educação e a cultura de paz neste contexto.
Desta forma, a proposta da nossa atuação foi de uma educação
através da arte, colaborando para a construção da cidadania de professores
da rede pública de ensino. Além de buscar soluções através do diálogo para
a violência na escola, refletir sobre o cotidiano escolar, sua relação com a
sociedade e a atuação dos professores através da arte e incitar a participação
social e comunitária dos profissionais.
As vivências com a arte podem promover a vinculação afetiva entre
professores e aluno, reconstruir e construir o conhecimento, propiciar o
autoconhecimento e desenvolver a criticidade dos participantes desta
formação.
Foram desenvolvidos quatro encontros, os dois primeiros com
estudantes da graduação de pedagogia, serviço social e psicologia; os dois
últimos foram com professores da rede regular de ensino, psicólogos,
educadores sociais, assistentes sociais e outros profissionais.
No primeiro momento realizamos uma exposição dialogada, em
que pudemos levantar questões relacionadas à violência e a escola, o
conceito de infância e adolescência, a construção da cidadania, os
princípios básicos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a
relação professor-aluno e aluno-aluno, a arte como metodologia de
intervenção na sala de aula e a educação para uma cultura de paz.
No segundo momento o público participante foi dividido em três
grupos para a realização das oficinas, onde trabalhamos as temáticas
abordadas na primeira parte com a discussão de casos e reflexões sobre a
realidade escolar. Estes casos refletem situações cotidianas dos professores
na sala de aula, em que estes devem buscar possíveis soluções e propiciar

7
novas atuações neste ambiente. Teve também a construção de material
didático e jogos lúdicos para ser utilizado pelos professores na sala de aula
com os alunos do ensino infantil, ensino fundamental e médio, como
possibilidade de trabalhar as situações de violência na sala de aula.
Portanto, o objetivo deste artigo é abordar os conceitos de violência
escolar e bullying, trazendo reflexões sobre a prática do professor no seu
cotidiano e possibilitar novos posicionamentos do professor na sala de aula
através da arte e da cultura de paz neste meio.
1. Violência nas escolas
A violência na sociedade brasileira tem permeado a maioria das
relações sociais manifestando-se de forma multifacetada nas relações
interpessoais e institucionais, perpassada pela exclusão, injustiça e
desigualdade social inerentes ao sistema de produção capitalista
promovendo uma intensa cultura de violência.
Este país - caracterizado não só pela desigualdade, mas
pela existência de elites que privatizam a esfera pública
e reiteram em suas práticas a ausência de direitos,
fortalecendo a impunidade e da corrupção dos
governantes - tende a ser uma sociedade que produz,
ao mesmo tempo, a cultura da violência e a sua
banalização (PERALVA, 1995, apud, SPOSITO, 1998,
p. 2).
Esta violência se expressa no cotidiano em diferentes formas como
a física, a psicológica, a sexual e a institucional. No entanto, a situação de
violência não esta associada apenas às desigualdades sociais, mas também
se relaciona com a competição no mercado de trabalho, a mercantilização
da educação, a não garantia dos direitos básicos dos cidadãos, o consumo
exacerbado, a expansão e banalização de ações violentas a partir da

8
naturalização de diversas formas de sociabilidade. Estas retiram o caráter
eventual ou episódico de determinadas práticas de destruição ou de uso da
força (SPOSITO, 1998), como o bullying, perseguições e segregação em
grupos por características e gostos pessoais de forma a menosprezar os
sujeitos não condizentes com o perfil do grupo, tem influenciado o modo de
agir e de se relacionar dos sujeitos no qual a escola está inserida.
A violência é todo ato que implica na ruptura de um
nexo social pelo uso da força. Nega-se, assim, a
possibilidade da relação social que se instala pela
comunicação, pelo uso da palavra, pelo diálogo e pelo
conflito. Mas a própria noção encerra níveis diversos
de significação, pois os limites entre o reconhecimento
ou não do ato como violento são definidos pelos atores
em condições históricas e culturais diversas
(SPOSITO, 1998, p. 3).
Podemos exemplificar este fato, nas facilitações do Projeto Novas
Cores com os professores e alunos da graduação no Programa Escola que
Protege, pois percebemos que os educadores se focavam bastante na
violência do educando em direção a eles, na qual são “vítimas”. Já que em
vários momentos expressaram as ameaças que sofriam, as situações de
agressão física e verbal que passaram e os momentos de medo que
vivenciaram.
O contexto escolar, em especial as escolas públicas, é perpassado
por questões de classe, gênero, geração, etnia e crenças, que se apresentam
no cotidiano como expressões violentas de agressão física e psicológica,
ameaças, roubos, destruição de patrimônio, bullying, entre outros. Além do
mais, a escola não é apenas o locus onde acontece a violência, mas também
é um ente provedor desta, não é à toa os casos de agressões físicas entre
alunos e de professores contra alunos e vice-versa, bem como de assédio
sexual como uma das maneiras mais comuns de violência de professores

9
contra alunos, principalmente contra as mulheres naturalizando esses tipos
de relacionamento como não sendo passíveis de punição.
Distintamente da concepção estritamente jurídica - que
se refere à indução de favores sexuais mediante
pressões tendo por base assimetrias nas posições de
poder - o assédio sexual é entendido neste trabalho de
maneira mais ampla, podendo incluir formas diversas
de intimidação sexual - olhares, gestos, piadas,
comentários obscenos, exibições - e de abusos - como
propostas, insinuações e contatos físicos aparentemente
não intencionais - além de fofocas, frases, desenhos
nos banheiros, etc. (ABRAMOVAY, 2002, p.
247).
Porém, observamos durante os encontros do Escola que Protege que
os educadores esqueciam ou não comentavam das agressões e autoritarismo
presentes em relação aos educandos. Fazendo com que os facilitadores
pontuassem este fato, colocando questões como: Alguns professores
promovem também atos violentos na escola? Como pode acontecer isto?
Quais são os motivos? O que pode propiciar? Como está a relação professor
e aluno?
As respostas eram diversas a esta pergunta, alguns falaram que este
tipo de violência não existia, ou não conseguiam perceber; já, outros,
comentaram que já viram alguns colegas de trabalho fazendo. Estes
reclamavam de cansaço, ou uma rotina exaustiva com baixa remuneração,
ou por problemas pessoais ou familiares, que impedia a percepção da
dificuldade do aluno e agiam com agressão física e/ou verbal. Esta
problematização é uma forma de propiciar a percepção e tomada de
consciência dos professores sobre a realidade escolar, podendo discutir
sobre a violência direcionada ao aluno e ao professor.
Nesse sentido, a escola como instituição de construção social e
intelectual tem sido interpelada a interferir em casos de agressão e

10
confronto dentro e fora do seu ambiente físico, demandando novas
atribuições à escola além da formação intelectual dos alunos, tais como,
discussões pertinentes à sociabilidade, depredação e agressões no ambiente
escolar, drogadição, problemas intrafamiliares e utilização de mídias para
denegrir ou difamar a imagem de alguém, dentre outros.
Responsabilizando-se também com o entorno de seus muros, o que tem se
estabelecido como desafio, visto a precariedade e falta de apoio da grande
maioria das escolas públicas no Brasil.
O desafio de trabalhar a violência na escola, bem como, o
comportamento “agressivo” ou “rebelde” dos alunos tem sido colocado
como uma questão de indisciplina o que recai sobre ações de controle,
punição e exclusão aqueles que não se adequam as normas escolares, fruto
de uma cultura baseada no autoritarismo donde se estabelecem práticas
repressivas de professores em relações interpessoais com os alunos em sala
de aula configurando-se como violência simbólica e pelo adultocentrismo
em que ocorre a supervalorização do adulto, revelando a discrepância nas
relações adulto/criança.
A instituição escolar não pode ser vista apenas como
reprodutora das experiências de opressão, de violência,
de conflitos, advindas do plano macroestrutural. É
importante argumentar que, apesar dos mecanismos de
reprodução social e cultural, as escolas também
produzem sua própria violência e sua própria
indisciplina (GUIMARÃES, 1996, apud,
ABRAMOVAY, 2002, p. 88).
Notamos na experiência de capacitação no Escola que Protege, que
algumas escolas apresentam uma rigidez em relação as suas regras, como
comentou um professor, que são construídas apenas por estes sem
participação dos alunos. Em alguns casos, os educandos não conseguem
cumprir estas normas e são severamente punidos, por exemplo, não

11
conseguem chegar no horário na sala de aula (por um problema familiar, ou
trabalho ou desinteresse), o professor age grosseiramente e manda para a
coordenação sem saber o motivo, causando rebeldia e falta de compreensão.
Porém, o que percebemos é que esta autoridade baseada no medo
não tem se sustentado na realidade atual. As crianças e adolescentes da
nova geração estão recebendo um tipo de educação menos rígida do que a
educação militar dos anos da ditadura. Em função disso, não é possível
simplesmente querer controlar os alunos através do medo, mas sim
encontrar alternativas para lidar com crianças e adolescentes de maneira
mais efetiva. Uma das estratégias que se mostram ao alcance da escola é a
introdução em seu plano pedagógico de atividades que articulem o
conteúdo formal a assuntos contemporâneos a partir de aulas e atividades
lúdicas, proporcione espaços de integração e diálogo efetivos entre
professores, alunos, pais e comunidade sobre o processo pedagógico
reconhecendo o contexto da escola e o público a quem se dirige
possibilitando uma educação sintonizada com a realidade e interesses das
crianças e adolescentes.
É importante ressaltar que a escola não está e nem deve se sentir
sozinha, pois a família também tem um papel primordial no que tange a
discussão sobre a violência no âmbito escolar, uma vez que, ambas as
instituições são construções sociais que influenciam e são influenciadas
pelo meio exterior.
Pudemos analisar que os professores na capacitação reclamaram da
ausência da família na escola, que pode ser por falta de interesse, ou pela
escola não ser um ambiente atrativo para a mesma ou por outros motivos,
pois costumam ir somente para receber reclamações dos filhos e não há um
espaço de interação entre pais, professores e alunos.

12
Assim como, é dever do Estado promover uma política pública de
educação de qualidade sintonizada com as questões contemporâneas, para
que se efetive uma educação que possibilite o desenvolvimento psicossocial
saudável de crianças e adolescentes e de sua cidadania.
2.1 – Bullying: Violência aluno-aluno nas escolas
Atualmente, uma das questões mais discutidas envolvendo
condutas agressivas provenientes de crianças e de adolescentes, no âmbito
escolar, diz respeito ao fenômeno denominado bullying, o qual compreende
um conjunto de comportamentos agressivos, repetitivos, intencionais e sem
motivação aparente ocorridos entre os próprios estudantes (ALMEIDA,
CARDOSO & COSTAC, 2009). Nesse sentido, caracterizam-se como
atitudes relacionadas ao bullying agressões físicas e verbais (apelidos
pejorativos e discriminatórios, ofensas ou insultos) que ocorrem dentro de
uma relação desigual de poder entre os alunos envolvidos, comumente,
fundamentada nas diferenças de idade, de condição física ou intelectual, de
nível socioeconômico e no maior apoio dos demais estudantes.
A partir da compreensão de que os sujeitos se desenvolvem e se
constituem na relação com o Outro e sob as influências do meio social, é
importante ter em vista que os comportamentos agressivos resultam da
interação entre o desenvolvimento e a forma de funcionamento individual e
as características dos contextos sociais (família, escola e comunidade) nos
quais as crianças e os adolescentes estão inseridos. Com isso, podem ser
fatores associados à ocorrência do bullying: presença de agressividade e de
desestrutura no ambiente familiar; ausência de limites por parte dos pais;
baixo nível de relacionamento afetivo; conflitos interpessoais na escola;

13
exposição à violência no ambiente comunitário; influência da mídia; entre
outros (ALMEIDA, CARDOSO & COSTAC, 2009).
Com relação ao perfil dos sujeitos envolvidos, há predomínio do
bullying entre estudantes na faixa etária entre 11 e 13 anos de idade, sendo
menos comum na educação infantil e no ensino médio (NETO, 2005). Entre
os agressores é possível perceber a preponderância de sujeitos do sexo
masculino, enquanto que, na posição de vítimas, não existem diferenças
significativas entre os gêneros. Acredita-se que a ocorrência de formas de
agressões mais sutis esteja relacionada à dificuldade de identificar e,
conseqüentemente, de prevenir situações de bullying entre as meninas.
No que se refere as suas implicações, a presença do bullying nas
escolas pode acarretar significativas perdas e dificuldades de ordem
biopsicossocial, seja de curto ou longo prazo, na vida dos sujeitos
envolvidos. De um lado, têm-se os alunos agressores que, possivelmente,
apresentam fragilidades em seu desenvolvimento moral e afetivo enquanto
de outro se têm as vítimas, as quais sofrem com a deterioração de sua auto-
estima e autoconceito (FRANCISCO & LIBÓRIO, 2009). Assim, é
importante considerar que tanto os alunos que sofrem as agressões quanto
aqueles que as praticam precisam de ajuda e, por isso, devem ser
acompanhados por profissionais que trabalham com auxílio psicológico e
pedagógico como forma de amenizar as conseqüências decorrentes do
bullying.
Em suma, a presença do bullying parece acarretar
prejuízos físicos, psicológicos e sociais, tanto para
quem recebe quanto para quem pratica. Esses
prejuízos podem ser observados logo em seguida a
sua prática ou no decorrer do desenvolvimento da
criança, podendo perdurar à idade adulta (ALMEIDA,
CARDOSO & COSTAC, 2009, p. 203).

14
A prática de atitudes agressivas no contexto escolar se trata de
um problema freqüentemente ignorado ou não valorizado pelos adultos que,
muitas vezes, acabam apreendendo a violência no interior da escola,
enfatizada aqui através do fenômeno bullying, como algo natural e que não
carece de atenção. Contudo, é essencial que tanto os professores quanto os
pais estejam atentos para a existência do bullying, de modo que o suporte e
a co-participação dos atores envolvidos no processo de desenvolvimento
das crianças e dos adolescentes tende a favorecer a identificação dos
comportamentos agressivos e o planejamento de estratégias de intervenções
para a resolução e para a amenização das conseqüências dos mesmos.
A participação conjunta da família e da escola é de suma
importância para a prevenção das situações de bullying e para o tratamento
das vítimas, as quais percebem seus pais e professores como principal fonte
de apoio para a superação do mal-estar e da deterioração física e/ou
psicológica decorrentes dessa modalidade de violência. Além disso, se faz
fundamental o desenvolvimento de ações no ambiente escolar no sentido de
orientar os pais quanto à importância de conhecer a maneira como seus
filhos se comportam na escola e os professores quanto à necessidade de
conseguirem identificar e lidar com alunos que apresentam comportamentos
agressivos em relação aos colegas.
Ao analisar a quem os alunos recorrem quando
maltratados na escola, percebe-se então que, boa parte
busca o auxílio dos pais e professores. É fato que o
bullying se faz presente nas escolas e que muitas
vezes estes casos de violência estão tão bem
camuflados que ninguém consegue identificá-los e
media-los; ou as pessoas vêem e preferem não tomar
parte, ou até mesmo, não se sentem preparadas para
tal, inclusive os professores, justificando a
necessidade de maiores debates na área da educação
visando uma conscientização sobre os efeitos do

15
bullying, os quais não ficam restritos às vítimas,
agressores e espectadores, mas à sociedade de uma
forma geral (FRANCISCO & LIBÓRIO, 2009).
Diante das afirmações dos professores na capacitação do Escola
que Protege, percebemos que o bullying é uma temática presente no
cotidiano das escolas, em que muitos não a observam apesar de existir, ou
que não conseguem lidar com ela. Acreditam que é apenas uma fase que vai
passar, ou que não precisa de tratamento, e por isso algumas vezes prefere
se omitir e não questionar esta problemática.
Como exemplos das graves conseqüências decorrentes das
situações de bullying aliadas à negligência proveniente dos pais e dos
professores em relação ao estado emocional dos jovens e aos conflitos entre
os pares é possível fazer referência aos casos de tiroteios em escolas norte-
americanas motivados, sobretudo, pela vingança e pelo senso de heroísmo
de alunos que sofriam segregação e humilhações nas instituições escolares
ou universitárias nas quais estudavam (VIEIRA, MENDES &
GUIMARÃES, 2009). Dois desses casos que ganharam grande repercussão
mundial diz respeito aos ocorridos na Columbine High School em abril de
1999, onde dois estudantes (Erick Harris e Dylan Klebold) provocaram a
morte de doze alunos e de um professor e suicidaram-se em seguida, e na
Virginia Polytechnic Institute and State University em abril de 2007, onde
um estudante de origem sul-coreana (Cho Seung-Hui) foi responsável pela
morte de 32 pessoas, entre alunos e professores, e também cometeu suicídio
em seqüência.
Entre os fatores apontados como determinantes para a ocorrência
de tais ações nas instituições de ensino norte-americanas destacam-se a não
percepção tanto dos pais quanto dos professores em relação à segregação,
aos constrangimentos e humilhações sofridos por seus filhos e alunos no

16
ambiente escolar, ou seja, a ausência de monitoramento e de interferência
parece ter contribuído para a concretização do sentimento de vingança e da
ideação suicida mobilizados nos três estudantes protagonistas dos tiroteios
(VIEIRA, MENDES & GUIMARÃES, 2009). Desse modo, como
mencionado anteriormente, o papel pró-ativo da família e dos educadores
no sentido da apreensão de que tipo de relações seus filhos e alunos vêm
estabelecendo em seu cotidiano escolar é fundamental para procederem
com os cuidados e intervenções dos quais são responsáveis.
Tanto em Columbine como na Virginia Tech, práticas
de humilhação contra pessoas classificadas como
outsiders (excluídas) estavam presentes. Em ambos os
casos a prática de bullying e a falta de interesse e/ou
competência de pais, professores, diretores e colegas
para se aproximar dos adolescentes e tentar alguma
intervenção é marcante (VIEIRA, MENDES &
GUIMARÃES, 2009).
De maneira geral, o bullying deve ser apreendido enquanto um
fenômeno presente em escolas do mundo inteiro, bem como (re)conhecido
e estudado no sentido da prática contínua de estratégias preventivas desse
problema e capazes de estimular às crianças e aos adolescentes a
desenvolverem formas de convivência que incluam o respeito às
singularidades tanto no âmbito escolar quanto nos demais contextos sociais.
2. Estratégias para a problematização da violência nas
escolas: Arte-educação e Cultura de Paz
Neste tópico abordaremos a atuação na escola com recursos para a
promoção de uma cultura de paz e a utilização de recursos artísticos na sala
de aula, dando assim subsídios para os professores lidarem com situações
de violência no seu cotidiano.

17
2.1 – Arte-educação
O ambiente escolar, segundo ECA (2010), caracteriza-se com uma
preocupação em introduzir o regramento da criança aos ditames societários
desde tenra idade, havendo uma dificuldade para o surgimento de uma
lacuna na qual os seus sentimentos e emoções possam ser trazidos à
superfície livremente e irrestritamente, como forma de expressão plena da
sua individualidade. Na rotina escolar, as brincadeiras e os jogos são
frequentemente destinados somente ao horário do recreio, sendo relegados
no ensino das disciplinas formais, esquecendo-se do caráter de ludicidade
próprio das crianças e jovens em sua forma de significar e intervir no seu
ambiente circundante. Em suma, “na escola vive-se rotineiramente, joga-se
pelo seguro, para os alunos terem bons resultados nos exames, porque a
escola e a sociedade acreditam que ter resultados nos exames é um
passaporte para o sucesso na vida futura.” (ECA, 2010, p.7)
Desta forma, para Lima, Siqueira, Sousa et all. (2009, p. 111),
A utilização dessa metodologia com crianças e
adolescentes adquire uma importância ainda maior,
visto que possibilita um desenvolvimento integral
desses sujeitos desde os períodos mais primevos de
suas vidas. Além disso, o mero repasse de conteúdos
intelectuais de forma clássica não desperta, nesses
jovens, a mesma atenção e interesse que as atividades
lúdicas e estéticas proporcionam. Isso porque,
inicialmente, a sensação apresenta-se como uma
maneira de ver o mundo mais desenvolvido do que as
abstrações conceituais.
Percebemos este fato na formação no Escola que Protege, alguns
professores separam o momento de brincar do destinado ao estudo. Então,
qual seria o momento em que as crianças preferem? O momento do recreio,

18
em que podem brincar, se expressar de forma criativa e autêntica. Assim, o
que os professores poderiam fazer para transformar o momento de estudo?
Transformar em momentos lúdicos, já que é a linguagem de acesso a
criança, fazer com que possam aprender também brincando. Este é um
momento de criar, de trocar, de conhecer e de experimentar com o professor
e os outros colegas.
Nesse sentido, percebe-se que a arte-educação tem o
potencial para servir como uma grande influência para
uma metodologia baseada na arte, uma vez que ela
concebe a educação não como um processo penoso e
desgastante, mas sim como algo lúdico e estético, não
se baseando apenas na transmissão de conhecimentos
racionais. Para a arte-educação, é igualmente
importante exercitar a imaginação e a criatividade dos
indivíduos, pois, dessa forma, torna-se possível acessar
dimensões humanas impossível de simbolizações
conceituais. (LIMA, SIQUEIRA & SOUSA et all,
2009, p. 111)
A instituição escolar, desde a sua gênese caracteriza-se pela
produção de mão-de-obra para o mundo moderno, sendo que a sua visão
sempre parte da visão das classes dominantes (DUARTE JR., 1994). Em
relação ao jovem, a escola muitas vezes não o permite exercer a sua
idiossincrasia questionadora, configurando-se um instrumento de
normatização destes indivíduos em relação aos padrões incutidos pela
cultura moderna. Este fato é especialmente observado na questão da
discussão da sua profissionalização, que é realizada segundo o
enquadramento da inserção deste futuro trabalhador ao mercado de trabalho
de acordo com as necessidades do capitalismo. Desta forma, destaca-se a
necessidade de uma reflexão acerca do caráter da escola de repassar
conteúdos predominantemente distantes da realidade dos alunos, ao invés
de perceber a peculiaridade das formas de sociabilidade próprias das

19
crianças e jovens e a possibilidade de priorizar formas mais participativas
de educação.
A escola pública brasileira em especial é perpassada por desafios
próprios, provenientes da falta de priorização da política pública de
educação pelo Estado. A defasagem do orçamento público na educação é
percebido em relação à falta de infra-estrutura de grande parte das escolas,
nas lotações das salas de aula, assim como a remuneração dos professores e
na carência de incentivo à qualificação constante dos mesmos, os quais
frequentemente reclamam uma percepção de desvalorização profissional.
Estes estão expostos às diversas formas de violência que penetram no
ambiente escolar, contudo, são escassos os recursos pedagógicos capazes de
abranger a prevenção e a resolução de conflitos de forma pacífica. Por conta
destes fatores, o processo de educação escolar da escola pública acaba
sendo prejudicada.
A diversidade própria do contexto escolar é geralmente
inviabilizada, havendo o surgimento de conflitos envolvendo a questão
étnica e a de gênero, dentre outras. O mesmo ocorre com as distintas
percepções de mundo destes indivíduos, advindas do contexto cultural onde
eles estão inseridos. No intuito de propor métodos pedagógicos que lidem
com estas questões, a utilização da arte como método na sala de aula tem
sido intensamente discutida por profissionais e estudiosos na área escolar a
partir da percepção dos benefícios que pode acarretar no processo de
aprendizagem.
Segundo Duarte Jr (1994), a arte-educação não tem como objetivo
principal ensinar técnicas artísticas e treinar os alunos para que se tornem
artistas e sim possibilitar uma forma de educação que tenha a arte como
aliada, permitindo uma maior sensibilidade do indivíduo em relação ao
mundo que o circunda. A aprendizagem, para o autor, pode ser entendida

20
como um processo que requer uma conexão entre os símbolos ou conceitos
com a vivência do indivíduo e os sentimentos a ela relacionados. Assim, a
arte contém a capacidade de ampliar a possibilidade de aprendizagem dos
alunos, pois
O processo de conhecimento, já o notamos, articula-se
entre aquilo que é vivido (sentido) e o que é
simbolizado (pensado). Ao possibilitar-nos o acesso a
outras situações e experiências, pela via do sentimento,
a arte constrói em nós as bases para uma compreensão
maior de tais situações. (DUARTE JR., 1994, p.69)
Já, Barbosa (1975) contribui com esta colocação, afirmando que a
arte pode constituir-se como um importante auxiliar para o enriquecimento
do processo de aprendizagem dos demais conteúdos cognitivos escolares,
por conta dos processos afetivos que mobiliza.
Durante a realização de oficinas, fizemos alguns materiais lúdicos
para a atuação com crianças e jovens para o trabalho com as situações de
violência e outras questões relevantes da escola. As atividades realizadas
foram: o livro de histórias, o jogo de tabuleiro (circuito), a paródia, o
boliche, o dominó, as colagens, o teatro, a música, o jogo da memória, entre
outros.
Fizemos a construção destes materiais para o uso em sala de aula,
que podem ser criadas com o público alvo ou já levadas prontas,
dependendo do objetivo e tempo disponível para a atividade. E podem ser
usadas para a reflexão da realidade e o posicionamento crítico dos sujeitos,
bem como para realizar atividades do conteúdo programático, como por
exemplo fazer um dominó com operações matemáticas...
O incentivo da prática artística na escola possibilita que haja uma
promoção de protagonismo dos alunos, através da expressão da sua
criatividade e de seu pensamento crítico, o que contribui para uma educação
para a construção da cidadania, onde a peculiaridade daquele indivíduo seja

21
alcançada. (CAMARGO & BULGACOV, 2010) Ademais, através de
atividades artísticas e lúdicas, os alunos estão em um momento no qual a
sua atenção está focada, e estão participando ativamente da construção do
conhecimento, quando os conteúdos não estão sendo internalizados
passivamente.
É relevante salientar a necessidade de que o professor se coloque
em posição de horizontalidade em relação ao aluno, na proposição de
construção do saber de forma conjunta, opondo-se à mera socialização de
conteúdos, inclusive no trabalho com arte na sala de aula. Desta forma,
O fazer-junto-com-o-aluno o coloca na possibilidade
de experimentar outras formas de relações em que o
exercício da criatividade torna-se possível, em que a
sensibilidade do aluno e do professor se constrói nas
interações de sujeitos concretos, totais e humanos; de
sujeitos não cindidos pelas relações autoritárias ainda
dominantes nas escolas, que superdimensionam o
racional e negam o sensível e o criativo como
dimensões fundamentais para a constituição de sujeitos
autônomos. (CAMARGO & BULGACOV, 2010, p. 8)
2.2. Cultura de Paz
A Cultura de Paz nas escolas é relevante por propiciar momentos de
reconhecimento das dificuldades existentes neste âmbito, como a violência,
o bullying, as drogas, entre outros, e a sua resolução de forma pacífica,
compreensiva e cooperativa.
Melman, Ciliberti, Aoki et. all. (2009, p. 2) afirmam que “falar de
paz e de não-violência neste mundo repleto de turbulências e injustiças
causa estranhamento e resistências.”
Isto é percebido nos meios de comunicação de massa, que
costumam priorizar os conflitos, as agressões e os atos violentos, com o

22
objetivo de ter mais audiência e explorar o sofrimento humano. Geralmente,
não aborda ou pouco comenta os assuntos vinculados a solidariedade, a
cooperação e o cuidado com o outro. Melman, Ciliberti, Aoki et. all. (2009,
p. 3) consideram que,
Conflitos entre pessoas, grupos e organizações são
inevitáveis. A diversidade é necessariamente geradora
de conflitos. Não devemos fugir deles. Os conflitos são
essenciais para o aprimoramento das relações entre os
homens, e para a construção de uma sociedade mais
justa, igualitária, democrática e plural.
Assim, é necessária uma educação para a paz, que segundo Matos
(2006), não se faz na ausência de conflitos, mas visa à resolução destes de
forma pacífica, dialogada e cooperativa. Ressaltamos que não seria a
passividade, nem a submissão, mas a promoção de atos transformadores da
realidade que simbolizam a paz, o compromisso social e o diálogo. Focando
no respeito à vida, na cooperação, na tolerância, na convivência solidária,
em busca de uma paz consigo mesmo, com os outros, com a sociedade e
com o ambiente.
Ao falarmos de cultura de paz, remetemos ao conceito de diálogo,
para Freire (2005), pois considera que este é reflexão, é ação, é expressão e
elaboração do mundo, reconhecimento de si mesmo e do outro.
A dimensão dialógica é fundamental para uma cultura de paz, pois
permite a valorização das diferenças culturais e sociais (etnia, religião, entre
outras), conhecer o posicionamento do outro sobre determinada temática e
perceber as diversas possibilidades de abordar certo assunto, sem
naturalizá-lo. É uma forma de respeitar o que cada ser humano pensa, sente
e reflete sobre o mundo, a natureza, a sociedade, a comunidade e as suas
relações.

23
Desta maneira, Freire (2005) critica o ensino bancário em que o
professor apenas deposita os conhecimentos alheios a realidade no aluno,
não os reconhecendo como sujeitos do processo de ensino e aprendizagem.
Reflete assim a violência, pois está relacionada com a antidialogicidade, a
situação de opressão, restrição da liberdade e o não reconhecimento da
transformação social. Não poder pensar nem expressar seus sentimentos e
emoções, apenas reproduzir um discurso e um conteúdo alienado e
alienante.
Observamos com os professores do Programa Escola que Protege,
que em algumas escolas não há espaço para o diálogo, assim não tem
espaço para que as crianças e adolescentes possam expressar seus
sentimentos, suas emoções, seu sofrimento, seus conflitos, suas alegrias,
entre outros.
No caso da violência escolar, para Matos (2006a), uma forma de
resolver isto seria o diálogo problematizador com os integrantes no
contexto escolar, para saber o que pensam, sentem e vivenciam sobre esta
realidade, bem como com a sociedade em geral, propiciando a escuta, a
solidariedade, o reconhecimento e o respeito com os alunos e professores.
Então, não seria eliminar os atos violentos, ou mascarar estes fatos
como se não existissem, mas propiciar momentos de diálogo sobre estes
atos no meio escolar, familiar, comunitário e social.
Na escola, é essencial trabalharmos com a noção de paz e violência
com as crianças e os adolescentes a partir do contexto social, pois a sua
percepção dos fenômenos modifica-se diante da realidade e podem ser
analisados por um viés crítico e transformador.
É um lugar que podemos problematizar a violência e a paz,
propiciando aos jovens, adolescentes e crianças um posicionamento crítico
sobre o contexto social em que estão inseridos. A cultura de paz ao ser

24
dialogada e problematizada neste ambiente pode se estender para a família,
amigos, comunidade e outros grupos sociais que o indivíduo participará em
sua vida.
Considerações Finais
A formação propiciada pelo Programa Nacional Escola que Protege
com o Projeto Novas Cores e outros facilitadores, promoveram o processo
de conscientização dos professores, psicólogos, assistentes sociais,
educadores sociais e alunos de graduação que atuam ou irão atuar na rede
regular de ensino com crianças e adolescentes. Além disto, foi possível
refletir sobre a situação da escola, as regras institucionais, a participação
dos alunos e a solução conjunta dos problemas vivenciados neste contexto.
Para isto, é necessário estratégias para a reflexão e problematização das
questões fundamentais neste contexto, como a arte-educação e a promoção
de uma cultura de paz.
Referências bibliográficas
ABRAMOVAY, M. Violência nas escolas. Brasília: UNESCO,
Coordenação DST/AIDS do Ministério da Saúde, Secretaria do Estado dos
Direitos Humanos do Ministério da Justiça, CNPq, Instituto Ayrton Senna,
UNAIDS, Banco Mundial, USAID, Fundação Ford, CONSED, UNDIME,
2002.
ALMEIDA, S. B. de; CARDOSO, L. R. D; COSTAC, V. V. Bullying:
Conhecimento e prática pedagógica no ambiente escolar. Psicol. Argum.
2009, 27 (58), 201-206. Disponível em:
<http://www2.pucpr.br/reol/index.php/PA?dd1=3247&dd99=view> Acesso
em: 20 de agosto de 2010.
BARBOSA, A. M. T. B. Teoria e prática da educação artística. São
Paulo, Cultrix, 1975.

25
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal 8.069, de 13
de julho de 1990. Brasília: Senado Federal, 2008.
CAMARGO, D. de; BULGACOV, Y. L. M. A perspectiva estética e
expressiva na escola: articulando conceitos da psicologia sócio-histórica.
Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
73722008000300007&lang=pt>. Acesso em: 3 de agosto de 2010
DUARTE., JR. F. Porque arte-educação?.Campinas: Papirus, 1994.
ECA, T. T. P de. Educação através da arte para um futuro sustentável.
[online] Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
32622010000100002&lang=pt>. Acesso em: 3 de agosto de 2010.
FRANCISCO, M. V.; LIBORIO, R. M. C. Um estudo sobre bullying entre
escolares do ensino fundamental. Psicol. Reflex. Crit., Porto Alegre, v.
22, n. 2, 2009 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
79722009000200005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 20 de agosto de
2010.
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
LIMA, D. M. A; SIQUEIRA, F. Q; SOUSA, R. V. de; CAVALCANTE, A.
J. de l. SILVA, G. de S. & FIRMO, A. A. M. Infância(s) e Adolescência(s):
Cidadania e Arte no Projeto Novas Cores. In: CORDEIRO, A &
PINHEIRO, A. (Orgs.) Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes:
Aprendizagens Compartilhadas. Fortaleza: NUCEPEC/UFC, 2009, p 96-
116.
MATOS, K. S. L. Juventude, Escola e Imagens na Mídia. In: BOMFIM, M.
do C. A. & MATOS, K. S. L. de. (Orgs.) Juventudes, Cultura de Paz e
Violências na Escola. Fortaleza: Editora UFC, 2006, p. 33-46.
MELMAN, J.; CILIBERTI, M. E.; AOKI, M. & FIGUEIRA JÚNIOR, N.
Tecendo redes de paz. Saúde Soc., São Paulo, 2009. Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
12902009000500012&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 07 de setembro de
2009.
NETO, A. A. L. Bullying: comportamento agressivo entre estudantes.
Jornal de Pediatria, vol.81, n°. 5, 2005.

26
SPOSITO, M. P. A instituição escolar e a violência. Instituto de Estudos
Avançados da Universidade de São Paulo, 1998. Disponível em: <http//
www.iea.usp.br/artigos>. Acesso em: 10 de Julho de 2010
VIEIRA, T. M.; MENDES, F. D. C.; GUIMARAES, L. C. De columbine à
virgínia tech: reflexões com base empírica sobre um fenômeno em
expansão. Psicol. Reflex. Crit., Porto Alegre, v. 22, n. 3, 2009 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
79722009000300021&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 20 de agosto de
2010.

27
DIVERSIDADE SEXUAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL:
Questões conceituais e políticas para educadores e educadoras
Alexandre Martins Joca
Introdução
Este artigo traz às/aos educadores e educadoras algumas questões
conceituais acerca da temática “Diversidade Sexual” e socializa as lutas
empreendidas nas últimas décadas pela sociedade civil organizada em torno
dos direitos da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais - LGBT. De maneira transversal faz, também, questionamentos
importantes para a reflexão sobre as práticas educativas desenvolvidas no
espaço escolar e sua interface com as sexualidades.
As questões conceituais se tornam necessárias em virtude do
estranhamento que profissionais da educação vêem demonstrando frente a
expressões como “orientação sexual”, “identidade de gênero”,
“homofobia”, “Movimento LGBT”, “política identitária”, “queer” etc.
Observo esse estranhamento sob duas vertentes. A primeira, como um
indicador da carência (de educadores/as) de saberes relacionados às
sexualidades, às suas manifestações e reverberações sociais. A segunda, ao
crescimento acelerado da literatura sobre a temática, resultando em
constantes ressementizações que a primeira vista, podem parecer confusos e
incompreensíveis.
Quanto à abordagem sobre a mobilização social, ou melhor, sobre
as lutas, conquistas e desafios do movimento LGBT no Brasil, dar-se pela
necessidade de aproximação do espaço escolar com os movimentos sociais,
Mestre e doutorando em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará
(UFC) e membro do Grupo de Resistência Asa Branca (GRAB).

28
perspectiva preconizada por Loiola (2001, 2005, 2006) em seus estudos e
pesquisas sobre homofobia e educação5.
01. Para Entender as Sexualidades
O docente, em seu desempenho profissional, no processo de ensino-
aprendizagem, necessita adquirir conhecimentos científicos específicos com
os quais trabalha, ou seja, conteúdos relacionados à formação intelectual e
humana dos sujeitos. Assim, quando me refiro à abordagem pedagógica
dos saberes sobre a sexualidade e a diversidade sexual, sob a perspectiva do
seu reconhecimento e do enfrentamento das desigualdades oriundas da
homofobia, quais os saberes docentes necessários à prática educativa?
Para a abordagem das questões teórico-científicas acerca da
diversidade sexual parto da discussão sobre a formação educacional-
pedagógica e suas implicações com a sexualidade6. Esse campo consiste no
processo de construção de significados e sentidos diversos atribuídos à
sexualidade humana, por meio das instâncias de produção e reprodução dos
saberes hegemônicos em nossa sociedade.
5 Refiro-me à dissertação “COISAS DIFÍCEIS DE DIZER: as manifestações
homofóbicas do cotidiano dos jovens”, da tese “DIVERSIDADE SEXUAL: para
além de uma educação escolarizada” e do livro “DIVERSIDADE SEUXAL:
perspectivas educacionais”. 6 Define-se como expressão de desejos e prazeres. Envolve preferências,
predisposições e experiências físicas e comportamentais, orientadas a sujeitos de
sexo oposto, do mesmo sexo ou de ambos os sexos. A partir do sexo XIX, torna-se
uma questão relevante para a vida em sociedade, como demonstram as ciências
humanas. De acordo com Anne Cranny-Francis, Wendy Waring, Pam Stavropoulos
e Joan Kirby, as teorias que explicam a construção da sexualidade, o desejo e a
orientação sexual variam do essencialismo/biológico ao construcionismo social, da
identidade sexual à atividade sexual, da patologia à preferência. De acordo com a
crítica feminista, no sistema da heterossexualidade compulsória e de oposição
binária de gênero, a sexualidade masculina é representada como naturalmente ativa,
agressiva e sádica, e a feminina como naturalmente passiva, masoquista e
narcisista, reduzida à maternidade (CARVALHO, ANDRADE & JUNQUEIRA,
2009, p. 41).

29
Ao observar o processo educacional pedagógico dos sujeitos sobre
gênero, identidade de gênero7 e orientação sexual percebe-se como, na
formação do indivíduo, os valores baseados na dominação masculina e na
heteronormatividade vão se solidificando, tornando-se “verdades sobre o
sexo”. O caminho que temos percorrido em formações continuadas à
educadores/as é o de refazer as práticas cotidianas e pedagógicas de
construção de valores, conceitos e preconceitos hegemônicos, geradores do
sexismo8 e da homofobia em nossa sociedade.
Um conceito em constante construção e fundamental neste percurso
é o de “homofobia”. Numa tradução mais objetiva e sucinta, Mott (2006) a
traduz como “ódio generalizado contra os/as homossexuais e a
homossexualidade”. Carvalho, Andrade & Junqueira (2009), acrescentam:
Termo comumente utilizado para definir o medo,
o desprezo, a desconfiança e a aversão em relação
à homossexualidade e às pessoas homossexuais
ou identificadas como tais. A homofobia não diz
respeito apenas ao universo variado de
manifestações psicológicas negativas em relação à
homossexualidade. Ela está na base de
preconceitos, discriminações e violências contra
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e
todas as pessoas cujas sexualidades ou expressão
de gênero não se dão em conformidade com a
7 Entende-se identidade de gênero como um dos conceitos norteadores para a
compreensão da diversidade sexual. Partindo da premissa de que nos reconhecemos
como homens e mulheres a partir do processo de identificação à masculinidade
e/ou à feminilidade, “nem sempre o pertencimento a um gênero condiz com a
condição biológica do sexo anatômico. No caso das pessoas transexuais, o
sentimento de pertencimento ao gênero é discordante ao sexo biológico”
(LIONÇO, 2009). 8 Trata-se da discriminação ou tratamento indigno ou a um determinado sexo – na
história recente, o feminino. Como as representações acerca do sexo e da
sexualidade estão vinculadas ao binarismo de gênero e à heteronormatividade, a
homofobia também é uma forma de sexismo (CARVALHO, ANDRADE &
JUNQUEIRA, 2009, p. 40).

30
heteronormatividade e as normas de gênero
(CARVALHO, ANDRADE & JUNQUEIRA,
2009, p. 24).
Neste sentido, para que se perceba como a sociedade moderna e
ocidental se constrói sob a perspectiva de uma hegemonia ideológica
sexista, racista e homofóbica, torna-se imprescindível a observação de sua
constituição organizacional, seus espaços de socialização, nos quais os
saberes sobre o sexual são produzidos e reproduzidos, histórico e
culturalmente, na “vontade de saber” (Foucault, 1988) e na proliferação dos
discursos diversos sobre ele. Como espaços de socialização do saber
legitimados na sociedade moderna, a Família, a Escola, a Igreja e o Estado
ocupam um papel de grande importância, ao delegar-se à tarefa de atribuir
aos sujeitos valores e regras quanto à formação, organização e legitimação
de suas relações sociais e sexuais. No campo da sexualidade, tem-se
perpetuado a heterossexualidade como possibilidade única para a vivência
da sexualidade, de modo que se torna bastante difícil aos sujeitos
compreenderem e reconhecerem a existência de outras possibilidades; é o
que Buther (2003) chama de heteronormatividade compulsória.
Conforme já mencionamos, um caminho para a compreensão este
contexto, no campo da sexualidade e das desigualdades oriundas dos
significados a ela atribuídos, pode ser a desconstrução dos caminhos
percorridos até então, ou seja, desmontá-los para conhecermos suas peças,
suas estruturas, suas engrenagens. Como se construíram as relações de
gênero? Quais os processos sociais e pedagógicos de produção e
reprodução da homofobia e do sexismo?
Vale lembrar que a categoria gênero adquire aqui um caráter
relacional, ou melhor, diz respeito às relações estabelecidas entre mulheres
e homens em sociedade, de modo que as questões de gênero assumem um

31
campo central nas discussões sobre diversidade sexual, uma vez que o
“masculino” e o “feminino” são questionados constantemente e a
perspectiva da binaridade é posta em xeque pelas possibilidades múltiplas
de “ser homem” e “ser mulher”, ou seja, “o gênero culturalmente
construído”, diria Buther (2003), independente do biológico e fora da
perspectiva cristã da reprodução, do modelo padronizado da família e do
casamento. Parte-se do princípio de que a perspectiva biológica do sexo
torna confusa sua compreensão, pois limita a sexualidade ao ato sexual, à
genitália, ignorando o prazer, às inúmeras possibilidades do desejo,
seguindo a seqüência “sexo-gênero-sexualidade” (LOURO, 2004).
Daí a proibição pela igreja católica ao uso do contraceptivo e
especialmente do preservativo, pois são instrumentos da modernidade que
vai demonstrar a “furnicação” da humanidade na atualidade. Nesse
entendimento, o fundamentalismo religioso, sob a perspectiva essencialista
da sexualidade, tem contribuído significativamente para a perpetuação das
desigualdades de gênero e o não reconhecimento dos direitos de LGBT.
Essa concepção de gênero fundada no binário vem se reproduzindo na
história da humanidade, apesar das muitas transformações sociais em torno
dos papéis sexuais.No entanto, outras questões sociais como classe e etnia
perpassam pela vivência da sexualidade quando se percebe nas relações o
acúmulo de desigualdades e preconceitos com as quais os sujeitos se
deparam em referência à classe social, à raça e ao gênero9.
O rompimento com os fundamentalismos, com a perspectiva
positivista, binária, no campo da sexualidade implica em sua compreensão
9 Weeks (2001), no artigo “O corpo e a sexualidade” alerta que a importância de
reconhecer a sexualidade não é um “domínio unificado”, mas sim, que ela
estabelece eixos independentes com “forças que modelam as crenças e os
comportamentos sexuais, complicando as identidades sexuais” (p. 54), ou seja: os
eixos da classe, do gênero e da raça.

32
como uma construção histórica e cultural, pois a sexualidade não vai seguir
uma norma uma vez que um dos seus aspectos fundamentais é o prazer. O
prazer entendido como “a necessidade de satisfação”, da satisfação da carne
e da alma, a satisfação “da existência humana”.
Então, a sexualidade como uma construção histórica e cultural é
instável (Louro, Butler, Foucault). Essa é a grande discussão. Ela não tem
uma norma fixa e rompe todos os padrões determinados da cultura. Ela não
segue as normas. Isso significa romper com o estado do “ser” para assumir
o “estar” sexualmente, ignorando, alguns sujeitos, as “fronteiras de gênero e
sexualidade” (LOURO, 2004). Se a sexualidade está em construção
permanente, no decorrer da vida, a orientação sexual - o desejo sexual e/ou
afetivo pelo sexo oposto, pelo mesmo sexo ou por ambos - será da mesma
maneira instável e flutuante e os sujeitos não haveriam de prender-se às
convenções de gênero e orientação sexual.
Diante dessas considerações, para a compreensão do
desenvolvimento do indivíduo, considera-se três elementos fundamentais:
um é a fase e vida que o indivíduo se encontra; o outro é o contexto
geográfico - o espaço em que ele está inserido - e o terceiro é o significado
dado pelo sujeito de acordo com suas experiências individuais e coletivas.
Assim, na seara da sexualidade, as experiências destacam-se
significativamente.
O que está centralizado nessa discussão é a questão do prazer. E em
se tratando do prazer, a homossexualidade afirma-se como uma
contracultura. É uma contracultura porque rompe com o paradigma da
reprodução, estando o prazer em evidência, o prazer sexual. Assim, a
questão central da homossexualidade é romper com o paradigma
biologizante porque as relações homossexuais, as práticas sexuais
homoeróticas, rompem com a lógica da sexualidade em função da

33
reprodução; rompem com caráter binário do macho e da fêmea e da
perpetuação da espécie.
2. A Perspectiva da Diversidade Sexual
Nos últimos anos, algumas instituições e ativistas do movimento
LGBT, em suas ações comunitárias, no campo da organização da sociedade
civil LGBT, têm utilizado a expressão “diversidade sexual” em seus
discursos e práticas, ao referir-se às questões sobre orientação sexual, com
o objetivo de dar visibilidade à diversidade humana e às diversas
possibilidades de orientações e identidades sexuais. A princípio, a
utilização dessa expressão tem encontrado obstáculos no âmbito formal das
políticas públicas, pela possibilidade do seu entendimento relacionado às
várias maneiras e formas de viver a sexualidade, ou seja, a defesa e/ou
reconhecimento da diversidade sexual pode lingüisticamente ser entendida
como a defesa da pedofilia, zoofilia, necrofilia, poligamia, incesto, que não
é o caso (Joca, 2008).
Apesar dos percalços na interpretação lingüística da expressão, no
meu entendimento, sua utilização, pelo movimento LGBT, aponta para um
novo processo de abordagem da temática da orientação sexual, em que, a
reflexão esteja se direcionando a caminho de uma perspectiva pós-
identitária, ou seja, partindo do pressuposto das “diversidades” sexuais, das
subjetividades das expressões da sexualidade humana, opondo-se, portanto,
à perspectiva dicotômica das heterossexualidade/homossexualidade.
Assim, ao contrário de uma abordagem sobre a homossexualidade,
aparentemente fixada na lógica binária sob a concepção da
heteronormatividade, as discussões sobre a sexualidade adotam a temática
sob lógica da “diversidade”, evitando a dualidade desvio/norma e incluindo
no bojo da temática, também, a heterossexualidade, de modo que esta não

34
esteja restrita apenas à concepção de sexualidade lícita, permitida
socialmente. Dessa maneira, a “despolarização”
heterossexualidade/homossexualidade problematiza a idéia de ambas como
pólos opostos, fixos, imutáveis, não tendo os sujeitos, necessariamente, que
se enquadrar em um dos pólos, conforme a ditadura do referido sistema
sexual.
Nesse sentido, trago alguns questionamentos: Essa perspectiva
rompe com a política identitária vigente? “É possível, ao movimento
LGBT, a adoção de uma perspectiva pós-identitária sem perder os ganhos
legais da política de identidade adotada até então?” questiona Vale
(informação verbal)10
. Seria a “diversidade sexual” uma afirmação
subversiva da ordem imanente? Segundo Silva (2000), “na perspectiva da
diversidade, a diferença e a identidade tendem a ser naturalizadas,
cristalizadas, essencializadas”.
Entendo que essa perspectiva não rompe definitivamente com a
política identitária da sexualidade, uma vez que os sujeitos permanecem sob
a ditadura da identidade, sujeitos às normas estabelecidas de acordo com
suas práticas sexuais. Entretanto, ela assume pressupostos identificáveis
com uma política pós-identitária. É verdade que se mantém ainda distante
de uma perspectiva queer, dada a persistência da política de categorias
sexuais, baseadas nas identidades sexuais, já que “a identidade queer não
tem, portanto, limites herméticos e definidos, e se caracteriza, ao contrário,
por sua fluidez, o que constitui uma espécie de desafio à identidade”
(VALE, 2006).
10
Nota de aula da disciplina “Antropologia do Corpo”, ministrada pelo Prof. Dr°
Alexandre Fleming Câmara Vale, no programa de Sociologia da Universidade
Federal do Ceará, no semestre 2007/2.

35
3. A Política Pós-Identitária
Atualmente, a teoria pós-estruturalista, especificamente a Teoria
Queer11
, tem questionado veementemente a política identitária do sexual e
posto em xeque a fixidez das identidades de gênero e identidades sexuais
como também a relação entre sexo e gênero, através da denúncia de seu
caráter essencialista fundamentado nas “verdades” biológicas.
Trata-se não mais de privilegiar a homossexualidade
enquanto tal, mas de interrogar sobre as sexualidades
em geral e a pensar a marginalidade, examinando de
maneira mais atenta como o regime heterossexual
normativo não poderia existir sem as “sexualidades
queer” (VALE, 2006, p. 64).
Assim, há um investimento na crítica às oposições binárias –
masculino/feminino, heterossexualidade/homossexualidade – nas quais, se
baseia o processo de fixação das identidades de gênero e das identidades
sexuais” (SILVA, 2000). Na definição de Louro,
Queer é estranho, esquisito. Quer dizer, também, o
sujeito da sexualidade desviante – homossexuais,
bissexuais, travestis, drags. É o excêntrico que não
deseja ser “integrado” ou simplesmente “tolerado”.
Queer é um jeito de pensar e de ser que não aspira o
centro nem o quer como referência; um jeito de pensar
e de ser que desafia as normas regulatórias da
sociedade, que assume o desconforto da ambigüidade,
do “entre lugares”, do indecidível. Queer é um corpo
estranho que incomoda, perturba, provoca e fascina
(LOURO, 2004, p. 7-8).
11
A Teoria Queer surgiu nos anos de 1990 com base na teoria pós-estruturalista
francesa e adota a desconstrução como método para a crítica às hierarquias sociais.
A Teoria Queer tem como uma de suas maiores representantes a feminista norte-
americana Judith Butler. “O termo queer que significa “estranho”, “bizarro” foi,
durante muito tempo, utilizado para designar os homossexuais de maneira
pejorativa. No final dos anos 80 e início dos anos 90, ele foi aprovado como
emblema teórico e militante do movimento queer” (VALE, 2006, p. 64).

36
Assim, a drag é eleita tanto por Butler (2003) quanto por Louro
(2004) como exemplo de subversão a normalização do gênero e do sexo,
por subverter, através da paródia do feminino, tal lógica de maneira
“revolucionária” e híbrida, já que “a identidade que se forma por meio de
hibridismo não é mais integralmente nenhuma das identidades originais,
embora guarde traços dela” (SILVA, 2000). A drag,
Assume transitoriedade, ela se satisfaz com as
justaposições inesperadas e com as misturas. A drag é
mais de um. Mais de uma identidade, mais de um
gênero, propositalmente ambígua em sua sexualidade e
em seus afetos. Feita deliberadamente de excessos ela
encarna a proliferação e vive à deriva, como um
viajante pós-moderno (LOURO, 2004, p. 20-21).
Ao utilizar a metáfora do sujeito enquanto um “viajante” e da
sexualidade enquanto territórios percorridos, as “fronteiras da
sexualidade” aparecem enquanto limites normatizadores do sexual, as
linhas divisórias dos sujeitos a partir do referencial identitário. A
fronteira,
È lugar de relação, região de encontro, cruzamento e
confronto. Ela separa e, ao mesmo tempo, põe em
contato culturas e grupos. Zona de policiamento, é
também zona de transgressão e subversão. (...) Quem
subverte e desafia a fronteira apela, por vezes, para o
exagero e para a ironia, a fim de tornar evidente a
arbitrariedade das divisões, dos limites e das
separações (Idem, 2004, p. 19-20).

37
Portanto,
“cruzar fronteiras”, por exemplo, pode significar
simplesmente mover-se livremente entre os territórios
simbólicos de diferentes identidades (...) não respeitar
os sinais que demarcam – “artificialmente”- os limites
entre os territórios das diferentes identidades. (...)
Aqui, mais do que a partida ou a chegada, é cruzar a
fronteira, é estar ou permanecer na fronteira, que é o
acontecimento crítico (SILVA, 2000, p. 88-89).
Ao eleger a drag como exemplo de subversão à normalização do
gênero e do sexo, Butler (2003) e Louro (2004) pretendem questionar o
caráter homogêneo, contínuo e coerente das identidades sexuais e de
gênero, já que ela, a drag, brinca com seus elementos construtores e transita
constantemente pelo masculino/feminino, ignorando as fronteiras
normativas do sexual. O que pretendem os/as pós-estruturalistas é
questionar o caráter essencialista da já instituída normatividade do gênero e
do sexo e da relação entre ambos.
Contudo, “não há identidade de gênero por trás das expressões de
gênero; essa identidade é performativamente construída, pelas próprias
expressões tidas como seus resultados” (BUTLER, 2003, p.48). A
performatividade é entendida aqui “não como ato pelo qual o sujeito traz à
existência aquilo que ele ou ela nomeia, mas, ao invés disso, como aquele
poder reiterativo do discurso para produzir os fenômenos que ele regula e
constrange” (Idem, 2001, p. 155).
A proposta sugerida por Louro (1997) de desconstrução e
pluralização dos gêneros está respaldada na idéia de que o pensamento
dicotômico e polarizado sobre gênero, que associa a dicotomia
homem/mulher à dominação/submissão, associa, da mesma maneira, a
dicotomia heterossexualidade/homossexualidade à

38
normalidade/anormalidade, partindo da construção do “ser homem” e “ser
mulher”, pois, no sistema binário do sexo, em relação à orientação sexual, o
segundo pólo assume, então, um caráter de inferioridade sobre o primeiro:
heterossexualidade/homossexualidade corresponderia à
superioridade/inferioridade, lógica produtora da homofobia.
Dessa maneira, a perspectiva queer não se limita apenas ao
processo de desconstrução das categorias – masculinidade/feminilidade e
heterossexualidade/homossexualidade. Estaria implicado nesse processo,
também, o aspecto plural e instável da sexualidade dos sujeitos, uma vez
que não nasceríamos heterossexuais ou homossexuais e, tão pouco,
estaríamos fadados, aprisionados às demais categorias identitárias –
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais – de modo que nos
constituiríamos enquanto sujeitos sexuados, com possibilidades múltiplas
de construir e reconstruir com nossas descobertas e experiências, nossa
sexualidade, independente do gênero e do sexo. Sujeitos sexuais
constantemente inconclusos, instáveis e inacabados, sujeitos de identidades
“cambaliantes”, “flutuantes”, com possibilidades diversas.
Todavia, a compreensão da sexualidade sob o aspecto da
instabilidade, da pluralidade e da construção da sexualidade e do gênero
torna-se complexa e de difícil entendimento, dada a solidez dos padrões
estabelecidos e cotidianamente reafirmados nos mais diversos espaços de
socialização e formação dos sujeitos.
Ao refletir sobre as inquietações trazidas pela teoria queer e
associando-as às práticas educativas escolares, tornam-se oportunos os
questionamentos trazidos por Louro (2001), quanto esta pensa a
possibilidade de uma pedagogia e um currículo queer desenvolvidos no
espaço escolar:

39
Como um movimento que se remete ao estranho e ao
excêntrico pode se articular com a educação? Como
uma teoria não-produtiva pode falar a um campo que
vive de projetos e de programas, de intenções, os
objetivos e planos de ação? Qual o espaço, nesse
campo usualmente voltado ao disciplinamento e à
regra, para a transgressão e a contestação? Como
romper com o binarismo e pensar a sexualidade, os
gêneros e os corpos de uma forma plural, múltipla e
cambaliante? Como traduzir a teoria queer para a
prática pedagógica? (LOURO, 2001, p. 550).
Estes questionamentos soam como provocações à educação formal
(escolar) e nos instigam à reflexões sobre outras possibilidades de práticas
educativas em sexualidade. Uma alternativa sugerida por Loiola (2005) é a
aproximação do espaço escolar com o movimento social, especialmente o
movimento LGBT12
.
Na contramão da cultura vigente, vivida nas relações sociais
contemporâneas, LGBT, nos espaços dos movimentos sociais, nas últimas
décadas, têm posto à mesa suas inquietações e reivindicações e construído
uma história de luta por direitos sexuais e humanos, conforme veremos no
tópico que segue.
4. Mobilizações Sociais pela Diversidade Sexual e os Direitos de
LGBT
As três últimas décadas do século XX e o início do século XXI no
Brasil foram marcados por transformações políticas, sociais e culturais. Em
meados da década de 1970 e início dos anos de 1980, - com a Ditadura
12
Para maiores aprofundamentos, consultar a obra “Desatando Nós: Fundamentos
para a práxis educativa em gênero e diversidade sexual” na qual descreve e reflete
sobre práticas educativas dos movimentos sociais e da escola. Apresenta, também,
possibilidades de diálogo desses espaços sobre a educação para a sexualidade sob a
perspectiva da diversidade sexual.

40
militar em declínio e o início do processo de redemocratização do país - o
movimento social13
, antes mobilizado basicamente em torno das lutas de
classe, nos espaços do movimento partidário e sindical, e destituído dos
direitos de participação política pelo autoritarismo militar, reorganizou-se
dando margem ao surgimento e constituição de outros espaços e sujeitos
sociais direcionados a lutas específicas. “Referidos a conflitos que teriam
sua origem na “esfera da cultura”, do indivíduo ou das escolhas pessoais,
esses movimentos foram tratados separadamente daqueles que permitiam
alguma conexão com o conflito de classe” (FACCHINI, 2005), sendo
chamados Novos Movimentos Sociais – NMS14
.
Esse reordenamento na organização da sociedade civil em vistas à
participação nas decisões políticas do país é observado por alguns
estudiosos como conseqüência da constituição de novas identidades
coletivas, constituídas a partir de demandas sociais específicas. Desse
modo, os NMS organizam-se em torno de questões diversas, tendo como
desafio o enfrentamento aos fatores sócio-culturais fontes de desigualdades
sociais. Dentre os mais visíveis estão as questões de gênero, étnica, direitos
humanos e ambiental.
Desde então, dentre esses novos sujeitos sociais, lésbicas, gays,
bissexuais, travestis e transexuais protagonizaram e protagonizam as lutas
13
Adoto o conceito de movimentos sociais de Melucci, que os define como uma forma
de ação coletiva baseada na solidariedade; desenvolvendo um conflito e rompendo os
limites do sistema em que ocorre a ação (MELUCCI apud SCHERER-WARREN,
1993). 14
Ao analisar a utilização, por estudiosos dos movimentos sociais, de adjetivos como
“alternativo”, “libertário” e “novos”, atribuídos ao movimento homossexual, feminista,
negro e ecológico para distingui-los dos movimentos baseados na luta de classe,
Facchini (2005) observa nessa distinção duas implicações: “Por um lado, conduz as
dificuldades no sentido de perceber que as classes sociais, como hierarquizações
baseadas em uma classificação daquilo que nos cerca, não estão tão distantes da “esfera
da cultura”. Por outro lado, obscurece a percepção de que a questão dos conflitos ou
identidades baseadas em classes sociais perpassa os movimentos referidos a questões
“culturais” FACCHINI, 2005).

41
comunitárias em defesa do direito à liberdade de orientação sexual. No
entanto, apesar da conquista democrática, legitimada pela Constituição
Cidadã de 1988, e paralela à participação e mobilização social entorno de
ideais democráticos e das lutas por igualdade de direitos, o avanço das
políticas neoliberais em meados da década de 1990 e no início do século
XXI, na chamada “Era FHC”, aprofundou consideravelmente as
desigualdades sociais. Tais desigualdades, oriundas do sistema capitalista
neoliberal, e regidas pela primazia do capital em detrimento dos direitos
sociais, perpassam as questões de classe, de identidade de gênero e de
etnias, produzidas pelo machismo, heterosexismo e racismo, herança de
nossa cultura ocidental cristã. “O fato de não operarem com referências
diretas ao conflito de classe não significa que movimentos como o
movimento homossexual não tenham o potencial de produzir mudanças de
ordem cultural e criar novos tipos de hierarquia social”, lembra Facchini
(2005).
Nesta última década, com a chegada da “esquerda” ao poder e da
migração de um grande contingente de militantes dos movimentos sociais
para o governo, ampliou-se o diálogo entre movimento social e Estado no
sentido da efetivação de políticas públicas de enfrentamento às
desigualdades sociais. No entanto, a dinâmica do cenário político
permanece dependente de acordos externos, de modo que as desigualdades
continuam presentes em nosso cotidiano, a reafirmar valores e condutas
sociais e sexuais ratificadores de preconceitos e discriminações dirigidas
aos sujeitos LGBT.
Nesse contexto, o movimento LGBT tem, ao longo dessas quatro
décadas, construído uma história de conquistas e desafios frente aos fatores
importantes que caracterizam estes tempos de ânsia por democracia,
cidadania e igualdade de direitos. A discussão acerca dos saberes sobre a

42
diversidade sexual foi fomentada a partir dos anos 1970, quando se dá
início a mobilização de LGBT (até então conhecido como movimento
homossexual) em busca de seus direitos, de sua cidadania. Esse movimento
sai dos guetos no Ceará, no Brasil e no mundo, “começando a ocupar cada
vez mais espaço na vida pública e social, fortalecendo e abrindo canais de
comunicação e interlocução social e política, moldando diferenças e criando
associações e grupos para defesa de seus direitos” (BRASIL, 2002).
5. Lutas, Conquistas e Desafios por direitos de LGBT
Durante as três últimas décadas, no Brasil, a sociedade civil
organizada LGBT tem se mobilizado em torno das lutas sociais pela
efetivação de seus direitos e defesa da cidadania de LGBT. Organizou-se
institucionalmente e formou militância. Criou redes de debates e troca de
informações. Catalogou, registrou e denunciou a violação dos direitos
humanos caracterizada pela homofobia. Protestou contra o descaso do
poder público frente aos muitos assassinatos homofóbicos15
. Foi às
Assembléias Legislativas, às Câmaras, às ruas - em milhões - em todo o
País. Desfilou pelos corredores da “casa do povo” a ecoar jargões de luta “É
legal ser homossexual!”, “União Civil Já!”, e estendeu o arco-íris na rampa
do Poder. Conquistou espaços, parcerias locais, nacionais e internacionais.
Entretanto, tem enfrentado desafios diversos, oriundos dos resquícios
15
O Grupo Gay da Bahia, desde 1980, sistematiza informações sobre homicídios
de LGBT, e divulga, desde 1995, uma análise dos homicídios gerados em
decorrência da homofobia. Segundo Mott (2007), neste período, 1963 – 2004, o
GGB documentou o número de 2.501 assassinatos de homossexuais. – “cifra
certamente muito inferior à realidade, posto que inexistindo no Brasil estatísticas
oficiais relativas a crimes de ódio, temos de nos valer de notícias publicadas na
imprensa, pesquisa na Internet e informações enviadas pelos próprios militantes
homossexuais” (MOTT, 2003, p. 11 – 10).

43
machistas e heterossexistas da cultura cristã ocidental, que continuam a
reafirmar-se no cotidiano das relações sociais.
Nesse contexto de redemocratização do País, no qual esse
movimento está inserido, sobre a relação sociedade civil e Estado, Oliveira
(2003) observa que
O elemento central de discussão da sociedade civil
consiste em: intervir qualificadamente nas políticas
públicas através da negociação com o Estado;
preservar e conquistar direitos; desenvolver e apoiar
mecanismos que favoreçam o exercício do controle
social sobre a ação do Estado e a atuação do mercado;
e insistir no aprofundamento da democracia com
participação (OLIVEIRA, 2003, p. 38).
Porém, o referido autor nos chama a atenção para o perigo de
inversão das funções entre sociedade civil e Estado, ao identificar, “no
contexto neoliberal, uma inversão de funções entre o Estado e a sociedade
civil. Setores da sociedade vêm cada vez mais assumindo atribuições do
Estado, ao passo que esse toma o papel de fiscalizador, que é tarefa
intrínseca da sociedade civil” (OLIVEIRA, 2003).
Dessa maneira, as ações de advocacy protagonizadas pelo
movimento LGBT junto ao Legislativo, Executivo e Judiciário brasileiro
merecem nossa atenção, pois retratam como a sociedade brasileira vem
exercendo, ou tentando exercer, a difícil e ainda incompreendida
“democracia participativa” através da inserção popular na construção e
efetivação das políticas públicas.
LGBT e o Poder Legislativo
Um marco das lutas para efetivar os direitos da população LGBT
foi o projeto de lei Constitucional – PLC 1.151/95, elaborado e apresentado

44
ao Congresso Nacional pela então Deputada Federal Marta Suplicy em
1995. O projeto previa legalizar a união entre pessoas do mesmo sexo,
tendo em vista reparar as perdas legais ocasionadas pelo não
reconhecimento das uniões homoafetivas16
.
No Congresso Nacional, a resistência à legalidade da união civil
entre pessoas do mesmo sexo teve como obstáculo maior a férrea oposição
16
Dentre as questões, estão as seguintes: Não podem aceder ao casamento civil;
Não têm reconhecida a união estável; Não adotam sobrenome do parceiro; Não
podem somar renda para aprovar financiamentos; Não somam renda para alugar
imóvel; Não inscrevem parceiro como dependente de servidor público (admissível
em diversos níveis da Administração); Não podem incluir parceiros como
dependentes no plano de saúde; Não participam de programas do Estado
vinculados à família; Não inscrevem parceiros como dependentes da previdência
(atualmente aceito pelo INSS); Não podem acompanhar o parceiro servidor público
transferido (admissível em diversos níveis da Administração); Não têm a
impenhorabilidade do imóvel em que o casal reside; Não têm garantia de pensão
alimentícia em caso de separação (posição controversa no Judiciário, havendo
diversos casos de concessão); Não têm garantia à metade dos bens em caso de
separação (quanto aos bens adquiridos onerosamente, têm direitos pois constituíam
sociedade de fato. Contudo, não há que se falar em meação de bens); Não podem
assumir a guarda do filho do cônjuge; Não adotam filhos em conjunto; Não podem
adotar o filho do parceiro; Não têm licença-maternidade para nascimento de filho
da parceira; Não têm licença maternidade/ paternidade se o parceiro adota filho;
Não recebem abono-família; Não têm licença-luto, para faltar ao trabalho na morte
do parceiro; Não recebem auxílio-funeral; Não podem ser inventariantes do
parceiro falecido; Não têm direito à herança (precisam de previsão testamentária,
mas quanto aos bens adquiridos onerosamente durante a convivência, há sociedade
de fato, recebendo o sobrevivente a sua parte); Não têm garantida a permanência no
lar quando o parceiro morre; Não têm usufruto dos bens do parceiro (precisam de
previsão testamentária); Não podem alegar dano moral se o parceiro for vítima de
um crime; Não têm direito à visita íntima na prisão (visitas autorizadas por grande
parte do Judiciário); Não acompanham a parceira no parto; Não podem autorizar
cirurgia de risco; Não podem ser curadores do parceiro declarado judicialmente
incapaz (grande parte do Judiciário admite o exercício da curatela pelo parceiro,
mas não é possível que este promova a interdição); Não podem declarar parceiro
como dependente do Imposto de Renda (IR); Não fazem declaração conjunta do
IR; Não abatem do IR gastos médicos e educacionais do parceiro; Não podem
deduzir no IR o imposto pago em nome do parceiro; Não dividem no IR os
rendimentos recebidos em comum pelos parceiros; Não são reconhecidos como
entidade familiar, mas sim como sócios; Não têm suas ações legais julgadas pelas
varas de família. (ABGLT, 2007).

45
da bancada religiosa fundamentalista, respaldada por valores e crenças
oriundas do cristianismo ocidental. Em 2003, diante do grande número de
aprovação da união civil em países como Holanda, Canadá, Espanha,
Argentina e Suíça, o Papa João Paulo II lançou a carta “Considerações
sobre os Projetos de Reconhecimento Legal das Uniões entre Pessoas
Homossexuais” com o objetivo de intervir junto a legisladores católicos no
sentido de evitar a legalização da união civil em países onde esta ainda não
se havia efetivado. “Onde o Estado assume uma política de tolerância de
facto (...) àqueles que, em nome dessa tolerância, entendessem chegar à
legitimação de específicos direitos para as pessoas homossexuais
conviventes, há que lembrar que a tolerância do mal é muito diferente da
aprovação ou legalização do mal” (Papa João Paulo II, 2003).
É entendendo a homossexualidade como um “mal” que o referido
Pontífice prossegue suas argumentações, equiparando e opondo a união
civil entre pessoas do mesmo sexo ao matrimônio, já que a legalização
dessas uniões dar-lhes-ão direitos jurídicos equivalentes aos do matrimônio.
“O Estado não pode legalizar tais uniões sem faltar ao seu dever de
promover e tutelar uma instituição essencial ao bem comum, como é o
matrimônio”, e ressalta, “a sociedade deve a sua sobrevivência à família
fundada sobre o matrimônio” e “a legalização das uniões homossexuais
acabaria, portanto, por ofuscar a percepção de alguns valores morais
fundamentais e desvalorizar a instituição matrimonial”, causando a
redefinição do mesmo e, conseqüentemente, a perda de sua “referência
essencial aos fatores ligados à heterossexualidade, como são, por exemplo,
as funções procriadora e educadora” (Papa João Paulo II, 2003). Finaliza
com as seguintes recomendações:

46
Se todos os fiéis são obrigados a opor-se ao
reconhecimento legal das uniões homossexuais, os
políticos católicos são-no de modo especial, na linha da
responsabilidade que lhes é própria. Na presença de
projetos de leis favoráveis às uniões homossexuais, há
que ter presentes as seguintes indicações étnicas. No caso
que se proponha pela primeira vez à Assembléia
Legislativa um projeto de lei favorável ao reconhecimento
legal das uniões homossexuais, o parlamentar católico
tem o dever moral de manifestar clara e publicamente o
seu desacordo e votar contra esse projeto de lei. Conceder
o sufrágio do próprio voto a um texto tão nocivo ao bem
comum da sociedade é um ato gravemente imoral. (Papa
João Paulo II, 2003, p. 5 e 6)
As ações de pressão popular do movimento LGBT foram diversas,
nas quais o grito: “União Civil Já!” ecoava constantemente. Paradas no
Brasil inteiro pautaram como questão principal de discussão a legalidade da
união civil entre pessoas do mesmo sexo. Eventos e encontros de ativistas
foram realizados em Brasília, no sentido de aproximar e intensificar a
discussão entre ativistas do movimento LGBT e o Poder Legislativo.
É nessa arena de enfrentamento entre a lei civil e a lei “moral”
cristã que há 15 anos a proposta de legalização da união civil entre pessoas
do mesmo sexo tramita no Congresso Nacional, sem sequer entrar na pauta
de votação da referida casa legislativa. No entanto, em 05 de maio de 2011
o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a união civil entre pessoas do
mesmo sexo. Um marco histórico para a democracia brasileira.
Como estratégia de avanço no campo constitucional, o movimento
LGBT propôs incluir na constituição brasileira a homofobia entre os atos
criminosos configurados pelo preconceito. Apresentado pela Deputada
Federal Iara Bernardes, o PLC 122/2006 de criminalização da homofobia
propõe alterar a Lei 7.716/198917
, que define os crimes ocasionados pelo
17
A emenda da lei passaria a vigorar com a seguinte redação: Art. 1º Serão
punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito

47
preconceito de raça ou de cor. A alteração consiste em incluir os crimes
resultantes de discriminação ou preconceito de gênero, sexo, orientação
sexual, e identidade de gênero e indica, dessa maneira, sanções às práticas
discriminatórias dirigidas aos/às homossexuais. O projeto foi aprovado no
Congresso Nacional, em 2007, e atualmente tramita no Senado Federal.
Paralelas às ações nacionais, o movimento LGBT vem intervindo
nos âmbitos estadual e municipal junto aos legisladores, nas Assembléias
Legislativas e Câmaras Municipais, no mesmo sentido de incluir nas Leis
Orgânicas Municipais e Estaduais mecanismos de defesa e/ou visibilidade
da livre expressão sexual18
. Leis que instituem o Dia Municipal ou Estadual
da Consciência Homossexual, o Dia da Consciência Lésbica, o Dia de
Enfrentamento à Homofobia, assim como leis que sancionam punições a
estabelecimentos comerciais por discriminação em virtude da orientação
sexual.
LGBT e o Poder Executivo
A abertura política conquistada pelo processo de redemocratização
do Brasil possibilitou ao Estado e à sociedade civil, esferas por muito
tempo vistas como pólos opostos, uma nova relação sobre premissa da
participação democrática. Dessa maneira, as discussões voltadas à inclusão
da temática “orientação sexual” nos planos de políticas públicas do governo
brasileiro vêm se intensificando através das ações de advocacy realizadas
de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual e
identidade de gênero. 18
Atualmente, cerca de 92 municípios possuem leis orgânicas nas quais constam a
expressa proibição de discriminar por orientação sexual. Dentre estes, estão os
municípios cearenses de Fortaleza, Maracanaú, Limoeiro do Norte, Juazeiro do
Norte, Horizonte, Barro, Farias Brito, Granjeiro e Novo Oriente. Quanto às leis
estaduais, apenas a Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São
Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Piauí, Pará, Paraíba e Alagoas possuem
leis de proibição da discriminação por orientação sexual. (ABGLT, 2007).

48
pelo movimento LGBT, principalmente depois da segunda metade da
década de 1990, em vista ao enfrentamento das desigualdades ocasionadas
pela homofobia.
No campo da saúde, especialmente, nas ações de prevenção da Aids
e de outras doenças sexualmente transmissíveis (DST), o movimento LGBT
tem firmado constantes parcerias com gestores municipais, estaduais e
federal19
, dada as suas importantes contribuições nas ações de
enfrentamento à epidemia da Aids, por meio da mobilização comunitária
respaldada na educação entre pares. A partir da elaboração do Programa
Brasil Sem Homofobia20
, o diálogo no campo da justiça, cultura, direitos
humanos e educação tem se intensificado, abrindo novos espaços para o
fortalecimento e implementação de ações voltadas à cidadania
homossexual.
19
A parceria entre movimento LGBT e gestores da saúde consistia e ainda consiste,
principalmente, no financiamento de projetos - por gestores municipais, estaduais e
federais - através de editais de concorrência idealizados e executados pelas
instituições não-governamentais do movimento LGBT. 20
O “Brasil Sem Homofobia: Programa de Combate à Violência e à Discriminação
contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual” foi elaborado pelo
Governo Federal, em parceria com o Movimento Homossexual do Brasil, em 2003,
com o objetivo de elaborar propostas de políticas públicas, visando promover a
cidadania de LGBT, tendo por base a equiparação de direitos e o combate à
violência e à discriminação homofóbica. Em 2004, o programa foi oficialmente
lançado pelo Governo Federal, mas sem previsão orçamentária para sua
implementação. As propostas de ações governamentais tinham em vista “à
educação e a mudança de comportamento dos gestores públicos” visando ao
enfrentamento do preconceito e da discriminação por orientação sexual, tendo
ações específicas nas seguintes áreas: Articulação da Política de Promoção dos
Direitos dos Homossexuais; Legislação e Justiça; Cooperação internacional;
Direito à Segurança: combate à violência e à impunidade; Direito à Educação:
promovendo valores de respeito à paz e à não discriminação por orientação sexual;
Direito à Saúde: consolidando um atendimento e tratamentos igualitários; Direito
ao Trabalho: garantindo uma política de acesso e de promoção da não
discriminação por orientação sexual; Direito à Cultura: construindo uma política de
paz e valores de promoção da diversidade humana; Política para a Juventude;
Política para as Mulheres e Política contra o Racismo e a Homofobia.

49
LGBT e o Poder Judiciário
O sistema judiciário brasileiro tem como regra maior a Constituição
Brasileira de 1988 – Constituição Cidadã. Elaborada na perspectiva de
constituir um Estado Democrático de Direito, tem como um de seus
fundamentos a dignidade da pessoa humana. Dessa maneira, dentre os
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, no Art 3º, inciso
IV, está a promoção “do bem-estar de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”
(BRASIL, 2003).
Assim, na Federação, regida pela prevalência dos direitos humanos,
o direito à igualdade e à liberdade estão garantidos constitucionalmente ao
cidadão como direitos fundamentais da pessoa humana. Em seu artigo 5°,
sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, garante que “todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança é à propriedade” (BRASIL,
2003, p. 05).
No entanto, no tocante à sexualidade, Dias (2004) alerta que,
“enquanto houver segmentos alvos de exclusão social, tratamento
desigualitário entre homens e mulheres, enquanto a homossexualidade for
vista como crime, castigo ou pecado, não se está vivendo em um Estado
Democrático de Direito”, sob o entendimento de que “ninguém pode se
realizar enquanto ser humano se não tiver assegurado o respeito ao
exercício da sexualidade, conceito que compreende tanto a liberdade sexual
como a liberdade de livre orientação sexual” (DIAS, 2004). Isso porque,
mais especificamente, em relação aos direitos de LGBT, o judiciário

50
brasileiro tem encontrado bastante dificuldade em assegurar-lhes o
pressuposto constitucional da “igualdade” e “liberdade”.
Ocorre que, em virtude das relações afetivas e/ou sexuais entre
pessoas do mesmo sexo não serem mencionadas na Carta Constitucional, as
questões decorrentes da homossexualidade no âmbito da jurisprudência
brasileira ficam a critério das interpretações dos/as operadores do Direito.
“Tenta-se excluir a homossexualidade do mundo do Direito, mas imperativa
sua inclusão no rol dos direitos humanos fundamentais, como a expressão
de um direito subjetivo que se insere em todas as subcategorias, pois ao
mesmo tempo é direito individual, social e difuso” (DIAS, 2008).
Nesse cenário, o movimento LGBT tem questionado o
conservadorismo do Poder Judiciário brasileiro, denunciando as profundas
injustiças ocasionadas pela desigualdade como são tratados/as LGBT, sobre
a prerrogativa de que “a inexistência de lei não exime a justiça de sua
função na garantia dos direitos, menos ainda é justificada para negá-los”
(KOTLINSKI, 2007). O tratamento desigual fica evidente, por exemplo,
quando observamos o grande número de declarações homofóbicas
propagadas publicamente em meios de comunicação por representantes de
igrejas, políticos e demais formadores de opinião e pelo desfecho jurídicos
de crimes homofóbicos, geralmente fadados à impunidade dos criminosos.
No campo judiciário, o mote das discussões tem girado em torno de
dois eixos temáticos. O primeiro diz respeito à garantia dos direitos sociais,
seguindo do reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, “ora
para reconhecê-la com base de proteção do Estado às famílias por elas
formadas, diante de instituições públicas e privadas e, ora, para
conseqüentemente ter acesso a direitos previdenciários, hereditários, adoção
entre outros” (CORTÊS, 2007). O segundo eixo, com foco na
discriminação e indenização, está relacionado à discriminação e ao

51
preconceito dirigidos à LGBT em virtude de sua orientação sexual ou
identidade de gênero, o que ocorre “por parte do Estado e das diversas
esferas da sociedade, quando são impedidas de exercerem seus direitos de
cidadania, como o exercício de cargo ou função, o direito de concorrerem a
cargos públicos, civil ou militar, ou quando são destratados de forma
acintosa por instituições ou pessoas” (Idem, 2007).
No entanto, nas últimas décadas, outras questões têm levado LGBT
a recorrer ao judiciário em vistas à solicitação de seus direitos em diversas
instâncias. Podemos citar, entre as questões mais recorrentes, o direito à
mudança de nome e gênero em documentos, solicitado por travestis e
transexuais; a solicitação junto ao Instituto Nacional de Seguro Social –
INSS de benefícios previdenciários; a solicitação ao SUS dos
procedimentos cirúrgicos de readequação do sexo, pelas transexuais.
Em 2000, no Rio Grande do Sul, o INSS editou a Instrução
Normativa n° 25/2000 que estabelece, por força de decisão judicial,
procedimentos a serem adotados para a concessão de benefícios
previdenciários ao companheiro ou companheira homossexual. No Ceará,
em 2008, a Prefeitura Municipal de Fortaleza concedeu tais direitos a seus
funcionários e, no mesmo ano, a justiça cearense concedeu, pela primeira
vez, o direito do benefício de pensão à companheira homossexual, assim
como tem punido estabelecimentos comerciais por discriminação em
virtude da orientação sexual de LGBT, de acordo com a lei municipal
8.211/98.
Apesar da ausência de legislação específica, as questões de
jurisprudência relacionadas à homossexualidade têm alcançado importantes
ganhos, seja no aspecto da conquista de direitos, mesmo que ainda de forma
bastante tímida, seja por meio da inserção de tais questões no campo
jurídico, o que amplia, a nosso ver, as possibilidades de transformações da

52
dinâmica jurídica. Todavia, consideramos que o grande número de casos
levados aos tribunais pela população LGBT ao passo que sinaliza para uma
maior consciência e busca de seus direitos, até então negados pelo Estado
Brasileiro, denuncia a falsa “igualdade” e “liberdade”, propagada
constitucionalmente, e desvenda a homofobia institucional do Estado, dito
laico e democrático por direito.
Muito embora as lutas do movimento LGBT tenham alcançado
êxito em alguns aspectos, os conflitos e desigualdades decorrentes da
homofobia continuam presentes nos mais diversos espaços de socialização
dos sujeitos, de modo que, no âmbito da educação formal, tais conflitos
estão presentes no cenário do espaço escolar e apresentam-se como um
desafio a educadores/as que visam desenvolver práticas educativas de
enfrentamento às desigualdades ocasionadas por preconceitos e
discriminação em virtude da orientação sexual e do gênero (Joca, 2009).
6. Considerações
Diante do exposto, finalizo este artigo reafirmando a importância
do empoderamento e da formação continuada de educadores e educadoras
das escolas brasileiras em gênero, identidade de gênero e orientação sexual.
Isso porque a educação escolar pode e deve ser um instrumento de
enfrentamento às desigualdades sociais decorrentes da homofobia e do
sexismo. Para isso, os sujeitos da cena escolar precisam se apropriar dos
saberes, das lutas e dos enfrentamentos (culturais, ideológicos, políticos e
pedagógicos) vividos na dinâmica social contemporânea em torno do
reconhecimento dos direitos sociais e civis da população LGBT.
As práticas educativas escolares em sexualidade - na perspectiva da
diversidade sexual – ainda se constituem enquanto um campo minado, no
qual os enfrentamentos se dão para além dos muros das escolas brasileiras.

53
A formação continuada de professores/as nessas temáticas, empreendidas
nos últimos anos, é um passo importantíssimo na educação escolar para a
sexualidade, no entanto, a elaboração de políticas educacionais específicas
sobre essas temáticas, a formação inicial de educadores/as, a produção de
materiais educativos, a elaboração de diretrizes norteadoras, a produção de
conhecimento e o envolvimento e comprometimento de gestores públicos
são demandas emergentes a serem atendidas e postas nas pautas da arena
social e política.
7. Referências Bibliográficas
ABGLT. Site. Disponível em: < http://www.abglt.org.br> Acesso em:
junho. 2010.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde.
Coordenação Nacional de DST e Aids. Guia de prevenção das DST/Aids
e cidadania para homossexuais. Brasília, 2002.
_______________. Ministério Público Federal. Constituição da República
Federativa do Brasil: Brasília: Ministério Público Federal, 2003.
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da
identidade. Rio de Janeiro, 2003.
CARVALHO, Maria Eulina e ANDRADE, Fernando Cezar Bezerra e
JUNQUEIRA, Rogério Diniz. In: Gênero e Diversidade Sexual: um
glossário. João Pessoa: Ed. Universitária/UFPB. 56p.
CORTÊS, Iáris Ramalho. Nota Explicativa. In: KOTLINSKI, Kelly (org.).
Legislação e Jurisprudência GLBTTT: Lésbicas – Gays – Bissexuais –
Travestis – Transexuais – Transgêneros. Brasília: LetrasLivres, 2007.
DIAS, Maria Berenice. Homoafetividade: o que diz a Justiça!. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2003.

54
DIAS, Maria Berenice. Homoafetividade e o direito à diferença. Site.
Disponível em: <http://
www.mariaberenicedias.com.br/site/frames.php?idioma=pt> Acesso em: 18
março. 2008.
FACCHINI, Regina. Sopa de letrinhas?: movimento homossexual e
produção de identidades coletivas nos anos 1990. Rio de Janeiro:
Garamond, 2005.
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: a vontade de saber. 13ª
ed. Rio de Janeiro; Graal, 1988.
JOCA, Alexandre Martins. In: Diversidade Sexual: Um “problema”
posto à mesa. Dissertação de Mestrado. UFC, 2008;
_______________. Educação escolarizada e diversidade sexual: problemas,
conflitos e expectativas. In: Desatando Nós: Fundamentos para a práxis
educativa sobre gênero e diversidade sexual. Adrinao Henrique Caetano
Costa / Alexandre Martins Joca / Luís palhano Loiola (organizadores). –
Fortaleza: Edições UFC, 2009;
KOTLINSKI, Kelly (org.). Legislação e Jurisprudência GLBTTT:
Lésbicas – Gays – Bissexuais – Travestis – Transexuais – Transgêneros. Brasília: LetrasLivres, 2007.
LIONÇO, Tatiana e DINIZ, Débora. Homofobia, silêncio e naturalização:
por uma narrativa da diversidade sexual. In: Homofobia e educação: um
desafio ao silêncio / Tatiana Lionço; Débora Diniz (Organizadoras).
Brasília: LetrasLivres: EdUnB, 2009.
LOURO, Guacira Lopes (org.). O corpo educado: pedagogias da
sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
_______________. Gênero, sexualidade e educação: Uma perspectiva
pós-estruturalista; Petrópolis, RJ; Vozes, 1997.
_______________. Um corpo estranho: Ensaios sobre a sexualidade e a
teoria queer. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
MOTT, Luiz. Matei porque odeio gay. Salvador: Editora Grupo Gay da
Bahia – (Coleção Gaia Ciência), 2006.

55
OLIVEIRA, Francisco Mesquita de. Cidadania e cultura política no
poder local. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2003.
PAULO II, Papa João. Universo Católico. Congregação para a doutrina da
fé. Site. Disponível em:
<http://www.universocatolico.com.br/content/view/292/3/>. Acesso em:
setembro. 2007.
SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de Movimentos Sociais. 2. ed. São
Paulo: Loyola, 1993.
SILVA, Thomaz Tadeu da. Identidade e diferença: A perspectiva dos
estudos culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.
VALE, Alexandre Fleming. O riso da paródia: Transgressão, feminismo e
subjetividade. In: VALE, Alexandre Fleming; PAIVA, Antonio Cristian
Sararaiva (orgs.). Estilísticas da sexualidade. Fortaleza: Programa de Pós-
graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará; Campinas:
Pontes Editores, 2006.
WEEKS, Jeffrey. O corpo e a sexualidade. In: LOURO, Guacira Lopes
(org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte:
Autêntica, 2001.

56
Escola que Protege - Formação de Educadores para a
Interrupção do Ciclo de Violência contra a Criança e o
Adolescente. Um olhar Crítico
Liliane Batista Araújo21
Ana Maria Frota22
Introduzindo a questão: do que tratamos
O projeto Escola que Protege, em sua segunda edição (2007-2008),
objetivou a formação de 400 educadores para o fortalecimento da atuação
das escolas na rede de enfrentamento à violência contra a criança e o
adolescente, visando oferecer-lhes subsídios para identificar e encaminhar
ao atendimento especializado, crianças e adolescentes vítimas de maus-
tratos, negligência, exploração sexual e comercial, e exploração do trabalho
infanto- juvenil. Além disso, o projeto almejou a formação e consolidação
das Comissões Escolares de prevenção à violência e maus-tratos, nos quais
estariam inseridos funcionários, professores, alunos e pais.
A metodologia adotada pelo projeto visou à formação de
educadores-multiplicadores com capacitações presenciais e
semipresenciais. As formações semipresenciais eram dedicadas a atividades
de multiplicação. Assim, após os educadores receberem as formações,
tinham que realizar um curso de repasse, organizado em três fóruns
escolares. Fariam parte destes fóruns, professores, funcionários, alunos e
pais. As temáticas abordadas nas capacitações estavam relacionadas com
violência infanto–juvenil, sistema de garantia dos direitos da criança e
21
Economista Doméstica - Universidade Federal do Ceará 22
Psicóloga, Doutorado em Psicologia, Professora Associada da Universidade
Federal do Ceará

57
adolescente, rede de proteção integral, o papel da escola como responsável pelas
notificações em casos de violência, dentre outros.
Partindo da seriedade dos assuntos abordados nas capacitações,
considerei de extrema importância verificar, na prática, como eles foram
repassados pelos educadores-multiplicadores para o restante do público que
o projeto ansiou atingir. Assim, levantei alguns questionamentos à eficácia
dessa metodologia, principalmente com relação à fase semipresencial.
Desde modo, este trabalho é uma pequena contribuição para a concretização
do Escola que Protege, através de uma incipiente avaliação da sua
metodologia utilizada nas capacitações.
Os procedimentos metodológicos para este estudo basearam-se: (1)
busca por relatórios elaborados pelo projeto Escola que Protege em outros
estados nacionais; (2) análise dos relatórios enviados pelas escolas para o
projeto Escola que Protege, a fim de escolher a escola ña qual faria a
pesquisa; (3) elaboração do instrumental para as entrevistas; (4) entrevistas
com as quatro categorias envolvidas no projeto: comissão, professores e
funcionários, pais e crianças; (5) análise e tabulação dos dados coletados.
O lugar de importância da escola na rede de proteção
Considerada um espaço de educação e formação dos indivíduos, é
na escola que são consolidadas as relações entre indivíduos, natureza e
sociedade. Assim, a escola é um local de formação, pois trabalha o
conhecimento, atitudes, valores e principalmente a concepção de hábitos
(SILVA, 2004).
Para Nascimento (2006), a escola deve ser pensada como um
espaço em que crianças e adolescentes possam ter todos os seus direitos e
deveres assegurados e onde o professor não exerça sozinho a

58
responsabilidade do desenvolvimento integral da criança, mas em conjunto
com toda a comunidade escolar.
Os estudos sobre a violência apontam que, além dos familiares, as
pessoas mais próximas da criança ou adolescente são, na maioria dos casos,
seus maiores agressores, o que dificulta a denúncia. Deste modo, a escola é
importante vetor no trabalho de proteção à violência, estando muito ligada
ao cotidiano das crianças e adolescentes. Contudo, antes de se pensar na
escola como um agente de proteção, é necessário caracterizá-la e entendê-
la, tendo como referencial o ponto de vista dos seus componentes
(professores, diretores, coordenadores e demais funcionários), observando
como eles colaboram para sua instituição enquanto apoio e proteção. Todos
os profissionais do ensino que compõem a escola devem se identificar com
seus ideais, e compreender que fazem parte de uma rede de profissionais,
podendo ou não trabalhar como referência, apoio e proteção. Deste modo,
A escola deve se comprometer com a garantia dos
direitos das crianças e dos adolescentes, e a adesão dos
educadores fortalece a militância em defesa desses
direitos. A atuação do professor na identificação e
denúncia da violência sexual é fundamental,
principalmente nas primeiras séries, quando os
educadores permanecem cerca de quatro horas diárias
com as crianças (INOUE e RISTUM, 2008, p. 15).
De acordo com o Art. 70° do Estatuto da Criança e Adolescente, “é
dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da
criança e adolescente” (BRASIL, 1990a). Portanto, a escola deve exercer o
seu papel de instituição de proteção, além de constituir-se em um espaço
democrático, que possa proporcionar o desenvolvimento integral de crianças e
adolescentes em suas diversas necessidades. Este espaço deve valorizar o ser
humano, as relações interpessoais, o respeito ao próximo, desenvolvendo o

59
senso crítico e a responsabilidade social, ou ainda, promovendo ações que
proporcionem a liberdade do pensamento. (MAIOR NETO, 2009).
É importante que toda a comunidade escolar compreenda que o
exercício das suas funções básicas de educação deve ser somado a ações que
promovam a garantia dos direitos da criança e adolescente, não podendo
pensar estes dois campos de atuação separados. Como explica Amaral (2007),
A escola, importante espaço de convivência de crianças
e adolescentes, pode se tornar um espaço de
enfrentamento das situações de violência, através de
sensibilização e formações aos atores sociais que com
eles convivem para que desenvolvam ações contínuas de
acolhimento e proteção23
O ambiente de ensino pode ser o canal de entrada da rede de
atendimento, em casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. A
equipe gestora da escola, quando perceber esse fenômeno, tem o papel de
acionar a rede e realizar a denúncia, primeiramente ao Conselho Tutelar e
órgãos responsáveis. O corpo docente e administrativo da escola deve garantir
o sigilo do caso, como também entender a criança e o adolescente como
sujeitos em desenvolvimentos e de direitos, acima de tudo. Além disso, não
pode considerar que a vítima consentiu com a agressão, pois não se pode falar
em consentimento em uma situação que existe uma relação de poder adulto-
criança ou adulto-adolescente (QUIXADÁ, 2007).
A violência com crianças e adolescentes: o contexto escolar
Segundo Michaud (1989, apud PERES, 2009) a violência existe quando
um, ou vários atores, tem atitudes que causem danos a uma ou mais pessoas, seja
23
Trecho retirado da orelha do livro “A Escola diz não à Violência”. (
MOTA, MADEIRA e CORDEIRO, 2007).

60
à sua integridade física, moral, em suas posses, ou ainda em suas participações
simbólicas e culturais. A partir da década de 80, a temática da violência surge
como problema de saúde pública, ampliando principalmente as discussões sobre
as questões de maus-tratos. Segundo a Associação Brasileira de Crianças
Abusadas e Negligenciadas, cerca de 4,5 milhões de crianças são vítimas de abuso
e negligência, por ano, em nosso país (DESLANDES, 1994). A violência familiar
é realidade no Brasil, merecendo maiores estudos:
No Brasil, a padronização para registrar situações de
violência familiar é fragmentada, o que provoca
prejuízo para uma rotina clara e eficaz, ocasionando
deficiências nos procedimentos a serem seguidos pelos
profissionais e instituições. Além disso, há carência de
políticas públicas eficazes que viabilizem a criação e,
principalmente, a manutenção de programas
preventivos e de tratamento, necessários para
promover o aprimoramento e evolução de técnicas
eficazes no enfrentamento dessa problemática (BRITO
et al, 2005, p. 144).
Um fator que pode originar a violência é o não, ou mau funcionamento,
dos dispositivos políticos. Isso pode ser observado através das lideranças dos
governos, ao promoverem políticas de gestão, e não de Estado. Ou seja, quando
há troca de governo, não há efetivação e continuação dessas políticas. Tal fato
acarreta sérios danos à população que dependem dessas políticas para
continuarem a viver ou exercerem sua cidadania (QUIXADÁ, 2007). Crianças e
adolescentes vítimas de violência sofrem essa violação dos direitos, muitas
vezes, pelo adulto que os impõe regras e limita-os frente à lei e sociedade.
Afirma Mota (2007):
A violência contra a criança e adolescente contém uma
confluência entre discriminação de gênero e de idade,
fundada numa cultura machista e adultocêntrica, que

61
submete a infância não apenas ao cuidado, mas ao
controle dos adultos, extraindo-lhe sua plenitude como
indivíduo diante da lei e da sociedade. Reduzida a uma
condição de incompletude, insuficiência e fragilidade, a
infância é dominada, submetida, silenciada e excluída
diante dos interesses dos adultos [responsáveis por ela ou
não] (p. 26).
Os maus tratos, abandono e negligência, abuso, exploração sexual,
exploração comercial, além do trabalho infantil, ou seja, todas estas formas de
violência contra crianças e adolescentes, não são recentes, o que pode ser
comprovado pela trajetória histórica das crianças pobres do Brasil. Porém essa
realidade vem se alterando ao longo das últimas décadas. A divulgação do
Estatuto da Criança e do Adolescente contribuiu fortemente para que esta situação
se transforme (FRANCISCHINI e SOUZA NETO, 2007).
As situações de violências nas quais muitas crianças e adolescentes
encontram-se, podem ser percebidas mediante a identificação de alguns fatores,
sendo estes, muitas vezes, os principais facilitadores da vulnerabilidade infanto-
juvenil. Por isso, a importância em identificá-los e conhecer a realidade e o
contexto histórico de cada indivíduo violentado. Conforme Cordeiro (2007), para
que haja a identificação desses fatores, é preciso classificá-los em fatores de risco
e/ou fatores de proteção. Torna-se necessário entender a combinação entre eles,
pois podem servir de referência ao modo de acolhimento dos sujeitos vitimados.
A autora associa os fatores de risco à situação de violência, e afirma que a
violência e a violação dos direitos se confundem, na medida em que os indivíduos
vivem nesse contexto, e, muitas vezes, podem assumir a posição de excluídos.
Ainda, segundo a autora, os fatores de proteção são aqueles que transformam,
aliviando a resposta de um indivíduo a algum episódio que lhe causou sofrimento,
sendo combinado pela força e características internas, como também por recursos
familiares e sociais. A escola, neste contexto, é admitida como instituição

62
participante da rede de enfrentamento à violência contra criança e adolescente, na
qual pode prover a garantia desses fatores de proteção.
Ao se falar em violência contra crianças e adolescentes, já se sabe que
esta é produzida muitas vezes nos lares, entre quatro paredes. Tem crescido o
número de profissionais, como professores, pedagogos, enfermeiros, médicos,
assistentes sociais, auxiliares de educação e saúde, que são capazes de, não apenas
identificarem, como também notificarem, os maus-tratos sofridos pelos jovens
(MACHADO e MACHADO, 2009). Daí a necessidade cada vez maior de
qualificação, no que diz respeito não apenas ao atendimento das vítimas, mas
antes de tudo na sua identificação. Assim, o professor que permanece muito
tempo junto das crianças, tem um papel muito importante. Para isso se faz
necessário promover capacitações, formações, que o levem a compreender a
criança em sua complexidade, mas também como sujeito de direito, zelando para
que esses direitos sejam garantidos.
A criança no Brasil não deve ser vista apenas como um objeto de tutela
do adulto, e sim como sujeito de direitos. A Constituição Federal de 1988, o
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990) e a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional – LDBEN (1996), expressam essa conquista das crianças
brasileiras. E hoje as crianças devem ser pensadas como
[...] um ser humano completo que, embora em processo de
desenvolvimento e, portanto, depende do adulto para sua
sobrevivência e desenvolvimento, não é apenas um “vir a
ser”. Ela é um ser ativo e capaz, motivado pela necessidade
de ampliar seus conhecimentos e experiências e de alcançar
progressivos graus de autonomia frente a condições de seu
meio (CEARÁ, 2004, p. 09).
Existem várias características que podem ser observadas em crianças e
adolescentes em situação de violência. Cordeiro (2007) ressalta: (elas) “são
traumatizados pelo medo, pela vergonha e terror. Eles se reprimem, evitam falar

63
do assunto, mas sofrem de depressão, anorexia (diminuição do apetite),
dificuldades nos estudos, problemas de concentração, [...], fobias (medo
desmesurado), sensação de estar sujo”( p. 49).
Para que crianças e adolescentes possam ser atendidos, considera-se de
extrema importância a formação de educadores, por meio da perspectiva
preventiva, no que diz respeito às temáticas da violência física, psicológica, abuso
sexual, exploração do trabalho infantil, exploração sexual, exploração comercial e
tráfico para esses fins. Para isso é imprescindível oportunizar, não apenas a
comunidade escolar, mas toda a classe de profissionais relacionados à educação
escolar, a sensibilização e compreensão sobre o prejuízo das diversas formas de
violência para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Além disso,
torna-se imprescindível assegurar um adequado encaminhamento das vítimas.
É importante que o profissional que atenda uma criança ou adolescente
vítima de violência, esteja seguro, preparado para fazer o atendimento, como
também denunciar o caso ao Conselho Tutelar. Algumas atitudes que o
profissional deve assumir estão relacionadas a seguir: (1) creditar e validar a
história da vítima; (2) respeitar e zelar as informações passadas por ela e acima de
tudo não culpá-la, principalmente nos casos de violência sexual; (3) garantir que a
vítima tenha prioridade de atendimento (ELLERY e GADELHA, 2004).
Existem orientações que a comunidade escolar, a família, a sociedade
como um todo precisam saber, para poderem agir nos casos de violência A trilha
da denúncia pode partir das unidades escolares e saúde para o conselho tutelar e a
partir deste ser encaminhada para a Promotoria da Infância e Juventude. Dai
seguirá para a Polícia Militar, Perícia Técnica e, por fim, chegará ao Juizado da
Infância e da Juventude. Já a notificação, pode partir de qualquer unidade,
entidade, seja ela governamental ou não, ou ainda ser feita por meio da denúncia
anônima.Todas as notificações devem ser encaminhadas para o Conselho Tutelar,
para as demais unidades responsáveis, até chegar na última instância: o Juizado

64
da Infância e da Juventude. O Conselho Tutelar deve ser acionado em primeira
instância, mesmo que exista a ameaça, risco ou ainda quando a violência já
ocorreu. A ele pertence à competência de “acolher, denunciar, averiguar,
encaminhar e orientar todos os casos de violação dos direitos da criança e do
adolescente e requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço
social, previdência, trabalho e segurança” (ELLERY e GADELHA, 2004, p. 25).
Deve-se sempre trabalhar assumindo como questão primordial a
prevenção e proteção integral de crianças e adolescentes. Sendo assim, compete à
escola atuar em uma perspectiva de minimizar a violência, promovendo ações
de formação dos profissionais que a integram. Para isso é necessário
desenvolver um trabalho de estímulo ao professor, levando em consideração a
realidade de cada criança.
A proposta do Projeto ESCOLA QUE PROTEGE
Trabalhar questões relacionadas à violência traz a necessidade de uma
abordagem especializada, devendo ser realizado um trabalho em Rede,
envolvendo todos os atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e
do Adolescente. É dentro desta crença que surge o Escola que Protege. Assim,
de acordo com o Ministério da Educação,
O objetivo do programa Escola que Protege é prevenir e
romper o ciclo da violência contra crianças e adolescentes
no Brasil. Pretende-se, portanto, que os profissionais sejam
capacitados para uma atuação qualificada em situações de
violência identificadas ou vivenciadas no ambiente escolar
(BRASIL, 2009b ).
Surgiu em 2006 na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade – SECAD do Ministério da Educação – MEC, o Curso de Formação

65
de Educadores para a Interrupção do Ciclo de violência contra Criança e
Adolescente - Escola que Protege, em convênio com as Universidades Federal e
Estadual do Ceará. Este projeto contou com a parceria da Coordenadoria de
Desenvolvimento da Escola – CDESC e Secretaria de Educação do Estado do
Ceará – SEDUC, além da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza – SME
e Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS/Fortaleza. Contou
também com o apoio do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente –
CEDECA e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CEDCA.
O projeto Escola que Protege, em sua segunda edição (2007-2008),
objetivou a formação de 400 educadores para melhor qualificação da Escola, na
rede de enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente.
Segundo o Ministério da Educação, o projeto se propõe a estimular o debate
aos dispositivos de educação para que possam definir o andamento de
notificação e encaminhamento das ocorrências de violência identificadas ou
vivenciadas na escola, junto à Rede de Proteção Social (BRASIL, 2009b).
De acordo com Ministério da Educação, 21 Universidades já tiveram
recursos descentralizados para o cumprimento das ações do programa Escola que
Protege, no ano de 2009. Dentre elas estão algumas Universidades Federais como
a de Alagoas, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Acre e
Federal de Santa Maria (BRASIL, 2009b)24
. Algumas universidades já
iniciaram seus trabalhos, como é possível ver
O Instituto Federal do Piauí realizou um curso de
capacitação para multiplicadores do projeto Escola que
24
Através de pesquisas que efetuei, percebi que a maioria dos estados
atendidos pelo Projeto, ainda não publicou informações suficientes sobre suas
produções e/ou algum resultados da implantação do Projeto. Porém, encontrei
artigos com publicações dos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba.

66
Protege. Esse projeto é voltado para a promoção e a defesa
dos direitos de crianças e adolescentes, além do
enfrentamento e prevenção das violências no contexto
escolar, através do treinamento de profissionais da
educação. No estado do Piauí, o Instituto Federal foi
contemplado com o projeto, para atuar na formação de
profissionais da educação de 22 municípios (ESCOLA...,
2009).
O projeto Escola que Protege em João Pessoa foi desenvolvido
pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade
Federal da Paraíba/PRAC/UFPB, através de Convênio com Ministério da
Educação e Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade – MEC/SECAD, em parceria com a ONG Instituto
Companheiros das Américas – ICA. A metodologia contou com a aplicação
de dois cursos: um deles à distância, fornecido pela Universidade Federal
de Santa Catarina; e outro presencial, sob a responsabilidade da UFPB.
Em João Pessoa o projeto realizou as seguintes ações:
promoção de encontros para os cursistas sobre temáticas relacionadas à
violência contra crianças e adolescentes; criação da Comissão Gestora
Local; começo do processo de sensibilização da comunidade escolar quanto
aos danos originados pelas diversas formas de violência no
desenvolvimento integral de crianças e adolescentes; articulação com a
Rede de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; encaminhamento
de proposta de realização de um diagnóstico sobre a situação da violência
nas escolas e disponibilização para os alunos de uma sala apoio. As
principais dificuldades encontradas na implementação Projeto foram a
carência de materiais de consumo; atraso na liberação dos recursos
financeiros; pouca participação de alguns membros da Comissão Gestora
Local, especialmente da representação do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente; demora na entrega de material para os

67
cursistas; atraso no envio da lista dos aprovados no módulo à distância;
baixa assiduidade dos alunos na modalidade presencial, muitas vezes
explicadas pela ausência de apoio dos gestores e sobrecarga de trabalho
para os professores apoio (NASCIMENTO et al, Ibid).
Já com relação à realidade do Escola que Protege na cidade de
Natal, existe alguma diferença: A Pró-Reitoria de Extensão, seguindo a
orientação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade - SECAD, inicialmente convocou as Secretarias de Educação –
Estadual e Municipal. Em seguida, convocou também um representante do
Conselho Tutelar – Zona Leste, um dos Conselhos de Direitos da Criança e
do Adolescente (Municipal e Estadual) e um do Ministério Público,
especificamente da Promotoria da Infância e Juventude. Formou-se, desta
forma, a Comissão Gestora, sob coordenação da Pró-Reitora de Extensão
(FRANCISCHINI e SOUZA NETO, 2007). Sob encargo das Secretarias de
Educação ficaram os procedimentos de escolha dos professores para
fazerem parte da formação, além do acompanhamento e organização de
infra-estrutura para realização do módulo à distância. No módulo à
distância, além do kit didático, que continha livro texto e video-aula em
VHS, os professores tiveram acesso a sessões de teleconferência. Contaram
também com um acompanhamento ao estudante, através de telefone, com a
participação de tutores e monitores qualificados pela UFSC. Após o
módulo à distância, a Comissão Gestora planejou o módulo presencial, com
duração de 20 horas, distribuído em duas turmas, durante três dias
consecutivos. Para as duas turmas foram selecionados 102 educadores. No
entanto, apenas 63 freqüentaram o curso. Foi observada uma desistência
significativa, ainda por ocasião do módulo à distância. Além disso, muitos
participantes não realizaram a atividade final prevista. No módulo
presencial os conteúdos foram distribuídos em aulas, com duração de 2

68
horas para cada. Ao término do curso cada uma das turmas apresentaram
uma peça de teatro, com participação dos educadores, representando
situações de violência física intra familiar contra uma criança.
Os principais problemas identificados em Natal foram baixa
freqüência de educadores nas transmissões das teleconferências,
comunicação não eficiente entre coordenação do módulo à distância e os
representantes das Secretarias de Educação e/ou entre os monitores/tutores
e os educadores, dificuldades de acesso aos recursos tecnológicos mínimos
para o andamento do curso, o não recebimento do material do curso em
tempo hábil, a não eficiência da divulgação e inscrição e a ausência de uma
cultura de educação à distância e as conseqüentes dificuldades dela
originadas. Deste modo, como afirmam Francischini e Souza Neto(2007, p.
4): “Em seu conjunto, essas dificuldades levaram-nos, enquanto
coordenadores, à conclusão de que o módulo à distância não alcançou os
objetivos previstos”. Já os aspectos positivos destacados foram o bom
conteúdo programático do curso, a competência dos professores
ministrantes e a probabilidade de conhecimento da rede de proteção e do
Estatuto da Criança e do Adolescente, desconhecidos, até o momento, por
grande parte dos educadores. Como sugestões para a melhoria do projeto,
os cursistas referiram a expansão do curso, ampliando seus conteúdos e
carga horária. Além disso, também propuseram o aumento do número de
escolas e educadores participantes
O Escola que Protege no Ceará utilizou-se de capacitações como
metodologia, dividida em aulas presenciais (40 horas) e semipresenciais,
com a mesma carga horária. As formações semipresenciais foram dedicadas
a atividades de multiplicação. Assim, após os educadores receberem as
formações, os mesmos deveriam realizar um curso de repasse, organizados
em três fóruns escolares. A fase presencial ocorreu em quatro momentos, em

69
semanas intensivas de trabalho, incluindo: (1) professores e técnicos da rede
estadual e da rede municipal; (2) educadores sociais, lotados em áreas especificas,
como saúde e assistência social; (3) pais e estudantes integrantes de conselhos
escolares. Os conteúdos abordados foram dirigidos para o entendimento e a
criação das Comissões Escolares. Nas capacitações presencias os educadores,
também chamados de formadores, foram divididos em quatro turmas. Cada turma
recebeu as mesmas formações, textos e CDs contendo informações sobre diversos
temas escolhidos pela equipe do projeto, para serem as vertentes de estudo dos
educadores. Alguns dos temas escolhidos para as formações disseram respeito aos
aspectos históricos sobre a infância/criança e adolescência no Brasil, como
também a constituição da criança e do adolescente como sujeito de direito. A
identificação dos principais tipos de violência, o trabalho do sistema de Garantias,
Direitos Humanos e a proposta no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA,
também foram discutidos. Outros temas estiveram relacionados com a
Intersetorialidade, constituição de Redes e controle social, concepção, estrutura e
funcionamento de comissões escolares de prevenção enfrentamento à violência
infanto-juvenil. Também se estudou os principais desafios da juventude na
sociedade atual, abordando as diferenças e desigualdades sociais.
Atualmente o projeto está em fase de conclusão, ou seja, a equipe gestora
está preparando um livro que publicará os resultados alcançados, os detalhes sobre
os temas, sucessos, falhas, impactos e lições aprendidas pela implementação do
Escola que Protege no Ceará.
Avaliar para efetivar: um caminho viável para as políticas públicas
Diante de um projeto como o Escola que Protege, que atualmente
abrange vários estados nacionais, se faz necessário realizar uma avaliação, mesmo
que simples, da eficácia da sua metodologia. A avaliação pode ser um utensílio
essencial para se alcançar melhores resultados de programas. Ela pode fornecer

70
também aos gestores de políticas sociais e de programas, informações
significantes para a formulação de políticas mais eficientes e uma gestão pública
mais eficaz (COSTA e CASTANHAR, 2003)
As políticas são distintas e desempenham inúmeros papeis frente à
sociedade, existindo as políticas básicas, de garantias, as sociais, as de proteção
especial e as políticas públicas. Para Silva (2001), toda forma de regulação ou
intervenção na sociedade, onde se articulam diferentes sujeitos que expressam
interesses e expectativas distintas, é política pública. A autora afirma acerca do
que seja política pública:
Um conjunto de ações ou omissões do Estado decorrente de
decisões e não decisões, constituída por jogo de interesse,
tendo como limites e condicionamentos os processos
econômicos, políticos e sociais. Isso significa que uma
política pública se estrutura, se organiza e se concretiza
partir de interesses sociais organizados em torno de recursos
que também são produzidos socialmente (p. 37).
Assim, avaliar a metodologia de um projeto/programa requer
conhecimentos específicos, principalmente no que se refere ao
funcionamento completo do mesmo. Enquanto estagiária do Escola que
Protege pude acompanhar todo o processo de elaboração, planejamento e
execução de suas atividades. Contudo, desde o início questionei a eficácia
da metodologia que o projeto adotou, principalmente com relação ao
repasse das formações, indagando de que forma o projeto acarretaria
mudanças efetivas na realidade de cada escola. Para que haja a efetivação e
eficácia de programas é necessária a participação de todos os sujeitos
envolvidos. Este é um critério básico para que os projetos e políticas
continuem a ser implementados, a fim de contribuir para a qualidade de
vida dos indivíduos aos quais são destinados. Para Luck (2003)

71
É importante lembrar que a participação é um processo que
envolve muito mais que consulta ou solicitação de
informações a várias pessoas, como também não significa o
arremedo de democracia pelo voto individual a respeito de
idéias que devem ser implementadas, sem o
comprometimento com sua implementação. A participação
implica sonhar uma nova idéia, uma nova realidade e
propor-se a sofrer junto às dificuldades de sua
implementação (p. 61).
Silva (2001) afirma que no Brasil ainda é restrita a prática de
avaliação de políticas e programas sociais, sendo muitas vezes utilizada apenas
para mesurar o controle de gastos e não para contribuir com o desenvolvimento de
programas ativos. A avaliação, quando considerada numa perspectiva de
cidadania, pode colaborar para a eficácia e controle social das políticas sociais.
Visto a importância da avaliação das políticas, principalmente para a
melhoria e efetivação de projetos sociais, considera-se relevante a avaliação da
metodologia adotada no projeto Escola que Protege, a fim de contribuir para
concretização e consolidação dos objetivos que o mesmo almeja.
Construindo um método para a pesquisa de campo
Este trabalho analisou, através de uma avaliação qualitativa e
quantitativa, a metodologia utilizada nas capacitações do projeto Escola que
Protege. O instrumento utilizado para fazer a coleta de dados foi um
instrumental elaborado por mim, com base nos questionamentos feitos no
início do trabalho.
O instrumental foi subdividido em três partes, assim denominadas:
I) Identificação; II) Questões objetivas sobre o projeto Escola que Protege;
III) Questões abertas sobre o projeto dentro da escola. A aplicação desse
instrumento foi feita por meio de quatro entrevistas, sendo entrevistados

72
um membro da comissão, algumas mães, alguns professores e funcionários
e um grupo de crianças.
1. A escola escolhida para a pesquisa: Pequeno Mundo Durante o projeto Escola que Protege, como estagiária, tinha a
função de acompanhar e, na medida do possível, analisar os relatórios
enviados para o projeto, a fim de contabilizar a realização dos fóruns. Deste
modo, escolhi o relatório em que constava, dentre poucos, a descrição da
realização dos três fóruns, assim como a consolidação da comissão escolar.
A escola municipal selecionada para a realização da pesquisa para o meu
trabalho localiza-se no bairro Antônio Bezerra, recebendo um nome
fictício, Pequeno Mundo. Trabalha com a Educação Infantil, nos períodos
manhã e tarde, tendo em média 250 alunos.
Após a escolha da escola, o primeiro passo foi entrar em contato
com a direção para explicar o objetivo do meu trabalho, além de obter
autorização para realizá-lo.
2. Aplicando o instrumental:
Entrevistando as formadoras: Na primeira visita à instituição
escolhida, pude identificar que apenas uma das professoras, que era também
integrante do conselho da escola, foi quem participou da capacitação
presencial. Assim, a direção da escola a indicou para que eu pudesse
realizar a primeira entrevista, que foi dividida em blocos. As perguntas
foram dirigidas à formadora, mas, no momento da entrevista, a diretora da
escola também estava presente e respondeu algumas questões.
As perguntas do primeiro bloco tinham como objetivo saber sobre
os palestrantes, as temáticas, a carga horária, o local, dentre outras questões.
Quando perguntada como ela ficou sabendo do projeto Escola que Protege,

73
a mesma disse que a escola Pequeno Mundo foi convidada pela Secretaria
Municipal de Educação de Fortaleza – SME, através de um ofício, que
convocava todas as pessoas do conselho. No entanto, nem todos puderam
participar. Assim, fizeram a inscrição outras pessoas também envolvidas,
ou seja, alguns pais e alunos, que foram para a capacitação, que aconteceu
no auditório da OAB, em Fortaleza.
Sobre as temáticas que mais lhe interessaram, a formadora
respondeu que o tema “Violência Doméstica” foi o que mais lhe chamou
atenção. Com relação aos palestrantes, a formadora elogiou bastante a
coordenadora do projeto e sua palestra, enfatizando ainda sua formação
ampla. Nas respostas da formadora pude perceber que a mesma se mostrou
satisfeita em ter participado da capacitação. No entanto, relatou por várias
vezes durante a entrevista, que o local, acomodação e principalmente a
alimentação, deixaram muito a desejar.
No segundo bloco as perguntas eram relacionadas à 2° fase do
projeto, ou seja, a fase semipresencial, na qual a formadora teria que passar
todas as formações recebidas em forma de fóruns para os demais
integrantes da escola em que leciona. Neste segmento, a formadora afirmou
que a carga horária da capacitação presencial foi o suficiente para repassar
as palestras para a diretora e vice-diretora, já que foram elas quem
receberam as primeiras formações. A partir desse primeiro encontro, houve
os outros momentos de multiplicação para os demais professores e
funcionários, pais e alunos. Afirmou também que não buscou ajuda de
nenhum outro profissional por ocasião da montagem do curso de repasse,
apenas do corpo docente da própria escola. Quanto ao material de estudo,
buscou auxílio em livros.
Para a elaboração dos fóruns, a equipe da escola foi dividida. O
primeiro grupo foi formado pela formadora, diretora e vice-diretora, que

74
fizeram a elaboração do fórum dos professores e funcionários. Em seguida,
a mesma equipe, agora somada aos demais professores, elaborou a
formação dada aos pais e, posteriormente, às crianças. Ao perguntar se
houve resistência dos professores e funcionários em aceitar o projeto, como
também fazer parte e trabalhar para o mesmo acontecer, a formadora disse
que todos (as) aceitaram muito bem, havendo a participação integral
Percebe-se que a participação e envolvimento de todo o corpo docente da
escola em momentos como esse é de grande valia, não apenas para a escola,
mas para as crianças, pais e sociedade (DAVID, 1997 apud
VIODRESINOUE e RISTUM, 2008).
Quanto aos temas abordados nos fóruns elaborados pela escola,
percebi que os mesmo não foram os que a formadora recebeu na
capacitação presencial. Assim, alguns dos temas que foram abordados na
capacitação presencial, tornaram-se outros temas. Tal constatação foi
observada não somente a partir da entrevista com a formadora, mas também
constava na ata do fórum dos professores e funcionários, enviada
juntamente com o relatório pela escola Pequeno Mundo, ao projeto Escola
que Protege.
Vale ressaltar que os conteúdos abordados em cada capacitação
executada pelo projeto Escola que Protege, foram escolhidos via solicitação
do Ministério da Educação e Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade para que as escolas pudessem ser capacitadas
no sentido de definir o andamento de notificação e encaminhamento das
ocorrências de violência identificadas ou vivenciadas na escola, junto à
Rede de Proteção Social. Contudo, vale à pena refletir: Por que adaptar os
temas abordados nas capacitações? Acredito, pois participei da seleção dos
temas junto à coordenação, que cada assunto selecionado tinha o seu
objetivo, atendendo à demanda e conforme a experiência do projeto em

75
outros estados do Brasil. Pois bem, o intuito final do projeto era a formação
de educadores-multiplicadores, ou seja, os cursos de repasse em forma de
fóruns teriam que abordar as mesmas temáticas vistas nas capacitações. Se
assim nao fora, qual sentido isso teria? Ao ser questionada sobre isso, a
formadora alegou que, ao chegar à escola, observou primeiramente sua
carência e, em seguida, adaptou as formações que ela recebeu a sua
realidade. Assim, no fórum dos professores e funcionários foram abordadas
as seguintes questões a serem respondidas: “Quais atitudes caracterizam
uma violência?”; “Que tipo de violência acontece na sua escola?”; “Quais
os tipos mais comuns de violência que ocorrem na sala de aula?”; “Qual o
papel da escola no enfrentamento à violência contra as crianças e
adolescentes?”.
Entrevistando os pais:
As quatro mães entrevistadas, na própria escola, foram escolhidas
aleatoriamente. Inicialmente, através da lista de presença do fórum para
pais, consegui o endereço e telefone de 15 pais, por meio das fichas das
crianças da escola. Liguei para todos(as). No entanto, consegui marcar a
entrevista com apenas quatro mães, devido metade dos números de
telefones estarem incorretos, ou não atenderem ou, ainda, não existirem.
O instrumental (em anexo), previamente elaborado, contou com
perguntas objetivas e abertas, para que pudesse coletar dados quantitativos e
qualitativos de cada aspecto analisado. Todas as quatro mães entrevistadas
responderam as questões objetivas e subjetivas do instrumental. Aqui vou
chamá-las de mãe 1, mãe 2, sucessivamente. Abaixo seguem alguns dados
relevantes a serem observados de cada entrevistada.
Quadro 1 – Dados pessoais das mães

76
Fonte: Dados coletados no Instrumental utilizado na entrevista
Observando o perfil das entrevistadas, pude perceber uma idade
média de 32 anos; duas delas terminaram o ensino médio; apenas duas
exercem atividade remunerada.
O primeiro bloco do instrumental continha questões objetivas e
dizia respeito ao projeto Escola que Protege, constituindo-se em questões
que poderiam ser respondidas facilmente.
Observa-se que 100% não tinham ouvido falar sobre o projeto.
Como participar de um fórum deste e não ter ouvido falar do Projeto,
pergunto-me?! Apesar disso, analisavam como sendo de extrema
importância o tema violência ser debatido no ambiente escolar, por
considerarem a escola um local de aprendizado e formação. Interessante
perceber que o projeto não foi divulgado dentro da escola, mas as mães
demonstraram interesse em participarem dele.
Chama atenção a percepção que as mães têm quanto à participação
da família nas discussões, como também na comissão da escola. Na
verdade, os estudos já apontam para a necessidade desta relação. Para
Faleiros (1998 apud Viodresinoue e Ristum, 2008, p. 15) por exemplo, “a
família e a escola são redes fundamentais de articulação desse processo de
formação da identidade, de proteção, de socialização da criança”.
As questões seguintes se referem à análise do dia do fórum dos
pais. Pude observar, neste momento, que as mães tiveram dificuldades em
NOME IDADE PROFISSÃO ESCOLARIDADE
Mãe 1 32 anos Dona de casa Ensino médio
Mãe 2 34 anos Trabalha com vendas 1° grau completo e o 1°
científico
Mãe 3 31 anos Não respondeu Ensino médio
Mãe 4 31 anos Costureira Até a 8° série

77
responder tais questões devido ao fórum ter ocorrido no dia 06 de dezembro
de 2008, e elas não conseguirem lembrar-se de tudo que ocorreu naquele
dia. Como resultado, temos o gráfico abaixo:
GRÁFICO 1 - Porcentagens referentes aos dados tabulados,
quanto à organização do fórum dos pais.
0
20
40
60
80
100
120
Ruim Regular Bom Ótimo
Organização
Temas
Palestrantes
Objetivos
Carga horária
Fonte: Dados coletados no Instrumental utilizado na entrevista
Através do gráfico pude perceber que 100% das mães
consideram o fórum bem organizado. No entanto, 25% avaliaram que a
carga horária foi regular, ou seja, consideraram que apenas uma manhã de
conversas e palestras foi tempo insuficiente para a explanação de assuntos
importantes, como os que foram abordados. Quanto aos objetivos, temas e
palestrantes, 75% analisaram em ótimo. Ou seja, na análise das mães, os
objetivos do fórum foram alcançados: os temas são por demais importantes
para serem debatidos na escola. Quanto aos palestrantes, avaliam que os
mesmos souberam ministrar muito bem cada palestra.

78
Nas questões abertas do instrumental, as mães, quando perguntadas
sobre quais assuntos haviam mais lhe interessado, 50% responderam que o
tema “Como dizer não para criança”. Os demais 50%, responderam ter se
interessado pelo tema de “Limites”. Vale a pena ressaltar que temas como
estes podem está diretamente ligados com a realidade destas famílias,
principalmente com relação a dificuldades em por limites aos seus filhos.
Sobre o Escola que Protege, como um todo, 100 % responderam
que esse tipo de projeto é muito bom, porém deveria ter continuado, pois os
pais precisam desse tipo de informações. A partir da fala das mães nesta
questão, percebi que o desejo de querer que o projeto continuasse, foi o
mesmo expresso pela formadora, por considerá-lo importante para a escola,
crianças e família.
No que diz respeito à melhoria do projeto, apenas 25% solicitou que
houvesse o incentivo de todos(as) para o projeto continuar. Os demais 75 %
afirmaram que esse tipo de projeto deve continuar, para permanecer
levando os assuntos abordados no fórum, para as escolas e pais. Com
relação aos aspectos positivos e negativos do projeto, os pais, 100% deles,
afirmaram apenas ter pontos positivos, tais como:
“Os cuidados dos professores e funcionários com as crianças.”; (Mãe 4)
“Realmente houve uma melhora da parte tanto das mães com os filhos e
também com professores e alunos.”; (Mãe 2)
“Achei pontos positivos, por que meu filho está aprendendo mais.”; (Mãe
3)
“Só teve aspectos positivos no modo de comportamento dos pais.”. (Mãe
1)
No fórum dos pais também percebi que os temas abordados não
condiziam com a capacitação presencial da qual a formadora participou.
Assim temas como: “Limites, regras e vida em sociedade”; “Saber dizer

79
não”; “Os limites, os castigos e a culpa”; “Dar exemplo – ajustá-lo à criança
/ ressaltar a diferença”; “Alguns limites e conselhos”, foram trabalhados,
com a justificativa da formadora de que as crianças apresentavam bastantes
dificuldades em obedecer a regras. Devido a isso, esses temas foram
divididos entre as professoras e direção da escola, para a exposição em
forma de palestras, no dia do fórum.
Entrevistando as crianças
Foram entrevistadas oito crianças com idades de 8 a 10 anos, todas
da 3° série do ensino fundamental da escola Pequeno Mundo. A conversa
com as crianças dividiu-se em dois momentos. O primeiro contou com a
apresentação do meu trabalho e objetivo e em seguida o resgate da história
do Escola que Protege, dentro da escola Pequeno Mundo. A segunda parte
incluiu a fabricação de dois desenhos, nos quais as crianças teriam que
demonstrar o que o projeto significou, assim como o que seria necessário
para acabar e/ou amenizar com a violência dentro da escola.
Inicialmente a professora trouxe as crianças até a sala dos
professores. Em seguida apresentei-me, e contei dos meus objetivos. Após
a apresentação de todas as crianças, fiz uma pequena explanação resgatando
o projeto Escola que Protege dentro da escola, como também o dia do
fórum em que elas participaram. A partir disso, fiz algumas perguntas, tais
como o que elas mais haviam gostado no fórum, do que elas ainda
lembravam do projeto, o que havia mudado na escola depois do projeto,
dentre outras. Percebi grande interesse delas em responderem as minhas
perguntas.
Seguindo a ata, que constava em anexo do relatório enviado pela
escola ao projeto Escola que Protege, relembrei alguns dos temas abordados
no dia do fórum das crianças. Ao falar do ECA, compreendi que algumas

80
crianças concordaram com o que ele apresentava. Na medida em que o
explicava, elas relataram a violência que ocorre no momento do recreio,
como as brigas, desavenças e principalmente as “brincadeiras” com as
pedras do pátio que, segundo o relato delas, já machucaram várias crianças.
Alegaram que para o fim desses acontecimentos, a solução é falar para a
“tia”, referindo-se a professora.
Em uma de minhas visitas a escola Pequeno Mundo pude
presenciar uma situação parecida com a que uma das crianças havia
relatado na entrevista. Por uma determinada causa, que no momento não
pude identificar, a professora levou até a diretoria duas crianças que haviam
brigado em sala de aula. Chegadas à sala da diretora, a mesma pediu que as
crianças não mais fizessem isso, com a ameaça de punição, caso houvesse a
ocorrer novamente. Em seguida as crianças retornaram a sala de aula. Tal
situação me levou a refletir a respeito da forma como os temas abordados
no fórum para professores e funcionários foram tratados. Uns dos assuntos
discutidos, de acordo com o relatório da escola foram: “Quais atitudes
caracterizam uma violência?” e “Quais os tipos mais comuns de violência
que ocorrem na sala de aula?”. Partindo desse ponto, observo que, de
alguma forma, não houve a interação e comprometimento de todos(as)
nessas discussões, tal como afirmou a formadora (membro da comissão)
entrevistada inicialmente. Chamou atenção o ato de que até mesmo a
diretora da escola, que participou da elaboração do fórum, obteve uma
postura criticável, ameaçando as crianças que brigaram.
Analisando a postura da direção, professores, funcionários e
alunos dentro da escola, Maior Neto (2009, p. 62) afirma que
O aluno deve aprender os seus limites e os que
envolvem a autoridade, em convivência social
equilibrada. O tratamento pedagógico às atitudes

81
incorretas do aluno deve se iniciar no exato momento
da primeira ação inadequada ao relacionamento
respeitoso, com ações apropriadas à verdadeira
compreensão do papel do aluno e do professor, a fim
de evitar situações de agressão, autoritarismo ou
anarquia.
Com relação ao projeto “Recreio sem violência”, que as professoras
e comissão implantaram na escola como resultado do projeto Escola que
Protege, as crianças disseram que se tratava do resgate das brincadeiras
antigas na hora do recreio, como as cantigas de roda, amarelinhas,
brincadeira da corda. Afirmaram, com tristeza, que hoje em dia elas não
ocorrem mais com a mesma freqüência do início do projeto. Percebi, então,
certa frustração nas crianças, que pode ser interpretada pela razão das
crianças terem gostado bastante desse projeto, que não teve continuidade.
Daí surge questões do tipo: se o projeto foi desenvolvido para as crianças, e
se as mesmas demonstraram interesse, por que ele não continuou? Por que a
equipe gestora não ouviu as crianças para saber o que poderia ser feito para
o projeto não acabar?
Segundo Rocha (2008) existem estudos onde crianças participam de
pesquisas e projetos, através de procedimentos que promovem sua
participação efetiva e o que elas expressam, seja através de desenhos,
expressões gestuais, corporais, faciais ou ainda através da fala. Dessa
forma, Rocha (2008, p. 46) traz que
A ênfase na escuta da criança justifica-se pelo
reconhecimento das crianças como agentes sociais, de
sua competência para a ação, para a comunicação e
troca cultura. Tal legitimação da ação social das
crianças resulta também de um reconhecimento e de
uma definição contemporânea de seus direitos
fundamentais – de provisão, proteção e participação.

82
Na segunda parte da entrevista com as crianças, elas teriam que
produzir dois desenhos. Primeiramente foi solicitada a representação do
projeto. Observei, neste primeiro momento, que as crianças tiveram
dificuldades em entender o real objetivo do primeiro desenho e algumas
delas não conseguiram atender ao que foi solicitado. Algumas crianças
quiseram desenhar o pica-pau, outras disseram que não seria legal desenhá-
lo, por que o mesmo era violento, e assim surgiram inúmeros desenhos que
não se encaixaram ao que foi solicitado previamente. No entanto, algumas
crianças conseguiram desenhar, escrevendo o que podia e não podia ocorrer
no recreio da escola. Outras crianças desenharam o que elas desejariam que
tivessem no recreio, como brinquedos, parquinhos e até rodas gigantes.
Analisei que a dificuldade que as crianças demonstraram para fazer
o primeiro desenho, estava associada ao não lembrar, como também ao não
entendimento claramente dos objetivos do projeto Escola que Protege,
dentro da escola. A partir disso, surgiram alguns questionamentos, tais
como: as crianças não se lembram do projeto Escola que Protege, por que o
mesmo só foi repassado em forma de um fórum, ou seja, uma manhã de
conversa? O que foi repassado neste fórum foi o suficiente para que o
projeto fosse significativo para as crianças? Por que quando falei do Projeto
para as crianças, elas só conseguiram lembrar-se do projeto “Recreio sem
violência”?
Entrevistando os(as) funcionários(as)
Foram entrevistados cinco funcionários, dentre professoras e apoio
da escola. Os comentários a seguir dizem respeito a porcentagens dos dados
analisados em cada bloco de perguntas do instrumental, ressaltando que
esse instrumental foi o mesmo utilizado para a entrevista das mães. As
respostas dos funcionários foram tabuladas e analisadas em conjunto, pelo

83
fato deles terem participado do mesmo fórum. Aqui os classifico todos de
funcionários, para garantir o sigilo.
Vale ressaltar que 100% afirmaram que projetos como estes podem
diminuir a violência dentro das escolas, o que nos leva a perceber o quanto
a comunidade escolar necessita de projetos neste molde. Entendi que existe
um desejo de que o Escola que Protege continue a existir, e que seja eficaz,
o que pode ser confirmado nas questões 4, 5, 9 e 11.
Analisando os dados coletados, segundo ao gráfico abaixo, observei que
80% dos funcionários consideraram boa a organização do fórum para
professores e funcionários. Em contrapartida, apenas 40% avaliaram que os
temas foram bons. Com relação à carga horária, notei que 60% dos
funcionários consideraram-na regular, afirmando que para abordar temas
como os que foram escolhidos para as palestras, seria necessário um tempo
maior. Vale ressaltar neste ponto que, tanto os pais, quanto os professores e
funcionários, expressaram a mesma opinião, ou seja, para a abordagem de
temas como a violência, demanda-se mais tempo. Os objetivos e temas
apareceram na classificação de ótimo, com a escolha de 60% dos
funcionários. Os palestrantes também atingiram a marca de 60% da escolha
dos funcionários, atingindo a classificação de bom.

84
GRÁFICO 2: Porcentagem referente aos dados tabulados,
quanto a organização do fórum com os professores e
funcionários.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Ruim Regular Bom Ótimo
Organização
Temas
Palestrantes
Objetivos
Carga horária
Fonte: Dados coletados no Instrumental utilizado na entrevista
No segundo bloco, no qual estavam as questões abertas do
instrumental, pude analisar os dados qualitativos de cada resposta. A
primeira pergunta tratava do tema de interesse. As escolhas mais comuns
foram: “Quais os tipos mais comuns de violência que ocorrem na sala de
aula”; “Violência em casa”; “Quais atitudes que caracterizam a violência
em sala de aula”; “Violência na escola”.
Importante ressaltar que notei que o nome do funcionário que não
participou das discussões dos temas explanados pela escola no dia do
fórum, constava na lista de presença, como também sua foto em anexo ao
relatório enviado pela escola ao projeto. Quando perguntado por que não
participou das discussões, o mesmo afirmou que saiu no momento em que o
fórum iniciou e, mesmo não podendo mais retornar, assinou a lista de
presença. Assim, coloco uma questão: por que ter nomes na lista de
presença de pessoas que nem ao menos souberam o que se estavam

85
discutindo naquele dia? Seria apenas para constar o número de
multiplicadores solicitado pelo projeto Escola que Protege?
Na questão posterior que tratava da opinião deles sobre o Projeto, 100%
afirmou que se trata de algo excelente para a escola, como também para as
crianças e pais. O projeto Escola que Protege, enquanto política pública,
segundo a opinião dos funcionários, deve promover ações para haver
envolvimento de todos, com capacitações periódicas para todos os
professores e funcionários, devendo ser obrigatório. Acreditam que tais
cuidados sejam necessários para que o combate à violência seja eficaz e
posto em prática já que, normalmente, fica apenas no papel.
Com relação aos aspectos positivos e negativos, alguns expressaram que a
falta de envolvimento dos pais como também a pouca participação, contou
negativamente para o projeto. Também pesou negativamente a sua não
continuidade dentro da escola. Ou seja, o projeto não prosseguiu ao longo
do ano. No que se refere aos pontos positivos foram colocados que as
crianças estão mais cuidadosas com os outros; os pais se preocupam mais
com o bem estar de seus filhos; as pessoas estão mais conscientes dos seus
direitos e, por fim, que foi muito positivo o trabalho em conjunto de
professores e funcionários.
Dentre as questões abertas, tinha uma específica para os funcionários da
escola, referente à contribuição do projeto na prática de cada um(a) no
ambiente de trabalho. Obtive algumas respostas interessantes:
“Decerto veio nos alertar para o que estava acontecendo dentro da
escola e até mesmo no recreio. Hoje já direcionamos o recreio com algumas
brincadeiras” (Funcionário 2);

86
“O projeto fez com que eu ficasse mais atenta com a questão da violência
moral. Esse tipo de violência, tão comum, não é muito combatida” (Funcionário
1);
“Contribuiu no sentido de me tornar mais consciente em ter atitudes
corretas como não gritar, não ameaçar, não expor o aluno quando fizer algo
errado e estar atenta para que a violência entre os alunos seja amenizada”
(Funcionário 3);
“Continuo tratando todos muito bem. Sempre fui muito carinhosa, não
observei mudança, pois já sou assim” (Funcionário 5);
“Mudou muito, pois antes eu não sabia o que fazer. Agora mudou a
postura com as crianças. Não grito mais com elas, converso com as crianças,
com as mães e oriento os pais sobre as crianças” (Funcionário 4).
Analisando estas respostas, vejo que houve poucas mudanças, mas
que foram significativas para cada um. Pequenas mudanças fazem diferença
para o dia-a-dia de cada criança que estuda na escola. Deste modo, a escola
precisa se empenhar com a garantia dos direitos da criança e do
adolescente, e a união dos profissionais da escola fortalecem a militância
em defesa desses direitos. O desempenho do professor na identificação e
denúncia da violência sexual é fundamental, principalmente na Educação
Infantil, quando os educadores ficam cerca de quatro horas diárias com os
alunos (VIODRESINOUE e RISTUM, 2008).
Nos comentários finais, alguns funcionários colocaram a imensa
vontade que tinham que esse projeto continuasse na escola, pela sua
importância para as crianças. Gostariam também que nas escolas existissem
professores de recreação, para que houvesse um direcionamento na hora do
recreio. Em uma observação de um dos funcionários, constava a seguinte
frase, que considerei significativa para fechar este ítem: “O projeto é muito
interessante, pois sabemos que a violência existe tanto na escola, como

87
fora dela, é preciso (o projeto) ser mantido, não só em palavras, mas em
atitudes, criando soluções concretas e condições no dia-a-dia da vida
escolar”.
3. Analisando o Projeto Escola que Protege: a escola Pequeno
Mundo
Pode-se afirmar que o projeto Escola que Protege dentro da escola
Pequeno Mundo tornou-se o projeto “Recreio sem violência”. Segundo os
entrevistados, o Escola que Protege resultou no projeto “Recreio sem
violência”, que não prosseguiu, assim como a implantação e formação da
comissão escolar, prevista inicialmente.
O projeto “Recreio sem violência” foi implantado no horário do
recreio, tanto pela comissão, como pela diretoria e demais professores e
funcionários da escola. Consistia no resgate das brincadeiras antigas, tais
como brincadeiras de roda, de corda, cantigas de rodas, amarelinhas, dentre
outras. Estas brincadeiras seriam ministradas sempre na hora do recreio, para
que as crianças pudessem ter um momento de lazer e entretenimento, para
não brincarem apenas de correr e/ou bater um nos outros. Quanto ao projeto
Escola que Protege na escola Pequeno Mundo, segundo a diretora e
formadora, foi positivo no aspecto da participação, pois houve o
envolvimento dos professores, funcionários, pais e alunos, dixando-as muito
felizes e com a sensação de trabalho cumprido.
Nos pontos ressaltados sobre a melhoria do projeto, a formadora
colocou que os pais deveriam não apenas ter vagas garantidas nas
capacitações, mas que fossem convocados também para a 1° fase do
projeto, a capacitação presencial. Acrescentou que a responsabilidade de
combater a violência não pode recair totalmente sobre os professores e
escola, devendo também contar com a participação dos pais. Tal

88
perspectiva defendida pela escola se assemelha a de Maior Neto (2009) na
qual ele afirma que a participação dos pais e da comunidade em ocasiões de
discussão e decisão de melhores rumos para a educação, consiste em um
subsídio que não deve se esquecido, principalmente pela co-
responsabilidade que se põe e por surgir à relação direcionada à verdadeira
prática da cidadania.
Observei, enfim, que mesmo realizado os três fóruns, e a formação
da comissão na escola Pequeno Mundo, isso não foi o suficiente para que o
projeto Escola que Protege seguisse em frente. Analisando todas as
respostas da formadora, observei que existiram falhas no planejamento e
execução das atividades do projeto Escola que Protege dentro da Pequeno
Mundo, que me fizeram levantar alguns questionamentos: Será que a
metodologia utilizada pelo projeto, com aulas presenciais e semipresenciais
são suficiente para garantir a legitimidade do projeto na escola? Será que a
falha foi da própria escola, ou seja, na organização e comprometimento da
comissão em dar continuidade às formações periódicas, e/ou ainda em
cobrar da equipe gestora do projeto o apoio necessário? Onde houve a falha
maior? Embora não consiga responder a estas indagações, percebo que o
meu trabalho é de grande valia para que o projeto Escola que Protege
repense a sua metodologia. Sem dúvida, refletir sobre este assunto é
imprescindível para a efetivação de políticas públicas como essas.
4. Será possível concluir?
Por fim, chego a reflexões que me levam a pensar que projetos
como esse, por diversas vezes, tem apenas início. Quase sempre quem
perde são as crianças, pois a violência, negligência, maus tratos, e todas as
formas de opressão e exploração continuam. Não sabemos onde houve o

89
entrave, mas sabemos que houve limites que não foram vencidos e
obstáculos que não foram ultrapassados. Os conhecimentos adquiridos são
perdidos ao longo do caminho, as formações são transformadas em aulas de
repasse e os conteúdos substituídos.
Para o Escola que Protege, enquanto projeto, acredito que
muito deve ser mudado, para que se torne um programa que traga resultados
positivos efetivos, e não apenas para constarem nos números esperados para
serem atingidos na meta esperada. Sua metodologia deve ser repensada e
adaptada a realidade das escolas que são convocadas a participarem das
capacitações. Assim, novos métodos devem ser criados, para que possam
garantir o comprometimento dos formadores em repassarem os
conhecimentos recebidos. Talvez se faça necessária a criação de uma
equipe multidisciplinar, que pudesse acompanhar as escolas na realização
dos seus fóruns, fornecendo recursos, como por exemplo, material didático
para serem trabalhados com as crianças, apostilhas para os professores,
dentre outros suportes necessários para essa realização. O que pude
observar é que as escolas são obrigadas a participarem das capacitações e
ainda fazerem os fóruns, mas sem nenhum apoio por parte da equipe
gestora do projeto.
Também a coordenação do projeto precisou lidar com
inúmeras dificuldades na gestão do Projeto: para realizar suas atividades
passou por entraves burocráticos, tais como a liberação do recurso
financeiro, que foi grande empecilho no desenvolvimento das atividades.
Contudo, compreendo que projetos como esses são audaciosos e que os
erros e acertos podem contribuir para a obtenção dos resultados esperados.
Assim, reconheço que os obstáculos vão continuar a existir dos
dois lados da questão, ou seja, dos participantes e dos gestores. Resta
continuar tentando e seguindo em frente, acreditando que um dia teremos

90
políticas públicas efetivas e eficazes na prevenção à violência. Talvez assim
a escola possa se encontrar fortificada, enquanto instituição participante na
rede de enfrentamento, e esteja preparada para identificar, atender, notificar
e encaminhar as ocorrências de violência, garantindo assim os direitos de
crianças e adolescentes.
Referências
AMARAL, Célia Chaves Gurgel do, Fundamentos de Economia
Doméstica: perspectiva da condição feminina e das relações de gênero.
Fortaleza: EUFC, 2000.
BRASIL, Kátia T.; AMPARO, Deise M.; ALVES, Paola B. A escola
protege? reflexões sobre o lugar e papel da escola para o jovem. Brasília:
Universidade Católica de Brasília, [200-?]. Disponível:
<http://www.catedra.ucb.br/sites/100/122/00000857.pdf >. Acesso: 10 out.
2009.
BRASIL. Lei n. 8.069 de 13 de junho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília: Senado
Federal, 1990a.
BRASIL. Ministério da Educação. Disponível em:
<
:http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id
=12363&Itemid=565>. Acesso em 04 nov. 2009b.
BRITO, Ana Maria M. et al. Violência doméstica contra crianças e
adolescentes: estudo de um programa de intervenção. Ciência & Saúde
Coletiva, São José do Rio Preto, SP, v. 10, n. 1, p. 143-149, 2005.
Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/csc/v10n1/a15v10n1.pdf >.
Acesso em: 16 nov. 2009.
BEZERRA, Leila Maria Passos de Souza. Notas introdutórias sobre
violência, poder e cultura: algumas pistas para pensar a violência contra
crianças e adolescentes no Brasil. In: MOTA, Maria Dolores; MADEIRA,
Zelma; CORDEIRO, Andréa Carla Filgueiras. (Org.) A escola diz não à
violência. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora Ltda, 2007. 100 p.

91
CEARÁ. Educação com saúde: noções básicas de educação. v. 1,
Secretaria da Educação Básica. Coordenação de desenvolvimento técnico-
pedagógico. Fortaleza: Secretaria de Educação Básica, 2004. (Criança,
infância e direitos).
CORDEIRO, Andréa Carla Filgueiras. Abordagem de criança e adolescente
em situações de violência: aspectos comportamentais e psicológicos. In:
MOTA, Maria Dolores; MADEIRA, Zelma; CORDEIRO, Andréa Carla
Filgueiras. (Org.) A escola diz não à violência. Fortaleza: Expressão
Gráfica e Editora Ltda, 2007. 100 p.
COSTA, Frederico L. da; CASTANHAR, José Cezar. Avaliação de programas
públicos: desafios conceituais e metodológicos. RAP, Rio de Janeiro, v. 37, n. 5,
p. 969-992, set/out., 2003. Disponível
em:<http://www.enap.gov.br/downloads/ec43ea4favaliacao_programas_publicos
_desafios_conceituais_metodologicos.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2009.
DESLANDES, Suely F. Atenção a crianças e adolescentes vítimas de
violência doméstica: análise de um serviço. Cadernos de Saúde Pública.
Rio de Janeiro, v. 10 suppl., 1994. Disponível em: <
http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102-
311X1994000500013&script=sci_arttext&tlng= >. Acesso em: 16 nov.
2009.
FRANCISCHINI, Rosângela; SOUZA NETO, Manuel O. Enfrentamento a
violência contra criança e adolescentes: projeto escola que protege. Revista do
Departamento de Psicologia, v. 19, n. 1 Niterói, 2007. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
80232007000100018&script=sci_arttext&tlng=andothers>. Acesso em: 18
de nov. 2009.
ELLERY, Celina Magalhães; GADELHA, Graça. Como identificar,
prevenir e combater a violência sexual contra crianças e adolescentes:
cartilha para gestores, técnicos e educadores da rede de enfrentamento à
violência sexual. Fortaleza: outubro de 2004.
ESCOLA que protege: apresentação de projetos. 2008. Disponível em:
<www.cefet.rj.br/comunicacao/noticia/2008-09-03.escolaprotege.htm>.
Acesso em: 09 nov. 2009.
INSTITUTO Federal do Piauí: recebe o projeto escola que protege. 17 jun. 2009.
Disponível em:

92
<
http://www.45graus.com.br/geral/41237/ifpi_recebe_o_projeto_escola_que
_protege.html> Acesso em: 04 nov. 2009.
HINTZE, Gisele. Os dois lados da violência social. Disponível em: <
http://www.uniplac.net/emaj/Artigos/017.pdf >. Acesso em: 02 nov. 2009.
KRAMER, Sonia. De que professor precisamos para a educação infantil?
Uma pergunta, várias respostas. Pátio Educação Infantil. Porto Alegre:
Artmed Editora S. A, Ano 1 n. 2, ago/nov. 2003.
LORENZONI, Ionice. Escola que protege começa formação. Observatório
jovem do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 20 jan. 2009. Disponível em: <
http://observatoriojovem.org/materia/escola-que-protege-come%C3%A7-
forma%C3%A7%C3%A3o >Acesso em: 09 nov. 2009.
LUCK, Heloísa. Metodologia de projetos: uma ferramenta de
planejamento e gestão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.
MAIOR NETO, Olympio de Sá Sotto. O Estatuto da Criança e do
Adolescente e o sistema educacional. In: SILVA, Paulo Vinicius B. da;
LOPES, Jandicleide E.; CARVALHO, Arianne. (Org.) Por uma escola que
protege: a educação e o enfrentamento à violência contra crianças e
adolescentes. 2.ed. rev. Ponta Grossa: Editora UEPG; Curitiba: Cátedra
UNESCO de Cultura da Paz UFPR, 2009. 198 p.
MACHADO, Alberto Vellozo; MACHADO, Márcia Caldas Vellozo.
Escola que protege histórico jurídico de proteção da criança e do
adolescente. In: SILVA, Paulo Vinicius B. da; LOPES, Jandicleide E.;
CARVALHO, Arianne. (Org.) Por uma escola que protege: a educação e
o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. 2.ed. rev. Ponta
Grossa: Editora UEPG; Curitiba: Cátedra UNESCO de Cultura da Paz
UFPR, 2009. 198 p.
MOTA, Maria Dolores de Brito. Notas para entender as desigualdades de
gênero e geração no Brasil. In:_____. MADEIRA, Zelma; CORDEIRO,
Andréa Carla Filgueiras. (Org.) A escola diz não à violência. Fortaleza:
Expressão Gráfica e Editora Ltda, 2007. 100 p.
_____. MADEIRA, Zelma, CORDEIRO, Andréa Carla Filgueiras, (Org.).
A escola diz não à violência. Fortaleza, 2007. P. 100.

93
NASCIMENTO, Allan Patrick F. et al. Projeto escola que protege:
estratégias para a prevenção de violência contra crianças e adolescentes.
PRACOUT01. João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, [200-?].
Disponível em:
<http://www.prac.ufpb.br/anais/IXEnex/extensao/documentos/anais/3.DIR
EITOSHUMANOS/3PRACOUT01.pdf>. Acesso em: 04 nov. 2009.
PERES, Emerson Luiz. Da violência estrutural à violência doméstica contra
crianças e adolescentes: aspectos conceituais. In: SILVA, Paulo Vinicius B.
da; LOPES, Jandicleide E.; CARVALHO, Arianne. (Org.) Por uma escola
que protege: a educação e o enfrentamento à violência contra crianças e
adolescentes. 2.ed. rev. Ponta Grossa: Editora UEPG; Curitiba: Cátedra
UNESCO de Cultura da Paz UFPR, 2009. 198 p.
QUIXADÁ, Luciana M. Violência sexual contra crianças e adolescentes:
algumas considerações. In: MOTA, Maria Dolores; MADEIRA, Zelma;
CORDEIRO, Andréa Carla Filgueiras. (Org.) A escola diz não à violência.
Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora Ltda, 2007. 100 p.
NASCIMENTO, Anelise M. do. A infância na escola e na vida: uma
relação fundamental. In: BEAUCHAMP, Jeanete; PAGEL, Sandra D.;
NASCIMENTO, Aricélia Ribeiro do. (Org.) Ensino fundamental de nove
anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. Brasília:
Ministério da Educação. FNDE, Estação Gráfica, 2006. 135 p.
ROCHA, Eloisa Acires Candal. Por que ouvir as crianças? algumas
questões para um debate científico multidisciplinar. In: CRUZ, Silva
Helena Vieira. (Org.) A Criança fala: a escuta de crianças em pesquisas.
São Paulo: Cortez, 2008. 388 p.
ROLIM, Maria J. Esmeraldo. A violência na escola pública: como
prevenir e corrigir. [199-?]. Disponível em:
<http://www.artigos.com/artigos/humanas/educacao/a-violencia-na-escola-
publica:-como-prevenir-e-corrigir-4248/artigo/>. Acesso em: 16 nov. 2009.
SILVA, Ainda Maria Monteiro. Educação e violência: qual o papel da
escola? 08 nov. 2004.
Disponível:
<http://www.foncaij.org/dwnld/ac_apoio/artigos_doutrinarios/educacao/edu
cacao_violencia_papel.pdf>. Acesso: 07 out. 2009.

94
SILVA, Maria Ozanira da Silva e, Avaliação de políticas e programas
sociais: aspectos conceituais e metodológicos. In:______. (Org). Avaliação
de políticas e programas sociais: teoria e prática. São Paulo: Veras, 2001.
VIODRESINOUE, Silvia Regina; RISTUM, Marilena. Violência sexual:
caracterização e análise de casos revelados na escola. Estudos de
Psicologia. Campinas, v. 25, n. 1 p. 11-21, jan/mar 2008. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/estpsi/v25n1/a02v25n1.pdf >. Acesso em: 02 nov.
2009.

95
A ESCOLA PROTETIVA NA ÓTICA DO(A) PROFESSOR(A).
Ernny Coêlho Rêgo25
Introdução
Compreendendo que toda forma de violência é antes
transgressão aos direitos, e que os direitos para serem conquistados
necessitam de uma construção social e política, e de um desenvolvimento
de autonomia e consciência crítica, que os homens adquirem também
através da educação, seria infrutífero falar de direitos sem ensejar um
diálogo que passe pela dimensão pedagógica. Nesse sentido muito se tem
efetivado esforços para a promoção e fortalecimento da educação em
Direitos Humanos, tanto para alunos (as), como também para os (as)
profissionais que fazem educação.
O Projeto Escola que Protege, portanto, atua na esfera da
formação continuada em Direitos Humanos para os professores. A partir da
formação e produção de materiais didáticos e paradidáticos, o projeto visa
não só capacitar professores para que estes lidem melhor com a temática e a
ocorrência de violência contra crianças e adolescentes, sabendo quais
passos trilhar na defesa desses direitos, mas também para que através da
produção de materiais eles estejam aptos a promover uma educação em
direitos humanos com seus alunos, sabendo como didaticamente tratar do
assunto da violência em uma linguagem acessível.
O projeto nasce a partir da perspectiva de que a escola tem
papel primordial na educação em Direitos Humanos, contribuindo para o
nascimento de uma cultura de respeito à pessoa humana, à diversidade, mas
25
UECE, Curso de Serviço Social, Centro de Ciências Sociais Aplicadas –
CESA,Fortaleza, Ceará , Brasil. Endereço Eletrônico: [email protected].

96
também na prevenção e no combate à violência; devendo, portanto,
participar ativamente da rede de garantias de direitos. Pretende-se com isso
transformar professores em agentes de defesa desses direitos,
(re)significando a representação que têm de suas funções e das funções da
escola, fazendo-os refletir que o espaço da escola é também um espaço de
proteção dos direitos da população infanto-juvenil.
Elenquei como objetivo central perceber através das falas dos
professores a compreensão que estes formulam acerca da “Escola enquanto
rede protetiva intersetorial”. Pontuo algumas considerações acerca deste
eixo temático, apresentando as concepções que os professores formulam a
respeito da escola como rede de proteção.
Levando em consideração que minha intenção é avaliar projeto
através das falas dos professores, era essencial que os participantes fossem
profissionais docentes do ensino público municipal ou estadual, que
tivessem participado o máximo possível das capacitações, que residissem
em Fortaleza, o que facilitou o meu acesso a eles,e finalmente era
necessário que apresentassem interesse em participar da pesquisa.
Sendo assim, das quatro turmas que somavam 346
participantes do projeto que ocorreu em 2008-2009, que contava com
professores, conselheiros tutelares, alunos, funcionários, pais, dentre outros
substratos, selecionei, aleatoriamente, somente os professores, que tinham
num mínimo 70 % de freqüência às capacitações – o que supõe uma maior
propriedade sobre o projeto por parte dos participantes - e que residiam em
Fortaleza. Procedi então com a execução de entrevistas semi-estruturadas
que atendiam aos objetivos da pesquisa qualitativa que busquei empreender.
Escola como Rede de Proteção Social

97
O debate acerca das atribuições da instituição escolar tem
ocupado um papel de destaque na agenda de debates sobre Educação. De
acordo com Penin & Vieira (2002, p.13) “[...] a função social da escola é
um dos temas mais freqüentes no debate contemporâneo sobre educação.”
A escola tem expandido o conjunto de atribuições que lhe cabe, ou que lhe
cabia há alguns anos atrás. Evidente é que a escola assume papéis e funções
sociais distintas de acordo com o tempo histórico que vivencia. Se existe
um esforço de dar-lhe mais funções este é um movimento sócio-histórico
que tem suas bases em elementos políticos, ideológicos e sociais
evidenciados tanto pelas classes dirigentes quanto pelos movimentos
sociais.
Em 1961 aprova-se a primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
do país, esta, porém, goza de uma vida curta, visto a iminência do Golpe de
Estado ocorrido em 1964 e a abertura dos tempos ditatoriais, quando desde
então outras legislações passam a regimentar desde o ensino básico ao
superior. Com a Constituição de 1988 são dadas as primeiras indicações da
Política de Educação. A LDB iniciou seu processo de discussão em 1983 na
Câmara dos Deputados, chegou ao Senado cinco anos após, e foi
promulgada em 1996 – resultado dos confrontos motivados por diversas
posturas ideopolíticas com direcionamentos distintos em acordo com os
projetos societários que defendem.
É a LDB de 1996 que norteia e dá todas as providências acerca
da Política de Educação e como esta deve ser processada atualmente.
Entretanto, devido à atuação do MEC que alterou diversas medidas
provisórias, emendas e portarias nos mais diferentes níveis, modificando
significativamente o sistema de educação proposto pelo texto inicial da
LDB, ainda mesmo antes da promulgação da lei, o que acarretou sérios

98
problemas para esta política visto que, diante de tantas mudanças
desencontradas e confusas “resultou uma lei genérica e contraditória.”
(BACKX, 2006, p. 125).
Mesmo comprometida em diversos aspectos a legislação
brasileira acerca da educação e os princípios fundamentais que balizam esta
política são norteados por valores universalizantes, emancipatórios e de
respeito aos direitos humanos. O relatório produzido, na década de 1990,
pela Comissão Internacional sobre Educação – instituída pela UNESCO –
estabeleceu os quatro pilares sobre os quais estaria apoiada a educação.
Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser
são as instancias basilares que fundamentam a educação (PENIN
&VIEIRA, 2002).
Não apenas a aquisição de conhecimentos e saberes que são
constituídos universalmente, mas a qualificação profissional, a capacidade
de descoberta do outro e das relações de interdependência entre os seres
humanos, a exigência à convivência e à tolerância aos diferentes, e a
compreensão de desenvolvimento pleno físico, mental e espiritual dos
indivíduos também passam pela compreensão de educação. De acordo com
Penin & Vieira “a educação assim concebida, indica uma função da escola
voltada para a realização plena do ser humano (...).” (2002, p.28).
Ao passo que a escola tem reconfigurado e redimensionado
seu papel social e funcional dentro da realidade brasileira, este avanço não
tem sido acompanhado pelo reconhecimento das reivindicações históricas
da categoria docente. A deficiência no sistema de ensino tenciona a relação
entre profissionais que tem precárias condições de trabalho e níveis salariais
absurdos e as constantes exigências de renovação de conhecimentos, de

99
inovações nas práticas pedagógicas, apropriação de técnicas e
aprimoramento de saberes.
Como pontua Matos et al (2007, p. 05)
A escola promoverá resiliência se apresentar
experiências como desafios e não como ameaças,
construindo interações de qualidade com estabilidade e
coesão, compondo uma rede de apoio com o ambiente,
que demonstre reconhecimento, aceitação e ofereça
limites (Pinheiro, 2004). Ou seja, o que faz da escola
uma instituição que se firma como uma instituição
protetora encontra-se relacionado com o parâmetro de
a escola ser constituída de sujeitos e são eles, em suas
interações próximas e simbólicas, que constroem e
consolidam esta instituição como uma instituição
protetiva.
Integram-se aí as iniciativas de reconhecimento da escola
enquanto espaço estratégico na construção e respeito aos direitos de
crianças e adolescentes. Existe uma tendência de ampliação das funções
escolares, tendo como pressuposto que a escola educa, mas também deve
proteger a partir da compreensão que não há desenvolvimento pleno nem
construção de cidadãos sem o respeito a esses direitos, sem que haja
condições dos indivíduos terem respeitados seus direitos.
“Essa multiplicidade de funções que se atribui à escola hoje
representa um grande desafio – essa instituição se vê como educadora, mas
também como protetora.” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001, p. 17).
É justamente esse momento de incerteza de suas funções e especificidades
que vivenciam a escola e seus profissionais.
A proposta do Projeto Escola que Protege exemplifica
claramente esta multiplicidade de funções que o autor supracitado coloca-

100
nos. O objetivo do projeto é fortalecer a escola enquanto instituição
protetora dos direitos de crianças e adolescentes ao passo que através da
formação de profissionais da educação, promove o conhecimento e o
reconhecimento dos direitos dessa população, como também o incentivo a
produção de materiais didáticos e paradidáticos que tratem dos direitos da
população infanto-juvenil. Ou seja, o “Escola que Protege” incentiva a
apropriação pela escola das discussões que envolvem os direitos humanos,
para dessa forma transformá-la - ao passo que torna-se detentora de saberes
sobre a temática – em uma instituição parceira na promoção e defesa dos
direitos de crianças e adolescentes.
“Eu tô ali pra ensinar o aluno a ler, para repassar os
conhecimentos pra ele, mas não pra ele quando for
violentado lá fora vir aqui e me contar. O professor já
tem tanta coisa a resolver dentro da escola, ainda vai
se preocupar com o que acontece fora da escola,
porque é o que acontece na casa do aluno, então é
mais uma tarefa para o professor, o professor já é tão
desvalorizado, e só vem tarefa e trabalho e isso não é
reconhecido”. (Iracema, Jun/2010)
A narrativa depõe dois importantes aspectos: a multiplicidade
de funções atribuídas à escola; e o desconhecimento da docente sobre rede
de proteção na qual a escola deveria estar inserida, sendo este último um
indicativo de que a pesquisada não confecciona sentimentos de
pertencimento a esta rede. Em seu depoimento a interlocutora coloca com
desagrado o excesso de trabalho atribuído ao professor, deslocando a escola
da rede intersetorial, de articulação e parceria que deveria estabelecer com
outros aparelhos sociais.

101
Problemáticas amplas e complexas requerem compreensões
genéricas e totalizantes que busquem tratar desses problemas de forma
ampliada. De fato a violência é um fenômeno complexo, interromper o
ciclo das suas práticas exige muito mais do que a ação individual de uma
política. A Política de Educação unicamente, assim como qualquer outra,
não possui capacidade de isoladamente interromper o ciclo violento. Ou
seja, o projeto Escola que Protege propõe antes de tudo o fortalecimento da
intersetorialidade entre as políticas.
Junqueira (2004, p. 26) compreende que “[...] a complexidade
dos problemas sociais exige vários olhares, diversas maneiras de abordá-
los, aglutinando saberes e práticas para o entendimento e a construção
integrada de soluções que garantam à população uma vida com qualidade.”
Inserir a escola em uma rede de proteção social, é encarar assim a
existência de uma malha, uma teia de instituições que trabalham com
diversas políticas, tendo atribuições específicas, mas conjuntamente devem
estar interligadas como forma de garantir uma atenção totalizante aos
indivíduos e fenômenos sociais. É admitir a intersetorialidade.
Tem-se por intersetorialidade a ação conjunta de diversos
saberes seja na resolução de problemas, seja na busca por uma compreensão
mais integral e totalizante dos fenômenos sociais ou dos indivíduos. É a
partir da compreensão que os problemas sociais ganham contornos cada vez
mais densos, complexos, e que os homens contêm uma multiplicidade de
esferas que o conformam, que a intersetorialidade surge como alternativa de
contemplar este homem e sua sociedade de forma mais plena, mais integral,
em sua totalidade e complexidade. (JUNQUEIRA E INOJOSA, 1997 apud
JUNQUEIRA, 2004).

102
Que a escola seja um membro legítimo da rede de proteção
social que articula diversas políticas no intuito de em sinergia, em sintonia,
conseguir abarcar os indivíduos de forma integral, trabalhando em conjunto
para indicar alternativas de solução dos problemas sociais, é inquestionável.
A escola não pode fugir desta responsabilidade. Porém, a intersetorialidade
é um desafio, tanto pela secularização de compartimentação do
conhecimento, tornando-o fragmentado; como pelas dificuldades estruturais
as quais enfrenta o quadro das políticas públicas no cenário neoliberal de
pisoteamento dos direitos sociais.
A proposta do Projeto Escola que Protege é promover a escola
como uma instituição protetiva, que além das funções de socialização de
repasse do conhecimento, trabalha na garantias dos direitos, é membros de
uma rede de proteção social. Esta rede de proteção supõe uma ação coletiva
entre a Política de Educação e as demais políticas setoriais – como saúde,
assistência, segurança.
A dificuldade de atuação em bloco, a desarticulação das ações
que substancialmente objetivam o mesmo fim, a fragilidade da rede de
proteção, o isolamento e a sobrecarga de expectativas colocadas na escola e
docentes, sentidos pelos entrevistados é recorrente em suas narrativas.
“Quando está dentro das nossas possibilidades,
quando a gente pode ajudar de alguma; forma a gente
ajuda. Às vezes a gente ajuda com uma roupa para
uma família, com alimentação, mas diante da demanda
da sociedade, eu sinceramente como professora me
sinto assim de mão atadas, porque se a gente ajuda a
um não pode ajudar a todos, por mais eu a gente tente
fazer. Eu tenho a história de um aluno da turma de
Jovens e Adultos que o pai dele dizia que já que ele
não queria trabalhar, então que arrancasse a página
do livro e comesse quando sentisse fome. Meu papel
ali era de incentivá-lo a não desistir, a continuar,
apesar de todas as adversidades.” (Maria da
Conceição, Jun/2010).

103
A presença de depoimentos que compreendem a questão dos
direitos sob o ponto de vista da filantropia se repete. De fato, percebe-se aí
um desconhecimento da rede de proteção social que deveria trabalhar em
parceria com outras instituições, articulando-se, nesse caso, com a escola. A
filantropia, a caridade, descaracteriza a questão dos direitos humanos, ao
passo que desmobiliza a ação do protesto e da reivindicação.
A Política de Educação enquanto política de proteção social
deve ser compreendida a partir da articulação com outras políticas,
fortalecendo as ações conjuntas, garantindo que a rede de proteção aos
direitos se efetive. As mazelas sociais que acometem os setores sociais
fragilizados requerem ações coletivas, onde os múltiplos vetores de ação de
cada política estejam entrelaçadas, com um fim em comum.
Como elucida Faleiros “(...) aos educadores, também vêm
sendo conferidas tarefas que não lhes competiam há algum tempo atrás, o
que tensiona ainda mais a frágil relação que se estabelece entre esses
profissionais e a escola como a encontramos hoje” (2001, p. 17).
Úrsula, em depoimento, afirma que
“[...] por exemplo, a inclusão social é direito do aluno,
mas a escola tem condições e está preparada para
receber essas pessoas, que tem direito de ser recebidas
da melhor forma possível? Não é somente receber por
receber, mas dar assistência ao aluno, como é direito
dele. Não adianta falar de inclusão social, se a escola
não tem as condições de receber esses alunos como
eles merecem. Eu vejo que o professor tem uma carga
pesada, querendo ou não a estrutura do nosso ensino
requer que ele passe o conhecimento formal, mas o
professor não foge das problemáticas que aparecem
na sala de aula. O professor não pode fugir dessa
problemática ele tem que lidar da melhor forma com
isso, mas também tem que dar conta do conteúdo

104
formal, de provinha disso, provinha daquilo. Como é
que a gente resolve se é um conflito da família, da
comunidade, não depende só da gente, a escola não
tem essa capacidade de resolver, agora ela tem o
papel de estar tentando amenizar, ou orientar, ou
conscientizar, alertar que o aluno tem direitos de ir ao
órgão específico; ela tem que esclarecer os direitos
dos alunos. Então a escola tem feito isso de estar
mandando um encaminhamento ou um relatório para
outro órgão que vai atender o aluno; a escola está
fazendo esse papel social. Mas a escola sozinha não dá
conta, precisa de um psicólogo, de um psicopedagogo.
Como o professor vai dar conta de uma especificidade
de um aluno se ele tem uma turma de 35 alunos?”.
(Úrsula, Jun/2010).
É perceptível, em sua narrativa, o reconhecimento do papel da
escola enquanto instituição estratégica na garantia de proteção dos direitos
da população infanto-juvenil, no sentido de que lhe resgata o caráter
pedagógico da formação e do esclarecimento da comunidade sobre seus
direitos. Para ela, sua escola tem executado ações nesse sentido, e tem
compactuado com a percepção de que a escola é, e deve ser, um espaço de
construção e garantias de direitos, mas as condições objetivas para isso
dificultam em muito este trabalho.
Luzia em consonância com o depoimento anterior compreende
a escola como um espaço de proteção, de construção e garantias de direitos
da população infanto-juvenil, onde a comunidade encontra orientação e
esclarecimentos sobre seus direitos, mas também pontua as dificuldades
presentes nesse processo de se fazer protetiva e garantidora. A falta de
competência, de profissionais bem formados e de apoio intersetorial são
elencados como entraves para que a escola esteja consolidada como este
espaço protetor.

105
“A escola pode proteger a crianças, ela é uma
instituição que pode fazer algo pelas crianças e
adolescentes desprotegidos, ela pode ser este espaço
de transformação, de ajuda, agora com um auxílio
competente. Se você está apta, especializada a
trabalhar com aquela problemática, se você tem
conhecimentos especializados para trabalha com isso
tudo bem. É por isso que existem os órgãos para que
tudo não fique nas mãos das escolas, porque a escola
como qualquer instituição tem um limite. Não compete
somente à escola trabalhar com isso, porque aqui não
é o espaço, mas se esse problema se apresenta na
escola ela não pode fechar os olhos. Ela não tem
competência, mas ela tem que ter noção, tem que
indicar caminhos, tem que orientar, ela não vai
resolver, mas ela dever dar um norteamento, agora
precisamos fortalecer essa competência. A escola tem
a função de educar e de preparar, mas ela não pode
fechar os olhos para as coisas de fora, não quer dizer
que ela vá resolver tudo, mas ela tem que esta atenta,
tem que estar apta a orientar, preparada, a tentar, de
alguma forma, contribuir”. (Luzia, Jun/2010)
De fato, o que é mais urgente nas falas dos professores que
colhi, é a necessidade de condições condizentes com a grandeza da
responsabilidade. Em sua maioria os professores têm a consciência de que a
escola é um espaço de proteção, que é não só seu papel, mas sua
responsabilidade fortalecer-se enquanto esfera institucional membro de uma
rede protetiva dos direitos da população infanto-juvenil. Para eles é
clarividente que a escola não tem as condições de resolver as problemáticas
vivenciadas pelos alunos, mas ela tem o dever de agir no sentido de lhes
garantir acesso à esclarecimentos e orientações, aos serviços públicos; e ela
própria trabalhar, em seu espaço institucional, na perspectiva de também
proteger e garantir esses direitos na sua rotina diária, no trato com o aluno e
com a comunidade.
Como já foi assinalado, é necessário garantir condições
nutricionais, de higiene, um ambiente familiar e comunitário adequado,

106
condições de saúde, sócio-assistenciais, de cultura e lazer para que crianças
e adolescentes estejam plenamente aptos a participar dos processos de
ensino-aprendizagem e consigam desenvolver suas potencialidades
cognitivas.
“O professor é uma ponte para tentar uma solução. Aí
vem a questão da fragilidade dessa ajuda que ta lá do
outro lado e que muitas vezes limita a ação do
professor, não deveria, mas muitas vezes desmotiva,
desanima. O professor tem um papel importante de
identificação e na medida do possível tentar ajudar
dentro das possibilidades dele. O papel da escola é
identificar, chamar a família, tentar orientar, mas eu
sinto uma cobrança de efetivação, até de solução de
caso. Eu acho frágil essa rede de proteção de
assistência. É um pecado muito grande das
autoridades de não fazer esse fortalecimento; se a
gente tiver essa rede firme, confiável, onde você
pudesse sentir segurança, eu acredito que o papel da
escola, no primeiro passo de identificação e
encaminhamento, seria mais efetivo”. (Cecília,
Jun/2010)
Para Cecília o papel da escola de promoção, garantia e defesa
dos direitos de crianças e adolescente fica comprometido ao passo que a
rede de proteção social que deveria trabalhar em parceria com a escola, em
seu entorno, viabilizando medidas que garantissem os direitos dessa
população a partir dos encaminhamentos feitos pela escola, não funciona,
não tem condições de abarcar a demanda existente.
Parece-me possível afirmar que o projeto conseguiu
fomentar/despertar nos professores participantes à concepção de que a
escola e o professor são agentes de defesa e de garantias dos direitos da
população infanto-juvenil. As falas demonstram um apoderamento da
percepção do papel estratégico da escola para o fortalecimento desta rede

107
imbuída de garantir que a população infanto-juvenil tenha seus direitos
respeitados.
É preciso dizer, contudo, que a sobrecarga de trabalho, o
desprestígio social, as péssimas remunerações, o déficit de uma formação
acadêmica inicial e continuada em Direitos Humanos, entre outros temas,
promovem na classe docente certo estado de anomia e isolamento, onde
busca-se cada vez menos novas atribuições, visto a sobrecarga de
atribuições que já possuem com as tarefas básicas da docência.
Na linha de frente do cotidiano onde é executada a Política de
Educação, os profissionais sentem ferozmente os resultados do Estado-
mínimo que investe irrisoriamente do desenvolvimento humano, o que gera
debilidade e fragilidade das políticas públicas.. A angustia, o desamparo
que latente percebi nas afirmações dos docentes é um grito de socorro da
própria política pública de educação.
Considerações Finais
A experiência do Projeto Escola que Protege indica muitas
possibilidades de reflexão. A importância da atuação do Serviço Social no
debate acerca dos Direitos Humanos, e do fenômeno da violência contra
crianças e adolescentes é urgente. É pertinente que o saber construído pelo
Serviço Social – que conserva os traços que conformam à profissão e à
formação acadêmica, tendo uma visão mais ampla e totalizante dos
fenômenos fragmentados da questão social - também esteja engajado no
diálogo acerca destas temáticas.
Toda transformação objetiva passa também por um processo
de reflexão, de busca de alternativas. Visto o caráter interventivo da

108
profissão, mas buscando também uma compreensão plena dos fenômenos
sociais, é primordial que o Serviço Social, contribua com seu
posicionamento particular a este respeito; visto que a violência não emana
da questão social, mas toma contornos incontroláveis sob a égide do
sistema do capital.
A sobrecarga de trabalho enfrentada pelo professor é inegável,
mesmo tendo que dar conta das tarefas básica, de socialização e repasses de
saberes para o aluno, este não pode ausentar da sua tarefa enquanto agente
social. É preciso que o professor e a escola estejam apoiados em suas
funções, que gozem de parcerias para compartilhar tarefas e respeitar
competências profissionais e acadêmicas. A inserção do profissional de
Serviço Social na escola surge como uma alternativa importante.
É preciso fomentar progressivamente formações que capacitem
e mostrem estratégias para uma abordagem mais criativa a respeito dos
Direitos Humanos e da luta contra as violências à população infanto-juvenil
no espaço da escola; promovendo um empoderamento dessas temáticas por
parte dos professores para que estejam aptos a tratar destas temáticas na
sala de aula, contemplando assim não somente a idéia de uma escola
protetiva desses direitos na perspectiva da redução de danos, mas numa
linha de promoção, de prevenção e de legitimação desses direitos. Como
afirma Faleiros (2001, p. 17) “[...] esse conjunto de elementos desafia a
uma nova postura profissional que deve se construída por meio de
processos formativos permanentes”.
A escola, os professores – como qualquer cidadão – têm o
papel de identificar e comunicar aos órgãos competentes qualquer suspeita
ou comprovação de violência contra crianças e adolescentes, para isto basta
apenas o que os compete enquanto cidadãos. Este papel não pode ser
rechaçado pela escola e professores. Entretanto para além da formação em

109
recursos humanos, é preciso garantir que a intersetorialidade aconteça; que
os aparelhos sociais funcionem e ajam como uma rede; uma malha social de
proteção aos direitos que possa planejar, executar e avaliar suas ações
coletivamente.
O Projeto Escola que Protege para interromper o ciclo de
violência – seu objetivo primeiro - ainda precisa caminhar bastante, o
horizonte que precisa trilhar é desafiador, contudo a causa justifica todos os
esforços. É preciso fortalecer a ação conjunta com outras políticas sociais
públicas como forma de garantir que a escola não seja um transeunte
solitário na luta pelo fortalecimento dos direitos e na construção das
cidadanias.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BACKX, Sheila. O Serviço Social na educação. In: REZENDE, Ilma;
CAVALCANTI, Ludmila (Org.). O Serviço Social e políticas sociais. São
Paulo: Ed. UFRJ, 2006.
BEHRING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI, Ivanete. Política Social:
fundamentos e história. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2006.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Casa Civil. Decreto nº
8.069 de julho de 1990. Brasília, DF, 1990. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm> Acesso em: 15 mai.
2010.
_____. Lei de Diretrizes e Bases. Ministério da Educação, Decreto nº 9.394
de 20 de dezembro de 1996. Brasília, DF, 1996. Disponível em: <
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf> Acesso em: 12 jun. 2010.
FALEIROS, Vicente de Paula, FALEIROS, Eva Silveira. Formação de
educadores(as): subsídios para atura no enfrentamento à violência contra
crianças e adolescentes. Brasília: MEC/SECAD; Florianópolis:
UFSC/SEaD, 2006.

110
GRANEMANH, Sara. Políticas sociais e Serviço Social. In REZENDE,
Ilma; CAVALCANTI, Ludmila (Org.). O Serviço Social e políticas sociais.
São Paulo: Ed. UFRJ, 2006, p. 11-24.
INOJOSA, Rose Marie. Sinergia em políticas e serviços públicos:
desenvolvimento social com intersetorialidade. Cadernos FUNDAP, n. 22,
2001. Disponível em: http://www.scielo.org. Acesso em: 11 ago. 2010.
JUNQUEIRA, Luciano A. Prates. A gestão intersetorial das políticas
sociais e o terceiro setor. Saúde e Sociedade, v.13, n.1, p.25-36, jan. 2004.
Disponível em: http://www.scielo.org. Acesso em: 11 ago. 2010.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Educação integral: texto referência para o
debate nacional. Secretaria de Alfabetização, Educação Continuada e
Diversidade. Brasília: Mec, Secad, 2009.
OLINDA, Ercília Maria Braga de. O papel da escola como Comunidade
Inclusiva no Combate à Violência. In: MOTA, Maria Dolores de Brito;
MADEIRA, Maria Zelma; CORDEIRO, Andréa Carla Filgueiras (Orgs.). A
escola diz não à violência. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora Ltda.,
2007. cap.10, p. 79-84.
PENIN, Sonia T. Sousa; VIEIRA, Sofia Lerche. Refletindo sobre a função
social da escola. In: VIEIRA, Sofia Lerche (Orgs). Gestão da Escola.
Desafios a Enfrentar. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. cap. 01, p.13-43.
SANTOS, Vivian Matias dos. Políticas Públicas em Educação: a “lógica
subalternizante” vigente na América Latina e seus reflexos na universidade
brasileira. Revista Emancipação, n. 8.1, set. 2008. semestral.

111
Sexismo e racismo: algumas considerações sobre o perfil
identitário e o movimento das mulheres negras26
Zelma Madeira
27
Introdução “Se nós, mulheres negras do
Brasil, quisermos de fato
alcançar um padrão de vida
compatível com a dignidade da
nossa condição de seres
humanos, precisamos sem mais
tardança fazer política...
Precisamos constituir um exército
de eleitoras pesando na balança
das urnas. Usar ao máximo as
franquias democráticas que nos
asseguram o direito que é
também o sagrado dever cívico
de votar e sermos votadas para
qualquer pleito eletivo...” (Maria
Nascimento) 28
Passados 124 anos de pós-escravidão, a desigualdade material e
simbólica da população negra subalternizada se manteve, e a desvantagem
em relação aos(às) branco(a)s no usufruto de recursos e benefícios continua
a afetar severamente esse grupo. Tal desigualdade se inscreve no nível de
26
Palestra proferida no seminário “O gênero da mudança: feminismo como projeto
de radicalização da democracia” na Mostra Nacional Curta o Gênero 2012, em 8 de
março de 2012, Fortaleza/Ceará. 27
Professora do Mestrado em Serviço Social, Trabalho e Questão Social e da
graduação em Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Vice-
coordenadora do Laboratório de Direitos Humanos, Cidadania e Ética (Labvida) e
coordenadora do grupo de pesquisa Relações Étnico-Raciais, Cultura e Sociedade
da UECE. Pesquisadora da temática das relações de gênero, étnico-raciais e de
sociologia da família. E-mail: [email protected]. 28
Mulher negra e assistente social. Depoimento retirado do Jornal Quilombo, Rio
de Janeiro, ano II, n. 6, 1950.

112
escolaridade, analfabetismo, inserção no mercado de trabalho, parca
representação política, marginalidade social, discriminação e violência.
Sobressaiu na sociedade brasileira o mito da democracia racial, pela
afirmação de uma convivência harmoniosa entre os grupos étnico-raciais.
Esse discurso ideológico tentou mascarar os conflitos raciais e deslocá-los
para a esfera individual de negras e negros “complexados”,
responsabilizando-os, portanto, por sua não inserção na sociedade e no
usufruto das riquezas produzidas.
Presenciamos cotidianamente as discriminações raciais. Pesquisas
têm elucidado que, diferentemente dos homens, o tipo de discriminação
racial29
que mais afeta e mobiliza as mulheres é aquela que parte de pessoas
conhecidas ou de alguém com quem se convive socialmente em ambiente
público e até privado. Esse tipo de discriminação traz complexidades,
quando ficam difusos o agente da ação e a natureza do racismo,
sobressaindo o sexismo romântico, com o silenciamento da violência e a
distorção das reais causas da desigualdade e da violência de gênero. As
explicações reafirmam as relações de amor, proteção e cuidado, acrescido
da culpabilização dessas mulheres.
Para as mulheres, é mais recorrente que os ofensores sejam de seu
círculo de relações interpessoais, ao contrário dos homens, normalmente
29 De acordo com a Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as
Normas de Discriminação Racial da ONU, a discriminação racial é entendida como
toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor,
descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto ou resultado anular
ou restringir o reconhecimento, exercício em igualdade de condição de direitos
humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social,
cultural ou em qualquer outro campo da vida pública.

113
atingidos por discriminações feitas por estranhos ou por indivíduos
investidos de autoridade com o objetivo de impedir sua livre circulação ou
permanência em locais públicos.
Assim, este artigo encontra-se dividido em duas partes. A primeira
tratará da discriminação e violência que atinge as mulheres negras, com
fortes impactos na construção do “ser mulher negra”, e das vulnerabilidades
a que estão submetidas. A segunda parte vai além das desigualdades
inscritas sob a forma do racismo e sexismo, com o propósito de demonstrar
a resistência dessas mulheres em movimento, do seu ativismo nos
movimentos sociais, em particular no movimento de mulheres e no
movimento negro.
1- Condição de vida da mulher negra e seu rebatimento na
construção do seu perfil identitário
Tornam-se inegáveis hoje as mudanças nas condições de vida das
mulheres. Alguns aspectos nos ajudam a verificar as alterações no
comportamento social referente às mulheres. Tem-se hoje a sua maior
inclusão social: redução da fecundidade, crescente participação no mercado
de trabalho, contribuição no rendimento familiar e elevação na
escolaridade.
Diante de uma gama considerável de mudanças na vida das
mulheres, aspectos contraditórios fazem-se presentes, principalmente
quando nos referimos ao nível de inserção no mercado de trabalho. Dados
de 2007 evidenciam salários menores para o desempenho da mesma função
que os homens, situação de constrangimento e violência no local de
trabalho por assédio sexual, cujas raízes encontram-se numa sociedade de

114
ranço patriarcal, sexista, machista e racista de inferiorização das mulheres.
Essas práticas configuram o sexismo, em que há um tratamento
diferenciado para as mulheres, desencadeado pelas desigualdades nos
papéis de gênero.
Mesmo com todas essas transformações no Brasil, as formas de
discriminação, particularmente o racismo, são fatores estruturantes que
provocam desigualdades e exclusões, principalmente entre as mulheres. A
conjugação do sexismo e racismo tem se constituído no grande
impedimento para o desenvolvimento das potencialidades das mulheres
negras.
Imagens do passado de escravismo, de corpo-procriação e/ou
corpo-objeto de prazer do homem, somam-se a uma verdadeira ausência da
representação da mulher negra como mãe, com responsabilidade para com
sua família, através da socialização e cuidado com os filhos, justificando
um discurso ideológico de que a população negra não constituiu famílias. A
mulher negra foi retratada como a “mãe-preta”, a mãe dos filhos dos outros,
aquela que cuida dos filhos dos brancos em detrimento dos seus
(EVARISTO, 2005). A mulher negra teria negado o exercício da
maternidade e se destacaria pelo servilismo na função de empregada
doméstica. Interessante a forma como se reedita nos dias atuais esses
lugares para elas:
A categoria dos trabalhadores domésticos é formada
por aproximadamente sete milhões de profissionais,
sendo que, entre as mulheres, 61,7% são negras.
Historicamente, o trabalho doméstico é a principal
porta de entrada das mulheres negras no mercado de
trabalho e é onde a violação de direitos é mais

115
evidente: praticamente 75% das trabalhadoras não têm
carteira assinada. (ONU, 2011, p. 7).
As características que assume a sexualidade da mulher negra,
fomentada por estereótipo que conformou o imaginário das mulheres negras
como quentes e fogosas, de fácil acesso e carentes, têm provocado
consequências sérias, em específico das jovens negras, que até os dias
atuais têm de conviver com formas perversas de exacerbação de atributos
físicos, corpo, lábios, cabelos, forma do nariz, seios, mediante exaltação dos
caracteres selvagens, robustos e primitivos, fomentando a violência
doméstica, física, psicológica e sexual. Na esteira dessa compreensão, os
dados revelam que:
Se, por um lado, a Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340,
de 2006 – criou mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, de outro, as
estatísticas da violência são cada vez mais impactantes.
O Mapa da Violência 2010, elaborado pelo Instituto
Sangari, registrou 41,5 mil assassinatos de mulheres
entre 1997 e 2007, de acordo com dados coletados no
DataSUS. Esse índice posiciona o Brasil em 12° lugar
na classificação mundial de femicídios. A maioria dos
assassinatos de mulheres é cometida por parentes,
maridos, namorados e ex-companheiros. De acordo
com esses dados, 40% dessas mulheres tinham idades
entre 18 e 30 anos. No cruzamento entre gênero e raça,
o Dossiê Mulher 2010, elaborado pelo Instituto de
Segurança Pública do Rio de Janeiro, demonstrou que
as mulheres negras são a maioria entre as vítimas de
homicídio doloso (55,2%), tentativa de homicídio
(51%), lesão corporal (52%), além de estupro e
atentado violento ao pudor (54%) (ONU, 2011, p.8)
Nesse sentido, são elucidativos os dados apresentados no
documento das Nações Unidas no Brasil 2011: Ano Internacional das e dos
Afrodescendentes:

116
Com relação aos postos de comando nas empresas, a
presença de mulheres negras é quase nula: apenas
0,5% delas está no executivo, 2% na gerência, 5% na
supervisão e 9% no quadro funcional, conforme
pesquisa do Instituto Ethos em 2010 (ONU, 2011, p.
8).
As mulheres negras teceram inúmeras críticas quanto à
invisibilidade de sua ação política. A ordem é ocupar todos os espaços na
sociedade – o poder público, o parlamento, os meios acadêmicos, as
associações, os partidos, os movimentos sociais. Essa ocupação vem
acompanhada de inúmeras dificuldades.
Cabe ressaltar que a compreensão hegemônica em torno das
mulheres negras está ainda fortemente colada com os papéis instituídos para
as relações de gênero segundo a cor ou raça no período de escravismo, de
modo que as mulheres negras continuam, mesmo diante de mudanças,
sendo desvalorizadas socialmente. Na esteira dessa compreensão, Carneiro
(2003) elucida a forma específica de violência que constrange o direito à
imagem ou a uma representação positiva das mulheres negras: a hegemonia
da branquitude, presente no imaginário social, e a violência invisível que
traz saldos negativos para a subjetividade e o desenvolvimento da
identidade e das relações sociais dessas mulheres nas relações sociais
concretas.
No que se refere às ações para combate à discriminação contra a
mulher negra, ainda são tímidas as ações no Ceará. No entanto, muito teve
ser feito para o enfrentamento à violência dirigida às mulheres negras.
Prolifera na sociedade uma representação mitificada e perversa da
sexualidade da mulher negra, provocando a autonegação da identidade
negra, numa ausência de referenciais positivos para o ser mulher negra. A

117
grande maioria tem convivido sob péssimas condições de vida, subemprego
e desemprego, como já assinalado anteriormente.
Meninas negras, aqui no Ceará, vivem o drama da exploração
comercial e sexual cotidianamente, associam sexo, drogas e “diversão”
como festas, forró. Fazem uso de bebidas alcoólicas, de drogas como
maconha, cocaína, crack, passam a não mais frequentar a escola, como
meio de evitar constrangimento por parte dos estudantes – e até de
professores e daqueles que dirigem a escola –, sendo alvo de chacota e
discriminação. Acresce o fato de negarem a estética negra, buscando um
modelo de beleza da mulher branca, motivadas pelo ideal de
branqueamento que se fez presente na sociedade brasileira como um todo.
Essa ideologia é levada a cabo pela elite branca brasileira, que intentou
construir um Brasil europeu, passando pela negação e invisibilidade das
raízes negras e indígenas que compuseram essa nação. Assim, há uma
tendência de nossas meninas negras não se reconhecerem nem se
autoafirmarem como negras, não sendo empoderadas em nenhuma
instituição responsável pela socialização para seu pertencimento étnico-
racial.
Precisamos refletir sobre as oportunidades dadas a essas meninas
num país que sequer se reconhece como racista, que mais culpa as vítimas
do que efetiva políticas de reparação que possam ser afirmativas dos
direitos negados no decorrer destes séculos à mulher, à menina, à jovem
negras. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
(2004), no Brasil há pelo menos 300.000 meninas que trabalham como
empregadas domésticas ou babás em casa de família, um lugar que, como
vimos, desde os tempos coloniais é propício, um lugar típico para a
exploração e abusos sexuais.

118
As percepções hegemônicas sobre as mulheres negras, associadas
às ideias de inferioridade e subordinação, influenciam o estabelecimento de
suas relações em todos os níveis da vida, e é a partir do desvelamento desse
processo de oposição/resistência que o movimento de mulheres negras se
amplia e aprofunda seu debate com a sociedade em geral, partindo da
articulação entre raça, classe e gênero para o entendimento acerca da
complexidade que envolve a questão das mulheres negras.
Mulheres negras em movimento
Desde o período colonial, as mulheres negras ocuparam, não sem
resistência e violência, o espaço público para comercializarem verduras,
frutas, peixes e quitutes, sobressaindo algumas negras de tabuleiros, que,
em meios às muitas dificuldades, conseguiram comprar sua liberdade e de
seus familiares. Fatos como esses denotam a força da mulher negra, em
meio às tantas adversidades, na garantia de melhores condições de vida e na
preservação do seu legado cultural.
Historicamente são mulheres que lutaram e lutam. Podemos afirmar
que, nas últimas décadas do século XX e no início do XXI, organizações do
movimento negro têm diretamente demonstrado os fatos que comprovam o
tratamento diferenciado e negativo dispensado à população
afrodescendente. Nesse sentido, essas organizações contribuíram
decisivamente para a destituição da ideia generalizada de que o Brasil
constituía uma democracia racial e da cristalização na mídia da mulher
negra em posições de inferioridade e associadas a aspectos negativos e
excludentes.

119
O ativismo político dessas mulheres caracterizou-se pela sua
inserção nos diversos movimentos sociais, porém com maior participação
nos movimentos negro e feminista, cuja intervenção pautou-se no
rompimento do silêncio e da invisibilidade que as atingia e nas questões
específicas das questões de gênero, raça e lesbianidade. Carneiro (2003)
alerta que, como outros movimentos sociais progressistas, o feminismo
guarda relações com a visão eurocêntrica e universalizante das mulheres.
Nesse aspecto, tornam-se elucidativas as considerações de Michele
Lopes da Silva numa entrevista a Eliane Cavalleiro, ao tratar do ativismo
das mulheres negras e produção de conhecimento:
A constituição desse movimento tornou-se possível
quando suas integrantes perceberam que suas
vivências, experiências cotidianas, trajetórias e
histórias não estavam presentes nas avaliações e
bandeiras de luta do Movimento Negro nem do
Movimento Feminista. O Movimento Negro
desconsiderava o machismo como peça na engrenagem
da dominação capitalista. O Movimento Feminista, por
sua vez, ignorava a existência do racismo. Por esse
motivo, as mulheres negras perceberam que, mesmo
estando presentes nas lutas sociais, havia uma ausência
da percepção de gênero nas discussões, reflexões e
proposições de superação do racismo, bem como uma
ausência da raça na luta pela igualdade de gênero.
Diante disso, essas mulheres, como sujeitos coletivos,
passaram a demarcar suas diferenças entre os iguais e
os diferentes. O processo de intersecção entre raça e
gênero como movimento, uma vez que, nas trajetórias
das entrevistadas, o reconhecimento de sua condição
de gênero implicou a revisão de sua atuação em ambos
os Movimentos, culminou num processo de formação e
de recriação da representação dos papéis até então
desempenhados pelas mulheres negras
(CAVALLEIRO, 2010, p 11)

120
Nos anos 1980 e 1990, num contexto sócio-histórico que
expressava a dificuldade de diálogo e a certeza da necessidade de discutir
temas específicos e fundamentais na vida das mulheres, estas decidem pela
criação de organizações autônomas, como as ONGs Criola, Geledes, Fala
Preta, Maria Mulher, Grupo de Mulheres Negras Mãe Andressa, Casa da
Cultura da Mulher Negra, dentre outras, tomando formato na realidade
brasileira. E, seguindo esse propósito, muitas outras vão surgindo, como
IMENA, Malunga, INEGRA e outras.
No cenário contemporâneo, é possível verificar o ativismo da
mulher negra em diversos espaços, como nos conselhos das políticas sociais
setoriais e nas conferências que tratam dos temas centrais a ela em âmbito
nacional e internacional. A 3ª Conferência Nacional de Políticas para as
Mulheres, realizada em dezembro de 2011, com o tema “Autonomia e
igualdade para as mulheres”, em Brasília, contou com a participação das
mulheres negras organizadas. Elas vêm ocupando espaço de definição das
políticas públicas nas conferências de políticas para as mulheres e de
promoção da igualdade racial nos níveis local, estadual e nacional, bem
como nos conselhos de políticas setoriais. No ano de 2011, deixaram suas
marcas, quando aprovaram resoluções que atendem as suas demandas no
âmbito da autonomia econômica e social, como a ampliação da participação
e permanência das mulheres no mundo do trabalho e mercado formal, em
particular defendendo a garantia dos direitos das trabalhadoras domésticas,
com especial ênfase na equiparação de direitos com as(os) demais
trabalhadoras(es) (PEC n° 478/2010 das trabalhadoras domésticas e
Convenção 189 da OIT).
No que concerne à inclusão produtiva e empreendedorismo nos
meios urbano e rural, apresentaram a urgência de fortalecer as organizações
produtivas de mulheres quilombolas, garantindo o acesso ao crédito, à

121
assistência e assessoria técnica e socioambiental, à demarcação e titulação
de comunidades remanescentes de quilombos.
No enfrentamento à violência contra a mulher negra, aprovaram a
ampliação e o aperfeiçoamento da rede de atendimento às mulheres em
situação de violência e a implementação da Lei Maria da Penha. Na área da
saúde integral das mulheres, sexualidade, direitos sexuais e direitos
reprodutivos, houve o fortalecimento e implementação da Política Nacional
de Atenção à Saúde da Mulher, integrada à Política Nacional de Atenção à
Saúde da População Negra, com atenção à anemia falciforme, e a
insistência no critério cor nos prontuários de atendimento para melhorar o
registro de dados, capacitando profissionais de saúde.
No âmbito da autonomia cultural, apontaram a necessidade de uma
educação e cultura para a igualdade, com fortalecimento da cidadania, ao
incorporar as questões de gênero, raça e etnia, orientação sexual e
identidade de gênero, geracional e das pessoas com deficiência nos
currículos das instituições em todos os níveis, etapas e modalidades de
ensino, com ênfase na implementação da Lei n° 10.639/2003, que torna
obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira, e da Lei n°
11.645/2008, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a
obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.
[...] ao investimento na escolarização e qualificação
das mulheres negras; à promoção da igualdade racial
no mundo do trabalho a partir de políticas e ações
específicas e fortalecimento da dimensão racial nas
políticas e ações mais gerais; à igualdade de direitos
para as trabalhadoras domésticas (ONU, 2011, p.10).
De grande relevância têm sido as organizações das mulheres
negras, as ONGs em âmbito nacional e as valiosas articulações

122
internacionais com a ONU Mulheres, cujo propósito é fortalecer essas
organizações, bem como possibilitar a implementação e monitoramento de
ações e políticas de promoção da igualdade racial já pactuada em espaços
como conferências e o Plano Durban. ONU Mulheres conta com o
Programa Regional Gênero, Raça, Etnia e Pobreza para atuar junto às
mulheres dos países do Cone Sul: Bolívia, Brasil, Guatemala e Paraguai
para que desfrutem de oportunidades iguais no mercado de trabalho e
conquistem autonomia financeira.
Um dos maiores desafios vividos por essas e outras mulheres
negras militantes foi o trato político e pessoal da diferença entre os
diferentes, no interior dos movimentos sociais de caráter identitário, em
suas responsabilidades em combater o racismo, em lutar e conquistar
políticas públicas de resgate da dignidade humana da população negra.
Movimentos sociais de caráter identitário – movimentos identitários.
As pesquisas atuais têm apontado um crescimento e a configuração
de novos rumos para o feminismo em cenário mundial. No Brasil, este
momento demonstra a abertura para um maior relacionamento entre
mulheres negras e não negras. Isso encontra sentido na unidade dos
objetivos coletivos na luta antirracista e antissexista, denotando uma
ampliação das mulheres advindas de múltiplos setores, como militância
sindical, popular, negra e lésbicas nos encontros do movimento feminista,
fomentando os debates, com capacidade de influência e de proposição
(CARNEIRO, 2003).
Considerações finais
Diante dos movimentos que reivindicam o direito à diversidade,
tratamos com os “diversos”, que têm suas reivindicações e demandas de

123
inserção na sociedade global. A radicalização da democracia passa pelo
respeito à diversidade, à multiplicidade das expressões identitárias. O
reconhecimento da diversidade é na prática um pedido de palavra contra a
violência frente ao outro.
O movimento de mulheres e o movimento de mulheres negras
percebem as mulheres como sujeitos históricos da transformação da sua
própria condição social. Propõem que as mulheres partam para transformar
a si mesmas e ao mundo. No entanto, não é um movimento homogêneo.
Contém uma série de dificuldades de estruturação e de orquestração de sua
multiplicidade, como no tratamento da diversidade entre as mulheres
(racial, étnica, condição socioeconômica, diversidade sexual, geração ou
cultural), e também uma abordagem pluralista nos espaços políticos
conquistados na sociedade.
Coloca-se como desafio para o Estado brasileiro que reconheça as
organizações do movimento das mulheres negras como agentes
fundamentais na elaboração, implementação e monitoramento das políticas
públicas voltadas às mulheres e às negras. As mulheres negras assumem
importante papel político ao contribuir com singularidade para a articulação
entre a raça e o gênero no interior dos movimentos sociais nos quais atuam,
no que tange a imensa tarefa social e política de (re)educar homens e
mulheres para exercício das relações de gênero e raciais mais justas e
democráticas.
Diante do exposto, é válido dizer que o combate ao machismo,
sexismo e racismo é uma causa que diz respeito a toda humanidade. Cabe
uma reflexão e ações rumo à construção de uma brasilidade rica de
compartilhamento cultural dos diferentes povos que edificaram esta nação,

124
inspirados em valores democráticos, fraternos e solidários. Essas
desigualdades de gênero, raça, diversidade sexual e classe social têm
comprometido o desenvolvimento das potencialidades da população negra
no Brasil, com desdobramentos sérios na condição de vida das mulheres
negras.
Referências bibliográficas
CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na
América Latina a partir de uma perspectiva de gênero. In: Racismos
Contemporâneos. Rio de Janeiro: Takano Ed., 2003.
______. Mulheres Movimento. In: Revista Estudos Avançados, n. 17, 2003.
CAVALLEIRO, Eliane. Mulheres negras, ativismo e produção de
conhecimento: uma conversa com Michele Lopes da Silva. In: Revista da
ABPN, n. 1, v. 1, mar./jun. 2010. Disponível em:
https://abpn1.websiteseguro.com/Revista/index.php/edicoes/article/view/31/
38. Acesso em: 23 fev. 2012.
EVARISTO, Conceição. Da representação à auto-representação da mulher
negra na literatura brasileira. In: Revista Palmares: Cultura Afro-brasileira,
n. 1, ano I, ago. 2005
MADEIRA, Maria Zelma de Araújo Madeira. A maternidade simbólica na
religião afro-brasileira: aspectos socioculturais da mãe-de-santo na
Umbanda em Fortaleza-Ceará. Tese (Sociologia), 250 p. Programa de Pós-
Graduação em Sociologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2009.
MADEIRA, Maria Zelma de Araújo. Sexismo e racismo cordial. Jornal O
Povo, Caderno Vida & Arte, Fortaleza, 14 abr. 2007.
PINTO, Celi Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil l: suas
múltiplas faces. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2003.
RIBEIRO, Matilde. O feminismo em novas rotas e visões. In: Rev. Estudos
Feministas, Florianópolis, n. 3, v. 14, set./dez. 2006.
SANT’ANNA, Wânia. Novos marcos para as relações étnico/raciais no
Brasil: uma responsabilidade coletiva. Disponível em:

125
http://www.criola.org.br/artigos/novos_marcos_para_as_relacoes_etnico_ra
ciais.pdf. Acesso em: 23 fev. 2012.
SEBASTIÃO, Ana Angélica. Memória, Imaginário e Poder: Práticas
Comunicativas e de Ressignificação das Organizações de Mulheres Negras.
Rio de Janeiro, 2007.
SILVA, Caroline Santos da. Violência e Cidadania: Aspectos Relacionados
às Mulheres Negras. In: Ver. Em Debate, Rev. do Depto. de Serviço Social
PUC-Rio, n. 6, 2007. Disponível em: http://www.maxwell.lambda.ele.puc-
rio.br. Acesso em: 23 fev. 2012.
SILVA, Joselina. A União dos Homens de Cor: Aspectos do movimento
negro dos anos quarenta e cinqüenta. In Estudos Afro Asiático. Ano 25.
Vol. 2. (Maio-julho 2003) Rio de Janeiro.
__________. Mulheres Negras, Histórias de algumas brasileiras. Rio de
Janeiro: CEAP, 2009
_________. Maria de Lourdes Nascimento: liderança Afro-brasileira dos
anos quarenta. In História da Educação- vitrais da memória: lugares,
imagens e práticas culturais. Fortaleza: Edições UFC, 2008
ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas (ONU). 2011: Ano Internacional das
e dos Afrodescendentes. Nações Unidas no Brasil. Disponível em:
http://www.unifem.org.br/. Acesso em: 23 fev. 2012.

126
Trajetórias Juvenis: Trocas e Negociações Identitárias de
Meninas Envolvidas na Prática de Homicídio
Rilda Bezerra de Freitas*
O presente artigo é fruto da minha pesquisa de doutorado em
sociologia intitulada “O ato de matar nas trajetórias juvenis: trocas e
negociações identitárias de meninas30
envolvidas na prática de homicídio”.
Meu interesse em retratar trajetórias de meninas envolvidas na prática de
homicídio é, antes de tudo, falar das juventudes contemporâneas, em sua
pluralidade e diversidade, entendendo-as como uma questão instigante para
as ciências sociais.
Nas teorizações contemporâneas, a juventude não se define
apenas como uma fase na vida dos sujeitos, ou como uma transição de faixa
etária, configurando-se, de forma efetiva, por características relacionadas a
um “estilo juvenil de ser e estar no mundo”. Nos percursos e negociações
do “estilo juvenil de viver” está a participação em determinados grupos que
se formam pretensamente a partir de um referencial de rebeldia,
*Graduada em serviço social (UECE), mestre em sociologia (UFC), doutora em
sociologia (UFC), participante do LEV-UFC (Laboratório de Estudos da Violência)
e pesquisadora da Fundação Brasil Cidadão. 30
Inspirada no romance “As Meninas”, de Lygia Fagundes Teles (1973) e,
também, consciente da restrita utilização do termo “menina” como categoria de
análise nas ciências sociais, optei por fazer uso desse termo “meninas”, tendo em
vista circunscrever um tempo na vida das adolescentes envolvidas na prática de
homicídio. Nesse sentido, pude demarcar um período de trânsito na vida destas
jovens. Vale ressaltar que, em “As meninas”, Lygia Fagundes Teles, também,
contextualiza os percursos de três meninas que, oprimidas pelo período violento da
época da repressão no Brasil, refugiam-se em um Pensionato, na região Central de
São Paulo, e dividem experiências, sentimentos e negociações identitárias, até a
dispersão de suas trajetórias.

127
transgressão e nomadismo. É no cenário contemporâneo31
que as chamadas
“tribos juvenis” 32
- punks, emos, headbangers, gangues - se gestam. Dentre
31
Segundo a cientista social Alba Pinho de Carvalho (2010), “vivenciamos a mais
de duas décadas a mundialização do capital, as desigualdades e polarizações que
marcam o cenário contemporâneo. Neste cenário, de início do século XXI,
testemunhamos uma confluência de tempos – tempos de crise e de transição –
social. Em verdade, afirma Carvalho, “somos confrontados com questões da
modernidade para as quais as respostas modernas são absolutamente insuficientes,
como a questão da equidade, da justiça e da desigualdade” (CARVALHO,
2010:171). Neste contexto, é complexo e fundamental pensar o momento que
estamos vivenciando, circunscrito pela chamada “civilização do capital”, que
demarca novas formas de domínio e novas expressões de luta e resistência.
Segundo Carvalho, é “imprescindível, desvendar o atual contexto de crises, as
mudanças em curso e as tendências emergentes. Exige delimitar a utopia
democrática, nas suas possibilidades e limites, no âmbito da civilização do capital.
“Impõe discutir a Questão Social em suas manifestações peculiares no presente,
sobremodo, as vulnerabilizações, desmontes e tensões que atingem o mundo do
trabalho” (CARVALHO, 2010:171). Em sua análise sobre as vulnerabilidades
vivenciadas no tempo presente, Carvalho percebe as juventudes de todo o mundo
como uma “nova geração de excluídos”. São filhos de classe média e de
trabalhadores precarizados, com sérias dificuldades de integração à sociedade:
taxas elevadíssimas de desemprego jovem; excesso de qualificação para exercício
de trabalhos precários; reformas educacionais emperradas. São juventudes
marcadas pelo pessimismo, pela falta de confiança no sistema político, com uma
grande insatisfação a explodir em revoltas juvenis contemporâneas, caracterizadas
pela espontaneidade e articulação via circuitos virtuais e telemóveis.
Especificamente, no Brasil, é gritante o drama das juventudes, com elevados
índices de “mortalidade juvenil” que dizima jovens pobres, sobremodo negros, que
perambulam nas diversas “periferias da vida”. Vide: Carvalho, Políticas públicas e
o dilema de enfrentamento das desigualdades: um olhar crítico sobre a América
latina no século XXI, in: Sousa, Fernando José Pires, Poder e políticas públicas na
América Latina, Edições UFC, Fortaleza, 2010. 32
Sobre a concepção de tribo, quero remeter novamente ao entendimento de
Michel Maffesoli (1987), circunscrito na idéia de “tribalismo”, de nativo, de
bárbaro. Nesta perspectiva, “o termo tribo rediz a origem e, com isso, restitui vida
ao que tinha tendência a se esclerosar, a se aburguesar, a se institucionalizar”.
Assim, a juventude dos anos 90 e 2000 vivenciam o que Maffezoli chamou de
“tempo das tribos”, um tempo que se configura pela importância do sentimento de
pertencer a um grupo, a um lugar, enquanto fundamento essencial de toda vida
social. Destaco, também, a formulação de Magnani sobre o conceito de “tribo”.
Segundo o autor, o termo “tribo” é empregado como uma metáfora pode-se dizer
que evoca – primitivo, selvagem, natural, comunitário – características que se
supõe estarem associadas, acertadamente ou não, ao modo de vida de povos que

128
estas tribos, encontram-se, também, as protagonistas do meu estudo.
Meninas, provenientes das classes pobres que, em suas trajetórias, se
envolveram com a prática de homicídio e experimentaram a sentença de
privação de liberdade e agora retornam aos seus contextos sociofamiliares,
onde vivenciarão novas experiências e outras personificações, no sentido de
encarnarem novos personagens.
Nesta perspectiva, decifrar “trajetórias juvenis” significa
percebê-las na dimensão da pluralidade e do movimento, compreendendo-
as de modo bem mais amplo do que uma simples demarcação cartográfica
ou geracional. É nesse sentido que ser jovem circunscreve uma dimensão
identitária, experimentada, de forma, peculiar, em processos de negociação
no interior de grupos e/ou “comunidades” onde vivenciam estilos juvenis
contemporâneos: família, escola, espaços do bairro ou do condomínio,
Igrejas, tribos urbanas, redes virtuais. São espaços físicos e virtuais onde
experimentam formas de sociabilidade, jeitos de estar no mundo, valores e
referências. Assim, as trajetórias de meninas que tem experiências em
comum – seja o habitar as “periferias da vida”, seja a prática do homicídio,
seja a vivência da reclusão – revelam percursos singulares marcados por
formas próprias de trânsito e negociação.
A rigor, “retratar trajetórias” é muito mais que “relatar
histórias individuais”. Diante desta afirmação, torna-se oportuno, resgatar a
sinalização crítica de Bourdieu (2006), onde a história de vida é
compreendida como “uma dessas noções do senso comum que entraram
apresentam, num certo nível, a organização tribal, designando pequenos grupos
concretos com ênfase não só em seu tamanho, mas nos elementos que seus
integrantes usam para estabelecer diferenças com o comportamento classificado
como normativo: “os cortes de cabelo e tatuagens de grupos punks, as cabeças
raspadas dos skinheads, a cor da roupa dos darks e assim por diante”. (1999:50).
Para aprofundar melhor essa questão ver: Maffesoli, Michel. O tempo das tribos: o
declínio do individualismo na sociedade de massa, Rio de Janeiro, 1987.

129
como „contrabando‟ no universo científico; inicialmente, sem muito alarde,
entre os etnólogos, depois, mais recentemente, com estardalhaço, entre os
sociólogos”. (Idem, 2006:183). Assim, enfatiza este formulador que a vida
de um sujeito não está separada do conjunto dos acontecimentos de sua
existência, demarcando uma perspectiva diferenciada de trajetória,
entendida como uma série de posições ocupadas sucessivamente por um
mesmo sujeito ou um mesmo grupo, estando ele próprio ou o grupo sujeito
a transformações. Inspirada nessa noção de trajetória “bourdieuniana” foi
possível perceber os limites e romper com a visão de “história de vida”
como “série única e por si suficiente de acontecimentos sucessivos, sem
outro vínculo se não a associação a um sujeito cuja constância certamente
não é senão aquela de um nome próprio... (Idem, 2006: 189).
Sob a inspiração de Bourdieu, tais demarcações conceituais
levaram-me a assumir o desafio de trabalhar trajetórias, dando
conseqüência metodológica a esta opção analítica, através da construção de
retratos sociológicos33
de seis personagens, meninas envolvidas na prática
de homicídio 34
. Nestas trajetórias, circunscrevo, mais especificamente, o
desenrolar dos fatos vividos por cada adolescente: as lembranças da
infância, da escola, dos amigos, a sociabilidade dos grupos e “tribos” a que
pertencem, bem como as situações e acontecimentos
33
A idéia de construir retratos sociológicos, como procedimento metodológico, não
se configura como simples reconstrução histórica, ou seja, do passado vivido por
meninas em conflito com a lei. Assumo, aqui, os retratos sociológicos como via
investigativa inovadora, consubstanciada nos procedimentos propostos pelo autor
Bernard Lahire, enquanto instrumento de compreensão de um suposto ethos. Desse
modo, a metáfora do “social em estado dobrado ou desdobrado”, utilizada por
Bernard Lahire (2002), pode explicar minha escolha por tal procedimento. Vide
Lahire, Bernard. Retratos Sociológicos: Disposições e Variações Individuais,
Artmed Editora S.A, 2002. 34
Os dados apresentados referem-se ao momento da investigação: final de 2007 e
2008 (com as jovens ainda no internato), 2009 (com a maioria das jovens já
desligadas do internato).

130
“desestabilizadores/perturbadores” 35
de suas identidades e trajetórias. Cabe
assinalar que, detalharei aqui, apenas o retrato sociológico da jovem
D.P.D.L (17 anos). As demais trajetórias serão apresentadas de forma
resumida nesta parte introdutória do artigo. Portanto, segue abaixo um
resumo de cada retrato pintado, ao longo da tessitura desta investigação.
1. D.F.S., 17 anos, oriunda do município de
Majorlândia/Aracati, onde então residia com a mãe e irmãos. Foi
encaminhada ao internato na condição de primária, sendo sentenciada,
posteriormente, pela prática de homicídio. Envolveu-se na prática de um
homicídio no exercício da “prostituição”. Foi testemunha do assassinato do
“parceiro” pelo “suposto intermediador do “ato prostituinte”, assumindo,
posteriormente, o crime sob ameaças, conforme narrou a adolescente: “O
homicídio aconteceu por causa de uma dívida de prostituição. Eu saí com
um gringo, „filho da p...‟ E ele não quis pagar. Aí contei prá um amigo
nosso lá de Aracati 36
, na mesma hora, ele resolveu cobrar o “furo” (gíria
referente a descontar, cobrar, tomar satisfação). Só sei que sobrou prá
mim. Não matei ninguém e vim parar aqui. Apenas vi quem matou. “Ele
esfaqueou o cara com facadas no pescoço, umas três facadas...”
35
Segundo Hall (2000), “precisamos vincular a discussão sobre identidade a todos
aqueles processos e práticas que têm perturbado o caráter relativamente
“estabelecido” de muitas populações e culturas: os processos de globalização, os
quais, eu argumentaria coincidem com a modernidade. (HALL, 1996), e os
processos de globalização forçada (ou livre) que têm se tronado um fenômeno
global do assim chamado mundo pós-colonial” (2000: 108). Inspirada em Hall
percebo as “práticas perturbadoras” como um “momento desestabilizador” nas
rotas das minhas personagens. De fato, nas narrativas das meninas envolvidas na
prática de homicídio, identifico situações e acontecimentos que desestabilizam seus
percursos, levando-as a redefinições: a morte da mãe, o uso de drogas, o
envolvimento afetivo com um namorado traficante, a mudança para um bairro
periférico, enfim. Para aprofundamento, ver: Hall, Stuart. Quem precisa da
identidade? In: Silva, Tomaz Tadeu (org.), Identidade e diferença: a perspectiva
dos Estudos Culturais, 2004, Editora Vozes, Petrópolis, Rio de Janeiro, 2000. 36
A jovem não revela qual a participação desse amigo na prática de prostituição
em Aracati, um suposto “cafetão”? Refleti comigo mesma.

131
2. D.P.D.L., 17 anos, provinda do município de Iguatu, onde
reside com a família: mãe, irmãos e avós. Foi encaminhada ao internato por
descumprimento da medida de semiliberdade em seu município, sendo
sentenciada, posteriormente, pela co- autoria de um homicídio. A trama do
homicídio descrito pela jovem parece configurar um “ato de rivalidade e
disputa afetiva”. De acordo com a adolescente, o ato cometido desencadeia-
se a partir de uma série de mudanças em sua vida: dificuldades financeiras e
familiares, deslocamento para um bairro periférico de Iguatu, envolvimento
com drogas e a relação afetiva com um novo namorado, suposto motivo da
disputa afetiva. Nesta disputa, a adolescente, após sair ferida em uma briga
com a ex-namorada do jovem, resolveu se vingar, impulsionada por uma
amiga e o próprio namorado, que lhe empresta a arma do ato de morte.
Sobre este homicídio, D.P.D.L. sustenta a versão contida nos autos
processuais, afirmando que não atirou na vítima: “como eu estava com a
mão cortada da briga anterior, eu não conseguia atirar..., minha amiga
que me acompanhava atirou por mim. “Eu queria só dar um susto na
menina, tipo atirar no pé, ou coisa assim, prá ela não tentar me matar de
novo, mas ela acabou morrendo”.
3. M.F.A., 17 anos: nascida em Fortaleza, no bairro Genibaú.
Segundo a adolescente, seu envolvimento na prática do homicídio inicia-se
com a morte da mãe, com câncer de mama e, posteriormente, a experiência
de uso de drogas. Em suas narrativas, afirma que matou a vítima por que
esta reagiu ao assalto. “Era ele ou eu. Engraçado que aconteceu em um dia
que eu não esta chapada, drogada, nada, nada... No assalto ele veio bater
em mim, tentou me estrangular. Eu tinha de matar mesmo. Fui roubar prá
usar droga... não me arrependo não”.
4. M.J.V.A, 16 anos: é oriunda do município de Crateús,
porém, há algum tempo habita os espaços da cidade de Fortaleza, seja em

132
abrigos públicos ou nas ruas da capital, exercendo a prática da prostituição
e cometendo furtos. Sua irmã mais velha mora em um prostíbulo na cidade
de Crateús, tendo dois irmãos que, também, cumprem sentença de privação
de liberdade. Sobre o “ato infracional cometido, a jovem afirma que, não
sabia o que seu companheiro e seu grupo planejavam: “Meu namorado
pediu prá mim chamar a menina, prá gente, todo mundo ir tomar banho no
rio. Tudo parecia uma diversão, uma brincadeira entre casais. Eles
disseram prá mim que ela tinha aceitado ir. Mas, chegando no rio, o colega
do meu namorado tentou fazer sexo com a menina, aí ela não quis, mas já
era tarde, ou ela fazia ou morria. Foi um estupro e depois eles mataram
ela. Eu vi tudo”.
5. B.J.F.N., 16 anos: É nascida em Fortaleza, no bairro Bom
Jardim, onde reside com a avó e 04 irmãos. Afirmou que, após a morte de
sua mãe, passou a usar drogas e a perambular pelas ruas de Fortaleza,
cometendo roubos e assaltos com um grupo formado. Reincidente no
internato, a jovem cumpre sentença por vários atos infracionais: lesões
corporais, assaltos, porte de arma, roubos e tentativa de homicídio. Sobre a
tentativa de homicídio praticada, B.J.F.N. afirmou: “Eu fui pra uma festa
com amigos e depois de todo mundo louco, roubamos dois carros,
seqüestramos o dono de uma loja e trocamos tiros com a polícia. Depois
com os pneus todos furados nos entregamos. Não tinha mais nada a fazer.
Estávamos feridos e com o carro “no prego”.
6. A.L.S.V., 14 anos: É nascida em Fortaleza, no bairro do
Carlito Pamplona, onde reside com a avó e tios. Possui três irmãos
maternos, os quais residem com sua mãe no bairro Pirambú. A família é
natural de Manaus e migrou para Fortaleza quando a jovem possuía apenas
06 anos de idade. Seu envolvimento infracional envolve uma trama de
rivalidade e disputa afetiva. Na narrativa da jovem, a trama do ato

133
cometido: “Ela me acusou de ter roubado o celular dela, mas eu sei que
ela queria era confusão, por causa do ex-namorado dela, que eu tava com
ele. Eu pensei assim: „diabo é isso, o que essa doida quer‟? Se fosse prá
disputar na mão, eu até tinha ido, né? Eu tava no reggae e chegaram
dizendo que ela ia me matar... Eu tava de cara limpa, só com cigarro, aí eu
pensei assim: quer saber... prá evitar confusão, eu vou embora. Mas, aí,
quando eu vou andando, lá vem ela com a faca. Aí eu disse: ei mulher,
solta essa faca aí, vamos se esbagaçar nós duas aqui na mão mesmo... Foi
na ora que ela veio prá cima de mim, aí eu segurei na mão dela, tomei a
faca dela e saí metendo nela... Eu não tinha certeza se queria matar ela
não, mas eu não podia parar prá ficar olhando prá faca, o jeito que a faca
era, de que cor era e tal. Eu só fiz tomar e meti nela de todo jeito... Eu
puxei a faca e saí furando ela.
Ao focar as minhas lentes nestas trajetórias, percebo que meu
desafio na construção dos retratos, é compreender os caminhos percorridos
por estas protagonistas, como expressão de negociações com rotas e
percurso trilhados, encarnando um jeito de viver, ou melhor, de
experimentar a vida, com dimensões conscientes e inconscientes a se
hibridizarem.
Ao longo das tessituras dos retratos, iluminou-me a convicção
teórico-metodológica de que o esforço desta construção ia muito além das
habilidades de convencer as meninas a narrar a prática do homicídio, como
marcador essencial de suas vidas. Na verdade, meu esforço foi recompor
caminhos, andanças destas personagens, em diferentes espaços e
momentos, em meio as encruzilhadas das tramas do que é designado,
institucionalmente, como delinqüência.

134
1. D.P.D.L: A Participação num Jogo de Disputas, Rivalidade e
Morte.
Cheguei cedo ao internato e entrei juntamente com os técnicos
do plantão naquele dia. Encontrei D.P.D.L. com os cabelos molhados e um
sorriso de menina que se diverte com a participação na pesquisa.
Apresentando-se como alguém da paz e sem problemas de relacionamento
no internato, a adolescente entrou na sala de atendimento técnico e disse:
Oi, vou participar de uma pesquisa, é isso?
De forma bem espontânea e sem precisar ser convencida a
narrar sua trajetória, D.P.D.L começa a contar sobre o percurso percorrido
até o internato.
Quando eu saí de Iguatu, quando o Juiz resolveu me mandar prá
Fortaleza, chorei tanto... Eu olhava prá minha mãe e dizia: não
deixa mãezinha, não deixa. Mas, ela não podia fazer nada.
Chorava eu, ela e uma amiga dela que tinha ido com a gente.
Mas, o Juiz não voltou atrás. É que ele já tinha me dado outra
chance e me deixou na semiliberdade em Iguatu mesmo, mas eu
fugi. Dessa vez, ele não teve pena. Ele disse prá minha mãe que,
dessa vez, eu tinha me envolvido numa coisa grave, além do mais
tinha fugido...
Assim, a jovem vai construindo narrativas sobre o seu
município de origem, a saudade da família e o ato infracional cometido.
Segundo D.P.D.L, sempre recebeu apoio de sua família, mesmo após o
envolvimento com homicídio. “A minha mãe nunca demonstrou
preferência por este ou aquele filho, ela trata todo mundo da mesma forma,
por isso me sinto como a filha caçula problemática”.
Na narrativa acima, é perceptível a assimilação de uma
imagem construída pela família. Essa auto-imagem de “filha caçula

135
problemática” parece apontar para uma forma de representação exterior,
onde o olhar do outro repercute na representação de nós mesmos. Assim, os
discursos construídos por outros sujeitos construiriam, também, os lugares a
partir dos quais os indivíduos podem se posicionar. Cabe aqui refletir: Em
sua trajetória, estaria D.P.D.L a se posicionar como a “filha caçula
problemática”? Que influência teria a imagem da
“filha/caçula/problemática” em sua trajetória de vida?
1.1 As lembranças de Iguatu, da família, da escola e dos grupos
de amigos.
Nascida em Iguatu, em uma família composta de três irmãos,
D.P.D.L guarda em suas lembranças, o apoio da família e o carinho da mãe,
durante todo a sua trajetória. Assim, afirma em suas narrativas, que nunca
se sentiu abandonada.
Eu sempre contei com o apoio dos meus irmãos e da minha mãe.
Com meu pai, eu nunca tive proximidade. Ele mora em Santa
Catarina. Quando eu nasci, acho que meus pais já estavam
separados. A figura paterna que eu tenho como pai mesmo é meu
avô. É a ele que a minha mãe recorre nos momentos difíceis.
Minha irmã ainda hoje não acredita como eu me envolvi com
isso. Quando eu era criança, lembro da minha irmã me levando
prá escola, penteando meus cabelos, me ensinando as tarefas da
escola. Quando ela vem me visitar, ela diz D..., por favor se
esforça prá voltar logo prá casa, faz tudo que eles pedirem,
participa de tudo direitinho, estuda, faz as tarefas tá?
Percebe-se nas narrativas desta jovem, o apoio e a participação
da família ao longo de seu percurso, conforme relata a própria adolescente:
“eu sempre contei com o apoio dos meus irmãos e da minha mãe”. É
perceptível, a confluência de imagens distintas, que convergem e

136
contrastam em um processo de definição identitária: “a menininha caçula,
que a irmã leva prá escola, contrastando com a “adolescente que se
envolveu no homicídio”. Sobre as lembranças da escola, a adolescente
relata:
Eu até bagunçava na escola, mas as professoras gostavam de
mim. Só depois que passei a usar drogas é que resolvi me afastar
da escola. Quando saí da escola passei por um tempo bem difícil.
Comecei a usar drogas. Fui perseguida pela polícia e até senti
falta das orientações da diretora da escola e dos colegas, das
brincadeiras e de alguns professores.
Sempre me considerei estudiosa, sou uma pessoa bacana,
divertida, mas eu tenho um grande defeito, que é o de não aceitar
tudo, nem saber ouvir não. Aqui no internato eu tô tentando
melhorar isso, aqui tem regras que devem ser cumpridas né?
Acredito que algumas brigas e confusões na minha vida
aconteceram por causa disso. Se alguém me faz algo ruim eu
penso logo em descontar, “cobrar o furo” e tal. Costumo dizer
que sou um “saco de vacilo”, tia.
Ao mesmo tempo, em que a jovem se define como uma
“pessoa da paz, “bacana”, “divertida”, ”regular na escola”, “apoiada
pela família”, outras personificações confluem em sua trajetória,
contrastando com estas imagens: “não levo desaforo prá casa”, “sou um
saco de vacilo”, “a filha caçula problemática da família”. A fala de D.F.S.
destaca ainda, sua incapacidade para acatar normas, para aceitar perdas, que
se configura por uma visão positivada, como marca de seu jeito de ser e
estar no mundo, mas, ao mesmo tempo, reconhece que está enveredando
por caminhos perigosos: “tomei decisões erradas e segui caminhos
perigosos. Se pudesse voltar no tempo, eu voltava. Sou teimosa, nunca
soube ouvir as pessoas, nem aceitar “não” como resposta. Sou cabeça
dura e acabei assim...

137
De fato, nas falas da jovem é recorrente o esforço de
autocrítica, em coadunância a imagens contraditórias de si mesma. Nesta
confluência de imagens, D.P.D.L. aponta o uso de drogas como um
“momento desestabilizador” em sua trajetória. Aqui retomo a perspectiva
de Hall, sobre a necessidade de se vincular o debate em torno das
identidades “a todos aqueles processos e práticas que têm perturbado o
caráter relativamente “estabelecido” de muitas populações e culturas: os
processos de globalização..., os processos de migração forçada (ou livre)
que têm se tornado um fenômeno global do assim chamado mundo pós-
colonial...” (HALL, 2000:108). No meu caso empírico, especificamente, na
trajetória de D.F.S, o “momento desestabilizador” marca a experimentação
e o vício das drogas.
Cabe aqui, atentar para a relação “crime/droga”, como uma
articulação fundante nas rotas destas personagens, sendo uma relação
evidente em todas as trajetórias. Estas adolescentes, ao adentrarem o mundo
do crack, da cocaína, da maconha, passam a negociar com as rotas da
transgressão, vivenciadas, na maioria das vezes, nos grupos e “tribos” a que
pertencem. Sobre isso, define bem D.P.D.L: trata-se de um “jogo”, o “jogo
dos enturmados”. Desse modo, os que ousam adentrar este “território”, sem
conhecer o seu traçado, podem estar penetrando um terreno perigoso.
1.2 O mundo do crack e as rotas da transgressão: “Quero sair e
não consigo”.
Como “momento desestabilizador” de sua trajetória, o uso de
drogas redefine seu modo de ser e estar no mundo. Assim, a adolescente
passa a fazer parte do que designou “jogo dos enturmados”, adentrando em
uma forma específica de sociabilidade. Na relação com estes grupos,

138
estabelece negociações e acordos próprios desta forma de sociabilidade.
Segundo D.P.D.L, as disputas, no interior desses grupos seguem a lógica da
vingança, nunca da aceitação de uma derrota:
Eu participei do homicídio por ser cabeça dura, me deixar levar
pelos outros. Queria me vingar. Às vezes até a gente acha que
pode aceitar a derrota, a humilhação, deixar pra lá, né? Mas, nos
grupos que eu participo impera a lei do mais forte, vêm sempre
alguém incentivar, aí você vê o poder de quem se dispõe a agir
com coragem, não aceitando ofensas e você vai ficando tentada a
aprender. Você pensa que se não fizer, não vai ser merecedor de
tá ali no meio né (...), que não vai ser considerada e tal, aí a gente
faz mermo (isso é um jogo, o jogo dos enturmados). É como a
droga, é só uma ilusão, ela te ilude e não deixa você perceber que
tá fazendo tudo errado (...). É uma euforia passageira e depois
quem se “lasca” é você, que não sabe mais como sair dela. Eu
comecei a usar crack muito cedo, bem no início da adolescência
eu já fui logo experimentar o crack, nem passei pela maconha
nem nada. E, agora quero sair e não consigo. Assim, também é
com o roubo, o crime, com tudo isso.
Assim, D.P.D.L ressalta sua dificuldade de negociação de
rotas, apontando para um desejo de trilhar um caminho diferente: “E, agora
quero sair e não consigo”. Cabe aqui indagar: qual seria o
“elemento/contexto” deflagrador da entrada de D.P.D.L no chamado
“mundo da drogadição”?
Sobre a dificuldade em negociar novas trajetórias, cabe atentar
para o contexto de insegurança e instabilidade que atinge a juventude na
cena contemporânea. No contexto da “civilização do capital”, os jovens
marcados pela situação de “conflito com a lei”, usuários de drogas e
empobrecidos, passam sérias dificuldades de integração à sociedade. Além
das taxas elevadíssimas de emprego, ainda soma-se a isso a questão do
descrédito. Sobre isso, assinala D.P.D.L: “quem vai me dá emprego”?
“Quem vai acreditar em mim”?

139
Acerca do ato infracional cometido, a menina relata que não
tinha a intenção de matar e que se pudesse não estaria envolvida neste ato.
E, com um semblante triste, narra o acontecimento: “eu não queria matar
ninguém, eu nem sabia o que estava fazendo, quando a minha amiga se
ofereceu prá atirar eu aceitei. No dia da treta, eu tava tão drogada que ela
me furou, cortou a minha mão de faca e eu nem senti”.
Ao falar sobre o homicídio, revela que se sente prisioneira de
sua própria maneira de viver. Assim, ressalta determinadas prisões que
envolvem as juventudes no interior de “tribos” e grupos juvenis da
atualidade: “Somos prisioneiras de qualquer jeito, dentro ou fora daqui.
Prisioneiras de nós mesmas, reféns de amizades “sacanas”, de amigos e
grupos covardes, das drogas, dos traficantes, da prostituição, da vontade
de ter, de ser diferente, de tudo nessa vida”.
Em verdade, a sociabilidade da tribo, evoca um retorno ao
“tribalismo” e aos valores de grupo que a modernidade julgava enterrados.
Segundo Maffesoli (2000), na sociedade contemporânea o “tribalismo”
pode vir a ser um paradigma fundamental, capaz de substituir o
“individualismo”. Tal percepção fundamenta-se na idéia de que, este
paradigma, está “baseado na necessidade de solidariedade e de proteção
que caracterizam o conjunto social” (idem, 2000:50). Assim, a metáfora da
tribo, utilizada por Maffesoli (1987), evidencia a valorização do papel que
cada pessoa (persona) é chamada a representar dentro da “sociabilidade
tribal”, caracterizada pela fluidez, pelos ajustamentos pontuais e pela
dispersão. Tais papéis, nem sempre são aceitos pacificamente, ou sem
questionamento dentro das tribos. Assim, D.P.D.L descreve as disputas e
vivências na lógica dos “tribalizados”, personagens que encenam o “jogo
dos enturmados”.

140
Olha não me arrependo não. Na hora, eu nem sei o que tava
fazendo, eu tava tão “chapada”, sei lá... Acho que só fui atrás dela
porque ela me atacou primeiro... Acho que faltou vergonha na
cara dela, respeito, sei lá. Como você pode tentar matar alguém
por causa de um carinha que não te quer? Ela tentou me matar por
causa dele e o carinha me deu foi o revólver prá atirar nela. Ele
queria era ver ela morta. Talvez, um dia ele vá querer me ver
morta também. Depois fiquei pensando nisso. Sou um “saco de
vacilo mesmo”. Acho que nem precisava disso sabe? Ô vida
louca, né? Morrer por causa de um homem.
1.3. O ato do homicídio nas rotas da droga e da disputa por um
“carinha”: “sou um saco de vacilo”.
Ao narrar o ato infracional, D.P.D.L afirma que tudo começou
com a mudança de bairro. “Eu não morava na periferia de Iguatu, residia
numa casa alugada de um bairro bem localizado do município, porém, com
tantas brigas e envolvimentos com a polícia o dono pediu a casa em que a
gente morava”.
Assim, prossegue sua descrição:
Foi horrível..., a gente teve de ir morar em um lugar bem
perigoso. Era onde o dinheiro dava pra pagar, pois o antigo bairro
era barato, o dono era legal, amigo da minha mãe e cobrava
pouco. Só que no bairro novo eu não me adaptei, nunca ficava lá,
sempre à noite eu ia para as minhas antigas áreas e para os
antigos amigos, apesar de ser longe. Quando chega alguém novo
num canto os “gatos” ficam todos querendo vê qual é e tal.
Novidade sabe como é né? Na minha calçada ficava cheia de
carinha, e aí começou a confusão por causa desses caras. Eu que
já não “me batia bem” com umas e outras e tal (gíria referente a
não se dar bem), comecei a ficar marcada. Também fui logo fazer
amizade com os caras, aí as “gata” do pedaço começaram a ficar
com ciúme, começou a ter confusão.
A fala da jovem, ao descrever o “ato infracional”, evidencia as
formas de sociabilidade experimentadas no interior das “tribos”, dando

141
destaque a imposição de força e a parceria da amiga no momento do
homicídio: “elas me pegaram bem no caminho, era escuro e eu tava
drogada. Elas eram duas. Só sei que elas começaram a me quebrar e me
furaram com um canivete. A minha amiga ficou sem reação. Eu não
consegui atirar, por que minha mão tava cortada. Depois de pensar bem a
minha amiga disse: pois, vamo lá que eu atiro pra tu”.
Ao longo de suas falas, D.P.D.L vai construindo
representações sobre os laços de amizade e os amigos considerados
“verdadeiros”, conforme é perceptível no seguinte trecho: “se eu tivesse em
Iguatu, ia tá me metendo nas brigas. Porque você não vai deixar seus
amigos sozinhos no “fuguete” né? Acredito que Deus me colocou aqui pra
me livrar, me guardar e também me fazer pensar”.
Em sua narrativa, a jovem descreve o “ato infracional”,
demonstrando criticidade sobre o seu próprio contexto e as relações
construídas nas rotas da droga e da disputa afetiva.
Um dia eu e minha amiga fomos lá pras minhas antigas áreas, aí
elas me pegaram bem no caminho, era escuro e eu tava drogada,
elas eram duas e a minha amiga ficou sem reação. Só sei que elas
começaram a me quebrar e me furaram com um canivete. Aí eu
fiquei com ódio, a minha amiga ficou tentando me levar pro
hospital, e eu indignada sem querer ir... Aí eu fui lá nas antigas
áreas, lá num amigo meu, pedir um revólver, ele ficou me
enrolando e disse que o revólver tava sem bala, mas ele não
queria era me dá mesmo. Aí quando foi de manhã, chegou um
cara, eu não chamo esse cara de amigo não, porque amigo mermo
não faz isso que ele fez (os meus amigos mermo não me deram).
Só sei que ele me ofereceu a arma, dizendo assim: E, aí tem
coragem? Se garante? Era o dito “carinha” que a gata tava com
ciúme dele. Aí eu disse eu quero. Mas, eu não consegui atirar,
porque minha mão tava cortada, pois na hora eu me defendi com
a mão. A minha amiga que tava comigo na hora ficou sem ação,
porque se fosse duas contra duas até dava certo, mas ela ficou
paralisada, aí depois ficou se culpando: “égua, minha irmã eu
não fiz nada na hora”. Depois de pensar bem a minha amiga

142
disse: pois, vamo lá que eu atiro pra tu. Aí eu fui lá na casa dela
(da vítima), chamei e disse: ei minha irmã, tu me quebrou ontem,
na covardia né? Ela ainda disse assim: Porque a tua amiga não
entrou na treta? Aí eu me afastei um pouco e disse: Olha aí fulana
ela queria que tu entrasse na história. Aí minha amiga deu o
primeiro tiro. Ela caiu assim, e eu fiquei dizendo dá outro..., dá
outro, mas a minha amiga disse não “cara”, não vou atirar mais
não, aí a gente saiu fora. O tiro pegou na barriga dela e diz o povo
que ela tava grávida de 03 meses. Depois a gente ficou sabendo
que ela tava grávida mermo. Aí eu pensei: ele só me emprestou a
arma por que queria ver ela morta. Um dia vai querer me ver
morta também.
Em suas narrativas, é evidente a percepção de estar
vivenciando um “jogo perigoso”, circunscrito no limiar entre a vida e a
morte. A referência ao risco e a eminência de morte é perceptível no
seguinte trecho: “O tiro pegou na barriga dela (refere-se a vítima) e, diz o
povo, que ela tava grávida de 03 meses. Depois a gente ficou sabendo que
ela tava grávida mermo. Aí eu pensei: ele me emprestou a arma por que
queria ver ela morta. Um dia vai querer me ver morta também”. Sobre esta
percepção, articulam-se outras narrativas:
Como você pode tentar matar alguém por causa de um carinha
que não te quer? Ela tentou me matar por causa dele e o carinha
me deu foi o revólver prá atirar nela. Ele queria era ver ela morta.
Talvez, um dia ele vá querer me ver morta também. Depois fiquei
pensando nisso. Sou um “saco de vacilo mesmo”. Acho que nem
precisava disso sabe? Ô vida louca, né? Morrer por causa de um
homem.
Bem que a minha mãe falou: D..., se afasta dele. Ele não presta
prá você. Vai acabar te metendo em algo perigoso. Se lembre que
vida, você só tem uma, se você morrer, não vai ter uma segunda
chance não, como acontece no Juizado. O Juiz dá uma segunda
chance, ele pode, mas a morte não...
Assim, D.P.D.L chama atenção para o “jogo do carinha” no
interior da trama de morte. Em minhas reflexões, fiquei a questionar: O

143
homicídio cometido faria parte de um plano para livrá-lo da
responsabilidade paterna? Nas palavras de D.P.D.L, também, pairava a
mesma dúvida: “depois a gente ficou sabendo que ela tava grávida mermo.
Aí eu pensei: será se ele só me emprestou a arma por que queria ver ela
morta?Então, um dia vai querer me ver morta também...
Sobre o medo da morte, a jovem, assim, prossegue sua
narrativa:
Eu não vou mentir, eu tenho medo de morrer cedo. Parece que a
gente sempre fica entre uma vontade de sair dessa vida e o medo
de não conseguir e morrer antes. Cara é uma vida de doido lá
fora. As meninas que deixam de pelo menos cometer furtos é
porque estão sendo protegidas por traficantes ou com algum
gringo. Eu já vi meninas sair daqui e morrer na mão dos
traficantes, e vi outras que vem pra cá e sai pior, revoltada, com
ódio, pois já colocam na cabeça que “cumprir internação, é
cumprir cadeia”. Querem ser “fodona” e tal. Eu não penso assim
não, isso não tem nada a ver. Cara oh, também já vi meninas que
saíram do internato e nunca mais se envolveram com nada. Se
Deus quiser eu vou ser assim. Nunca mais vou voltar aqui.
A facilidade da jovem para narrar os fatos impressionou-me
desde o início. Diferenciando-se das demais neste aspecto, a jovem, não se
comunica de forma monossilábica e nem se expressa através de pausas
longas e frases curtas. Sobre o ato infracional cometido, descreve com certa
criticidade.
Quando a gente ia chegando lá em casa, a minha mãe vinha
voltando do trabalho. Eu disse pra minha mãe: a gente vai sair
fora, por que a gente deu um tiro numa pessoa ali e tal. A minha
mãe ficou doida, chorando. A gente fugiu, ficamos escondidas
num sitio, mas, nessa época eu era tão viciada em droga que
decidi sair de lá, e tava tudo muito calmo sabe? Resolvi sair do
sítio... Aí ficamo sabendo que ela tava no hospital entre a vida e a
morte, aí minha amiga resolveu ir pra casa, nós só andava junto,
pregada. Quando eu fui pra minha avó eu fiquei sabendo que a

144
“desgraçada” tinha morrido. Aí eu saí desesperada pra casa da
minha amiga pra gente fugir de novo, mas, aí quando eu cheguei
lá eu soube que ela já tinha sido presa. Aí eu fui esperar em casa e
resolvi não mais fugir, porque eu que tinha inventado a parada
toda né? Tinha metido ela nesse “fuguete”. Aí os homens
(polícia) passaram lá em casa e me levaram, foi isso que
aconteceu.
1.4. A Justiça sob o olhar de quem recebeu e vivenciou a sentença:
“Tive a segunda chance e desperdicei”.
A representação de D.P.D.L acerca da justiça e dos agentes
institucionais é algo marcante em suas narrativas. Segundo a jovem, a
Justiça só apresenta seu poder, quando sentencia: “enquanto o Juiz me
aconselhava, me dando chance prá ficar com a minha família, ou perto da
minha família eu não levava sério... Somente quando me mandaram prá
Fortaleza, longe da minha família, eu pirei, chorei e vi que o negócio tava
ficando sério. Não dava mais prá convencer o Juiz”.
E continua a jovem em sua narrativa:
Eu tive a minha chance, mas desperdicei. Foi assim: o juiz lá de
Iguatu se convenceu a me dar uma chance, porque eu era
primária, ele falou assim: D.P.D.L, vamos fazer o seguinte: O que
você fez foi muito grave, mas eu vou lhe dar outra chance, já que
você tá colaborando com a justiça. Eu não vou lhe encaminhar
para a FEBEMCE (refere-se ao internato, extinta Fundação do
Bem-Estar do menor em Fortaleza), eu vou lhe deixar aqui no
município mesmo em semiliberdade. Aí eu fiquei em Iguatu
cumprindo sentença de semiliberdade, mas parece que a pessoa
não valoriza a chance dada, parece que ela não foi castigada né?
Aí não valorizei, pois pra mim funciona assim.
E deixa claro as representações do castigo:
A verdade, é que o meu castigo, o juiz não sabia ainda, mas era
exatamente ficar longe da minha mãe, da minha família. Só sei
que eu tava lá em Iguatu, cumprindo semiliberdade numa boa, aí

145
fui discutir com o diretor do abrigo, porque ele me deixou
recolhida no final de semana e disse que eu não ia sair. Lá em
Iguatu não é como aqui, que a semiliberdade pode sair todo dia,
lá só sai de 15 em 15 dias. Aí eu fiquei “injuriada”.
Nesse sentido, cabe sublinhar os vínculos da protagonista com
a família, especialmente, com a mãe. De fato, na trajetória desta
personagem a mãe tem um papel de peso, enquanto referência afetiva, de
orientação e de apoio 37
. O sentido de punição para D.P.D.L
representa a distância familiar e, de modo especial, da mãe, enquanto
castigo real. Assim, a oportunidade de cumprir uma sentença de
semiliberdade em seu próprio município representou uma ausência de
punição, pelo fato de não distanciá-la da mãe e dos familiares. Desse modo,
a menina descumpre a medida imposta pelo Juiz, desconsiderando tal
decisão judicial, fugindo em seguida, da unidade de semiliberdade de seu
município38
, permanecendo um ano em liberdade.
Em seus relatos, D.P.D.L destaca as estratégias de fuga,
sublinhando sua astúcia, e os limites e falhas da própria Justiça, como
instrumento de aplicação da sentença, enfocando a precariedade e
desorganização de funcionamento desta Justiça.
37
É importante registrar, como via de investigação, a posição da mãe nas trajetórias
de jovens envolvidos nas rotas da droga, de transgressão e do crime. De fato, a mãe
acompanha, sofre, apóia o “filho” ou a “filha” para além dos envolvimentos e atos
cometidos. No caso das personagens em estudo, a mãe é presença e referência
constante nas narrativas da maioria das personagens e em duas trajetórias (M.F.A e
B.J.F.N), a perda pela morte da mãe é apontada como “elemento desestabilizador”
de percursos. 38
Unidade de Semiliberdade Regional de Iguatu é uma Instituição voltada ao
atendimento de adolescentes em situação de conflito com a lei. Sua meta é atender
25 adolescentes, sendo 20 adolescentes masculinos e 05 femininos, Através de
parcerias com a Prefeitura Municipal de Iguatu e outras instituições como o SESC,
Instituto Elo Amigo, CAIC (Centro de Atenção Integrada a Criança) e outros.
Através das parcerias, a Instituição realiza várias oficinas como: produção de papel
reciclado, marcenaria, padaria e uma cozinha para produção de doces e bolos
caseiros.

146
Tava eu e uma amiga minha, aí eu disse: “vixe! Minha irmã, taí
que eu não vou ficar aqui não. Eu perguntei pra minha amiga: vai
sujar pra tu? E ela disse: vai sujar pra mim não, é pra tu que vai
sujar, tu tá recolhida doida. Ora, o final de semana sem sair não
dá pra mim não, aí ela disse: vamo fugir? Aí eu pulei o muro na
troca dos plantões e “peguei o beco” (gíria referente à fuga),
passei quase um ano na liberdade. Olha aí como a justiça é falha,
eu só fui presa de novo porque encontraram um bocado de
“parada” lá em casa, sabe? Era um bocado de droga e roubo e tal.
Aí fui encaminhada pro Juizado, chegando lá eles perguntaram:
você tá quites com a Justiça? Já cumpriu a sentença toda? E eu
disse: paguei, sim senhor! Só que na maior mentira né? Só sei que
não encontraram nenhum mandato contra mim, não tinha nada lá
nos computadores. Aí eu fiquei só cinco dias lá e aí eles me
liberaram. Um monte de processo tudo arquivado, eles nem
sabem mais quem deve ou quem já cumpriu. (risos).
Em suas narrativas, a jovem destaca algumas limitações
referentes ao trabalho da Justiça. Segundo ela é possível convencer o juiz
durante a audiência, pelo simples fato de que na hora do depoimento, na
maioria das vezes, não é feita a junção dos processos espalhados pelas
varas. Assim, não são encontrados nos arquivos da Justiça todos os
processos em trânsito nas Varas da Infância e da Juventude. Diante dessa
dificuldade, o juiz, muitas vezes, libera a adolescente por julgar um
processo antigo, cujo ato infracional, considerado de menor gravidade, já se
extinguiu. Somente, após juntar todos os processos, a Justiça expede um
Mandato de Busca e Apreensão, tendo em vista apreender a adolescente e
encaminhá-la para o cumprimento de sentença, conforme decisão judicial.
Assim narra a sua “saga” com a Justiça, que culmina com o
seu encaminhamento para Fortaleza.
Após a minha apreensão e liberação, porque não acharam nada
meu no arquivo, parece que eles foram procurar direito. Aí foi
“mó paia” (gíria referente à fuleiro, ruim), porque só passei uma
semana em liberdade, aí chegou os agentes do Juizado atrás de

147
mim. Chegou um tal de mandado de busca, um pouco atrasado,
mas chegou (risos). Aí eu pensei que ia ganhar uma segunda
chance, porque alguns amigos meus foram para o Juizado duas
vezes e conseguiram ficar em seu próprio município, aí eu pensei:
não, tá tudo bem, é aquele juiz legal, ele vai me dar outra chance.
Só que dessa vez o Juiz não perdoou. Eu fui pro juizado. Chegou
lá a minha mãe já tava. Ela chegou do trabalho e foi pra lá, aí o
Juiz perguntou: Por que você sabendo que não tinha cumprido
toda a medida disse que estava quite? E eu disse: eu me
apresentei só que não constava nada contra mim aqui e a
promotora tava de férias. Ele perguntou: porque você fugiu da
semiliberdade? Eu disse: porque eu não queria ficar longe da
minha mãe e porque eu tava com medo de ir pra FEBEMCE de
Fortaleza. Aí ele disse: pois é pra lá que você vai. Eu comecei a
chorar dizendo: “ô mãe não deixa não, mãe”. Só faltei me
ajoelhar nos pés do juiz. A minha mãe disse minha filha o que eu
posso fazer. Aí eu fui pra delegacia e aí vim pra cá.
Esta narrativa de D.P.D.L mostra a sua astúcia na relação com
a própria Justiça, tentando uma negociação com a própria situação
vivenciada. E, mais uma vez fica em realce a figura da mãe e a sua súplica,
desesperada, no sentido de que ela impedisse a temida vinda para Fortaleza.
Cabe aqui uma reflexão: Quais as representações das jovens consideradas
em “conflito com a lei” sobre a Instituição que, segundo a caracterização do
E.C.A, deverá ser socioeducativa? No meu entendimento, este é um aspecto
claro em quase todos os retratos. De fato, o medo de ser encaminhada para
o internato de Fortaleza e ficar longe da família, especificamente, da mãe, é
um sentimento recorrente nos relatos de meninas encaminhadas do interior
do Estado.
1.5. A “viagem da volta”: o desligamento do internato e o
retorno para casa.
A “viagem da volta”, para as minhas protagonistas, parecia
seguir a mesma temporalidade. Agora, já eram duas meninas desligadas da
Instituição. Com as autorizações de desligamento percebi que, diante de

148
mim, se abria uma estrada. No caso de D.P.D.L, os rastros e pegadas
deixados, guiavam-me a outro município. O tão comentado Iguatu,
município de origem da adolescente. Em seu relato, a saudade do lugar de
nascimento:
Bom mesmo é o lugar onde você nasce, entende? A sua gente,
seu povo. Eu amo Iguatu. Eu não gosto e nem nunca vou gostar
de Fortaleza. Essa cidade é de loucos. Mas, graças a Deus já tô
voltando para Iguatu. Lá eu tenho amigos e pessoas que, apesar
de tudo, gostam de mim. Gostam de mim como eu sou e tentam
me ajudar. Lá eu tenho a minha família acima de tudo.
O desligamento da jovem apontava a necessidade de ir além
dos limites de Fortaleza. Assim, tomei a decisão de ir a Iguatu 39
,
convencida pelo entendimento de que, o retrato sociológico de D.P.D.L,
ainda faltavam cores, tintas, matizes. Desse modo, pude refletir sobre as
formas e estratégias para sua composição, após o internato.
Sobre sua despedida do Aldaci Barbosa, infelizmente, não tive
oportunidade de presenciá-la, pois não compareci ao internato no dia de seu
desligamento. Após sua partida, passei a refletir: logo os documentos e
prontuários de D.P.D.L serão arquivados. Assim, tratei rapidamente de
anotar o endereço e o telefone de contato da jovem.
Uma semana após o desligamento da adolescente entrei em
contato por telefone com a adolescente, negociando um novo encontro. A
adolescente mostrou-se disposta a dar continuidade ao processo de
39
Iguatu em minhas lembranças é um lugar familiar. Ministrei vários cursos neste
município, durante os anos de 2004, 2005 e, mais recentemente, em 2009. Na
época, encarnava a personagem de professora nômade, que percorre os caminhos
do sertão cearense, em tempos de dura sobrevivência. De “mochila nas costas”, um
pouco caixeiro viajante, negociava com as rotas da instabilidade, vendendo pacotes
de saberes para as cidades do interior cearense, em um contexto “desestabilizador”
de papeis, profissões, vidas e paisagens.

149
entrevista, afirmando que seria melhor nos encontrarmos em um final de
semana. Assim, relatou sobre o seu atual momento de vida:
É que eu tô em Liberdade Assistida aqui e me encheram de
atividades (risos). Voltei a estudar e tô continuando o supletivo.
Também tô fazendo um curso de computação, no Núcleo de
Inclusão Digital daqui de Iguatu. Olha, se você vier mesmo, pode
ficar hospedada aqui na minha casa. “A casa é pobre, mas é
limpinha” (risos).
Como assistente social e militante de uma causa político-
profissional, materializada na defesa de crianças e adolescentes, não pude
esconder meu contentamento e emoção, ao saber do atual momento vivido
por D.P.D.L. Sobre o convite para ficar hospedada em sua residência,
agradeci e justifiquei minha recusa, afirmando que já havia combinado com
alguns amigos de Iguatu os detalhes da minha hospedagem. Assim, marquei
a data do nosso encontro, para além dos limites institucionais.
1.6. Nosso encontro em Iguatu: em meus pensamentos a
descrição de D.P.D.L sobre Fortaleza, uma “cidade de
loucos”.
Recordando a descrição feita por D.P.D.L sobre Fortaleza –
“uma cidade de loucos” – desembarquei no terminal rodoviário com
destino á Iguatu. Exercitando o olhar “do estrangeiro”, efetivamente, tive
uma sensação de desorientação, ao observar certos detalhes da Capital do
Ceará.
Dentro do ônibus azul, como seus vidros escuros, janelas
fechadas, poltronas confortáveis, os roncos de pneus pareciam convidar-me
a uma viagem “além fronteiras”, ou no próprio tempo. Para trás ficava
Fortaleza. Assim, refletia sobre a trajetória de D.P.D.L e olhava a cidade de

150
Fortaleza. Sentia a vertigem do começo de uma aventura, a luta incansável
do pesquisador que se desloca para investigar outros mundos e o desejo -
sempre recomeçado - de chegar a algum lugar, a alguma nova descoberta
acerca dos personagens de sua investigação. Desejos contraditórios,
multiformes, gestos e pequenos detalhes quase invisíveis.
Ainda na estrada, vejo de dentro do ônibus um senhor sentado
em sua cadeira de roda em pleno semáforo da Av. Pontes Vieira, na esquina
de uma transversal onde se encontra a Igreja de Fátima, local de romarias
que se agitam com suas novenas, terços e devotos. Uma esmolinha, pelo
amor de Deus! – suplica o pedinte. O olhar desinteressado da jovem
senhora, trancada no seu carro com ar condicionado, evidencia uma
fronteira que o separa do mundo visível. Tal invisibilidade, também, marca
as trajetórias das meninas envolvidas na prática de homicídio, e de tantos
outros meninos que disputam fregueses com seus rodos de água e as moças
que entregam papéis de propaganda anunciando novas ofertas, novos
empreendimentos imobiliários, um novo restaurante, uma negociação
qualquer. O sinal se fecha. Para muitos, este é um momento de quase
meditação, onde cada um parece habitar um universo diferente. Os olhares
até se cruzam numa sedução complexa, onde negociam forçosamente. Mas,
visto de outro ângulo, este é também um momento de mobilização de
corpos e outros tipos de olhares que negociam entre si, de outros interesses
que compõem uma coreografia. Meninas e meninos que roubam e até
matam, “homens-máquinas”, “homens-rodos”, homens – mulheres - seus
papéis e propagandas, homens pedintes, esmoleres. São esses e outros
personagens que desfilam no asfalto. Parece um desfile mambembe naquela
manhã de sábado. O instante condensa-se nesses intensos agenciamentos
multiformes e efêmeros.

151
Quando me aproximo da rodoviária de Iguatu, percebo sua
forma arquitetônica fria de cimento e penso em seguida: aqui começam e
recomeçam os rituais de chegadas e partidas. É daqui que vejo Iguatu nesse
dia de deslocamento. A cidade tem ares de metrópole e sertão, com sua
Igreja matriz e suas rezas, com seus cavalos cruzando as ruas, seus
pedintes, enfim.
De repente, minha visão se desloca para as redondezas dos
galpões da rodoviária e vejo meninas, crianças e adolescentes que não se
sabe de onde vem. Estão envolvidos numa negociação permanente em
busca de um trocado, mapeando os aglomerados de transeuntes e seus
territórios, que conhecem como a palma da mão, pois convivem
freqüentemente ali. Assim, volto a refletir: o que representa a cidade de
Fortaleza vista a partir de seus olhares? Uma “cidade de loucos”, como
referiu D.P.D.L.? Um espaço de sobrevivência? Um espaço de liberdade?
Meus pensamentos se deslocam para as protagonistas deste
estudo, em busca de conhecer suas representações. Assim, descubro que no
nomadismo do cartógrafo, viaja-se também pela lembrança de outros
personagens, de outros tempos e de outros registros que invadem a
memória. De fato, a realidade em que eu estava imersa parecia virtual, cujas
faces se misturavam, numa confluência de imagens. O sertão parecia agora
com a dura realidade negada que visualizei em Fortaleza, cujos dramas
juvenis: drogas, crack, cocaína, violência, transgressão, que estão
permeando a vida das cidades – o espaço urbano – se desloca para os
municípios do interior. No tempo presente, o drama juvenil vivenciado nas
periferias de Fortaleza, também é vivido pelos moradores das periferias de
Iguatu.
Minha viagem prossegue, só que não mais dentro do ônibus.
Assim, chego ao local de hospedagem, todavia, sem perceber que estava

152
diante de outro desafio. Ao solicitar informação sobre o bairro onde mora
D.P.D.L, descubro as dificuldades de acesso para chegar até lá. A aventura
continua, agora em busca de um moto-táxi que me levaria até a residência
da adolescente, aproximadamente uns 12 km do local onde estava
hospedada.
Ao chegar á residência de D.P.D.L fui recebida por sua mãe,
que informou sobre onde estava a adolescente, demonstrando alegria ao me
encontrar. Esta foi a primeira fala da mãe de D.P.D.L: “menina, eu não
acredito..., não é que você veio mesmo. Vou chamar a D..., ela tá ali, na
vizinha”. De repente, alguém tapa meus olhos com as palmas das mãos e
afirma: “adivinha quem é?”
Ao encontrar D.P.D.L, observei que a menina tinha ganho um
pouco mais de peso, estava bronzeada e vestia um vestido. Nunca a vi com
essa aparência antes. Em seu rosto, o mesmo sorriso habitual. Em sua
residência, a conversa toma um rumo descontraído, com direito a suco de
caju e biscoitos. Neste momento, D.P.D.L fala da sua trajetória em
liberdade:
Tô me esforçando para terminar o supletivo, tô fazendo um curso
de computação e já recebi uma proposta, de uma amiga da minha
mãe, que montou um mercadinho. Vou trabalhar com ela, graças
a Deus. Acho que vou começar a trabalhar próxima semana”.
Não quero mais viver sob suspeita, entende? Sendo perseguida e
com as pessoas me olhando de lado. Sua família já não acredita
em você. E você fica numa roda viva, como sair disso? Tem
meninas que já não querem mais sair mesmo, não acreditam que
podem mais retornar, tomar outro rumo na vida. Talvez, o
caminho que faz voltar, seja muito longo e doloroso, aí o jeito é
permanecer na merda mesmo. Eu ainda acredito que é preciso
retornar, vou continuar acreditando... Não sou bandida, não serei
bandida, digo isso todo dia prá mim. Estou preocupada, falta um
ano só pra completar 18 anos, preciso conseguir um emprego,
mudar minha vida. Acho que o bandido mesmo não tá

153
preocupado com isso, quer continuar roubando, traficando,
matando... Mas, eu tô preocupada sim.
Em suas palavras, fica evidente o desejo de mudar, de “tornar-
se”. Tal desejo materializa-se na afirmação de que, as negociações com a
rota do crime, chegaram ao fim. Sobre o tempo de privação de liberdade e
“conflito com a lei”, assinala D.P.D.L:
Olha, sobre o internato, eu posso até lembrar e falar sobre isso.
Mas, acho que desse tempo, vão ficar apenas algumas
lembranças. Acredito que não voltarei a fazer essas coisas...
Principalmente agora que eu já to quase maior de idade. Seria um
desgosto muito grande para minha mãe e meu avô, se eu for parar
lá na delegacia, ou num presídio. Tô querendo é me “aquetar”,
sabe?
Saio da residência da jovem, ainda com a palavra “aquietar”
ressoando em meus ouvidos. Vou me aquietar dizia a jovem. Tornar-se
alguém “aquietada”? Seria esta a busca da adolescente? Sobre isso, pude
refletir que, a busca para se tornar alguém “aquietada”, ou “quieta” parece
contrastar com a representação construída por D.P.D.L sobre a cidade de
Fortaleza, ou seja, uma “cidade de loucos”. Entretanto, também encontrei
em Iguatu um pouco de Fortaleza: suas imagens, suas rotas, os imponentes
edifícios, as formas como se estabelecem as relações sociais no município e
seus serviços. Sobre isso referiu a mãe de D.P.D.L: “aqui pertinho, ali na
casa da esquina mora uma menina que também fez a mesma coisa que a
D.... Mas, a mãe dela conhecia o Juiz e ela nem foi lá prá Fortaleza. Não
cumpriu foi nada”.
O desabafo da mãe da adolescente faz emergir um dos pontos
desta discussão, cuja chave-analítica abre o entendimento de que as
“identidades são construídas por meio da diferença e não fora dela”
(HALL, 2000:110). Em verdade, o fato de cometer um homicídio na

154
trajetória de vida destas personagens, nem sempre representa a certeza de
ser sentenciada ou cumprir privação de liberdade. De fato, a marcação dessa
diferença acontece de diversas formas, sendo uma delas a desigualdade e
diferença de classe. Pode-se afirmar, portanto, que as formas de diferença –
tanto simbólica como social – são estabelecidas, ao menos em parte, por
meio de sistemas classificatórios.
De volta ao ponto de partida, ao entrar novamente no ônibus
em companhia de um agente rodoviário que logo fecha as janelas, percebo
o pau-de-arara que trafega ao lado, em coadunância com a miséria marcante
na beira da estrada. A moça que viaja ao meu lado carrega uma pasta. Em
cima do seu colo um jornal de Fortaleza noticiando o assassinato de uma
menina, de 16 anos, idade de duas das minhas protagonistas. O jornal
parece sinalizar as cenas do meu objeto investigativo. A partir das imagens
noticiadas, elaborei algumas reflexões: quem seria o autor ou a autora do
crime relatado em forma de notícia? Que negociações estaria a vivenciar a
jovem assassinada? Qual o seu envolvimento com as rotas do crime e da
transgressão? Estaria vivenciando uma disputa afetiva, tal qual D.P.D.L?
Ou estaria a negociar com as rotas da droga e da prostituição, tal qual
D.F.S? Estas e outras questões provocavam-me a pensar o contexto das
minhas protagonistas, numa busca incessante para decifrar as trajetórias de
jovens marcadas pelo crime e pela privação de liberdade.
CONCLUSÃO
Nos percursos por mim trilhados, a seguir pistas e vias
apontadas nas trajetórias de meninas envolvidas na prática de homicídio,
não consegui demarcar “pontos de partida ou de chegada”... A viagem
destas personagens – com quem convivi durante três anos de trabalho de
campo – passa por trechos inusitados e inseguros, podendo ser subitamente

155
interrompida, a qualquer momento do trajeto. As passageiras experimentam
negociações extremas, incorporando, na maioria das vezes, imagens e
representações que lhes são construídas por outras pessoas, ao mesmo
tempo, em que vivenciam a privação de liberdade como sentença imposta e
punição judicial. E, assim, nestas andanças ziguezagueantes, vão
construindo suas “posições – de – sujeito”, que são temporárias, em
processos de redefinições identitárias, sempre em aberto... No assumir de
tais posições, as meninas vão incorporando personagens diferenciadas no
jogo das negociações identitárias. São personagens em cenas que vão se
metamorfoseando. Ao tentar fechar o trabalho, tenho a consciência da
incompletude dos retratos construídos. Parece-me que faltaram imagens e
tintas. Os matizes de cores não foram suficientes para registrar a força, a
dureza e a emoção de determinadas cenas.
Ao longo de três anos de trabalho de campo – observando,
analisando documentos, convivendo com as adolescentes, penetrando em
suas vivências e trajetórias – pude perceber, as trocas e negociações
identitárias, vivenciadas ao longo dos percursos trilhados por estas jovens,
antes, durante e depois da experiência no internato. Nesta empreitada,
refutei a idéia de trajetória linear, consubstanciada na compreensão de um
percurso tracejado em linha reta, constituído de início, meio e fim. Nesse
sentido, o desligamento do internato, não é entendido como o fim das rotas
de meninas marcadas pela prática de homicídio, mas, sobretudo, como um
momento peculiar na vida destas personagens a exigir novas negociações.
São meninas que voltam a contextos sócio-afetivos e a convivências em
grupos e “tribos”, onde vivenciam experiências que culminam no homicídio
e sentem a dureza das classificações estigmatitizantes, das representações
atribuídas e precisam negociar em novas rotas.

156
Dentre os aportes teóricos que movimentei e que me abriram
vias fecundas de compreensão, destaco os conceitos de “trajetória
descontínua” e de “identidade em movimento”, desenvolvidos por Pierre
Bourdieu (2006) e Stuart Hall (2000). E, no esforço de decifrar trajetórias
marcadas pelo ato de matar, precisei estar vigilante – de fato, vigilância
permanente - a negociações identitárias que estas meninas vivenciam ou
vivenciaram com as trilhas de construção de novos sujeitos, moldados aqui
pelo deslocamento, gestados no âmbito da experiência de reclusão no
internato e do desligamento e da volta ao contexto sócio-familiar ou, em
casos extremos, do reencontro com as ruas.
No esforço de entender as trajetórias percorridas por estas
meninas, precisei investigar, não somente aquilo que estas personagens
foram ou são, sobremodo, em que pretendem “tornar-se”, afinal? – É o
“tornar-se” como um enigma em trajetórias marcadas por inseguranças em
cenários de juventudes mergulhadas no “presentismo”.
Ao “pintar” os retratos sociológicos destas seis personagens,
pude identificar convergências e divergências em suas trajetórias, quais
sejam:
1. Nestas trajetórias é perceptível a saudade da infância, da
família e do percurso trilhado antes da negociação com a rota da droga e
dos atos considerados infracionais. De fato, as lembranças da família, da
infância, da escola, dos amigos, do bairro e do município de origem são
recorrentes em todos os retratos sociológicos. Nas lembranças das jovens,
identifico pontos convergentes e contraditórios que confluem entre si.
Assim, a falta de sentido que a escola adquiriu em suas vidas, contrasta com
o desejo de retomar o percurso escolar interrompido, entendendo-o como a
forma valorizada e, de algum modo, viável de ascensão social. Sobre isso,

157
bem define D.F.S: “tem de estudar e trabalhar prá não ser prostituta, nem
ser empregada e agüentar abuso de madame”.
2. Nas narrativas de algumas destas jovens é perceptível o
desejo de “metamorfosear-se”. De fato, ainda ousam delinear projetos
profissionais, consubstanciados pela busca de tornar-se educadora física,
jogadora de futebol, veterinária, enfermeira ou motorista, mesmo em meio à
baixa auto-estima e o pessimismo, que lhes faz incorporar representações e
personagens gestados ainda na infância, em suas vivências escolares, na
família e no interior dos grupos e “tribos”.
3. Nestes percursos juvenis, a posição da mãe, possui um peso
fundante. De fato, nas trajetórias das meninas envolvidas na prática de
homicídio, a mãe acompanha, sofre, apóia o “filho” ou a “filha” para além
dos envolvimentos e atos cometidos. No caso das personagens deste estudo,
a mãe é referência constante nas narrativas da maioria das personagens, e
em duas trajetórias (M.F.A e B.J.F.N), o falecimento da mãe é apontado
como “elemento desestabilizador” de trajetórias.
4. A relação “droga/crime”, em todas as trajetórias, é apontada
como um “momento desestabilizador” nos percursos de redefinição
identitária. Estas meninas, ao adentrarem o mundo do crack, da cocaína e
da maconha, passam a negociar com as rotas da transgressão e do crime,
vivenciando na sociabilidade das “tribos” e grupos a que pertencem
múltiplas redefinições identitárias. Como bem diz D.P.D.L: “trata-se de um
jogo, o jogo dos enturmados”.
5. Sobre a vivência em privação de liberdade, a maioria das
adolescentes, parece utilizar a estratégia de esquecimento como forma de
renegociação com o passado vivido, mesmo que, em suas lembranças, o
passado vivido no Internato “continue a lhe falar”. Desse modo, as jovens
definem o internato de diferentes ângulos e representações. Para D.F.S. é

158
um lugar de punição, que deve ser esquecido, apagado de suas lembranças:
“o internato me causou muito sofrimento..., graças a Deus já tô em
casa...”. Para D.P.D.L, a sentença de privação de liberdade pode fazer
refletir: “tem meninas que vem prá cá e nunca mais se envolvem em nada,
o castigo serve prá fazer pensar”. Na visão de M.F.A, o internato é
pensado como uma barreira, capaz de impedir o uso de drogas: “aqui é
ruim, quando sair daqui eu quero esquecer dessa vida, mas, ao mesmo
tempo, é uma barreira que me impede de correr atrás de droga”. Segundo
M.J.V.A, o internato é uma experiência recorrente em sua vida: “o Aldaci
Barbosa não é mais novidade prá mim. Esta é a quarta vez que venho prá
cá”, diz a jovem. Na visão de B.J.F.N, o Centro Educacional é um espaço
contraditório e de incerteza, sendo definido da seguinte forma: “sei lá... às
vezes acho que vale a pena tá aqui, que a minha vida vai mudar e que eu
vou aprender a ser alguém melhor, que eu vou continuar meus estudos
depois daqui, mas, outras vezes me sinto revoltada, aprisionada e quero
sair desse inferno”. Para de A.L.S.V, o internato é percebido como
“barreira de proteção”, capaz de impedir vinganças, acerto de contas e,
conseqüentemente, a morte. Na fala da jovem é perceptível o medo da
morte: “o meu ex-namorado avisou a minha mãe que tivesse muito cuidado
comigo, por que estavam fazendo acordos para me matar. Se não me
pegassem pegariam um dos meus irmãos”.
Cabe destacar ainda que, nesta empreitada, para decifrar
trajetórias em movimento, o pensamento de Stuart Hall revela uma
profunda fecundidade analítica na perspectiva de identidades em
movimento, “celebrações móveis”, identidades sempre em negociação com
rotas e percursos. E, abre-me caminhos investigativos, a demarcação de
Hall de que as construções identitárias são temporárias. É preciso continuar
a caminhar com as meninas!... Mas, para onde?

159
BIBLIOGRAFIA
BOURDIEU, Pierre. In: FERREIRA, de Moraes Marieta e AMADO,
Janaína (org.). Usos e abusos da História Oral, Editora FVG, 2006.
_________. O poder simbólico, 2ª. Edição, Rio de Janeiro: Bertrand do
Brasil, 1998.
________. Políticas públicas e o dilema de enfrentamento das
desigualdades: um olhar crítico sobre a América Latina no século XXI. In:
SOUSA, Fernando José Pires (org.). Poder e políticas públicas na
América Latina, Fortaleza: Edições UFC, 2010.
LAHIRE, BERNARD. Retratos Sociológicos: disposições e variações
individuais, Porto Alegre: Artmed, 2004.
HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. SOVIK Liv
(org.), Belo Horizonte, Ed. UFMG, Brasília: UNESCO no Brasil, 2003.
________. Quem precisa da identidade. In: SILVA. Tomaz Tadeu da.
Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis,
Rio de janeiro: Vozes, 2000.
________. Identidade cultural e diáspora. Revista do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, n°. 24 – Cidadania, 1996.
MAFFESOLI, Michel. A dinâmica da Violência. São Paulo: Vertice,
1987.
________. O tempo das tribos: O declínio do individualismo na sociedade
de massas. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987.
MAGNANI, José Guilherme C. Tribos Urbanas: Metáfora ou categoria?
Cadernos de Campo. Revista de Pós-Graduação em Antropologia. São
Paulo, USP, ano III, n° 02, 1999.
TELES, Lygia Fagundes. As Meninas. São Paulo: Companhia das Letras,
2009.

160
A Relação entre Instituições de Acolhimento para Crianças e
Adolescentes com Direitos Violados e as Escolas: Uma
Experiência de Avanços e Desafios
Luciana Gomes Marinho40
1. INTRODUÇÃO
É prática antiga41
no Brasil, abrigar crianças e adolescentes com
direitos violados, seja por se encontrarem em situação de violência
doméstica e/ou sexual, seja por estarem imersos no universo do tráfico de
drogas, ou até mesmo por possuírem famílias que estão em condição de
indigência.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, apresenta em seu artigo 5°
que “nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão,
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus
direitos fundamentais”.
Falar de direitos humanos para crianças e adolescentes é considerar
o que foi proclamado na Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de
dezembro de 1948, especificamente no artigo 3° quando este afirma que:
404040
Mestranda em Avaliação de Políticas Públicas pela Universidade Federal do
Ceará - UFC. Graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará -
UECE e Especialização em Saúde do Idoso também pela UECE. Atualmente é
Assistente Social da Sociedade para o Bem Estar da Família – SOBEF, entidade
não governamental que atua na garantia dos direitos da criança e do adolescente. 41
De acordo com Rizzini (2004) até o final da década de 80, os abrigos eram
denominados de “internatos de menores” ou “orfanatos” e funcionavam nos moldes
de asilos. Isto ocorreu porque desde 1900 a internação aparece nos termos jurídicos
como o “último recurso” a ser adotado. Desde então se instituiu no Brasil uma
verdadeira “cultura de institucionalização.”

161
“toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.” E é
baseado e orientado por esse princípio que desenvolvemos nossa fala neste
artigo, sem esquecer também, de considerá-lo em nossa prática profissional
dispensado ao público em questão.
Em uma sociedade contemporânea, caracterizada pela
mercantilização das relações, são diversas as maneiras de se violar direitos.
O UNICEF, com a contribuição de muitos teóricos como Maria Amélia
Azevedo e Viviane N. de Azevedo Guerra, elaborou documentos que
abordam sobre as diversas facetas da violência contra crianças e
adolescentes, originando documentos específicos para cada violência
citada, dentre elas: violência sexual, violência doméstica, violência nas
escolas, violência nas comunidades e nas ruas, violência institucional,
violência na mídia, violência contra criança e adolescente indígena,
violência nas áreas rurais.
Vamos nos deter e utilizar das definições de negligência, violência
sexual e violência doméstica, tendo em vista que as violações de direitos
sofridas pelas crianças e adolescentes que se encontram na instituição
investigada, permeiam majoritariamente estes universos. Além disso,
vamos incluir a definição de violência na escola, pois este tema está
entrecruzado com a discussão do artigo em questão.
De acordo com Azevedo e Guerra (1995) a violência doméstica é
definida por: atos e/ou omissões praticados por pais, parentes ou
responsável em relação à criança e/ou adolescente, que sendo capaz de
causar à vítima dor ou dano de natureza física, sexual e/ou psicológica
implica, de um lado, uma transgressão do poder/dever de proteção do
adulto e, de outro, numa coisificação da infância. Isto se constitui numa
negação do direito que crianças e adolescentes têm de serem tratados como
sujeitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento.

162
A negligência representa uma omissão em termos de prover as
necessidades físicas e emocionais de uma criança ou adolescente,
configurando-se quando os pais (ou responsáveis) falham em termos de
alimentar, de vestir adequadamente seus filhos etc. e quando tal falha não é
o resultado de condições de vida além do seu controle.
A violência sexual configura-se como todo ato ou jogo sexual,
relação hétero ou homossexual, entre um ou mais adultos (parentes de
sangue ou afinidade e/ou responsáveis) e uma criança ou adolescente, tendo
por finalidade estimular sexualmente uma criança ou adolescente ou utilizá-
los para obter uma estimulação sexual sobre sua pessoa ou outra pessoa.
Por fim, Bernard Charlot (2002) define o conceito de violência na
escola, classificando- o em três níveis: violência (que inclui golpes,
ferimentos, roubos, crimes e vandalismos, e sexual), incivilidades
(humilhações, palavras grosseiras e falta de respeito) e violência simbólica
ou institucional compreendida como aquela que os alunos “suportam
através da maneira como a instituição e seus agentes os tratam” (p. 435)
expressam na forma de organizar as classes, de atribuir notas, de orientar,
de dirigir-se aos alunos etc., e, vivenciada entre outras coisas, como
desprazer no ensino, por parte dos alunos, até a negação da identidade e da
satisfação profissional, por parte dos professores.
Muitos são os motivos de abrigamento de crianças e adolescentes,
como também, muitas são as instituições que participam da rede de
atendimento às crianças e aos adolescentes abrigados, dentre elas as
escolas, hospitais, postos de saúde, Centros de Atenção Psicossocial, entre
outros. Muitas são as angústias partilhadas pelas equipes de profissionais
que trabalham diretamente com esse público, dentre elas vejamos: como
promover direitos humanos para crianças e adolescentes que precisam ter a
informação de que foram ou estão sendo afastados do convívio familiar e

163
para lá não podem mais retornar, haja vista a perda do poder familiar aos
pais e responsáveis dos mesmos? Quais as perspectivas de futuro dessas
crianças e adolescentes? O fluxo interinstitucional facilita no processo de
captação de famílias substitutas e/ou adotivas? Como trabalhar
efetivamente a inclusão social dos abrigados? A rede de atendimento se
apropria de suas responsabilidades quanto à garantia da qualidade de seus
serviços prestados?
O referido artigo iniciará com o resgate histórico que permeia esta
temática de abrigamento. Na seqüência vamos abordar os diversos desafios
que circundam a prática profissional quanto à promoção dos direitos
humanos numa perspectiva da inclusão social de crianças e adolescentes
abrigados. Por fim, discutimos a interação entre a instituição de
acolhimento e a rede de atendimento à criança e ao adolescente,
especificamente a escola.
2. Da Violação dos Direitos à Institucionalização: Uma
História de Avanços e Retrocessos
Diversos são os fatores que cruzam a vida de milhares de famílias
brasileiras, de maneira determinante para o afastamento da criança e do
adolescente do convívio familiar. “Os motivos de abrigamento mais citados
são pobreza (24,2%); violência doméstica (11,7%); dependência química
dos pais ou responsáveis, incluindo alcoolismo (11,4%); violência de rua
(7,0%); e orfandade (5,2%)” (GUEIROS e OLIVEIRA, 2005, p. 125).
Depois de notificado o direito violado, as crianças são
encaminhadas por órgãos do Poder Judiciário e salvo, em caráter
excepcional e emergencial, pelos demais órgãos que compõem o Sistema de

164
Garantias de Direitos, como o Conselho Tutelar, para equipamentos de
acolhimento institucional.
De acordo com a Secretaria dos Direitos Humanos, o Sistema de
Garantias de Direitos constitui-se na articulação e integração das instâncias
públicas governamentais e sociedade civil, na aplicação de instrumentos
normativos e no funcionamento de mecanismos de promoção, defesa e
controle para efetivação dos direitos da criança e do adolescente, nos níveis
Federal, Distrital, Estadual e Municipal. Este é composto por diversos
atores sociais, dentre estes: Conselho Tutelar, Centro de Referência
Especializado de Assistência Social, Juizado da Infância e Juventude,
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fóruns de
debate, Delegacia de Combate à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, profissionais que trabalham com público, sociedade civil
organizada, etc.
Depois de devidamente identificado o caso de violação de direito à
criança ou adolescente, o mesmo é encaminhado para entidade referenciada
em acolhimento institucional do município. Este equipamento precisa,
atualmente, estar inscrito no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, como também deve seguir orientações importantes do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS.
Sabemos que inúmeros equipamentos sociais que trabalham com
programa de acolhimento institucional possuem vícios históricos balizados
no assistencialismo e na filantropia e até hoje perduram com práticas que
vão de encontro com leis e normativas atuais.
Para esses equipamentos que estão circunscritos no “ranço
assistencialista” as atuais regulamentações são motivos de grande ameaça,
pois são vistos como dificultadores da ordem vigente. A angústia dos
militantes da causa dos direitos infanto - juvenis se torna ainda maior, ao

165
perceberem que neste cabo de guerra os únicos prejudicados nesse processo
de desconstrução legal são as crianças e adolescentes que se distanciam
cada vez mais de um atendimento digno e com a mínima qualidade que
precisa ser dispensada aos mesmos.
Essa realidade nos remete a outro aspecto negativo da
institucionalização de crianças e adolescentes: a falta de preparo técnico -
operacional de muitas entidades que compõem a rede de atendimento para
referida demanda. O despreparo é oriundo, majoritariamente, de relações
clientelistas estabelecidas nos abrigamentos de crianças e adolescentes em
nosso país.
Se faz necessário fazer um pequeno retrocesso histórico das formas
de institucionalização de crianças e adolescentes no Brasil. De acordo com
Rizzini & Rizzini
[...] no passado, as instituições que acolhiam crianças, como
hoje, ofereciam „asilo‟ ou „abrigo‟ para crianças órfãs ou
abandonadas (física e moralmente), em geral porque as
famílias não tinham recursos para mantê-las; eram os „lares‟,
„educandários‟, „internatos para menores‟, „orfanatos‟, entre
outras denominações, que foram sendo incorporados em
diferentes períodos históricos” (2004, p. 59).
As mesmas autoras afirmam que “proteger crianças e adolescentes
cujos direitos estejam ameaçados, de forma que os mesmos possam
desfrutar do direito a viver junto à sua família e comunidade, é um grande
desafio.” (2004, p. 09)
Com isso, teoricamente os orfanatos/educandários não deveriam
mais existir, entretanto podemos perceber muitos destes distribuídos em
todo país. Trata-se quase sempre de instituições de cunho religioso e/ou
assistencialista com uma percepção equivocada de acolhimento,
caracterizando-se em verdadeiros depósitos de crianças e adolescentes.

166
A aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA
possibilitou a ênfase no apoio à convivência familiar e comunitária e
destacou o caráter de brevidade e excepcionalidade na aplicação da medida
de abrigo. Diante do exposto, é necessário considerar o princípio de
Gueiros e Oliveira sobre família quando estes afirmam que a mesma “é uma
construção histórica e sociocultural cuja configuração como lócus de afeto e
de convivência entre pais e filhos é uma invenção da modernidade” (2005,
p. 118). O desenvolvimento da condição de proteção da família está
associada a fatores sociais, econômicos, culturais e psicológicos.
As destoantes desigualdades sociais presentes no bojo da família
brasileira e
[...] a crescente exclusão do mercado formal de
trabalho incidem diretamente na situação econômica
das famílias e inviabilizam o provimento de condições
mínimas necessárias à sua sobrevivência.
Consequentemente afeta sobremaneira a inserção
social dessa população, o que certamente traz
transtornos importantes à convivência familiar e
dificulta a permanência da criança em sua família de
origem, caso não contem com políticas sociais que
garantam o acesso a bens e serviços indispensáveis à
cidadania. (GUEIROS e OLIVEIRA, 2005, p. 119)
A crueldade do cenário descrito resulta muitas vezes na negligência
e abandono de crianças e adolescentes, pois seus genitores e responsáveis
estão inseridos na falta de acesso ao mercado trabalho como também na
ineficiência das políticas públicas que assegurem os mínimos sociais.
O grande paradoxo do abrigamento é que a pobreza não pode
justificar a perda ou suspensão do poder familiar (ECA - Art. 23. A falta ou
a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a
perda ou a suspensão do poder familiar), nem mesmo a medida de

167
abrigamento, salvo a excepcionalidade e provisoriedade do caso, mas esta é
vista como violação de direitos básicos, e em geral o poder público acaba
sendo o gerador de inserção de crianças e adolescentes e suas respectivas
famílias pobres no sistema de justiça, quanto à institucionalização dos
mesmos e privação destes do convívio familiar e comunitário.
O Brasil, atualmente, apresenta inúmeras questões sociais
referentes às crianças e adolescentes que consistem num dos segmentos que
mais requerem o estado da cidadania e do tratamento dos direitos humanos.
De acordo com Sales (2009) são alvo de uma violência social, expressa na
falta de projetos de vida, no desemprego, nas dificuldades de acesso a
serviços públicos de educação, saúde, cultura, esporte e lazer de qualidade,
que se traduzem como negligência planejada. O montante de crianças e
adolescentes até 17 anos que vivem em condição de pobreza, ou seja, que
fazem parte de famílias com renda per capta de até ½ do Salário Mínimo é
de 21,1 milhões; 34,4% do número total de jovens de todo país.
Essa conjuntura demonstra que “a esfera econômica vem
sobressaindo às políticas sociais, com as quais a Declaração dos Direitos
Humanos almejava colaborar para sua construção e consolidação”, declara
Vidal (2010, p. 237).
No tocante ao movimento de discussão e aprimoramento dos
serviços socioassistenciais, fortalecidos no Governo Lula, substanciadas
mudanças ocorreram, dentre elas podemos citar: a aprovação, em 2005, da
nova Política Nacional de Assistência Social, que propõe grandes mudanças
e reformulações no âmbito dos atendimentos prestados à população;
também se destaca a aprovação do Plano Nacional de Promoção, Proteção e
Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e
Comunitária - PNCFC, e do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo – SINASE, ambos aprovados, em 2006, pelo Conselho

168
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA e
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.
O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária - PNCFC,
diz respeito a um conjunto de ações propostas para serem desenvolvidas no
período de 2007 a 2015:
“a defesa deste direito dependerá do desenvolvimento
de ações intersetoriais, amplas e coordenadas que
envolvam todos os níveis de proteção social e busquem
promover uma mudança não apenas nas condições de
vida, mas também nas relações familiares e na cultura
brasileira para o reconhecimento das crianças e
adolescentes como pessoas em desenvolvimento e
sujeitos de direitos” (2006, p. 67).
Já o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE,
objetiva primordialmente o desenvolvimento de uma ação socioeducativa
sustentada nos princípios dos direitos humanos, constituindo uma política
pública destinada à inclusão do adolescente em conflito com a lei que se
correlaciona e demanda iniciativas dos diferentes campos das políticas
públicas e sociais.
Quanto às orientações vigentes, o Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome - MDS propõe um grande avanço: a reordenação
dos serviços de acolhimento institucional elaborando e aprovando nas
instâncias de direito, em 2009. O documento entitulado de Orientações
Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes apresenta
como objetivo a regulamentação, no território nacional, a organização e
oferta de serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, no âmbito
da Política de Assistência Social, cuja normativa parte “do princípio de que
toda situação de afastamento familiar deve ser tratada como excepcional e

169
provisória, sendo imprescindível investir no retorno das crianças e
adolescentes ao convívio com a família de origem e, esgotada essa
possibilidade, o encaminhamento para família substituta” (2009, p. 15).
Nesta mesma época foi também aprovado a nova lei de adoção Lei
Nº 12.010, de 3 de agosto de 2009, que sinaliza mudanças fundamentais
para o desenvolvimento das atividades dos equipamentos de acolhimento
institucional, podendo citar algumas:
§ 1º Toda criança ou adolescente que estiver
inserido em programa de acolhimento
familiar ou institucional terá sua situação
reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis)
meses, devendo a autoridade judiciária
competente, com base em relatório elaborado
por equipe interprofissional ou
multidisciplinar, decidir de forma
fundamentada pela possibilidade de
reintegração familiar ou colocação em
família substituta, em quaisquer das
modalidades previstas no art. 28 desta Lei.
§ 2o A permanência da criança e do
adolescente em programa de acolhimento
institucional não se prolongará por mais de 2
(dois) anos, salvo comprovada necessidade
que atenda ao seu superior interesse,
devidamente fundamentada pela autoridade
judiciária. (2009, p. 01)
Para a referida lei, as entidades que desenvolvam programas de
acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes
princípios: “I - preservação dos vínculos familiares e promoção da
reintegração familiar; II - integração em família substituta, quando
esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa.” (2009,
p. 13)

170
A mesma lei recomenda que enquanto não localizada pessoa ou casal
interessado na adoção, da criança ou do adolescente, sempre que possível, o
menor será colocado sob guarda de família cadastrada em programa de
acolhimento familiar. Tal ação exige um fluxo de atendimento entre os
órgãos que compõem o Sistema de Garantias de Direitos, objetivando
contribuir na agilidade do processo de captação de famílias, bem como na
garantia de direitos básicos ofertados ao público.
Como podemos perceber a paradoxal realidade institucional para
crianças e adolescentes busca avançar conjuntamente com as ordenações
legais, mas ao mesmo tempo se prende a vícios históricos que precisam ser
rompidos urgentemente, para assim promoverem os direitos humanos e a
inclusão social do referido público.
Uma vez institucionalizados, as crianças e adolescentes necessitam de
equipes técnicas que possam prover as exigências mínimas descritas
anteriormente, incluindo o processo de desligamento, que se inicia desde o
primeiro dia de abrigamento, até, de fato, a desinstitucionalização do
menor. Para isso é fundamental o resgate e fortalecimento da capacidade de
resiliência do público em questão, como também a busca incessante de
inclusão social nos mais diversos meios. O desafio é posto cotidianamente
para os diversos profissionais.
Na seqüência vamos partilhar experiências de uma instituição abrigo
vivenciadas com a rede de atendimento, especificamente, as escolas, desde
a implementação do equipamento de acolhimento até os dias atuais.
3. Fluxo de Atendimento entre os Atores da Rede da Criança
e do Adolescente Institucionalizado: Realidade ou Utopia?

171
O foco da discussão deste artigo está em crianças e adolescentes
destituídos do poder familiar, extintos do poder familiar e em processo de
destituição do poder familiar, que se encontram em cumprimento de medida
de abrigamento, em instituição de acolhimento (abrigo), sendo estes,
exclusivamente, atendidos na Sociedade para o Bem Estar da Família –
SOBEF, localizada no município de Maracanaú.
Das 20 crianças e adolescentes atendidos na SOBEF, 02 (10%)
foram extintos do poder familiar, ou seja, tiveram o consenso da família, 03
(15%) estão sendo analisados sobre a possibilidade do retorno ao convívio
familiar, 06 (30%) foram destituídos juridicamente do poder familiar (grupo
de irmãos) e 09 (45%) estão em processo de destituição do poder familiar,
ou seja, 80% dos usuários do programa são objetos desta pesquisa. Destes
12: existem 03 grupos de irmãos, o que totaliza 11 usuários e apenas 01 está
fora deste perfil.
Deste universo descrito acima, 85%, ou seja, 17 usuários do
programa são objetos de discussão deste artigo. O referido público
apresenta as seguintes características: encontram-se extintos do poder
familiar, foram destituídos do poder familiar e estão em processo de
destituição do poder familiar. Além disso, existem outros aspectos
relevantes e preponderantes para o debate: a) estão fora dos padrões
preponderantes de adoção no Brasil, tendo em vista o grande quantitativo
de grupos de irmãos (igual ou acima de 03 pessoas em cada grupo); b) a
faixa etária está entre 09 e 15 anos; c) são afrodescendentes. Esses fatores
são considerados dificultadores para uma possível adoção, tendo em vista,
que o perfil das crianças adotadas no Brasil é: menina, menor de 02 anos,
cor branca e não faz parte de grupos de irmãos.
A realidade ideal para estas crianças e adolescentes seria a não
possibilidade de institucionalização. Certamente este é um grande desafio

172
das Políticas Públicas para crianças em nosso país. Enquanto essa realidade
ideal não acontece de fato e de direito, acreditamos que através do
desenvolvimento de um bom trabalho intersetorial e transdiciplinar da Rede
de Atendimento à criança e ao adolescente e do Sistema de Garantias de
Direitos e das Políticas Públicas, é possível contribuir para iniciativas
positivas nas vidas destes meninos e meninas.
É necessário então definir intersetorialidade para termos o adequado
entendimento:
[...] intersetorialidade é articulação de saberes e
experiências com vistas ao planejamento, para a
realização e a avaliação de políticas, programas e
projetos, com o objetivo de alcançar resultados
sinérgicos em situações complexas. Trata-se, portanto,
de buscar alcançar resultados integrados visando a um
efeito sinérgico. (INJOSA, 2001, p. 105)
Neste sentido o objetivo do trabalho intersetorial da rede de
atendimento é a garantia de serviços que oportunizem a qualificação
profissional para os adolescentes, na perspectiva do desenvolvimento local,
bem como educação de qualidade para todos e serviços de saúde dignos,
dentre outros, teríamos uma esperança de vida futura melhor. Isso pode
acontecer dentro e fora dos circuitos institucionais, pois ao chegar no tempo
da desinstitucionalização dos abrigados possamos ter a consciência de ter
contribuído concretamente na formação destes como indivíduos.
A experiência da SOBEF com a rede de educação do município
encontra-se em processo de contínuo e tímido progresso, cujo ritmo se dá
devido a inúmeras tentativas de aplicabilidade de um fluxo adequado.
De acordo com Abramovav (2002), para entender o fenômeno da
violência nas escolas, é preciso levar em conta fatores externos e internos à
instituição de ensino. No aspecto externo, influem as questões de gênero, as

173
relações raciais, os meios de comunicação e o espaço social no qual a
escola está inserida. Entre os fatores internos, deve-se levar em
consideração a idade e a série ou o nível de escolaridade dos estudantes, as
regras e a disciplina dos projetos pedagógicos das escolas, assim como o
impacto do sistema de punições e o comportamento dos professores em
relação aos alunos (e vice-versa) e a prática educacional em geral.
Já o Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência
(UNICEF), por exemplo, entende que a questão da violência nas escolas
deve ser tratada sob a perspectiva da garantia de direitos e da qualidade da
educação. Isso significa que as escolas, assim como os serviços de saúde, a
assistência social, os Conselhos Tutelares e outros mecanismos e
instituições, são vistas como “agentes protetores” das crianças e dos
adolescentes, ou seja, têm um papel estratégico na defesa dos direitos dessa
faixa etária.
No início da relação entre SOBEF e a escola, nossas crianças
passaram e ainda passam, mas em menor quantidade, por muitas formas de
violência e discriminação. A nossa leitura era que os abrigados estavam
sendo estigmatizados, devido o fato de morarem em uma instituição de
acolhimento. Qualquer movimento mais brusco cometido por eles era
motivo de severas punições, seja a expulsão imediata da sala de aula, seja
pela suspensão de até 03 dias, sob a condição de retornarem depois de haver
uma conversa entre os técnicos das duas instituições.
Além das medidas punitivas realizadas pela escola, os demais alunos
que compunham o ambiente escolar se apropriavam de um discurso de
superioridade com relação aos abrigados, o que acarretou muitos desgastes
na relação das escolas com as nossas crianças e automaticamente com o
corpo técnico da SOBEF.

174
Em diversas observações realizadas pela equipe do abrigo,
percebemos que estas atitudes estavam se tornando rotineiras e iniciamos
um longo e persistente processo de discussão a cerca das discriminações
sofridas e dos requisitos para a aplicação das punições com o corpo docente
das escolas. Concordamos com a Abramovav (2002), quando esta afirma
que a violência escolar resulta da interseção de três conjuntos de variáveis
independentes: o institucional (escola e família), o social (sexo, cor,
emprego, origem socioespacial, religião, escolaridade dos pais, status
socioeconômico) e o comportamental (informação, sociabilidade, atitudes e
opiniões).
Percebemos, a partir de então, mudanças em algumas escolas, no
sentido de combater a discriminação sofrida pelos abrigados por parte de
alunos e professores. É válido salientar que tais mudanças impactaram
positivamente na relação entre abrigados e a escola, tendo em vista o
significativo e súbito interesse dos mesmos em participar das atividades
escolares; outro fator observado foi a melhoria no rendimento escolar em
alguns abrigados.
Infelizmente, observamos que algumas escolas continuavam a
perpetuar e qualificar suas posturas violentas e excludentes, não se
motivando a contribuir com esse processo de implementação de fluxo e
realização de atividades intersetoriais entre os equipamentos. Tais atitudes
impulsionaram os técnicos da SOBEF de solicitar a transferência dos
abrigados que lá estudavam.
Por fim, depois das devidas correções de rumos, não podemos
afirmar que as nossas crianças e adolescentes são os melhores alunos das
suas respectivas escolas, mas também não são os piores. De um universo de
20 abrigados apenas 01 reprovou e 01 ficou de recuperação, representando
um percentual de 10%.

175
4. Considerações Finais
Discutir sobre o acolhimento institucional de crianças e adolescentes
no Brasil, é levar em consideração a rede de atendimento socioassistencial
posta e o Sistema de Garantia de Direitos vigente, bem como as normativas
orientadoras e os marcos regulatórios. Muitos avanços foram conquistados,
mas muito precisa ser feito, seja por entidades governamentais, seja por
entidades não governamentais. O fato é que é o direito da criança e do
adolescente que está em jogo e por isso os movimentos sociais que lutam
por esse segmento buscam estratégias para exigir dos políticos a elaboração
e execução de projetos, programas e serviços que atendam efetivamente
esse público garantindo ações qualificadas.
A questão da institucionalização de crianças e adolescentes sinaliza
muitos desafios para os equipamentos de abrigamento, pois como afirma
Oliveira
[...] não basta atender ao ECA; é preciso cumprir o espírito da
lei, pois tanto quanto a missão institucional devem estar a
serviço das crianças, dos adolescentes e das famílias que
necessitem de proteção especial, não o contrário. Isso não vale
só para os abrigos, mas também para o Judiciário e o
Executivo; o Ministério Público, os Conselhos de Direitos, os
Conselhos Tutelares, dentre outros (2004, p. 47).
Podemos afirmar então que mesmo após 20 anos de implementação
do ECA muito ainda precisa ser feito, pois
[...] até por ser um instrumento de direitos humanos, as
resistências ao cumprimento do ECA deixam entrever o grau
de tensão entre as práticas político-jurídicas, sociais e
econômicas geradoras e/ou mantenedoras de desigualdades, e
a defesa efetuada pela sociedade civil democraticamente
organizada em torno da integralidade e exigibilidade do

176
sistema de garantia de direitos. O empenho incansável desses
setores consiste, de um lado, em tentar superar de vez a
cultura da discricionariedade, da arbitrariedade, e o caráter
ambíguo – entre a compaixão e a repressão – com que sempre
foram tratadas a infância e a juventude, como resposta esse
tipo de refrações da questão social no Brasil. De outro, a meta
é fortalecer uma cultura de direitos, embasada em garantias e
no paradigma da proteção integral de crianças e adolescentes,
como condição mesmo de uma sociabilidade emancipadora e
livre de violências (SALES, 2009, p. 237).
Finalizamos o artigo afirmando que é sempre bom descobrirmos que
mesmo envoltos de um mar de dificuldades, ainda podemos contribuir para
a garantia dos direitos humanos e para inclusão social de crianças e
adolescentes vítimas deste sistema desagregador, através de iniciativas
baseadas por princípios de intersetorialidade e trabalho coletivo e de justiça
social.
Referências Bibliográficas
AZEVEDO, Maria Amélia; GUERRA, Viviane N. de Azevedo. Violência
doméstica contra crianças e adolescentes. Um cenário em (des)
construção. UNESCO, p. 15 a 23.
BARBOSA, Rosangêla N. de Carvalho. A Política Pública da Economia
Solidária. In: A Economia Solidária como Política Pública: uma
tendência de geração de renda e ressignificação do trabalho no Brasil. São Paulo: Cortez, 2007.
BRASÍLIA. Plano de Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e
Comunitária - Secretaria Especial dos Direitos Humanos – Brasília – DF:
CONANDA, 2006.
________. Orientações técnicas: Serviços de acolhimento para crianças
e adolescentes, Brasília – DF: CONANDA, CNAS, MDS, 2009.

177
________. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo –
SINASE/Secretaria Especial dos Direitos Humanos – Brasília – DF:
CONANDA, 2006.
________ LEI Nº 10.097 - DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000 - DOU DE
20/12/2000) Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
__________. Lei Nº 12.010, de 03 de agosto de 2009. Dispõe sobre
adoção; altera as Leis nos
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente, 8.560, de 29 de dezembro de 1992; revoga
dispositivos da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943; e dá outras providências.
________. Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais –
Brasília- DF: CNAS, 2009.
CHARLOT, Bernard. A violência na escola: como os sociólogos franceses
abordam essa questão. Sociologias, Porto Alegre, ano 4, nº 8, jul/dez. 2002,
p. 432-443. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/soc/n8/n8a16.pdf.
Acesso em 10 abr 2011.
GUEIROS, Dalva Azevedo; OLIVEIRA, Rita de Cássia Silva. Direito à
convivência familiar. In: Serviço Social & Sociedade, Editora Cortez,
2005, p.117 a 134 ANO XXVI, 83
INOJOSA, Rose Marie. Sinergia em políticas e serviços públicos:
desenvolvimento social com intersetorialidade. Caderno FUNDAP: São
Paulo, 2001, n. 22, p. 102-110.
OLIVEIRA, Rita de Cássia. A história começa a ser revelada: panorama
atual do abrigamento no Brasil. In: Abrigo comunidade de acolhida e
socioeducação. Instituto Camargo Correa, Coletânea Abrigar, 2004, p 39 a
48
RIZZINI, Irene; RIZINNI, Irmã. Os questionamentos sobre as práticas de
internação de crianças nos anos 1980. In: A institucionalização de
crianças no Brasil. Edições Loyola, 2004, p. 45 a 61

178
SALES, Mione Apolinário. Política e direitos de crianças e adolescentes:
entre litígio e a tentação do consenso. In: Política Social, Família e
Juventude. Editora Cortez, 2009, p. 207 a 241.
SILVA, Enid R. da; ANDRADE, Carla C. Política Nacional de Juventude:
Avanços e Dificuldades. CASTRO Jorge Abrahão de, LUSENI Maria C. de
Aquino, ANDRADE Carla Coelho (organizadores). In: Juventude e
Políticas Sociais no Brasil. Brasília: IPEA, 2009.

179
PARA (RE) ENCANTAR A INFÂNCIA – perspectivas da
infância na pós -modernidade - proteção, direitos e autonomia.
Maria Dolores de Brito Mota
42
Julia Mota Farias43
Introduzindo
Trata-se de refletir sobre a idéia hegemônica partilhada sobre a
infância no imaginário do mundo ocidental moderno e na sociedade,
acompanhando as suas modificações e a constituição de um ideal de
infância idílica, relacionada com pureza, fantasia, alegria e brincadeiras,
constituindo uma fase da existência humana vivida num mundo oposto ao
mundo adulto. Esse ideal contrasta com a realidade, uma vez que criança
está inserida em classes sociais vivendo experiências desiguais de infâncias.
A configuração de movimentos em defesa das crianças em situação de
violência e violação de direitos demarcou o surgimento de uma nova era em
que a criança emerge como sujeito de direitos, portadora de uma cidadania
especial. Superando-se a posição desses sujeitos como objeto de
intervenção, cuja existência era reconhecida apenas em contextos de
vulnerabilidade ou de risco social (violência, exploração, extrema pobreza,
morador de rua etc.), configurando-se uma nova condição em que a criança
e o adolescente se formalizam como cidadão de direitos e deveres. No seio
desse novo contexto social emergem possibilidades de uma infância
garantida e consciente.
A construção da infância – encantando e desencantando
42
Socióloga, Professora Associada da Universidade Federal do Ceará,
Coordenadora do NEGIF, Pesquisadora CNPq. 43
Psicóloga, Residente Multiprofissional em Atenção Hospitalar à Saúde em área
de concentração em saúde mental, mestranda em Psicologia da UFC.

180
A idéia hegemônica partilhada sobre a infância no imaginário social
brasileiro e no mundo ocidental moderno é idílica, relacionada com pureza,
fantasia, alegria e brincadeiras, constituindo uma fase da existência humana
vivida num mundo oposto ao mundo adulto. Este último é concebido como
a fase da responsabilidade, do trabalho, da racionalização e das escolhas.
Para uma reflexão crítica sobre a infância é preciso inicialmente entender
que este período do desenvolvimento humano é uma construção social ou
uma invenção histórica. Essa perspectiva sócio histórica em busca de
compreender a infância foi desenvolvida primeiramente por Ariés (1981),
que reconhece o surgimento da noção de infância no século XVII, período
em que se verificam as mudanças para a sociedade moderna. No decorrer
dos períodos históricos, diferentes concepções sobre o sujeito infantil foram
sendo construídas de acordo com os valores, crenças e características das
sociedades. Assim, é preciso considerar as condições sociais das crianças,
raça/etnia, classe social, sexo e as estruturas sociais, a cultura, a tecnologia
e a organização social para compreendermos a configuração e os
significados de ser criança e vivenciar a infância em uma determinada
sociedade.
O desenvolvimento da sociedade capitalista trouxe mudanças
sociais que impactaram diretamente sobre o lugar e a representação da
criança, que foi deixando de ser considerada como um adulto em miniatura,
para ser vista como um ser em desenvolvimento. Ariès (1981), em seu
estudo mostra que no século XII a criança aos sete anos já assumia funções
úteis realizando tarefas na economia familiar, vestindo-se e participando de
festas e reuniões como adultos, preparando-se através das relações com os
mais velhos para assumir funções da vida adulta na sociedade. Este
comportamento a partir do século XVII foi se transformando visivelmente,

181
com o combate ao infanticídio seletivo, passando a criança ser educada e
“paparicada” pela própria família até passar a ocupar um lugar especial de
cuidado e preparação para o que deveria vir a ser no futuro, constituindo
uma experiência num lugar separado. Naquele novo contexto da
modernidade, a “paparicação” é substituída pelo apego e a
“escola substituiu a aprendizagem como meio de
educação. Isso quer dizer que a criança deixou de ser
misturada aos adultos e de aprender a vida diretamente,
através do contato com eles. A despeito das muitas
reticências e retardamentos, a criança foi separada dos
adultos e mantida à distância numa espécie de
quarentena, antes de ser solta no mundo” (Ibdem, p. 6)
Ao criar um mundo especifico para as crianças isso não significa
que todas as crianças foram alocadas a ele e tiveram as mesmas
experiências de infâncias. Na verdade esse novo lugar e esse novo
significado da infância vão estar relacionados com a classe social, a cultura,
a religião entre outras condições, que vão posicionar as crianças diante do
modelo dominante de ser criança. A idéia predominante sobre a infância
cristaliza-se no imaginário social como o idílico e ideal mundo infantil, mas
não se confunde com a realidade onde as crianças vivem situações diversas
e antagônicas a esse mundo imaginado de fantasias, brincadeiras,
ingenuidade e proteção.
Esses elementos configuram um modo de ser criança e a infância,
como uma etapa cronológica da existência humana marcada pela felicidade,
ausência de problema, ludicidade e plena dependência dos adultos. Emerge
a infância dependente e submetida ao adultocentrismo, sem vontade
própria, com o dever de “obedecer aos mais velhos” que sabem “o que é
melhor para ela”, devendo se preparar para ser um adulto responsável capaz
de cumprir o seu papel social. Partilhavam dessa perspectiva de

182
incapacidade da criança também outros grupos sociais como os índios e as
mulheres, que estavam deslocados da cidadania e não tinham a atribuição
de autonomia socialmente reconhecida. Rocha (2002), analisando o
percurso histórico da criança com base em Ariés observa que a mudança
nos cuidados a partir do século XVII fará emergir a criança mística,
comparada com anjos, com pureza e passando a ter um papel central na
preocupação da família e da sociedade, mas que representa a história de
meninos ricos fazendo referência a uma outra situação de infância das
classes populares.
[...] percebe-se que a história apontada por ARIÈS é
uma história de meninos ricos, confirmando uma
educação diferenciada às duas infâncias, da criança
rica para a criança pobre... Por outro lado, é possível
inferir a existência da infância pobre percebida nas
crianças do povo, filhos de camponeses e artesões,
vivendo em espaços compartilhados com todos,
participando das conversas com os adultos, nas praças
com seus folguedos infantis, nas reuniões noturnas,
sem modos e talvez vestidas como adultos. Esta
caracterização das crianças do povo como indivíduos
sem modos, livres, com comportamentos inadequados,
deve-se ao fato de que o conceito de pudor e vergonha
são valores que foram sendo construídos a partir das
relações das famílias abastadas, sendo uma relação que
se constrói verticalmente das classes altas para as
baixas. Todavia, isso não quer dizer que o sentimento
ou a educação, mesmo informal, das crianças pobres
não existisse (p. 58).
Podemos afirmar que a infância tem classe social, levando-nos a
buscar compreender as infâncias e as crianças com existências
diferenciadas. Além da classe social é também necessário considerar o
gênero, a etnia e a condição física como fatores que instituem condições
particulares de vivencia pessoal e coletiva. Afirma Rocha (2002, p. 61) que:

183
Temos registros de meninos e meninas com suas
histórias marcantes e presenciamos a infância de
muitas dessas crianças que vivem à margem da
sociedade, experimentando o abandono, os maus-
tratos, a pobreza, sendo exploradas no trabalho infantil,
na mídia, no abuso precoce da sua sexualidade e nas
tentativas de modelagem à imagem e semelhança do
adulto. Vemos crianças que já lutam pela
sobrevivência, por uma vida digna e uma educação
básica de qualidade. E também as crianças presas em
castelos-condomínios, rodeadas por videogame,
computadores, televisão, supervisionadas
constantemente por babás e professoras interessadas
em efetivar uma educação restrita aos seus padrões
sociais.
Esse olhar mais abrangente é um chamado para uma compreensão
das particularidades de ser criança e das vivências diferenciadas da infância
relacionadas a condições sociais, econômicas, culturais e físicas diversas,
responsáveis por uma variedade de existências da população infantil.
Variedade que esconde e revela ao mesmo tempo desigualdades e
preconceitos instituindo três grandes campos de posicionamento das
crianças, o mercado em que elas são consumidoras de produtos e serviços, a
polícia em que são tratadas como problemas por envolvimento com a
violência e a criminalidade, e a política em que estão colocadas como
sujeitos de direitos em busca de cidadania.
A infância pós moderna – o alegórico encanto do mercado
No cenário do tempo presente, desde os anos 1980 até o momento
atual (março de 2011), parece que os limites que separavam o mundo da
infância do mundo adulto estão diluídos. Crianças e adolescentes vivem os
mesmos espaços dos adultos, seja porque têm uma vida cheia de atividades,

184
valores, deveres e compromissos a cumprir, partilhando de um estilo de
vida marcado pelo excesso de informação e de demandas ditadas pela mídia
e pelo mercado, seja porque estão envolvidos proximamente em lugares e
práticas como a violência e a criminalidade urbana e, são vítimas de
engrenagens sociais violadoras de direitos como tráfico de seres humanos,
exploração sexual comercial, violência policial entre outras, de modo que
parece não haver mais uma infância que se acredita deva ser protegida e
afastada desses problemas. Assim, estaríamos testemunhando um retorno ao
tempo medieval em que a infância é vivida como a vida adulta? Postman
(1999) define esse momento atual como o desaparecimento da infância que
teria se iniciado nos anos 1950.
Em suas reflexões Postman (1999), atribui às invenções
tecnológicas, especialmente das telecomunicações, o desenvolvimento de
condições para o desaparecimento da infância. Segundo o autor, a
revolução tecnológica, a partir do telégrafo, afetou o controle que a família
e a escola tinham sobre as crianças, principalmente no aspecto de que com a
televisão não é possível controlar as condições em que a criança recebe as
informações e quais os efeitos de sua recepção. Destaca a televisão, que
destrói a linha divisória entre infância e idade adulta de três maneiras:
primeiro não requerendo treinamento para aprender sua forma; segundo não
fazendo exigências especiais nem à mente nem ao comportamento; e
terceiro não segregando seu público. Para o autor, a família se enfraqueceu
quando os pais perderam o controle da informação que seus filhos recebem,
de tal forma que “a mídia reduziu o papel da família na moldagem dos
valores e da sensibilidade dos jovens” (p.164). Nessa perspectiva, é
possível observar outras práticas sociais em que as fronteiras desses dois
mundos estão muito próximas.

185
As crianças se vestem praticamente como adultos, as brincadeiras
tem novos formatos como os play space dos shopping centers, os
computadores e as lan houses, além dos índices de crimes envolvendo
menores como autores e vítimas, e crianças e adolescentes fazendo sucesso
na carreira de modelos, artistas etc. É comum ouvirmos a expressão
“adultização da infância” relacionado à “infantilização dos adultos”. Esse
fenômeno precisa ser melhor investigado, pois são indícios de uma nova
relação entre idade cronológica e vida social, talvez ligado a um
encurtamento do tempo da infância, aumento da adolescência e da
juventude, aliado a uma ressignificação do envelhecimento.
Esse cenário de mudanças geracionais forma uma paisagem etária
ainda em curso e que vem causando estranhezas e indagações há mais de
uma década como expressa Sarlo (1997) em trabalho que chama a atenção
para a infância como uma experiência que praticamente desapareceu,
estando comprimida por uma adolescência muito precoce e uma juventude
que se prolonga aos 30 anos. Não se pode responsabilizar apenas a mídia e
as comunicações pelo desencadeamento desse fenômeno, mas sem dúvida
as formas de vida social estão diretamente afetadas pelo conjunto da
indústria cultural, que organiza e significa as práticas de vida que segundo
Sarlo (1997), fragilizaram a escola uma vez que “a cultura sonha, somos
sonhados por ícones da cultura. Somos livremente sonhados pelas capas de
revistas, pelos cartazes, pela publicidade, pela moda: cada um de nós
encontra um fio que promete conduzir a algo profundamente pessoal, nessa
trama tecida com desejos absolutamente comuns” (p.26).
Assim, nos tornamos o que sonham para nós, processo que
Baudrillard (1995) explica como um tipo de consumo que não se organiza
em torno das diferenças individuais, ao inverso, são estas diferenças que se
organizam em torno de modelos comunicados pelo sistema de consumo.

186
A infância mudou de lugar social, não sendo mais apenas uma
categoria que proporciona felicidade e inocência, (Sarlo, 1997), mas se
torna consumidora, e uma vez que o público infantil é agora consumidor,
que relação a sociedade desenvolve para com elas? Proteção, preservação,
cuidado ou exploração, apropriação e exigências?
Emmel e Krul (2010, p. 2) afirmam que:
As palavras infância e cultura, neste estudo são escritas
no plural, pois conforme Barbosa (2006, p. 82) no
Brasil conviveram e convivem diferentes infâncias,
passadas por uma história de desigualdades sociais, de
dificuldades, mas também uma história de brincadeiras
e reconhecimento social.
Compactuando com esses autores, pensamos uma “concepção de
escolas como “máquinas de sonho” (SIMON, 1995) enquanto conjuntos de
práticas sociais, textuais e visuais planejadas para provocar a produção de
significados e desejos que podem afetar a idéia que as pessoas têm de suas
futuras identidades e possibilidades” (EMMEL e KRUL, 2010, p. 4).
Como professores, podemos contribuir para um modo de pensar e de agir
que leve em conta os campos culturais das identidades das infâncias
presentes em nossas realidades escolares e familiares. Consideramos que
não há apenas um movimento e uma única identidade de infância e
voltamos nossos olhares para algumas expressões de resistência ou de
criação de outros valores e significações para as crianças e as infâncias que
não a tutela de seres idílicos e incapazes, nem tampouco a exploração de
sujeitos às lógicas de uma sociedade organizada para o consumo.
Re-encantando as infâncias? Outras formas de pensar e fazer
infâncias

187
Do interior da engrenagem que envolve as crianças e os
adolescentes num contexto de violência, de criminalidade e de mercado,
reaproximando-os do chamado “mundo adulto”, emergem expressões de
uma infância e adolescência como experiência de brincadeiras e de fantasia,
não como elementos idílicos e irreais, mas com princípios éticos e atuais,
com valores de solidariedade, de consciência ambiental, de saúde, de
criatividade, de direitos humanos. Assim, outra infância passa a ser gestada
a partir da ação e do entendimento de pessoas e de movimentos sociais que
reposicionam as imagens e as vivências de crianças e adolescentes
respaldados em conceitos atuais de cidadania e de condição humana, não
apenas no campo da política, mas estendendo-se a outros campos sociais
como a cultura e o até mesmo o mercado.
Historicamente as crianças e adolescentes pobres no Brasil sempre
foram vistos como problema cuja ação primordial do estado se centrava na
internação e no controle, enquanto aqueles de classes mais privilegiadas
eram vistos como ingênuo e incapazes que requeriam total proteção. Essa
distinção pode ser identificada na atuação do departamento Nacional da
Criança – DNCr, criado em 1940 que tinha um caráter preventivo
funcionando como política de proteção à criança e a maternidade, enquanto
o Serviço de Atendimento ao Menor – SAM, ligado ao Ministério da
Justiça, destinava-se aos “menores” (infratores etc.) que recebiam
tratamento de castigos, torturas, maus tratos (XAVIER, 2008).
Vale ressaltar o período mais recente diante do qual, setores sociais
democráticos vão se posicionar criticamente dando origem, nos anos 1980,
aos primeiros movimentos em defesa dos direitos das crianças e
adolescentes numa perspectiva de instituição da criança como sujeito de
direitos. Destaque para o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de

188
Rua, criado em 1982, instituindo-se como entidade civil em 1985, que teve
atuação decisiva na mobilização social para a inclusão de direitos das
crianças na Constituição de 1988 e na formulação do Estatuto da Criança e
do Adolescente em 1990. Essas legislações estabeleceram dois conceitos
fundamentais, o de criança sujeito de direitos e o de criança como ser em
condição especial de desenvolvimento.
Posicionar crianças e adolescentes como sujeitos de direitos
institui-os como portadores de uma cidadania especial, superando-os como
objetos de intervenção, cuja existência não é reconhecida apenas quando
estão em situação de vulnerabilidade ou de risco social (de violência, de
exploração, de extrema pobreza, de rua etc.), por uma situação a que estão
colocados, mas sim por serem portadores de direitos, titulares de direitos e
de obrigações. O entendimento de ser portador de uma condição especial de
desenvolvimento busca superar o paradigma de incapacidade e do
paternalismo de modo a atribuir um atendimento diferenciado inclusive na
imputabilidade da lei. A construção da cidadania se dá com atribuição de
direito e de responsabilidade; este é o desafio.
Não apenas do ponto de vista do campo político emergem outras
infâncias e adolescências, mas também em outros campos sociais. Podemos
destacar que a imagem prevalecente das crianças e adolescentes tem se
assemelhado à dos adultos, desde as roupas, sapatos, acessórios e até
maquiagem. O mercado dispõe de uma oferta de produtos do vestuário
infantil que reproduzem as formas e as modas dos adultos, especialmente
para as meninas. Encontramos maquiagem para crianças, calçados com
salto alto (saltinho), bolsas, vestimentas (shorts, saias, vestidos, blusas,
tops) que permitem a produção de uma imagem de menina e adolescente
sensual e sexualizada como a de mulheres adultas. Paterno e Müller (2009)
discutem esse fenômeno como uma erotização da infância, relacionada às

189
formas atuais de sociabilidade em que as crianças substituem a convivência
com os pais pelos programas de televisão, as redes virtuais, a mídia e o
mercado.
Essa questão nos remete à reflexão sobre uma produção cultural
relacionada ao universo infantil, que reflete as imagens e projeções dos
adultos da sociedade ou de parcelas dela, sobre a criança e o adolescente.
Desse modo, é possível encontrar na televisão e no campo da arte
programas e produtos culturais infantis que formam um segmento
alternativo desvelando a realidade como um campo de conflitos, em luta.
Alguns programas televisivos como Cocoricó, e produção musical, como o
grupo Palavra Cantada são expressões de um imaginário infantil que
representa uma forma de ser criança integrada ao mundo atual, com
conteúdos relacionados com o conhecimento sobre problemas sociais,
ambientais, práticas de vida e de relacionamento que representam valores
de respeito, cuidado, consciência cívica, solidariedade, participação, ao
mesmo tempo em que preserva a infância de exposições, pressões e formas
de agir mais próprias do mundo adulto. Estimulando a brincadeira coletiva,
a socialidade, o aprendizado de conhecimentos básicos, mas também a
consciência de direitos e deveres, de reconhecimento e respeito à diferença,
a habilidade com a técnica e também a criatividade. O lúdico é
acompanhado por um despertar para os perigos e a auto-preservação,
necessários num contexto em que crianças são expostas a situações de
violência e violação de direitos.
Na sociedade do presente não basta mais uma infância idílica e uma
criança ingênua, mas uma infância garantida e uma criança consciente de si
e do seu mundo.
Referências Bibliográficas

190
ARIÉS, P. História social da criança e da família. Trad. Dora Flaksman.
2.ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1981.
ROCHA, Rita de Cássia Luis da. História da Infância: Reflexões a cerca de
algumas concepções correntes. Revista Analecta, Guarapuava – Paraná, v.
3, n. 2, p. 51-63, jul/dez 2002.
SARLO, Beatriz. Cenas da vida pós-moderna: intelectuais, arte e
videocultura na argentina. 3. ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997.
EMMEL, Rúbia; KRUL, Alexandre José. Reflexões acerca da produção de
identidades culturais na infância pós - moderna. Disponível em:
http://www.unicruz.edu.br/15_seminario/seminario_2010/CCHC/REFLEX
%C3%95ES%20ACERCA%20DA%20PRODU%C3%87%C3%83O%20D
E%20IDENTIDADES%20CULTURAIS%20NA%20INF%C3%82NCIA%
20P%C3%93S-MODERNA.pdf
XAVIER, Aracely. As ações, estratégias, lutas e desafios do movimento de
defesa dos direitos das crianças e adolescentes no Espírito Santo.
Dissertação de Mestrado em Políticas Sociais da Universidade Federal do
Espírito Santo. Vitória, 2008. Disponível em:
http://web3.ufes.br/ppgps/sites/web3.ufes.br.ppgps/files/Aracely%20Xavier
.pdf. Acesso em 15 jul de 2011.
PATERNO, Kelly A. V. e MÜLLER, Verônica R. Normalização da
erotização da infância: cotidiano escolar e familiar. Seminário de Pesquisa
do PPE, 8 e 9 de jun 2009. Disponível em:
http://www.ppe.uem.br/publicacoes/seminario_ppe_2009_2010/pdf/2009/4
1.pdf

191
Sobrevivência Ameaçada: Panorama dos Assassinatos de Jovens
em Fortaleza
Rita Claudia Aguiar Barbosa 1
Rafaela Menezes Martins 2
Rafael Leite Neves3
INTRODUÇÃO
Este trabalho estuda a violência no município de Fortaleza e região
metropolitana, e tem por objetivo analisar a mortalidade por assassinatos de
jovens com idades entre 12 e 24 anos. Trata-se de uma pesquisa
quantitativa e documental, de caráter exploratório, que mostra dados
preliminares acerca de homicídios de jovens no período de 2009 e 2010.
Nos últimos anos a violência juvenil tem sido reconhecida como um
fenômeno de âmbito nacional que não se encontra mais restrito apenas nos
grandes centros urbanos, sendo registrada inclusive em pequenas
localidades da zona rural. Essa violência, traduzida em óbitos por
assassinatos, apontam nas últimas décadas uma diminuição da idade entre
os jovens vitimados nesse tipo de crime. No município de Fortaleza e
região metropolitana, os resultados obtidos nesse estudo indicam que 51%
dos jovens assassinados tinham idade entre 21 e 24 anos e desses, 81%
eram do sexo masculino. Quanto ao agressor, 62% eram do sexo masculino.
Os principais motivos alegados pelo agressor ao cometer o crime são em
ordem decrescente drogas e acerto de contas (17%); assalto (10%);
vingança e discussão banal (7%); briga de gangue (6%); outros ( 11% ) e
não mencionados ( 25% ). As armas de fogo foram as principais
responsáveis pelos assassinatos (84%).Os dados apontam a realidade

192
perversa a que estão submetidos os jovens de Fortaleza e região
metropolitana, onde lhe é negado o direito a chegar na adultice.
O mapeamento da violência juvenil em Fortaleza e região
metropolitana é um recorte do projeto de extensão da Hemeroteca do
NEGIF, desenvolvido no Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Gênero,
Idade e Familia-NEGIF/UFC. Esse projeto, iniciou-se em 1999, e tem como
objetivo disponibilizar um acervo para consulta da comunidade acadêmica
e sociedade em geral, seja para leitura como também pesquisa.
O acervo da hemeroteca se constitui de reportagens sobre os temas
estudados no núcleo, que são coletadas através da imprensa escrita
cotidiana que são os dois jornais de maior circulação em Fortaleza (Diário
do Nordeste e O Povo). Dentre os temas estudados está o da violência
juvenil.
O material escrito é fonte clássica de pesquisa para todo cientista
social que utiliza de textos e material de arquivo ou imprensa constituído
como fontes secundárias. Ao nos servirmos de notícias de jornal, portanto,
não inauguramos um método. Valemos-nos dos dados que elas apresentam,
e que suscitam questões ao pesquisador (AlVIM, PAIM, 2000).
Em Fortaleza e região metropolitana, a grande incidência de óbitos
por assassinatos, de jovens e praticados por jovens, tem sido um dado desse
fenômeno urbano da contemporaneidade divulgado nos jornais. Portanto
acreditamos na possibilidade de utilização desse modelo analítico como
instrumento a fim de auxiliar o recorte da realidade a ser estudada.
É importante salientar que, o conceito de violência utilizado nesse
estudo corresponde ao do óbito por assassinato, que para o SIM
(Subsistema de Informação sobre Mortalidade) é considerado como morte
por “causa externa”, que são os óbitos por assassinatos, acidentes,
envenenamento, queimadura, afogamento ,etc.

193
A violência não é um fenômeno da contemporaneidade. A história
das sociedades é marcada por manifestações diferentes de violência, com
características variáveis no tempo e no espaço.
As culturas e sociedade apresentam definições
diferentes de violência, pois essas definições
dependerão do contexto, do tempo e dos lugares
ocorridos. A violência pode ser percebida da mesma
maneira formando um fundo comum nos valores éticos
sendo “é percebida como exercício da força física e da
coação psíquica para obrigar alguém a fazer alguma
coisa contraria a si, [...], causando-lhe danos profundos
e irreparáveis, como a morte, a loucura, a auto-
agressão ou a agressão aos outros” (CHAUÍ, 2000,
p.336-337).
Nesse estudo objetiva-se analisar dados de mortalidade por
homicídios em Fortaleza e região metropolitana no período 2006 a 2011.
No que diz respeito à Metodologia do estudo foi feita uma análise
quantitativa e documental. Segundo Bandeira (2005), a pesquisa
documental é um método de tratamento de dados, que envolve coleta,
organização, classificação, seleção e análise de informações
consubstanciadas em documento. Possui uma abordagem muito ampla na
medida em que possibilita o manejo de toda uma diversidade de
informações sistemáticas, comunicadas de inúmeras [...] como fonte
durável de comunicação.
A partir da década de 1970, Fortaleza vem vivenciado uma intensa
transformação que tem se traduzido um aumento elevado de sua população,
preponderância das atividades terciária na sua economia, e uma intensa
integração na economia globalizada.

194
Justapostos a esses aspectos que poderíamos considerar como de
indicadores de modernidade, a cidade apresenta um imenso hiato social
entre ricos e pobres, que se reflete na elevada concentração de renda,
crescimento desordenado da cidade, das áreas periféricas, precarização do
trabalho ou inexistência do mesmo, e aumento considerável da violência
urbana, em especial dos crimes contra a pessoa, mais particularmente os
homicídios contra Jovens.
A violência urbana, aqui retratada em numero de assassinatos, tem-
se se mostrado não somente como um problema de segurança pública, mas
como um fenômeno social que tem atingido de modo significativo grande
parte da população e se alastrado com velocidade surpreendente para
municípios cada vez menores.
Pires (1983), corrobora com essa afirmação quando sugere que no
Brasil a violência não está apenas nas grandes cidades, atinge também as
pequenas localidades. A lógica do capitalismo, o desenvolvimento da
indústria, ocasionou uma super população nos centros urbanos, e tem como
resultado a selvageria, a agressividade, onde nem todos podem ter acesso a
determinados bens.
O aumento da violência no Brasil divulgada no Mapa da Violência
dos Municípios (2006), indica que na década de 1994/2004, o número total
de homicídios registrados no Brasil passou de 32.603 para 48.374
representando um crescimento superior ao da população, que foi de 16,5%
nesse mesmo período. Sendo os jovens as principais vítimas,
compreendendo a faixa etária de 15 a 24 anos de idade.
Os jovens que vivem em condições econômicas mais precárias são
os que mais sofrem das adversidades, como também são mais excluídos de
bens e serviços individuais e coletivos de consumo e expostos a riscos
sociais maiores do que os outros jovens de regiões mais privilegiadas.

195
Reis (2000), apud Novaes (1998) chama atenção para esse fato
onde ressalta que os jovens nascidos a partir dos anos de 1970 foram
“socializados em um tempo caracterizado pelo aumento da chamada
violência urbana, o que traz conseqüências para toda uma geração: os
excluídos da cidadania são mais vulneráveis aos efeitos mais cruéis da
criminalidade violenta
Na cidade de Fortaleza, o fenômeno da violência juvenil também
tem se mostrado evidente. Matéria divulgada pelo jornal O Povo trás um
estudo realizado pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a
educação, à ciência e a cultura) mostrando que o número de homicídios de
jovens na faixa etária de 15 a 24 anos em Fortaleza cresceu 88,2% entre os
anos de 1994 e 2004, o que representa 127 mortes por homicídio em 1994,
e 239 no ano de 2004 (CAMELO, 2006).
Numa análise das taxas de homicídios nas capitais Brasileiras no
período de 1998 a 2008 Waiselfisz (2011), aponta que várias capitais
tiveram aumentos expressivos nas taxas de Homicídio (em 100 Mil) 15 a 24
Anos de Idade, dando a entender situações muito diferenciadas de
tratamento da segurança pública e, junto com ela, as questões relativas à
juventude. Maceió e Salvador aparecem no topo, com incrementos
altamente preocupantes. Porém, não são menos preocupantes os também
elevados incrementos de São Luís, Curitiba ou Florianópolis. Para Fortaleza
a taxa foi de 114,4%, indicando um crescimento considerável no período de
dez anos.
A violência juvenil não tem se restringido a Fortaleza. Os demais
municípios do Estado do Ceará já apresentam dados preocupantes com
relação a esse fato. Na região metropolitana, observa-se que a mesma tem
presenciado um crescimento populacional considerável, decorrente muitas
vezes da migração rural ou pelo aumento do preço da terra na cidade sede.

196
Em busca de melhores condições de vida essa população passa a residir em
um espaço desprovido muitas vezes de condições mínimas de
sobrevivência. Verdadeiras cidades dormitórios essas regiões não tem
conseguido suprir a demanda de serviços públicos essenciais.
Metodologia / Materiais e Métodos
Para a realização deste trabalho foram utilizadas informações
relativas a óbitos por assassinatos de jovens de 12 a 24 anos, publicados nos
jornais O Povo e Diário do Nordeste do acervo da Hemeroteca do NEGIF,
relativos ao período de 2006 a 2011.
A análise documental enfoca o uso do jornal como fonte de dados
capaz de reconstituir cotidianamente o passado, podendo assim, completar e
enriquecer o uso de outras técnicas de coleta de informações (BANDEIRA,
2005).
Em um segundo momento esses dados foram repassados para fichas
a fim de sistematizar as notícias coletadas. Cada ficha continha campos de
questões acerca dos jovens assassinados, dos que cometeram o crime e
sobre as condições da ocorrência do óbito.
Posteriormente utilizou-se o programa Microsoft Acces afim de
construir um banco de dados com o material coletado das fichas.
Para análise dos dados, fez-se uso da estatística descritiva, por meio
de tabelas, usando o programa Microsoft Excel.
Resultados e Discussão
Pela dimensão e complexidade assumida no Brasil atual, a violência
expressa muitas vezes em homicídios, exige uma reflexão sobre os sujeitos
envolvidos.

197
Nas últimas décadas presenciamos um novo padrão de mortes de
jovens. Segundo Waiselfisz (2011), apud Vermelho e Mello Jorge (1998),
estudos históricos realizados em São Paulo e no Rio de Janeiro mostram
que as epidemias e doenças infecciosas – as principais causas de morte
entre os jovens há cinco ou seis décadas –, foram progressivamente
substituídas pelas denominadas “causas externas” de mortalidade,
principalmente, acidentes de trânsito e homicídios. Em 1980, as “causas
externas” já eram responsáveis por aproximadamente a metade (52,9%) do
total de mortes dos jovens do país. Vinte e oito anos depois, em 2008, dos
46.154 óbitos juvenis, 33.770 tiveram sua origem em causas externas, pelo
que esse percentual elevou-se de forma drástica: em 2004, quase ¾ de
nossos jovens (72,1%) morreram por causas externas.
Na cidade de Fortaleza e região metropolitana, no período de
análise, dos jovens assassinados 22% encontrava-se na faixa etária de 12 a
15 anos. Percebe-se que os mesmos encontra-se no inicio de um novo ciclo
de vida: adolescência. Já os jovens se encontram entre 21 e 25
correspondem a 51% dos assassinados. (Tabela 01)
Tabela 01 – Número de jovens que foram assassinados por faixa
etária.
Faixa etária N %
12 a 15anos 25 22
16 a 20 anos 58 27
21 a 24 anos 30 51
Total 113 100
Fonte: dados primários da pesquisa
De acordo com a tabela 2 e a tabela 3 percebe-se a preponderância
do sexo masculino tanto dos jovens assassinados, 81%, como os que

198
causaram o óbito, 64%. Vale, porém salientar que no que diz respeito a
participação da mulher nessa pratica de crime é irrelevante( 2%).
Giddens (2010), ao discutir sobre as razões que levam a
diferenciação no padrão de violência praticados entre os sexos, argumenta
que atualmente, tanto os traços de “feminilidade” como o de
“masculinidade” são vistos, em grande medida, como produtos sociais.
Muitas mulheres são socializadas para dar valor à qualidade na vida social,
como cuidar dos outros e manter relações pessoais, diferentes das que são
valorizadas para os homens.
Ainda segundo o autor, é importante ressaltar, é o fato de o
comportamento das mulheres serem frequentemente confinado e controlado
de modo distinto dos das atividades masculinas, através da influencia da
ideologia e de outros fatores- como a idéia de “boa menina”.
Tabela 02 – Número de jovens assassinados por sexo
Sexo do agredido N %
Masculino 91 81
Feminino 22 19
Total 113 100
Fonte: dados primários da pesquisa
Tabela 03 – O sexo do agressor
Sexo do agressor N %
FEMININO 2 2
MASCULINO 76 64
NÃO MENCIONADO 35 31
Total 113 100
Fonte: dados primários da pesquisa.

199
No que diz respeito óbitos por armas de fogos no Brasil, os
registros do SIM (Subsistema de Informação sobre Mortalidade) permitem
verificar que, entre 1979 e 2003, acima de 550 mil pessoas morreram
resultado de disparos de algum tipo de arma de fogo, num ritmo crescente e
constante ao longo do tempo. Das 550 mil mortes por armas de fogo,
205.722, isto é, 44,1%, foram jovens na faixa de 15 a 24 anos. Esse dado
adquire sua devida dimensão se consideramos que os jovens só representam
20% da população total do país. Isto indica que, proporcionalmente,
morrem mais de o dobro de jovens vítimas de armas de fogo do que nas
outras faixas etárias (WAISELFISZ, 2005).
Apesar das políticas de desarmamento posterior ao período da
divulgação desses dados, tais medidas não foram suficientes para coibir o
acesso a esse instrumento, assim como sua utilização por grande parte da
sociedade civil.
Esse violento crescimento da mortalidade por armas de fogo pode
ser observado através dos dados da nossa pesquisa que indicam que as
armas de fogo foram as que tiveram maior representatividade (84%),
ficando as armas brancas (7%), tabela 04.
Tabela 04 – Tipo de arma utilizada.
Tipo de arma N %
ARMA DE FOGO 95 84
ARMA BRANCA 8 7
OUTROS 10 9
Total 113 100
Fonte: dados primários da pesquisa.
Dentre os motivos que levaram ao óbito dos jovens, as drogas e
acertos de contas despontam em primeiro lugar com 17%. Assalto 10%;

200
vingança e discussão banal, 7%; briga de gangue 6%; outros 11%, e não
mencionado 25%. (Tabela 5).
O consumo de substancias psicoativas tem se mostrado evidente em
grande parte das sociedades contemporâneas. É importante salientar que
esses elementos sempre existiram e foram utilizados desde os primórdios
das civilizações. Chamamos atenção aqui que as drogas referidas,
correspondem aos psicoativos ilícitos, ao serem consumidos, apresentam
um dano físico ou social para o dependente ou para a sociedade como
homicídios, assaltos, brigas.
Tabela 05 – Motivo que os jovens morreram.
Motivos N %
Drogas 19 17
Vingança 8 7
Assalto 12 10
Discussão banal 8 7
Briga de gangue 7 6
Acerto de contas 19 17
Outros 12 11
Não mencionado 28 25
Total 113 100
Fonte: dados primários da pesquisa.
Fortaleza lidera no espaço da ocorrência do crime (81%), porém já
é indicativo a presença da violência na região metropolitana (19%). É o
retrato da interiorização da violência.

201
Tabela 07 – Região de ocorrência do crime
Região N %
FORTALEZA 92 81
REGIÃO
METROPOLITANA
21 19
Total 113 100
Fonte: dados primários da pesquisa.
Tabela 08 – Motivo que os jovens morreram.
Motivos N %
Drogas 19 17
Vingança 8 7
Assalto 12 10
Discussão banal 8 7
Briga de gangue 7 6
Acerto de contas 19 17
Outros 12 11
Não mencionado 28 25
Total 113 100
Fonte: dados primários da pesquisa.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo da mortalidade juvenil em Fortaleza e região
metropolitana retrata a realidade perversa a que estão submetidos nossos
jovens. Os achados apontam que esse fenômeno atinge mais fortemente os
jovens 21 a 24 anos (51%), porém a faixa etária de 12 a 15 é bastante
significativa (22%).

202
Os homens tiveram uma participação considerável na prática desse
delito (64%), como também os que foram mais assassinados (84%). Isso
mostra que a violência juvenil em Fortaleza é um fenômeno
predominantemente masculino.
Os resultados sugerem que há um acesso fácil a utilização de armas
de fogo por parte da sociedade civil, na medida em que 84 % dos
assassinatos foram praticados por esse instrumento.
Os psicoativos ilícitos e acertos de contas foram os principais
motivos que levaram a prática do assassinato, refletindo nesse contexto a
banalização da vida.
O estudo da relação entre juventude e violência busca trazer um
debate sobre a perplexidade de um panorama que para nos é
incompreensível.
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALVIM, R, PAIM, E. Os jovens suburbanos e a mídia: conceitos e
preconceitos. In: ALVIM, R e GOUVEIA, P.(Orgs). Juventude anos 90.
Contra Capa. Rio de Janeiro, 2000.
BANDEIRA, João T. S. Análise documental: o uso do jornal na pesquisa
qualitativa. In: DAMASCENO, Maria N. e SALES, Celecina. V.(Orgs). O
caminho se faz ao caminhar: elementos teóricos e práticas na pesquisa
qualitativa. Fortaleza: Editora UFC, 2005, p. 148.
CAMELO, Carlos Henrique. Número de homicídios entre jovens cresce
88,2% na capital. O povo, Fortaleza, p. 01, 27 out. 2006.
CHAUÍ, Marilene. Convite à filosofia. Ed. Ática, São Paulo, 2000
GIDDENS, Anthony. Sociologia. :Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2010.
MAPA da Violência dos Municípios Brasileiros (2006).

203
PIRES, Cecília. A violência no Brasil. São Paulo. Editora Moderna, 1983.
V. 3. (coleção Polêmica).
WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência no Brasil 2011-Os jovens
no Brasil. São Paulo. Instituto Sangari ,2011.
WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mortes matadas por armas de fogo no
Brasil-1979-2003. BrasiliaUNESCO, 2005.

204
Reflexões sobre a práxis do Projeto Novas Cores na Escola Padre
Rocha
Juliana Hilario Maranhão44
Liana Araújo Scipião45
Anna Thércia de Assis Ferreira46
Camila Brasil Uchoa de Albuquerque47
Rafaella Maria de Carvalho Cruz48
Alana Isla Montenegro Feire49
Deyseane Maria Araújo Lima50
Introdução
O Projeto Novas Cores, vinculado ao Núcleo Cearense de Estudos e
Pesquisas sobre a Criança (NUCEPEC), surgiu em 2001 com o
objetivo de atender crianças e/ou adolescentes em situação de
vulnerabilidade social. Constitui-se como uma educação pautada na
cidadania, a fim de que os participantes possam perceber-se como
sujeitos de direitos e deveres, ativos no processo de construção de
suas histórias.
44
Estudante de Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará (UECE).
Bolsista do Programa de Educação Tutorial – PET do Serviço Social. Integrante do
Nucepec e membro do Projeto Novas Cores. [email protected] 45
Estudante de Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC). Integrante do
Nucepec e membro do Projeto Novas Cores. [email protected] 46
Estudante de Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC). Integrante do
Nucepec e membro do Projeto Novas Cores. [email protected] 47
Estudante de Serviço social da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e da
Psicologia d Universidade Federal do Ceará (UFC). Bolsista do Programa de
Educação Tutorial – PET do Serviço Social. Integrante do Nucepec e membro do
Projeto Novas Cores. [email protected] 48
Estudante de Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC). Integrante do
Nucepec e membro do Projeto Novas Cores. [email protected] 49
Estudante de Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC). Integrante do
Nucepec e membro do Projeto Novas Cores. 50
Psicóloga. Mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
Especialista em Educação Inclusiva (UECE) e Educação a Distância (SENAC).
Integrante do Nucepec e supervisora do Projeto Novas Cores.

205
As atividades realizadas utilizam a arte como instrumento, uma vez
que, a partir desta, é possível a representação da realidade e a expressão de
pensamentos, sentimentos e emoções, facilitando o auto-conhecimento e
permitindo ao sujeito construir e ressignificar sua maneira de estar e atuar
no mundo.
O Projeto dedicou-se ao estudo de temáticas como desenvolvimento
infantil, cidadania, psicologia comunitária, educação popular, arte-
educação, arte-terapia, violência, criatividade, metodologia, ludicidade e
atuação profissional, visando a um embasamento teórico e momentos de
reflexão, crítica, problematização e criação que enriquecessem nossa
experiência e contribuíssem para o incremento das atividades no campo a
ser indicado para o referido período. É válido ressaltar que a escolha do
público alvo varia tanto de acordo com o interesse dos que correntemente
fazem parte do Projeto quanto das instituições que nos convidam para
formar parcerias.
Decidimos atuar em uma instituição de ensino a Escola de Ensino
Fundamental e Médio Padre Rocha, situada no bairro Joaquim Távora, após
a diretora contatar uma das integrantes do Projeto, buscando viabilizar uma
nova parceria. A ideia era de que trabalhássemos com dois grupos de
crianças entre 8 e 10 anos do 3º ano do Ensino Fundamental. Tal proposta,
depois de lançada em uma das reuniões do Novas Cores, foi aprovada pelo
grupo. Atuamos, então, durante dois semestres, de agosto de 2009 a junho
de 2010. Neste período, houve a inserção de estudantes de Serviço Social e
Psicologia, estimulando a atuação interdisciplinar e a introdução de um
olhar social e político.
Histórico da Escola Padre Rocha

206
O relato das profissionais elucidou um pouco sobre o contexto no
qual a escola foi criada. Através dele, informamo-nos que a instituição
surgiu em 1967 na forma de associação. A Associação Social da Paróquia
da Piedade (ASPADE) foi idealizada e fundada pelo Padre Rocha, na época
pároco da Igreja. Mais tarde, quando oficialmente instituída escola, levou o
nome em homenagem ao seu fundador. Alguns membros da comunidade,
no momento da criação, apoiaram consideravelmente o movimento. Hoje
em dia, contudo, a maioria dos moradores pouco se apropria do espaço.
Atualmente, a instituição funciona nos três períodos. Conquanto
não haja aulas no turno da tarde, permanece aberta para atividades
complementares e outros eventos. Verificamos em sua estrutura física a
existência de 11 salas de aula (informática e multimeios). Por meio de
registros, contabilizamos o corpo docente, dos quais 16 são efetivos e 17
temporários. Na secretaria trabalham 6 profissionais efetivos. Conta, ainda,
com o apoio de 7 profissionais terceirizados que auxiliam no que diz
respeito à segurança e na limpeza, além de 2 merendeiras e 1 auxiliar de
serviços gerais.
O Núcleo Gestor busca constantemente trazer profissionais para
que sejam ministrados cursos para os professores acerca de novas
metodologias de ensino, ressaltando a importância de uma formação
contínua para os que educam. Esforça-se para trabalhar os aspectos
psicossociais de seus alunos para além da sala de aula. Mesmo não
possuindo recursos suficientes para uma melhor infraestrutura, a escola já
dispõs para os estudantes de atendimento voluntário com profissionais de
Psicomotricidade Relacional, ofertou oficinas de canto e palestras sobre
diversos temas, dentre outras atividades. A maior parte dos que estão
matriculados reside nas proximidades da instituição e encontra-se inserida

207
num contexto de violência e drogas; a urgência em se realizar alguma
atividade, portanto, nunca se esvai.
Nessa perspectiva, percebemos uma aproximação entre o trabalho
que a instituição vinha desenvolvendo – e pretende continuar instaurando –
e os objetivos do Projeto, sobretudo no que pode se referir à promoção da
cidadania e desenvolvimento da autonomia dos sujeitos.
A Interdisciplinaridade no Projeto Novas Cores
Reflexões sobre a Contribuição do Serviço Social
O Serviço Social surge como profissão inscrita na divisão sócio-
técnica do trabalho (IAMAMOTO, 2008) a partir da intervenção do Estado
na chamada questão social caracterizada pela pauperização da classe
trabalhadora e sua inserção no campo político pleiteando melhores
condições de vida.
O assistente social atua no trato individual de necessidades de
caráter coletivo (IAMAMOTO, 2008), mediando à relação entre o Estado e
a sociedade e apaziguando possíveis conflitos entre esses entes, bem como
lidando com situações de violação de direitos sociais. Sua atuação ocorre
no âmbito da esfera social por meio da elaboração, execução e avaliação de
políticas sociais públicas, na orientação social de indivíduos, famílias e
comunidades, tendo como espaços sócio-ocupacionais entidades estatais,
empresas privadas, organizações não-governamentais, hospitais, sendo seu
objeto de intervenção as diversas expressões da questão social presentes na
sociedade, tais como pobreza extrema, violência urbana e doméstica,
favelização, drogadição, exploração do trabalho e exploração sexual de
mulheres, crianças e adolescentes, situação de moradia de rua, dentre outros
e, como matéria-prima os serviços sociais.

208
Cabe ressaltar que pelo fato das facilitadoras estarem em processo
de formação profissional nossa atuação não se estabeleceu como a de um
profissional do Serviço Social, mas dada a nossa formação acadêmica nossa
participação e a problematização sobre as vivências no Projeto pautou-se
numa perspectiva sócio-política e ética que perpassa a profissão e o curso
de graduação.
No qual, trata-se de uma ação global de cunho sócio-educativo ou
socializadora (IAMAMOTO, 2008), apoiada em um projeto ético-político
donde visualiza como princípio central a liberdade, propondo-se a
construção de uma nova sociabilidade e a defesa intransigente dos direitos
humanos.
Durante a atuação na escola encontramos situações de violência
entre os alunos por meio de bullying, agressões físicas, preconceito por
raça, gênero, assim como pudemos perceber que a escola também era
provedora de violência simbólica e institucional tanto contra as próprias
crianças em relação à hierarquia estabelecida entre professor-alunos,
funcionários-alunos como coordenação-professor e coordenação-
funcionários.
Um fato interessante que exemplifica tais situações foi o caso de
uma criança que estava na fila do lanche e que entrou em conflito com uma
funcionária do refeitório e ambos trocaram ofensas. A criança ao ser
chamada a atenção para os combinados do grupo e diante das ameaças da
funcionária se escondeu em uma sala de aula, necessitando da intervenção
das facilitadoras que ocorreu por meio do diálogo com a criança para que
refletisse sobre sua atitude. No momento, a criança argumentou que sua
ação foi movida por ter sido destratada pela funcionária e que por isso falou
as ofensas. Foi explicado para a criança que sua atitude não foi correta, mas
que não eximia a culpa da funcionária. No entanto, devido trabalharmos

209
valores como o diálogo, compreensão e o respeito, foi solicitado a criança
que se desculpasse com a funcionária. Como a criança se mostrava
envergonhada, uma das facilitadoras mediaria o diálogo, onde ambos
reconheceram suas atitudes e pediram desculpa.
Outro fator que impulsionou as temáticas e atividades dos
encontros foi às características sócio-econômicas e culturais do bairro onde
a escola se localiza e onde as crianças moram, devido à comercialização de
entorpecentes, situações de roubo e furto, situações de trabalho infantil e
violência sexual. O que refletia no modo de agir das crianças que tinham
como brincadeiras algumas agressões como chutes, empurrões, ofensas,
dentre outros. Nesse sentido, procuramos dialogar com as crianças
propondo um novo modo de agir por meio da reflexão do seu cotidiano, tal
como situações que considerem relevantes para elas, como a atitude que
deveria ser tomada quando nos sentíssemos agredidos pelo colega. Isto
possibilita a construção de novos valores por meio da utilização dos
combinados, assim como a autonomia e o posicionamento das crianças
diante de suas vivências.
Reflexões sobre a Contribuição da Psicologia
A escolha do campo de atuação do Novas Cores, na Escola Padre
Rocha, trouxe desafios para as facilitadoras do projeto, pois o contexto
escolar possui particularidades em seu bojo que deveriam ser apreendidas
no intuito de obter resultados mais abrangentes na ação extensionista. Neste
sentido, vale salientar a relevância do olhar psicológico acarretado pelo fato
de que, durante este período, parte das facilitadoras do projeto eram
graduandas em Psicologia, além da supervisora ser psicóloga. Desta forma,
a atuação extensionista foi embasada em capacitação semanal, que incluiu o
estudo de textos cujos temas remetem à Psicologia Educacional, sub-área

210
da Psicologia que diz respeito à inserção do saber psicológico no meio
escolar, diferenciando-se da Psicologia Escolar, que diz respeito à atuação
profissional do psicólogo nas escolas (ANTUNES, 2008).
Através do contato com profissionais e técnicos da Escola Padre Rocha,
percebemos que havia uma concepção errônea e freqüentemente conflituosa
acerca do que o Projeto propunha, vinculada à representação de que a
inserção do saber psicológico na escola se dá no sentido de “tratar”
comportamentos de alunos que não estão de acordo com determinados
padrões de conduta. Freqüentemente, algum funcionário procurava as
facilitadoras no intuito de relatar acerca de determinado aluno, que possuía
atitudes agressivas, caracterizando o seu cotidiano escolar, e vinculando o
comportamento à informações que diziam respeito ao contexto familiar ao
qual a criança estava inserida. A abordagem das facilitadoras em relação a
este fato, inicialmente, possuía a preocupação no sentido de não
estigmatizar a criança, e manter um olhar atento no intuito de entender os
motivos de determinado comportamento, e buscar ferramentas para que as
relações que constitui neste âmbito sejam positivas para o seu
desenvolvimento. A partir disto, apeendemos que a escola ainda não possui
mecanismos para abranger a diversidade contida nesta, ou lidar com
configurações de família contemporâneas. Desta forma, entendemos que a
inserção da Psicologia no âmbito escolar,
(...) situa-se, sobretudo, no âmbito da análise das
relações que se estabelecem na escola, intervindo no
sentido de apontar mecanismos psíquicos envolvidos
nas situações de impasse, bem como identificando
brechas que possam indicar saídas possíveis (SILVA,
2010, p.123).
Ademais,
Uma contribuição que a Psicologia pode oferecer à
Educação consiste em apontar os mecanismos
subjetivos que dificultam a resolução dos impasses, ou
seja, destacar o que há de relacional − e, portanto,

211
implicando todos os sujeitos envolvidos − nos
problemas identificados na escola. Essa é uma
perspectiva que muitas vezes causa estranhamento no
contexto escolar, cujas estruturas física e funcional
foram elaboradas para receber, atender e formar em
massa. Sendo assim, a atenção ao que é peculiar a
determinado sujeito ou a determinada relação não
constitui prática sistemática nessa instituição (SILVA,
2010, p. 135).
Entendemos que a relevância do olhar da Psicologia no contexto
escolar se dá pelo fato de que esta apreende a singularidade dos alunos,
advindos de contextos sociais distintos, com suas peculiaridades. Na escola
Padre Rocha, foi percebida a necessidade de que os temas fossem
trabalhados através de dinâmicas, por conta do público participante, que se
mostrava indiferente a abordagens tradicionais de aprendizagem. Assim,
aos poucos eles foram demonstrando maior interesse em relação às
atividades e revelando detalhes pertinentes à sua socialização no contexto
escolar, familiar e comunitário, que foram acolhidas pelas facilitadoras
como relevantes, e, desta forma, vínculos foram criados, o que contribuiu
para o êxito da atuação do Projeto.
Cidadania e Infância: Algumas Considerações.
O surgimento da cidadania está relacionado à pólis grega onde o
surgimento da vida na cidade torna capaz aos homens o exercício dos seus
direitos e deveres a partir da atuação na esfera pública, numa relação de
iguais mediante palavras e persuasão (sem violência), sendo o espírito da
democracia. No entanto, era restrita aos homens livres, os cidadãos,
enquanto mulheres, crianças e escravos eram considerados meros objetos de
sua vontade (MANZINI COVRE, 2002).

212
É com o desenvolvimento da sociedade capitalista que a
democracia e a cidadania retornam ao cenário político a partir da
contestação do feudalismo e do direito natural pelos princípios da
Revolução Francesa, quais sejam a liberdade, igualdade e fraternidade, no
que tange ao plano jurídico necessário ao novo modo de produção
estabelecido pela burguesia, constituindo-se o Estado de Direito51
.
Nesse sentido, a cidadania está relacionada ao usufruto de direitos
(bens sociais como saúde, educação, assistência social, trabalho, habitação,
lazer,...) e ao exercício de deveres para com os demais integrantes da
sociedade. Necessitando da articulação de direitos civis, políticos e sociais
para se efetivar.
Podemos demarcar no Brasil, no final da década de 1970 e início
dos anos 1980, a emergência de movimentos sociais e segmentos, antes a
margem da sociedade e das políticas do Estado, que reivindicavam uma
maior visibilidade e seu reconhecimento como sujeitos sociais viabilizando
políticas sociais públicas que promovessem a igualdade e efetivação de seus
direitos considerando suas peculiaridades tornando-os efetivamente
cidadãos.
A Constituição Brasileira de 1988 traz como um de seus
fundamentos a cidadania, caracterizada como a igualdade perante a lei e o
acesso igualitário dos direitos sociais e políticos. Tal Constituição marca
uma nova fase para o país em que o restabelecimento da democracia e de
direitos políticos possibilitou a abertura de espaços para a participação
popular e o surgimento de novos sujeitos sociais. Nesse sentido,
51
O Estado de Direito coloca-se como o oposto ao Estado de Nascimento, ao
Estado Despótico, até então existente sob a regência da aristocracia. Neste último, a
sorte dos homens podia ser decidida arbitrariamente; não havia como se opor à
morte ou a outras imposições (...). Tudo isso mudou com o surgimento do Estado
liberal burguês, quando a burguesia instaurou o Estado de Direito.

213
A cidadania é o próprio direito a vida no sentido pleno.
Trata-se de um direito que precisa ser construído
coletivamente, não só em termos do atendimento às
necessidades básicas, mas de acesso a todos os níveis
de existência, incluindo o mais abrangente, o papel
do(s) homem(s) no Universo (MANZINI COVRE,
2002, p. 22).
No entanto, pensar em cidadania requer inseri-la no contexto sócio-
histórico brasileiro. Como falar em direitos em um país onde as
desigualdades de classe, gênero e etnia emergem cotidianamente nas
relações sociais, seja pelo preconceito, exploração do trabalho e violência?
Ou como exercitar deveres como cidadão numa cultura marcada pelo
individualismo, banalização das formas de violência e pela corrupção de
gestores públicos?
Tais questionamentos acerca da cidadania são vivenciados nos
espaços de atuação do Novas Cores e posto em debate pelo Projeto a partir
do trabalho com crianças por meio de atividades lúdicas e pela discussão
dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), utilizando
como método a arte-educação incentivando a expressão, a espontaneidade,
a autonomia e o reconhecimento como sujeitos de direitos, propondo uma
nova sociabilidade voltada para valores humanos e igualitários.
Na atuação do Projeto Novas Cores procurávamos articular o
contexto comunitário, escolar e familiar das crianças com os direitos e
deveres preconizados no ECA, dialogando sobre os seus princípios e suas
vivências, o que visualizavam como direitos e deveres, seu papel na
construção de sua história. Ressaltando além da discussão dos problemas,
mas as possibilidades de atuação com a comunidade, a escola e as crianças.
Nas reuniões de supervisão, questionávamos o papel exercido pelas
integrantes do Projeto e o trabalho com as crianças, em especial nas

214
atividades e temas propostos refletindo sobre os direitos e deveres da
criança e do adolescente e suas violações articulando ao contexto social de
neoliberalismo e pauperização da população, que afeta diretamente as
condições de vida das crianças, expandindo e articulando o debate no plano
micro e macro estrutural, imprescindível para o trabalho condizente com a
realidade dos atendidos pelo Projeto.
Assim, faz-se necessário refletir que tipo de infância se é pensada
quando falamos de cidadania, bem como são garantidos os direitos e
deveres desses sujeitos.
Estatuto da Criança e do Adolescente: a Construção de um Novo
Olhar sobre a Infância.
A infância tema recorrente na sociedade atual foi sendo construída
ao longo da história da humanidade de acordo com a cultura e o contexto
histórico de cada civilização. Segundo Ariès (2006), o sentimento de
infância como conhecemos hoje resulta de uma construção social e
histórica, que ele definiu como várias etapas lentas e gradativas. Sua
evolução pode ser acompanhada na história da arte e da iconografia
européia a partir do século XIII até o século XVI.
No entanto, é no século XVII que o desenvolvimento do conceito
de infância torna-se particularmente numeroso e significativo em considerar
uma particularidade infantil distinguindo a criança do adulto sendo
fundamental a reforma moralista e o surgimento da escola no final do
século XVII como meio de educá-la (ARIÈS, 2006).
A família passa a se organizar em torno da criança e a lhe dar tal
importância, que essa sai do seu antigo anonimato, tornando-se impossível
perdê-la ou substituí-la sem uma enorme dor, sendo primordial a afeição
entre os pais e seus filhos para a manutenção social da família. Surgem dois

215
novos sentimentos, quais sejam o de intimidade e o de identidade entre os
membros da família que passam a se unir pelo sentimento, o costume e o
gênero da vida dando um contorno do que viria ser a família moderna
burguesa (ARIÈS, 2006).
Cabe ressaltar que, segundo Cohn (2005) o estudo de Ariès mostra
que a idéia de infância é uma construção social e histórica do Ocidente,
podendo em outras culturas e sociedades, não existir tal idéia em relação à
infância ou ser formulada de outros modos. O que é ser criança, ou quando
acaba a infância, pode ser pensado de maneira muito diversa em diferentes
contextos socioculturais.
A década de 1970 é marcada pela efervescência das lutas em defesa
dos direitos humanos no mundo. No Brasil, no final daquela década e
durante a década de 1980 emergem lutas pela redemocratização e
restabelecimento da democracia no país. Assim, no período pós-ditadura
militar novos sujeitos entram em cena para lutar por direitos sociais e
políticos, antes fornecidos de forma precária ou restritos. Neste momento
singular do país estudantes, profissionais e militantes ou demais cidadãos
saíram às ruas e aos espaços de participação existentes para discutir uma
nova sociedade baseada na democracia, o que culminou na Constituição
Federal Brasileira de 1988.
Nessa conjuntura o movimento em defesa de crianças e
adolescentes começa a ganhar espaço a partir da visibilidade de situações
de negligência familiar, exploração sexual e trabalho infanto-juvenil e de
descaso do Estado para com o cuidado e proteção dessas pessoas. É a partir
da mobilização popular que é garantido a referência nos artigos 227 e 228
sobre a criança e o adolescente na Constituição, bem como a garantia e
reconhecimento desses como sujeitos de direitos em condição peculiar de
desenvolvimento. Donde,

216
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão (BRASIL, 2010,
Constituição Brasileira de 1988, Artigo 227).
Considerando ainda que, na Constituição Brasileira de 1988 em seu
artigo 228 são penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos,
sujeitos às normas da legislação especial.
Posteriormente, tais artigos possibilitaram a criação do Estatuto da
Criança e do Adolescente no ano de 1990, que traz como principal mudança
o reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e a
responsabilização da família, do Estado e da comunidade em cuidar do
desenvolvimento integral daqueles, contrapondo-se a idéia de menor
problema do Código de Menores de 1979. Nesse sentido,
A criança deixa de ser enfocada como um adulto em
miniatura, um ser a qual faltam às qualidades dos
adultos. A criança é reconhecida como sendo
constitutivamente dotada de qualidades intrínsecas, com
pessoas peculiares de desenvolvimento pessoal e social.
Disto resulta a principal alteração no tratamento dado às
crianças, que é a de serem portadoras de direitos,
cabendo à sociedade zelar pelo seu cuidado. (GOHN,
1997 apud PINHEIRO, 2006, p. 89).
Novo olhar sobre a questão infanto-juvenil
O Estatuto da Criança e do adolescente (ECA) foi promulgado pela
Lei número 8.069 de 13 de julho de 1990, baseado na doutrina da proteção
integral preconiza no plano legal que,

217
É dever da família, da comunidade, da sociedade em
geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar e comunitária (Art.
4º, Lei n. 8.069 de 1990).
E, Nenhuma criança ou adolescente será objeto de
qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão,
aos seus direitos fundamentais (Artigo 5º, Lei n. 8.069
de 1990).
Para tanto, considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa
até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos
de idade (ECA, Lei 8.069/90, 1990, Artigo 2°).
O ECA traz uma nova concepção de infância e adolescência
baseado na doutrina da proteção integral percebe a criança e o adolescente
como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e como sujeitos de
direitos. Segundo Pinheiro (2006), entende-se por proteção integral um
conjunto de cuidados voltados para a proteção e a assistência à criança, de
forma a assumir suas responsabilidades na comunidade.
No entanto, a infância e a adolescência no Brasil são marcadas por
situações de negligência, maus-tratos, drogadição, agressão, dentre outros,
demonstrando a negação de seus direitos, perpassado por questões de
gênero, etnia e classe social.
O Novas Cores busca viabilizar os direitos da criança e do
adolescente a partir da arte e de jogos lúdicos onde os sujeitos possam
expressar por meio da linguagem lúdica e artística o que pensam e refletem
sobre o mundo a sua volta e suas próprias experiências. Corrobora para a

218
prática do Projeto a definição da alínea I do artigo 13º da Convenção das
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (CNUDC) (1989), no qual
A criança terá o direito à liberdade de expressão. Esse
direito incluirá a liberdade de procurar, receber e
divulgar informações e idéias de todo tipo,
independentemente de fronteiras, de forma oral, escrita
ou impressa, por meio das artes ou de qualquer outro
meio escolhido pela criança (p. 109).
Na execução do Novas Cores no ano de 2009 e 2010 atuamos no
contexto escolar vivenciado pelas crianças, trabalhando a partir das
demandas que emergiam das crianças advindas das relações construídas no
espaço, assim como na comunidade e na família, possibilitando a expressão
dos sujeitos sociais.
Ao significar a criança e o adolescente como sujeitos,
essa representação leva a concretização de práticas
sociais, caracterizadas, no geral, pela preferência de
atividades desenvolvidas com a criança e o adolescente
em meio aberto e no interior de sua própria
comunidade, ou seja, em seu contexto sócio-histórico
de origem. Essas práticas contrapõem-se, com efeito,
às instituições fechadas, utilizadas particularmente sob
a orientação da repressão, marcadas pelo isolamento
com a comunidade de inserção da criança e do
adolescente (PINHEIRO, 2006, p. 82).
Foi trabalhado temas do cotidiano e da realidade comunitária e
escolar das crianças, tais como drogadição, trabalho infantil, família,
comunidade, escola, contribuindo para a percepção dos espaços sociais
ocupados por elas, assim como refletir de que modo intervêm na sua
realidade e nas relações interpessoais com seus colegas, profissionais da
escola, e com a família, proporcionando o exercício da cidadania, o
estímulo à participação como sujeitos autônomos, bem como sua
criatividade e expressão.

219
A criança atuante é aquela que tem um papel ativo na
constituição das relações sociais em que se engaja, não
sendo, portanto, passiva na incorporação de papéis e
comportamentos sociais. Reconhecê-lo é assumir que
ela não é um adulto em miniatura, ou alguém que
treina para a vida adulta. É entender que, onde quer
que esteja, ela interage ativamente com os adultos e as
outras crianças, com o mundo, sendo parte importante
na consolidação dos papeis que assume e de suas
relações (COHN, p. 27-28).
Afetividade e Relação Interpessoal:
O Novas Cores, em suas diversas formas de atuação, prioriza as
relações estabelecidas entre os membros da equipe bem como com aqueles
que participam do Projeto (crianças e/ou adolescentes). Além disso, vê-se a
importância do contato com os funcionários da instituição, tais como
professores, diretores e servidores. Quando possível, também se estabelece
contato com os familiares dos participantes.
Essa atitude de ampliar as relações interpessoais decorre por
“entender a escola como integrante de um sistema social mais amplo e
constantemente influenciada por ele” (TULESKI, EIDT & et. al., 2005,
p.132). Há, de fato, a necessidade de compreender o contexto escolar bem
como seus “arredores” a fim de facilitar as relações estabelecidas entre os
diversos profissionais, alunos, familiares e comunidade.
Segundo Bariani-Pavani (2008, p.68), “durante muito tempo,
acreditou-se que o professor era o único responsável pelos resultados
alcançados no processo ensino-aprendizagem”. Atualmente, as escolas têm
se esforçado para entender a relação professor-aluno como “marcada pela
bi-direcionalidade” (BARIANI-PAVANI, 2008, p.68), ou seja, há uma
troca de conhecimentos entre ambos. O professor ensina o aluno, mas este,

220
contudo, também compartilha os seus saberes com aquele. Os dois sujeitos
estabelecem uma relação e são mutuamente influenciados por ela.
Ao afirmar que “a criança participa ativamente quando é capaz de
compreender os objetivos de cada tarefa ou exercício executado, e,
principalmente, quando seu desenvolvimento particularizado é respeitado”,
Tuleski, Eidt & et. al. (2005, p. 133), ressalta a importância de ter um olhar
diferenciado para o aluno bem como de estimular a participação durante as
atividades que são desenvolvidas no ambiente escolar. Essa visão, porém,
não se restringe apenas ao professor, mas deve ser estendida a todos os
profissionais que trabalham na escola.
No Projeto, a intervenção na escola se efetivou por meio dos dois
grupos. As facilitadoras, bem como as crianças, sentiram-se à vontade na
medida em que foram se reconhecendo como um grupo. Tudo o que foi
vivenciado foi parte de uma construção coletiva, ou seja, todos estavam
contribuindo, de forma singular, para que o grupo se mantivesse.
Durante o último ano, por exemplo, na Escola Padre Rocha, os
membros do Projeto estabeleceram, em comum acordo com as crianças, um
conjunto de regras de convivência grupal. Através do diálogo e da
cooperação, foram criadas as “regrinhas”, que favoreceram um ambiente
lúdico, mas também de responsabilidade. As regras firmavam, por exemplo,
o compromisso de não gritar, de não brigar com os coleguinhas, de jogar
lixo na lixeira.
O intuito de estabelecer essas regras de convivência foi não
somente facilitar as relações dos membros do Projeto com as crianças da
escola, mas também o relacionamento entre elas. Isso foi proveitoso na
medida em que fortaleceu os vínculos entre todos, bem como possibilitou
aos membros do Projeto conhecer o contexto em que as crianças estão
inseridas.

221
Além disso, durante os encontros, percebeu-se o quanto as crianças,
em suas falas e atitudes, traziam elementos das suas relações familiares.
Sabe-se que, no contexto escolar, não se pode apenas considerar as relações
dos alunos com os professores e funcionários. Os familiares (pai, mãe,
irmãos, tios, avós) bem como os amigos, vizinhos, membros da
comunidade, precisam ser incluídos nesse contexto.
Torna-se evidente, assim, a importância do psicólogo entender o
espaço escolar além das salas de aula e das outras áreas da escola. Mais do
que isso, é necessário reconhecer a forte influência de pessoas que estão
“fora” da escola, por exemplo, os familiares, bem como a relação com os
demais (alunos, professores, funcionários). Na verdade, estão
profundamente vinculadas à escola na medida em que os próprios alunos
levam à instituição as experiências vivenciadas em família e na
comunidade.
Por fim, é válido considerar as influências do ambiente escolar
nessas relações interpessoais. As relações que cada um estabelece com o
ambiente também são permeadas pela identificação com o lugar e, de certa
forma, com o apego a esse espaço.
Segundo Lima e Bomfim, “a identificação com o local promove a
capacidade de se vincular afetivamente a este, promovendo o apego a este
lugar” (2009, p.496). Assim, se o ambiente escolar propicia condições
satisfatórias para os alunos, tais como segurança e conforto, estes
conseguem se apegar com mais facilidade ao espaço. Isso contribui
significativamente para as relações interpessoais, tendo em vista que na
medida em que o aluno reconhece o ambiente escolar como um lugar que é
seu, ele se apropria não somente do espaço, mas também estabelece
vínculos com as pessoas que convivem com nele. Desta forma, essa

222
apropriação do lugar pode ser algo positivo no favorecimento das relações
interpessoais, por exemplo, entre professor e aluno.
Arte
O homem pode se expressar de variadas formas. Antes mesmo da
linguagem verbal, expressa-se artisticamente, como é possível constatar nos
desenhos rupestres ou mesmo nos primeiros desenhos e rabiscos das
crianças pequenas. A arte comporta os desenhos, as pinturas, a música, a
dança, o teatro ou, em linhas gerais, tudo o que é feito para expressar ideias
e sentimentos. Além disso, a “arte também pode ser útil por funcionar como
'objeto intermediário' entre cliente e terapeuta, ou entre uma pessoa e
outras, ajudando a estabelecer relações e facilitando a comunicação”
(CIORNAI, 2004, p. 77).
A arte, no Projeto Novas Cores, é utilizada como instrumento de
expressão e conhecimento do grupo. Durante nossas atividades, fizemos
uso de várias modalidades artísticas, entre elas: teatro de bonecos, desenhos
e pinturas livres, breves encenações, música, dança, cirandas e capoeira,
incluída como expressão artística, pois concluímos, que pode ser definida
como arte, ludicidade e dança.
Através de desenhos, encenações, danças, músicas e tantas outras
expressões artísticas, as crianças podem dizer o que sentem, o que
imaginam, o que esperam. Podem também conhecer sobre si e sobre o
outro. Também através da arte, as crianças podem conhecer e se apropriar
de seus direitos e deveres, visto que temos como mote principal o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA). E através das atividades de arte, e dos
jogos e brincadeiras, estabelecemos uma relação com o grupo de crianças.
Vale ressaltar o que Oaklander (1890) fala sobre trabalhos com crianças em
grupo.

223
O grupo é um lugar para a criança tomar consciência
de como interage com outras crianças, para aprender a
assumir responsabilidade pelo que faz, e para
experimentar comportamentos novos. Além disso, toda
criança precisa de contato com outras crianças, para
saber que as outras têm sentimentos e problemas
semelhantes. (OAKLANDER, 1980, p. 318)
Ao permitir que as crianças se expressem livremente através da
arte, estamos de acordo que elas também são cidadãs, reconhecendo-as
como sujeitos ativos e co-construtores de sua realidade, coadunando com os
artigos 3o e 53o do ECA que, respectivamente, dizem que:
Art. 3. A criança e o adolescente gozam de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e
social, em condições de liberdade e de dignidade.
[...]
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho […].
(BRASIL, 2010).
Ademais, Ciornai (2004, p. 74) ao dizer que “ao vivenciar na
'realidade da arte' o que não lhe é usual, o indivíduo pode surpreender-se:
pode obter um conhecimento inusitado e inesperado sobre si mesmo, sobre
os outros e sobre o mundo” corrobora nossa prática de utilizar a arte como
meio para expressar, conhecer e descobrir a própria realidade e tantas outras
que parecem distantes à nossa.
Experiência Novas Cores na Escola Padre Rocha
Neste tópico refletimos sobre a o relato da experiência das
facilitadoras na escola em questão. Foram realizados dois grupos com a

224
duração de duas horas uma vez na semana. No primeiro grupo tinha
crianças, sendo meninos e meninas. Já, no segundo grupo, eram crianças,
sendo meninos e meninas.
Grupo 1:
Nos encontros iniciais as crianças mostraram-se agitadas.
Percebemos como reação das crianças um “teste” em relação às
facilitadoras pelo fato da novidade de nossa presença na escola, bem como
da metodologia diferenciada.
No primeiro encontro, foram realizadas atividades que
proporcionaram uma aproximação das crianças visando conhecer a
dinâmica e as preferências, a fim de estabelecer o vínculo, bem como o
estabelecimento de regras de convivência. Para tanto, foi proposto que se
apresentassem através de desenhos, expressando a imagem que possuíam a
respeito de si mesmas e aquilo que gostavam e não gostavam. As
facilitadoras fizeram o mesmo, no intuito de haver uma aproximação do
grupo, entre as crianças e as mesmas. No segundo momento, tentou-se
dialogar com as crianças, por meio da roda de conversa, a respeito das
temáticas do projeto (infância, escola, dentre outros) e que seriam
trabalhadas através da arte e de atividades lúdicas. Contudo, tais objetivos
não foram alcançados, pois se mostraram dispersas no trabalho de grupo.
As dificuldades encontradas foram de se apropriar da dinâmica das
crianças, dos gostos, relações de amizade, afinidade na escola e do contexto
familiar. Percebíamos que muitas desavenças, formação de grupos e
amizades tinham relação com o período no qual as crianças estudavam,
levando-nos a refletir nos grupos os valores e regras como algo cotidiano
nos espaços ocupados e não só específico do Projeto.

225
Ressalta-se que a execução e construção das regras não é passiva,
pois as crianças podem questionar e construir as propostas, proporcionando
sua reflexão como sujeito sendo, muitas vezes, reforçado no grupo quando
não são cumpridas, o que resgata a percepção da criança sobre o seu ato e
responsabilidades, articulando com seus direitos e deveres.
Destaca-se no primeiro semestre a exibição de vídeos e filmes
abordando situações que instigavam a discussão das crianças sobre suas
vivências. Foram tratados temas como as relações familiares e
interpessoais, os valores, as regras de convivência, a importância da escola,
o respeito à diversidade e a não-violência. Além dessas atividades, foram
realizadas outras dinâmicas e brincadeiras de forma participativa.
Vale ressaltar que durante o primeiro semestre de atuação do Novas
Cores na escola Padre Rocha, a atividade que chamava a atenção das
crianças era a realização de pinturas e de desenhos, quando as mesmas
expressavam suas formas de pensar e sentir a respeito dos conteúdos
trabalhados relacionando-os às suas vivências, por meio de sua linguagem.
As produções das crianças foram exibidas na confraternização com os pais
no final do semestre, momento de diálogo acerca dos significados do
Projeto para as facilitadoras, crianças e pais, aproximando-nos do contexto
familiar das crianças.
No segundo semestre, houve um enfoque na agressividade, no
bullying e nos limites, temáticas que se mostraram emergentes no primeiro
semestre e que necessitavam ser trabalhadas considerando o papel da
escola, família e comunidade como entes que influenciam no modo de agir
das crianças. Pudemos trabalhar efetivamente o ECA abordando a situação
de drogadição, trabalho infanto-juvenil, assim como o direito à educação,
ao esporte e ao lazer, utilizando para tanto, o recurso de imagens, vídeos,
contação de histórias e montagem de cartazes. Foi acrescentado ao final dos

226
encontros, o tempo livre, um momento no qual aflorava a espontaneidade
das crianças por meio de brinquedos e brincadeiras sem proposta pré-
definida. Nesse semestre, as crianças se mostraram mais próximas das
facilitadoras ao proporem brincadeiras do cotidiano possibilitando uma
aproximação da realidade e de como ocupam os espaços de sua
comunidade.
Nos primeiros encontros do segundo semestre, trabalhamos
brincadeiras agitadas devido o processo de conhecimento das crianças por
parte das facilitadoras em relação ao seu ritmo e preferências de jogos,
sendo que aos poucos fomos introduzindo rodas de conversas com as
crianças demonstrando um amadurecimento do grupo para discutir os
assuntos propostos. Quando trabalhávamos o ECA, realizávamos por meio
de brincadeiras lúdicas, como “caça ao tesouro” e “caça-palavras”,
discutindo com as crianças suas percepções sobre os direitos e deveres no
Estatuto. Nesses momentos, deixávamos as crianças falarem e a partir do
seu conhecimento é que eram feitas as considerações e explicações. As
discussões suscitaram questões cotidianas, tais como: o respeito com os
idosos, reconhecimento de situações de trabalho infantil, drogadição no seu
cotidiano, violência, entre outros.
Um momento significativo foi quando os direitos do ECA foram
abordados, através de figuras sobre as representações da infância e da
adolescência. Foi interessante perceber que a partir do diálogo as crianças
conseguiram relacionar elementos do Estatuto com suas experiências
cotidianas, como, no exemplo, uma criança ao questionar sobre o que era
situação de trabalho infantil, expressando que:
“é diferente a criança que ajuda nos afazeres de casa,
como eu, cuidando dos irmãos, arrumando a casa para
aquelas crianças que têm de trabalhar quando os pais
não têm condições de sustentar a família, como alguns
colegas da escola”

227
Já outra criança que vivenciava a situação de trabalho ficou retraída
no grupo, apenas comentando sobre as figuras que apresentavam crianças
puxando carroças de reciclagem, ou vendendo bombons.
Outras atividades, como a “dança das cadeiras” e o “circuito”,
tinham como objetivo trabalhar tanto temas referentes ao ECA quanto a
cooperação, frustração, respeito as singularidades dos colegas e sentimento
de pertencimento ao grupo. A partir das atividades conseguíamos perceber
questões relacionadas à agressividade, gênero, limites, regras e preconceito
no sentido de problematizar com as crianças a respeito de suas atitudes. Um
exemplo de atividade na qual emergiu a questão de gênero foi quando
realizamos uma corrida de obstáculos, na qual as crianças se dividiram em
duas equipes, uma composta só por meninas e outra por meninos, fato que
gerou conflitos sendo necessário a intervenção das facilitadoras para
problematizar a divisão.
Apesar de haver um relacionamento entre as crianças na escola, foi
percebido que o sentimento de grupo e de igualdade não era compartilhado
por todos. Como forma de trabalhar a questão, no segundo semestre, foram
utilizadas metodologias participativas no intuito de incitar a integração do
grupo. Assim, foram feitas colagens em grupo e construção de cartazes
coletivos a respeito das temáticas abordadas.
Uma das questões que se sobressaiu, foi à necessidade da
participação da família com as facilitadoras, principalmente, em se tratando
de mudanças em relação à forma de agir das crianças que não eram
passíveis de compreensão já que o contato com os familiares não era
freqüente. Como exemplos de tais mudanças, é possível citar os casos de
duas crianças, uma que no início mostrava-se cooperativa com o grupo, mas
que posteriormente apresentou-se arredia e hostil, e outra que não
participativa das atividades e nem cumpria as regras e que, com a

228
proximidade do fim do Projeto, passou a colaborar e aproximar-se dos
demais colegas. Apesar do pouco conhecimento das facilitadoras sobre a
vida familiar e escolar das crianças, procuramos promover questionamentos
e discussões acerca das modificações de comportamento observadas,
especialmente, em relação à mudança de uma atitude afetuosa para uma
agressiva.
Grupo 2:
Nos primeiros encontros, foram contempladas tanto a apresentação
do Projeto, de forma simples e rápida, na qual enfatizamos o caráter lúdico
das atividades, quanto a elaboração do contrato grupal, no qual o lúdico,
propriamente, já passou a vigorar.
Foi possível colher informações, nesses momentos iniciais, acerca
das expectativas das crianças e das impressões, a que se sobressaiu foi a de
que seria um espaço para brincar – e somente brincar; os termos
"cidadania" e "Estatuto da Criança e do Adolescente" aparentemente não
surtiram efeito, a princípio.
É válido ressaltar que o intuito de, coletivamente, construir o
contrato está para além de meramente estabelecer regras de convivência,
embora tenha sido bastante importante esclarecer o que, pela própria
instituição escolar, era permitido ou não. Aliamos duas brincadeiras para
realizar esse intento; a "dança das cadeiras" e o "jogo do certo ou errado"
com figuras (retiradas da internet) referentes às temáticas do Projeto.
Colocávamos uma música agitada para que as crianças se movimentassem
ao redor dos assentos, com uma cadeira a menos que o número de
participantes, e, ao pausarmos o som, todas deveriam sentar-se em alguma
das cadeiras dispostas em círculo. A criança que não obtivesse êxito
escolheria uma das imagens para, então, fixá-la no quadro branco,

229
subdividido previamente em "o que é legal" e "o que não é legal".
Enquanto situava a figura em uma das duas opções, justificava o porquê da
escolha. As demais crianças tinham liberdade para expressar sua opinião.
Tal atividade se estendeu até que as imagens estivessem devidamente
anexadas ao quadro.
Os temas apresentados nas figuras tratavam sobre amizade, cuidado
com o outro, respeito, zelo pelo espaço físico e questões voltadas a sair da
sala sem permissão, pegar material escondido, usar nomes inadequados,
agressões físicas ou verbais, dentre outros. Algumas das respostas emitidas,
como afirmar ser ruim "apelidar o colega de forma pejorativa", entravam
em contradição com as atitudes de crianças que, constantemente, dirigiam-
se chamando-as de "filho da macumbeira" ou "gata preta", por exemplo.
Embora cientes de que não era a postura adequada, insistiam em agir assim.
Durante os encontros seguintes, a temática preconceito avultou-se
inúmeras vezes. Decidimos, pois, utilizar ferramentas outras, além do
diálogo, para investigar o assunto. Exibimos um vídeo, em formato de
desenho, que possibilitasse problematizações. Nele foi abordado o quanto
as pessoas têm dificuldade em lidar com diferenças. Através de
dramatizações, passamos a trabalhar como cada um reagiria se em suas
respectivas salas entrasse, por exemplo, um aluno cuja cor de pele fosse
azul52
e como eles, colocando-se no lugar do garoto novato, sentiram-se
vivenciando a inversão de papéis. A maioria portou-se com uma postura
acolhedora ao "aluno diferente", mas, ao insistirmos na cena, elementos de
rejeição surgiram. Em outro momento, uma das facilitadoras atuou como
agressora e uma das crianças interpretou o papel de excluída, a que sofria o
preconceito. Vale ressaltar que a criança tinha comportamentos recorrentes
52 Esta sugestão pode parecer um pouco absurda, mas a optamos em vez de outra plausível,
para que não se sentissem constrangidos com a situação.

230
de agressividade verbal e intolerância contra alguns de seus colegas. Após a
cena, relatou ter se sentido mal no papel, pois a facilitadora não se
disponibilizou a brincar e nem quis conversar.
Utilizamos tais atividades envolvendo interpretação e brincadeiras
de “faz-de-conta”. Para tanto, fizemos uso de fantoches, bonecas e até de
filmadoras para estimular a atuação como forma de expressão. Essas
atividades não eram ensaiadas. Em outras palavras, eram representações
espontâneas, improvisadas. Cedíamos o material (bonecos, fantoches,
figurino, etc.) e, às vezes, um tema para nortear, como “relações na escola”.
As crianças ficavam livres para representar os papéis que escolhiam.
Segundo Oaklander (1980, p. 160), “ao brincar de representar as
crianças de fato nunca saem de si mesmas; elas usam mais de si na
experiência da improvisação”. Percebemos quando, por exemplo, as
crianças interpretaram, além dos dois casos já citados, os professores, a
diretora da instituição, os pais, e até eles mesmos – os alunos – em
situações de conflito na escola. Assim, foi possível notar como as crianças
entendem esses papéis, compreendendo que colocam muito de si na
interpretação.
O desenho possibilitou-nos entrar em contato, direta ou
indiretamente, com a percepção de cada criança acerca dos assuntos
propostos nos encontros. Ao trabalharmos o “direito à educação”, por
exemplo, destacando o papel das instituições de ensino, sugerimos que
representassem numa folha a escola na qual estudavam e, em outra, como a
queriam, em um plano ideal. Muitos desenharam espaços que eram
importantes, tais como a quadra, seus amigos e a entrada do colégio, pois
significavam o espaço de lazer, onde brincavam e se divertiam nos
intervalos e no final da aula. Na folha que representava a escola ideal,
colocaram espaços que não existiam, tais como uma piscina, e

231
acrescentaram objetos como, por exemplo, aparelhos de ar condicionado.
Nessa atividade, pudemos perceber como cada criança compreendia a
instituição, o que era importante em suas concepções e quais suas
expectativas para mudança no lugar.
As brincadeiras em grupo, tais como a já mencionada “dança das
cadeiras”, caça ao tesouro e capoeira, por exemplo, eram oportunidades de
fortalecer o coletivo, isto é, de fazer com que as crianças se percebessem
como um grupo. Algumas, porém, tinham dificuldades de se integrar nas
atividades. Como facilitadoras, atentávamos para os casos de isolamento e
tentávamos integrar, na medida do possível, tais crianças ao grupo. Era
preciso compreender – e respeitar – o momento de cada uma e perceber o
que, de fato, não lhe atraía na brincadeira.
Nos momentos finais dos encontros, acontecia o que denominamos
de “brincadeira livre”. Utilizamos atividades que proporcionavam a
integração do grupo, como jogos de memória e quebra-cabeças. Como
facilitadoras, dividimo-nos em dois ou três grupos, com as crianças, a fim
de termos maior proximidade com elas. Em cada grupo, além de
proporcionar a cooperação entre as crianças, pois ajudavam a encontrar as
peças e a colocá-las no lugar, as crianças também conversavam, contavam
histórias de sua família, eventos escolares, etc. Era propício para
compartilhar experiências pessoais e uma oportunidade para termos contato
com a realidade de cada criança.
Considerações finais:
A experiência na escola foi rica para a formação das facilitadoras,
pois foi o primeiro contato com a realidade escolar e situações faziam
refletir sobre a atuação como estudante e profissional, bem como sobre a
postura ética diante de situações que faziam emergir questionamentos sobre

232
nossos valores e a necessidade de acolher os modos de pensar, sentir e agir
de cada criança. Ressaltamos a importância do exercício de reconhecer os
nossos limites e os das crianças para as atividades propostas, tentando
refletir sobre nossos sentimentos e os das crianças para propor atividades
que fossem ao encontro das demandas das mesmas, fato que demonstra o
valor da flexibilidade das facilitadoras e do estímulo a participação ativa
das crianças no grupo.
Uma das dificuldades do Projeto e da nossa intervenção foi o pouco
contato que tínhamos com as próprias crianças, pois só estávamos com elas
durante um dia da semana o que de certa forma encobria sua vida escolar, e
a relação com a família delas que não se mostrou presente na escola e nem
no Projeto dando sugestões ou buscando informações sobre seus filhos.
Referências Bibliográficas
ARIÈS, P. História social da criança e da família. 2ª ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2006.
ANTUNES, M. A. M. Psicologia Escolar e Educacional: história,
compromissos e perspectivas. Psicol. Esc. Educ. 2008, vol.12, n.2, pp. 469-
475. ISSN 1413-8557. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
85572008000200020&lang=pt> Acesso em: 10 de dezembro de 2010.
BARIANI, I. C. D & PAVANI, R. Sala de aula na universidade: espaço de
relações interpessoais e participação acadêmica. Estud. psicol.
(Campinas), Campinas, v. 25, n. 1, mar. 2008. Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
166X2008000100007&lng=pt&nrm=iso>. Acessos em 05 out. 2010.

233
BRASIL. Regulamentação da Profissão de Assistente Social. Lei n°
8.662, de 7 de junho de 1993.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal n° 8.069 de
13 de julho de 1990.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm>. Acessado em 15
de agosto de 2010.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Disponível em <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 14 de outubro de 2010.
CIORNAI, S (org.). Percursos em arterapia: arteterapia gestáltica, arte em
psicoterapia, supervisão em arteterapia. São Paulo: Summus, 2004
COHN, C. Antropologia da criança. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.,
2005.
IAMAMOTO, M. V. Renovação e conservadorismo no Serviço Social.
10 ed. São Paulo: Cortez, 2008.
LIMA, D. M. A & BOMFIM, Z. A. C. Vinculação afetiva pessoa-
ambiente. Revista Psico. 2009 Out.-Dez.; 40(4), p. 491-497. Disponível
em: <http://www2.pucpr.br/reol/index.php/PA?dd1=3250&dd99=view>.
Acesso em: 03 set. 2010.
OAKLANDER, V. Descobrindo crianças: a abordagem gestáltica com
crianças e adolescentes. São Paulo: Summus, 1980.
MANZINI COVRE, M. de L. O que é cidadania. São Paulo: Brasiliense,
2002.
PINHEIRO, A. Representações sociais como eixo analítico da investigação:
construindo suportes teórico-metodológicos. IN: Criança e adolescente no
Brasil: porque o abismo entre a Lei e a Realidade. Fortaleza: Editora
UFC, 2006.
SILVA, V. P. da. Escola não é ambulatório e psicólogo não é professor:
O que faz um psicólogo na educação?. In: Experiências profissionais na
construção de processos educativos na escola /Conselho Federal de
Psicologia. Brasília: CFP, 2010.

234
TULESKI, S. C; EIDT, N. M; MENECHINNI, A. N.; SILVA, E. F. da;
SPONCHIADO, D. & COLCHON, D. P. Voltando o olhar para o
professor: a psicologia e pedagogia caminhando juntas. Rev. Dep.
Psicol.,UFF, Niterói, v. 17, n. 1, jun. 2005 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
80232005000100010&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 05 out. 2010.