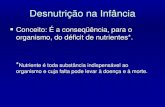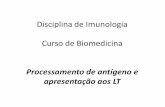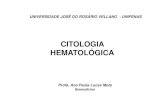xa.yimg.comxa.yimg.com/kq/groups/21812352/1023255593/name/kit+9... · Web viewEste é uma...
Transcript of xa.yimg.comxa.yimg.com/kq/groups/21812352/1023255593/name/kit+9... · Web viewEste é uma...

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
CURSO DE DIREITO
KIT 9º PERÍODO
Sociologia Jurídica – professor Luciano OliveiraFilosofia do Direito – professor João Paulo
1

Recife, 2007
Sumário
1. SOCIOLOGIA JURÍDICAPRIMEIRA UNIDADECapítulo do livro do professorProvas resolvidasSEGUNDA UNIDADEResumo do livro de Mauro CappellettiCapítulo do livro do professor
2. FILOSOFIA DO DIREITO2.1 Textos da primeira unidade2.1.1. O que é Filosofia e por que vale a pena estuda-la2.1.2. Passagem da Modernidade à Pós-modernidade2.1.3. Cartografia da Racionalidade Moderna2.2 Artigo de João Paulo para a 2ª unidade2.3 Aulas gravadas transcritas
2

1.SOCIOLOGIA JURÍDICA
Esta apostila só apresenta os textos que não são disponibilizados na xerox nem na internet. São os capítulos do livro do professor, que ele indicou mas não disponibilizou cópia para os alunos.
Os assuntos da primeira prova foram os módulos 1º e 2º do programa abaixo. Na aula de revisão, o professor forneceu as questões da prova. Para a segunda prova, o professor indicou, na última aula, três dos textos que passou, para o aluno escolher um para estudar, pois no dia da prova seriam dados três temas para redação, cada um correspondente a um dos textos. Foi permitido até levar esqueminha do texto para lembrete.
Programa e Bibliografia de base
1º Módulo: Direito e Sociologia JurídicaTextos:1. Luciano Oliveira. Direito e Sociologia Jurídica: confluências e divergências, cópia
eletrônica;2. Idem, “Direito, Sociologia Jurídica, Sociologismo”, in: Sua Excelência o Comissário e
outros ensaios de Sociologia Jurídica, Rio de Janeiro, Editora Letra Legal.
2º Módulo: A Tradição Autoritária e Patrimonialista BrasileiraTextos:1. Sérgio Buarque de Holanda. “O homem cordial”, in Raízes do Brasil (capítulo V) São
Paulo, Companhia das Letras;2. Keith S. Rosen. O Jeito na Cultura Jurídica Brasileira (trechos selecionados), Rio de Janeiro,
Editora Renovar.
3º Módulo: O tema do “Acesso à Justiça”3.1. O “Projeto Florença”Textos:1. Mauro Cappelletti e Bryant Garth, Acesso à Justiça, Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris
Editor.2. Eliane Junqueira, “Acesso à Justiça: um olhar retrospectivo”, in Estudos Históricos, Rio de
Janeiro, vol 9, n.18, 1996 (12 páginas)3.2. O Problema dos Direitos Sócio-econômicosTexto: Luciano Oliveira, os Direitos Sociais e Econômicos como Direitos Humanos: problemas de efetivação, cópia eletrônica.
4º Modulo: Instituições “Judiciárias” Brasileiras4.1. JudiciárioTexto: Adriana Loche et alli, “O sistema Judiciário Brasileiro”, in: Sociologia Jurídica – Estudos de Sociologia, Direito e Sociedade, Porto Alegre, Editora Síntese (35 páginas)4.2. Ministério PúblicoTexto: Maria Tereza Sadek, “Cidadania e Ministério Público”, in: Justiça e Cidadania no Brasil, São Paulo, Editora Sumaré. (27 páginas)4.3. PolíciaTextos:Adriana Loche et alii, “Polícia, Direito e Poder Discricionário”, in op cit (19 páginas)Luciano Oliveira, “Sua Excelência o Comissário“, in op cit (34 páginas)
3

PRIMEIRA UNIDADE
Capítulo do livro do professor:
Direito, Sociologia Jurídica, Sociologismo. Notas de uma discussão.
1. Introdução
Todo texto tem uma história. Este é uma continuação de um debate ocorrido numa sala de aula com uma turma do curso de direito. A cadeira era sociologia jurídica. O debate era sobre os pontos de contato, de divergência, de cooperação entre essa disciplina e a dogmática jurídica – aqui entendida no sentido de estudo sistemático (e também intra-sistemático) das normas que compõem o chamado Direito Positivo (Reale, 1978, p.160). um dos pontos tocados abordou a questão da legitimidade da lei. Implícito à discussão havia o pressuposto, praticamente consensual dentro do mundo moderno, de que a lei mais legítima – e também a mais eficaz – é aquela que mais corresponde às necessidades e aspirações dos cidadãos (Bobbio, 1967). Por aqui se vislumbra um terreno em que a sociologia jurídica poderia contribuir para tornar a ordem jurídica positiva mais legítima, na medida em que, com seus métodos e técnicas de sondagem do real, a ela caberia esclarecer o que é que os cidadãos mais necessitam e a que aspiram.
Aqui se marcavam dois campos, dois métodos, dois programas. A dogmática jurídica, estudando o direito “de dentro”, tinha por finalidade adestrar os juristas encarregados de aplica-lo; a sociologia jurídica, estudando o direito “de fora”, tinha por finalidade verificar a sua adequação à realidade empírica e, sendo o caso, propor a sua modificação. Surgiu um exemplo bem singelo mas, por isso mesmo, bastante ilustrativo: a questão do jogo do bicho. Apesar de “ilegal”, ele tem uma legitimidade social bastante forte – par anão dizer unânime, que é uma palavra sempre perigosa. Nesse caso, uma enquete sociológica, talvez desnecessária, muito provavelmente apontaria no sentido de sua legalização. O princípio implícito na nossa discussão – o de que a lei legítima é a lei socialmente desejada – passava, com esse exemplo, pelo teste da prova empírica, e com nossa aprovação.
Mas, logo, a generalização desse princípio apresentou-se problemática. O pronto de partida para essa problematização foi uma reportagem da Folha de São Paulo enfocando um levantamento de opinião junto às populações periféricas de São Paulo sobre a atuação da ROTA – Rondas Ostensivas Tobias Aguiar -, batalhão de elite da polícia paulista cujos métodos de combate ao crime incluíam, à época, o abate sumário de bandidos. Os resultados do levantamento indicavam uma opinião favorável à atuação da corporação policial. A pergunta – embaraçosa – que se colocou foi: aqui também seríamos a favor dessa espécie de “justiça sumária”? Em outros termos: ela deveria ser legalizada? Consideraríamos essa lei legítima?
A indagação coloca questões – e não pouco complexas – relacionadas ao clássico problema do entrelaçamento entre fato e valor. Em termos das duas disciplinas com que estamos lidando, a questão a ser tratada é a seguinte: que problemas se colocam à idéia de captação da realidade com finalidades normativas, via sociologia jurídica, se os fatos muitas vezes contrariam valores como, por exemplo, os direitos humanos? O texto que se segue trata de desenvolver algumas reflexões para o enfrentamento dessa problemática.
4

2. O Problema
Não é recente a idéia de que o direito – aqui entendido no sentido de ordenamento jurídico positivo-estatal – deve estar adequado ao tempo e ao povo aos quais se aplica. Dentro do pensamento social ocidental, remonta pelo menos a Montesquieu – aliás, frequentemente lembrado como um dos precursores da sociologia jurídica -, autor da conhecida exigência de que as leis devem estar relacionadas à geografia, ao clima, à situação e extensão do país, bem assim ao gênero de vida dos seus habitantes (1979, p.28). e essa é, num certo sentido, uma preocupação que atravessa grandes correntes teóricas do direito, como a Escola Histórica de Savigny, a Escola do Direito Livre de Kantorowicz, ou mesmo a Sociological Jurisprudence de matriz americana – todas elas concordando no sentido de que o direito tem de levar em conta as condições sociais, objetivas de sua aplicação.
Modernamente, a partir da constituição da sociologia jurídica como ramo específico de saber, a divisão social do trabalho intelectual designa-lhe um objeto próprio: o jurídico enquanto fato, diferente do jurídico enquanto norma (dogmática jurídica) e do jurídico enquanto valor (filosofia jurídica) – (Saldanha, 1980, pp. 40-46). Mas a intenção programática é no sentido de que haja uma interpenetração entre esses setores. Timasheff, tentando já nos anos 30 estabelecer um programa para a nova disciplina, falava na necessidade de uma colocação mais racional das relações humanas por meio de leis conscientemente elaboradas, e sugeria que a sociologia jurídica poderia se tornar a base para uma ciência aplicada da legislação (1980, p.11). mais modernamente, Friedman e Macauley, dois autores de peso na definição dos campos de interesse da sociologia jurídica como ela é praticada nos Estados Unidos, notam que o “paradigma dominante” dessa disciplina inclui, entre seus temas, o estudo das defasagens entre as normas e as práticas jurídicas reais, seja para propor mudanças nessas práticas, seja para alterar as próprias normas (1977, pp.17-18).
No Brasil, a sociologia jurídica, pelo menos enquanto disciplina acadêmica, passa por uma promissora expansão desde seu aparecimento há cerca de quarenta anos1. E, também aqui, uma das funções que lhe é tradicionalmente designada é a de contribuir, com estudos empiricamente fundamentados, para uma melhor articulação do direito com a realidade social. Isso se coloca sobretudo nos manuais da disciplina, quando se faz o inventário das tarefas que lhe seriam próprias. Assim, Cláudio e Solange Souto anotam que, entre outra atividades, a ela caberia “a investigação das tendências para eficácia ou ineficácia social do conteúdo normativo de formas coercíveis em projeto (por exemplo, projetos de lei)” (1981, p.14). Miranda Rosa, discorrendo sobre as possibilidades de os resultados de investigações empíricas subsidiarem o legislador, adverte que “não se trata, propriamente, é claro, de uma normatividade das constatações sociológicas, mas de uma potencialidade de influência, a se exercer sobre os órgãos estatais capazes de editar leis no sentido de que estas se ajustem à realidade social, ou às necessidades reais de sua transformação, dentro dos limites das possibilidades apuradas” (1975, p.112). Também os manuais introdutórios à ciência do direito costumam deferir essa tarefa à sociologia jurídica, quando tratam de estabelecer a vizinhança e o relacionamento que o direito deve manter com as demais ciências. Assim, Paulo Dourado de Gusmão coloca uma de suas tarefas “verificar os resultados sociais das regras, teorias e instituições jurídicas, a fim de facilitar o trabalho do legislador, do juiz e do jurista na reforma e interpretação do direito” (1976, p.34).
A questão subjacente a esse programa é o velho e conhecido problema da defasagem entre a ordem jurídica e as práticas sociais concretas, cuja solução não pode ser encaminhada sem que se levem em conta a realidade dessas práticas. Ou seja: um certo “querer” social que tem de ser levado em consideração sob pena de ineficácia das normas, e que caberia à sociologia jurídica levantar. Mas, definido um campo de possível colaboração entre a sociologia jurídica e a ciência do direito,
1 Adotada pela primeira vez no início dos anos 60, em Pernambuco, no início dos anos 80 a disciplina já aparecia difundida, quer em nível de graduação, quer de pós-graduação, em vários estados brasileiros, a exemplo de Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina (ver Souto e Souto, 1981, p.54). Atualmente, por força da Portaria 1886/94, do MEC, o seu ensino tornou-se obrigatório nos cursos de graduação em direito em todo o país.
5

uma questão se impõe: que limites devem ser colocados à normatização daquilo que é fato? – e que é, portanto, factível? Voltemos ao ponto inicial.
3. Equacionando a Questão
A proposição de onde partimos é a de que o direito mais legítimo e eficaz seria aquele que correspondesse às necessidades e aspirações de sues destinatários. O truísmo é pouco discutido, e até parece antipático coloca-lo em discussão. Pois um tal direito não corresponderia à essência mesma da democracia? Paremos para refletir um pouco, pois convém desconfiar das primeiras evidências. Ocorre-me suspeitar, com efeito, que, no nível genérico em que esse pressuposto se coloca, ele corre o risco de ser um desses princípios com que todos concordamos exatamente porque, em concreto, não sabemos muito bem do que estamos falando. Daí valer a pena colocar como questão uma indagação que ultrapasse o nível retórico do senso comum, como a seguinte: será que a idéia de um direito colado às aspirações dos seus destinatários estará suficientemente atenta às especificidades do mundo real? Não seria ela demasiadamente generalista a ponto de não dar conta das questões com que nos defrontamos quando abrimos a porta da rua? Ou seja: o que queremos pôr em discussão é a validade dessa idéia abstraída das circunstâncias histórico-sociais concretas em que ela se aplica. Nesse sentido, a questão da performance tradicional da polícia no Brasil é, sob todos os aspectos, exemplar.
A nossa polícia, sabemos todos, pouco está submetida ao controle da lei. É de conhecimento público que em relação às classes populares ela age muitas vezes com desenvolta brutalidade, apesar do arcabouço legal de inspiração liberal sob que supostamente vivemos. Invade domicílios, prende para depois investigar, tortura para obter confissões – etc. Quem, no Brasil, quiser conhecer de fato as funções que a polícia exerce, talvez descubra mais consultando as páginas policiais nos jornais populares que abrindo o Código de Processo Penal. Como observou certa feita Hélio Bicudo, “pode-se dizer (...) que a Justiça Penal no Brasil é feita pela Polícia” (1982, p.77).
Disso não se deduza que estou afirmando que a polícia e as classes populares sejam entidades que se relacionem apenas pelo enfrentamento e pela exclusão. Não é verdade. Ao contrário do que se poderia à primeira vista imaginar – e até do que sugere a maior parte da literatura existente sobre o tema -, as classes populares também demandam serviços da polícia, e muito. É de se ver, por exemplo, a considerável quantidade de pessoas pobres que, diariamente, procuram delegacias e comissariados de polícia para resolver lá mesmo pequenos casos de natureza pessoal em que se envolvem (agressões, ofensas morais – etc.), como demonstram os dados de uma pesquisa de campo feita no Recife no início dos anos 802.
Assim, a relação entre a polícia e as classes populares é permeada por uma ambigüidade onde se alternam a prestação de serviços e a repressão – a mais das vezes ilegal. E a verdade é que essas ações à margem da lei não são eventuais excessos de “maus policiais”, mas configuram hábitos e práticas corriqueiras que virtualmente revogam as leis formalmente vigentes. E, o que é mais preocupante, tudo parece indicar que essa performance policial tem uma forte legitimidade social, que ela conta com um significativo apoio da população. Deixemos falar um delegado:“Existe uma pressão da própria sociedade para que a polícia pratique a violência. Essa pressão é mais nítida nos casos de crime contra o patrimônio: a vítima não se satisfaz apenas com a elucidação do crime e a prisão dos eu autor, mas quer a recuperação dos objetos roubados” (Veja, 11.7.79).
Sabemos todos que esse depoimento não constitui mera defesa em causa própria, que ele é mais ou menos veraz. Faz parte de certa crença nacional a opinião de que “ladrão tem que apanhar”. Esse juízo percorre difusamente o nosso senso comum, pervasando inclusive as diversas classes sociais. Relato, a propósito, uma experiência pessoal. Certa vez, passando por uma loja de roupas do centro do Recife, presenciei um ajuntamento na calçada. Havia muita gente falando alto, como
2 Ver o primeiro ensaio desse livro, Sua Excelência o Comissário. E, para uma visão da polícia como local de resolução de conflitos do início da Republica Velha, no Rio de Janeiro, ver Bretãs, 1985.
6

se algo de grave tivesse acontecido lá dentro. Perguntei a um dos balconistas o que era. Tratava-se de um ladrão que tinha sido pego e que tinham prendido no banheiro. “À espera da polícia?” – perguntei. Não. Segundo me explicou o balconista, “o ladrão é recruta do exército, e a polícia não pode bater”. E isso dito sem nenhum espanto, como se fosse absolutamente natural que o ladrão, pelo seu delito, fosse passível da pena de espancamento. Só que, por ser recruta do exército, tinha direito a um regime especial ...
Esse caso parece exemplificar certa visão, ao que tudo indica bastante popular, sobre o problema da criminalidade entre nós3. Uma visão que, no limite, aceita e endossa a tese da morte dos bandidos como solução para o problema da crescente criminalidade urbana. Como certa vez anotou Maria Victória Benevides, analisando os surtos de paranóia coletiva que tomam conta das populações das nossas grandes cidades, “das autoridades mais bem situadas aos cidadãos mais comuns parece surgir a sanha de nova ideologia de segurança nacional, baseada numa concepção fascistóide de limpeza da sociedade pela eliminação dos marginais” (1983, p.99).
Para o tema que nos interessa – a sociologia jurídica como saber ancilar do direito -, que reflexões podemos fazer a partir dessa realidade? A atuação policial à margem da lei para combater a criminalidade dos assaltantes parece contar com o respaldo, pelo menos velado, da opinião pública. Assim, tudo indica que ela conta com uma – digamos assim – legitimidade estatística. Nem por isso, entretanto, seríamos tentados a dizer que a sociologia jurídica deveria abonar as teses da prisão ilegal – para legalizar a “prisão para averiguações” -, da tortura como método de investigação – legalizar o “pau-de-arara” – ou ainda da pena de morte – para legalizar as operações dos “esquadrões” e “justiceiros”. Nenhum sociólogo do direito, que seja do meu conhecimento, jamais chegou a propor tais medidas a partir de constatações que mostram o apoio popular a operações desse tipo. Quer dizer: estou simplesmente raciocinando em tese, procurando mostrar, com alguns exemplos extremos, até onde poderia chegar uma determinada perspectiva teórica se levada coerentemente – mas acriticamente – até o fim. Mas, então, temos aqui um problema que é colocado pela intromissão de uma valoração ética do pesquisador incidindo sobre os dados de suas pesquisas factuais, o que remete o problema para um outro patamar de considerações.A questão com que aqui nos defrontamos é a de uma recusa em abonar o que deve ser o direito a partir de uma passiva consulta ao real. Isso porque o real, muitas vezes, contraria valores do pesquisador. Como resolver o impasse? Num nível meramente pragmático, diria que essa é uma questão que só se resolve caso a caso. Num nível teórico, mais geral, entretanto, diria que esse é um problema sem solução. Dessa forma, a única “solução” possível é questionar a própria existência do problema como ele foi formulado, o que ns leva a refletir criticamente sobre uma das tradiç~eos mais paradigmáticas da sociologia jurídica.
4. Os Perigos do Sociologismo
A idéia de constituição da sociologia jurídica como um saber que teria como uma de suas finalidades investigar na realidade as práticas jurídicas efetivamente vigentes – e portanto capazes, num segundo passo, de subsidiar o legislador – é uma idéia que, de certa forma, se confunde com o próprio sentido fundacional da disciplina, que já desde seus primórdios, ao afirmar-se em oposição à dogmática jurídica, tendeu a uma valoração das práticas jurídicas concretas como sendo o verdadeiro direito, em contraposição aos modelos jurídicos enunciados no ordenamento oficial. Trata-se de uma visão sociologista sobre o direito.
Uma das considerações mais recorrentes sobre o sociologismo jurídico é a que o considera um enfoque “que se caracteriza por situar nas profundezas da vida social a única fonte de direito” (Carbonnier, 1979, p.28). E, apesar das advertências de Elias Dias de que “o sociologismo possa e deva ser sujeito a críticas a partir de uma instância mais geral que pretenda referir-se ao conceito total de Direito”, e de que ele “nunca deva sem mais aquela ser identificada com a sociologia jurídica mesma” (1974, p.156), a verdade é que a preocupação em fazer essas ressalvas indicam,
3 Da criminalidade “pé-de-chinelo”, naturalmente, como lembra Luigi Moscatelli (1982, p.143), não a dos estelionatários dos grandes golpes financeiros.
7

precisamente, a prestigiosa tradição do enfoque. O que se explica, talvez, pelo fato de um dos mais vibrantes sociologistas, Eugen Ehrlich, ter sido aquele autor a quem geralmente se credita o fundamento da própria sociologia jurídica (Souto, 1978, p.47; Carbonnier, 1979, p.125; Saldanha, 1980, p.33).
Isto é: já por nascimento, a disciplina apareceu comprometida com o projeto de estudar principalmente as práticas jurídicas efetivamente realizadas pela sociedade, aquilo que Ehrlich chamou de “direito vivo”. Herdeiro da tradição crítica ao movimento codificador, o que o distingue de escolas como a do Direito Livre parece ser menos uma questão de enfoque e mais uma questão de métodos. Ehrlich estabelece a necessidade de pesquisas empíricas que captem o “direito vivo” – aplicação de questionários, entrevista, análise de documentos, observação e até experimento -, com o que a nova disciplina teria efetivamente status científico. Por trás desse programa subjaz a idéia crítica de que o direito legislado, necessariamente estático, mínimo e distante, não dá conta das especificidades, da riqueza e da mobilidade do real, criando-se assim uma defasagem entre aquilo que a lei diz e aquilo que a sociedade realmente pratica. Na abertura de sua obra clássica publicada e 1913 – Fundamentos da Sociologia do Direito -, querendo resumir numa só frase toda a tese contida no livro, Ehrlich escreveu a seguinte premissa: “Ainda no tempo presente, como em outras épocas, o centro de gravidade do desenvolvimento do direito não se acha na legislação, nem na ciência jurídica, nem na jurisprudência, mas na sociedade mesma” (Ehrlich, 1976). Daí que ele considere como o verdadeiro direito aqueles usos e costumes realmente observados pelos grupos sociais, não só os reconhecidos pelo direito oficial, mas também os que passaram despercebidos e até mesmo os que a lei desaprovou.
Essas premissas epistemológicas marcam, de um modo geral, o enfoque sociologista sobre o direito. Ora, o investimento na realidade captada por esse enfoque, se não é feito com um espírito crítico que ultrapasse a mera constatação factual, pode levar ao equívoco de, em nome de promovermos o “verdadeiro” direito, legitimarmos de fato a injustiça. A ultrapassagem desse dilema não se faz sem um questionamento das vinculações epistemológicas que o sociologismo mantém com o positivismo nas ciências sociais – corrente teórica que elege os postulados das ciências naturais como modelo ideal da ciência, de onde decorre que as relações sociais correm o risco serem percebidas como dados naturais cuja formação não se questiona e sem relação aos quais há que se prestar a mesma submissão que se deve às leis da natureza. Semelhante “naturalização” parece perpassar os postulados sociologistas de um Ehrlich, para quem existe na sociedade um direito vivo que “não está nas proposições jurídicas do direito positivo”, mas que “domina a vida” (1976, p.592). Para voltar aos exemplos de onde partimos, isso pode ser bastante salutar se pensarmos em fenômenos culturais de fundas raízes populares como, por exemplo, o jogo do bicho. Apesar de ilegal, ele configura práticas jurídicas que, por sua persistência histórica, bem poderiam ser consideradas um fenômeno típico de “direito vivo”. Mas há outras práticas que também podem ser consideradas – dentro de critérios sociologistas – como jurídicas, mas às quais já não podemos inocentemente chamar de “direito vivo”, porque uma tal designação esconderia o fato de que tais práticas cristalizam a injustiça. É o que acontece com os usos e costumes da polícia que, mesmo sendo ilegais, constituem práticas históricas inscritas até na expectativa dos atores sociais.
Mas a questão da injustiça como um dos elementos constituintes da própria realidade está ausente dos postulados positivistas de um modo geral. Para ver isso basta considerar o que diz Durkheim, certamente o mais clássico e o mais importante teórico da corrente positivista nas ciências sociais. O seu pensamento é até certo ponto – pois na verdade ele não se limita a isso – um bom exemplo de rendição ao real. Na sua formulação clássica, os fatos sociais “devem ser tratados como coisas – eis a proposição fundamental de nosso método” (1978, p.XX). O que ele intenta é descobrir as leis que regem a vida em sociedade, sem tomar partido, semelhantemente ao físico que se debruça sobre o mundo material para apreender o sistema de causalidade que o regula. Isso pode levar a uma resignada aceitação do mundo tal qual existe, pois “é um postulado essencial da sociologia que uma instituição humana não poderia repousar sobre o erro e sobre a mentira (...). Se ela não estivesse fundada na natureza das coisas, ela teria encontrado resistência nas coisas, contra a qual não poderia triunfar” (1973:508).
8

Sem querer retomar a extensa literatura sobre as diferenças – quer quanto ao objeto, quer quanto ao método – entre as ciências sociais e as da natureza, consideremos apenas um elemento distintivo que, a meu ver, é fundamental e intransponível: nas ciências sociais, as regularidades observadas podem ser alteradas pelo agir dos homens. A lei da queda dos corpos pesados não é revogada pela aerodinâmica: os aviões, na verdade, voam “apoiando-se” sobre ela. Já a lei de ferro dos salários de Ricardo (salários igual a nível de subsistência mínima) pode ser alterada pelas lutas sindicais. Além disso, o próprio conceito de subsistência mínima é extremamente móvel, pois o que se considera mínimo varia de acordo com as condições socioculturais de cada época.
Ora, também aqui poderíamos considerar que a repressão policial das classes populares à margem da lei, uma recorrência no Brasil desde o início de sua história, decorre de algo bem mais estrutural do que um mero e suposto despreparo da polícia; que, também aqui, opera uma lei de ferro da repressão. Ocorre que o processamento dos crimes de acordo com a lei (o inquérito, o envio à justiça, o processo, a sentença etc, tudo de acordo com o Código de Processo Penal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos) implica uma operação demorada e cara que só pode funcionar a contento numa sociedade bem diferente da nossa, onde a infração às regras civilizadas de convivência seja um fato incomum, estatisticamente pouco relevante. As cifras brasileiras, contudo, dão conta de uma realidade bem diversa. Em dezembro de 1982, em Pernambuco, o secretário da segurança declarava que havia “perto de 50 mil processos criminais pendentes de julgamento na Comarca de Recife” (Diário de Pernambuco, 13.11.83). em 24.1.82, a Folha de São Paulo informava que naquele estado havia cerca de 60 mil pessoas condenadas, com mandados de prisão assinados e em liberdade por falta de presídios.
Esses dados estão a dizer que numa sociedade como a brasileira, onde já as condições de vida de amplas camadas da população são um escândalo ordinário e cotidiano, o processamento dos delitos de acordo com a lei tem escassas possibilidades de prosperar4. É nesse sentido que raciocina Luigi Moscatelli: “imaginemos o que aconteceria (...) se a polícia policiasse apenas e limitada pelo seu código de ética e atribuições legais. Com certeza, o resultado seria o caos da ordem desordenada que nos caracteriza” (1982, p.74). A esse respeito vale lembrar que, vez por outra, a polícia, ao conflitar com o governo por melhores salários, faz greves brancas através da chamada “operação padrão”, que é exatamente isso: agir só e estritamente dentro da lei. Deixa-se de prender para averiguações, cessam os “arrastões”, as batidas nas favelas – etc, e logo se ouvem os clamores exigindo o restabelecimento da “ordem”.
Consideradas essas questões, poderíamos dizer que a repressão policial à margem da lei está de acordo com a “natureza das coisas”. O problema, porém (ou, ao contrário, a solução, é que esse estado de coisas não tem nada de natural. De um lado porque aí opera uma lógica de dominação, onde a repressão ilegal tem um papel político a cumprir, que é o de –segundo Paulo Sérgio Pinheiro – “preservar a hegemonia das classes dominantes e assegurar a participação ilusória das classes médias nos ganhos da organização política baseada nessa repressão” (1981, p.31). De outro lado porque tal estado de coisas pode ser, se não inteiramente eliminado, pelo menos revertido. É o que sugere esse mesmo autor quando lembra que “a ausência do controle através da violência implicaria a implantação de um programa social redistributivista, por exemplo, que provavelmente iria obrigar as classes médias a pagarem impostos de renda no nível americano ou europeu, agüentar greves e privar-se de toda a gama de subemprego que ampara as condições de vida de todos os setores das classes médias” (idem, p.32).
4 Com isso não estou afirmando – o que seria ingenuidade – que nas sociedades desenvolvidas os aparelhos estatais sejam sempre em conformidade com a lei. Como lembra Poulantzas, “A Ação do Estado, seu funcionamento concreto nem sempre toma a forma de lei-regra: existe sempre um conjunto de práticas e técnicas estatais que escapa à sistematização e à ordem jurídicas (...). Frequentemente o Estado age transgredindo a lei-regra que edita, desviando-se da lei ou agindo contra a própria lei. Todo sistema autoriza, em sua discursividade, delineando como variável da regra do jogo que organiza, o não-respeito pelo Estado-poder de sua própria lei. Chama-se a isso razão de Estado, que significa que a legalidade é compensada por apêndices de ilegalidade ...” (1981, p.95). ou seja: a diferença entre o que ocorre noutras sociedades e o que ocorre no Brasil é menos de substância e mais de grau. Aqui, é como se a “exceção” fosse a regra ...
9

Esse clima de violência institucionalizada, como ao poderia deixar de ser, tem também na opinião pública um de seus elementos constitutivos. E, no entanto, estamos acostumados a pensar, um tanto genericamente, que o direito justo é aquele que conta com o respaldo da sociedade. Numa linguagem sociológica ligada à perspectiva positivista como ela é mais convencionalmente imaginada, sugere-se não raro que o melhor direito seria aquele que contasse com o respaldo de pesquisas de opinião (Carbonnier, 1979, p.452). Essa, todavia, não é uma metodologia isenta de algumas ilusões e outros tantos perigos.
Uma das grandes objeções que se fazem a essas pesquisas é a de que elas padecem de um factualismo até certo ponto ingênuo, na medida em que “pretendem captar a realidade social a partir de uma fotografia instantânea da opinião pública sem problematizar o que é a opinião pública e sem levar em conta as estruturas e os movimentos sociais” (Thiollent, 1980, p.16). Isso quer dizer que as pesquisas, ao investirem na opinião pública em sua realidade concreta, presente, “positiva”, correm o risco de naturalizar o seu objeto de investigação, descuidando de uma questão crucial e anterior: a opinião pública não surge espontaneamente, ela é socialmente construída. Como tal, não raro ela veicula convicções que, embora apareçam como verdades naturais espontaneamente desenvolvidas, são em grande parte ideologias secretadas – ou estimuladas – pelas instâncias formadoras da opinião pública (exemplo: os meios de comunicação de massa) e interiorizada pelos indivíduos. O caso da “legitimidade” social da violência da polícia parece um bom exemplo desse fenômeno, pois, na análise de sua formação, há que se levar em conta o papel que desempenha, por exemplo, a imprensa sensacionalista – falada (Menezes, 1981/1982) ou escrita (Benevides, 1983) -, a qual, ao enfatizar (e eventualmente exagerar ...) a criminalidade dos estratos mais miseráveis da população, contribui decisivamente para a formação, no imaginário social, dos estereótipos que fazem dos pobres, pretos e favelados os eternos “suspeitos”.
Nessas condições, uma metodologia que não questione a estrutura social que condiciona a formação da opinião pública – isto é, que não questione o real, mas procure simplesmente capta-lo – arrisca-se a legitimar o status quo muitas vezes injusto. Daí a crítica várias vezes repetida de que os postulados positivistas são filosoficamente deterministas e politicamente conservadores (Trubek, 1983).
Provas resolvidas
PROVAS DA PRIMEIRA UNIDADE RESPONDIDAS QUE TIVERAM NOTA 10,0
1) A seu ver, que contribuição a sociologia jurídica pode dar ao direito?
A sociologia jurídica, nada mais é do que a ciência responsável pelo estudo dos fatos sociais no intuito de auxiliar os operadores do direito no tocante à elaboração de normas que venham a produzir maior ou menor efeitos na sociedade, em consonância com a sua aceitação social.
Ao observar a realidade como ela se mostra, a sociologia jurídica presta um grande serviço à ciência do direito, visto que a grande crítica que os juristas têm recebido é justamente a de que estes estão profundamente imersos no mundo normativo e consequentemente, totalmente alheios à realidade dos fatos.
Ao ressaltar a importância da realidade social em detrimento do estudo do direito normativo, é necessário ponderar que apenas a observância da “vida real” não é suficiente para elaboração de uma norma que atinja os anseios sociais, correndo-se o risco muitas vezes de estar se legitimando uma injustiça.
O uso de sociologismos, por exemplo, é uma excelente constatação de que nem sempre o “direito vivo” é o direito mais justo, haja vista a forte legitimação popular que existe em torno da atuação ilegal da polícia nas camadas sociais mais pobres. Sabemos que as autoridade policiais
10

atuam de forma desrespeitosa em relação aos direito humanos, prendendo arbitrariamente e torturando os cidadãos, e mesmo assim, tal atitude é aprovada pela sociedade pois contribui para a manutenção do “status quo”.
Dessa forma, mesmo com a legitimação social, verificamos que esse “direito livre” praticado pelos policiais está longe de aproximar-se de um ideal de justiça.
Assim, para concluir, entendo que mesmo contrariando Savigny, Ehrlich e Kantorovics, vejo como necessário a existência de uma maior crítica social na sociologia jurídica, para que nem todo fato social legitimamente aceito, seja transformado pelos operadores do direito em norma jurídica. Desse modo, a sociologia jurídica estaria contribuindo de maneira ainda mais eficiente para o aperfeiçoamento da ciência do direito, visto que aproximaria este um pouco mais da realidade.
2) A seu ver, o “homem cordial” favorece a democracia? Sim? Não? Por quê?
Segundo Sérgio Buarque de Holanda, o “homem cordial” teria como característica básica, o medo de apoiar-se sobre si mesmo durante sua existência, daí porque o “homem cordial” sempre buscaria o contato social, de preferência aquele pautado pelas relações familiares, como forma de evitar estar consigo mesmo, de ter de conviver com sua própria individualidade.
É da necessidade de transferir para o âmbito das relações pessoais e profissionais o modo de agir típico do seio familiar, que nasce o problema da incompatibilidade da conduta do “homem cordial” com a democracia.
Primeiro, porque na entidade familiar as relações sociais são todas baseadas nas relações de afeto, favorecendo assim a preferência de uns em detrimento de outros. Na família, os benefícios acabam restritos aos seus membros, vinculados apenas por laços de sangue, enquanto que na democracia, tal sistemática não pode nunca prosperar, visto que esta se funda no merecimento para a obtenção de benefícios.
A priorização da família pelo “homem cordial” teve como conseqüência o nepotismo, o funcionalismo público patrimonialista entre outros males que constituem-se como entraves ao nosso desenvolvimento democrático.
Outra característica do “homem cordial” contrária à democracia, seria a sua aversão aos ritualismos e consequentemente, a sua falta de coerência ideológica. Segundo Sérgio B. de Holanda, isso se traduz na medida em que o “homem cordial” se sente livre para colher filosofias de vida de diversas matizes sem a mínima preocupação com sua coerência, mas e sim com um ideal que se adeque ao seu estilo de vida.
Tal comportamento mostra-se diverso do dos anglo-saxões, por exemplo, onde eram eles que enquadravam seu “modus vivendi” a uma força maior, reguladora da vida social. Desse modo, a conduta anglo-saxônica mostra-se mais em consonância com a que se exige em uma democracia, visto que demanda mais organização, disciplina e principalmente cooperação social.
Ante o exposto, podemos concluir que nossa inaptidão para uma verdadeira democracia remonta nossas origens históricas e que a oligarquia plutocrática travestida de democracia a qual estamos submetidos, não passa de uma conseqüência de nosso caráter coletivo.
1) A seu ver, que contribuição a sociologia jurídica pode dar ao direito?
Uma das maiores preocupações que apresenta o direito – e pode-se dizer que lhe é inerente, desde os primórdios – é, sem dúvida, a problemática de sua legitimidade para buscar a pacificação com a justiça. O que é justo para alguém pode não ser para outrem, ou mesmo para a ordem jurídica posta. Tradicionalmente, nossas escolas jurídicas possuem tradição iniludivelmente dogmática, tendo como principal propósito ensinar o direito positivo, que está nos códigos. O questionamento crítico dos institutos e das regulações, muitas vezes ignorado, acabam sendo o propósito de alguns juristas que, como Cláudio Souto, se mostravam descontentes com a ordem jurídica que muitas vezes “injustamente” se apresentava. Esses poucos juristas, que se dedicavam
11

ao tema no Brasil lançaram as bases da sociologia jurídica, concebida, grosso modo, como o estudo empírico e crítico das repercussões sociais da aplicação do direito (ou a sua inaplicação), bem como de outras implicações social que margeiam a incidência concreta do ordenamento jurídico.
A meu ver, a grande contribuição que a sociologia jurídica pode dar ao direito consiste, precisamente, em sua análise crítica, desprendida das molduras do direito positivo. E daí, penso eu, decorrem duas conseqüências relevantes para se buscar uma aplicação mais justa do direito (vimos que justiça é um ideal eminentemente subjetivo, mas que, não obstante, apresenta-se muitas vezes claro ao senso comum). O primeiro deles é uma aplicação alternativa do direito (e não direito alternativo), preocupando-se com uma análise social e econômica do ordenamento; o segundo, conferir subsídios à modificação legislativa, em decorrência do dinamismo das relações sociais.
A preocupação quanto à aplicação crítica do direito como muito bem abordado pelo texto-base – direciona-se primordialmente aos juízes e promotores, porquanto ao primeiro caiba dirimir conflitos com imparcialidade, ao passo que o segundo tutela o interesse público. São esses aplicadores do direito, sobretudo, que devem buscar socorro na sociologia jurídica (e também nas demais ciências sociais) para se desprenderem da literalidade da norma e percorrerem outros fatores essenciais para a solução de conflitos. Certa feita, estive em uma sessão de julgamento no TRF da 5ª Região, quando, em uma calorosa discussão a respeito dos limites a que está o juiz adstrito na interpretação dos textos legais, o então Des Napoleão Maia Filho proferiu a seguinte frase: “juiz deve se desgarrar do texto frio da lei, caso contrário qualquer cidadão alfabetizado poderia vir aqui julgar os demais. De fato, a grande contribuição que a sociologia jurídica pode dar ao direito é justamente questionar os seus dogmas, lançando bases sólidas para uma interpretação em favor e na busca da justiça material.
Por fim, não se pode desconsiderar que uma análise empírica e crítica do grau de inserção que o direito tem na sociedade pode – e deve – motivar constantes alterações na legislação, seja para dequa-lo à realidade, seja para corrigir problemas sociais; e sempre comprometido com o ideal de justiça.
2) A seu ver, o “homem cordial” favorece a democracia? Sim? Não? Por quê?
Conforme Sérgio Buarque analisa brilhantemente em seu “Raízes do Brasil”, fala-se muito que a contribuição brasileira para a sociedade moderna seria o “homem cordial”, ser agradável, hospitaleiro e caloroso, em contraposição à frieza e à formalidade frequentemente constatadas nos povos europeus, para exemplificar. Esse jeitinho brasileiro de ser, ao contrário do que possa inicialmente parecer, traz uma série de malefícios para o Brasil, notadamente militando contra uma concepção reta de Estado Democrático. Expliquemos.
O “homem cordial” busca raízes históricas na sociedade rural, aristocrática e paternalista, resultante dos estreitos laços afetivos que uniam os componentes de um mesmo corpo familiar. O cidadão, sob esta perspectiva, é criado para viver em família, e tende a levar essa intimidade e esses valores para suas relações externas.
Com efeito, ao contrário do que se vislumbrava em tempos idos, o Estado moderno é a contraposição da família, das relações subjetivas. O Estado democrático visa ao bem-comum, ao passo que a família tende a privilegiar interesses egoísticos seus. E o bem de todos contrapõe-se frequentemente ao bem individual de seus governantes, que nestas circunstâncias, deveriam ceder aos objetivos do cargo que ocupa.
Essa contraposição entre o Estado e a família, e a forma “cordial” que o brasileiro possui de se relacionar, constituem terreno fértil para o exercício privado da função pública. E a corrupção nada mais é, nesse diapasão, do que a extensão das relações familiares (subjetivas, egoísticas, afetivas, etc) ao Estado, antíteses inexoráveis que conduzem à ampla falta de zelo pela coisa pública. O governante, munido dos valores individualista da vida eminentemente familiar, privilegia os próximos, enriquece com a coisa pública, como se o Estado fosse seu.
Sem dúvidas, o “homem cordial” prejudica a democracia que pressupõe o governo de todos em favor de todos. Esse, por certo, é um dos principais fatores que explicam o alto grau de
12

corrupção vivenciado na seara política brasileira; a corrupção tolhe a legitimidade democrática dos governantes e, no fim, deságua em forte atentado à concepção de Estado Democrático.
SEGUNDA UNIDADE
1.2.1. Resumo do livro de Mauro Cappelletti (monografia de Giovana)
1. Acesso à Justiça – atualidade relevância do tema:
O acesso à justiça não é um tema novo. Há muito que a consciência jurídica foi despertada para a dimensão social do processo, dando uma guinada na tradicional abordagem dos conceitos de jurisdição e ação, passando a enfatizar a instrumentalidade e a efetividade da tutela jurisdicional. No que a temática do acesso à justiça, sem sombra de dúvida, está intimamente ligada à noção de justiça social. (MARINONI, 1993, p. 71).
A partir do lançamento do relatório do “Projeto Florença”, por Mauro Capelletti e Bryant Garth, a matéria tem levado à reflexão pesquisadores e operadores do Direito. Os aspectos políticos, econômicos, sociais e jurídicos da questão têm sido aflorados e discutidos, com vistas ao grande desafio de suprimir o distanciamento entre a promessa de direitos, posta nas constituições e nas leis, e a realidade de sua efetivação prática, através do enorme fosso que separa a promessa (formal) da realidade (material).
O surgimento da preocupação com o efetivo acesso à justiça é também decorrência da fase instrumentalista do Direito Processual.
Nas palavras de MONDAINI5, as décadas de 1970 e 1980 assinalaram a eclosão de uma nova preocupação no interior da ciência do Direito. De uma ênfase fortemente hegemônica na lógica interna do texto legal-normativo, ocorre um significativo deslocamento na direção das relações existentes entre os dizeres dos códigos e a estrutura da sociedade sob a qual foram construídos estes mesmos códigos e sobre a qual eles também incidirão.
Em lugar de uma concepção unidimensional, pela qual o direito e a ciência jurídica limitar-se-iam à declaração de normas, afirma-se uma concepção tridimensional: uma primeira dimensão reflete o problema, necessidade ou exigência social que induz à criação de um instituto jurídico; a segunda dimensão reflete a resposta ou solução jurídica, destinados a tratar daquela necessidade, problema ou exigência social; a terceira dimensão encara os resultados, ou o impacto, dessa resposta jurídica sobre a necessidade, problema ou exigência social, levando-se em consideração os custos a suportar, o tempo necessário, as dificuldades a superar e os benefícios a obter.
Se no início do século XX a preocupação dos estudiosos se voltava para o reconhecimento da autonomia científica do processo em face do direito material, a preocupação passou a ser sua transformação em instrumento de garantia da liberdade, fazendo com que o sistema processual passasse a ser visto como instrumento destinado a atingir os escopos jurídicos, sociais, políticos e magno da jurisdição.
Como ressaltado por DINAMARCO (1985, p. 303), superada a fase conceitual do direito processual civil e não sendo mais objeto de preocupações a sua autonomia, torna-se cada vez mais nítida a necessidade de encarar o processo de uma perspectiva teleológica, instrumentalista,
5 Acesso à Justiça. Disponível em www.jusnavigandi.com.br. Acesso em 18.nov.2005
13

com o reconhecimento de sua importantíssima missão perante a sociedade e suas instituições políticas.
Da visão tradicional da instrumentalidade do processo em seu aspecto negativo, mediante a afirmação de que o mesmo seria mero instrumento do direito material, sem constituir fonte autônoma de direitos e obrigações, partiu-se para a ênfase em seu aspecto positivo, visto não como um fim em si mesmo, sendo reconhecido um verdadeiro direito a um processo que não seja empecilho à efetividade do sistema. (DINAMARCO, in Participação e Processo, 1988, p. 117).
Dessa forma, o acesso à justiça pode ser encarado como requisito fundamental de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar, os direitos de todos (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p.75), tendo sido progressivamente reconhecido como de importância capital entre os novos direitos individuais e sociais.
2. Acesso à Justiça: conceito e evolução:
Apesar de sua difícil definição, a expressão acesso à justiça externa duas finalidades precípuas do sistema jurídico: a universalidade de acesso e a produção de resultados socialmente justos, atuando como verdadeira ponte a interligar processo e justiça social. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 8).
Em conseqüência, o estudo do acesso à justiça deve ser desvinculado de uma acepção formal, que o equipara ao direito de ação previsto nos Códigos de Processo, sendo algo muito mais profundo e complexo que garantir a institucionalização do conflito através de um procedimento judicial.
A problemática do acesso à justiça não pode, pois, ser estudada nos estreitos limites de acesso aos órgãos jurisdicionais já existentes, sendo, fundamentalmente, o acesso a uma “ordem jurídica justa”, tendo como dados elementares o direito à informação e perfeito conhecimento do direito substancial; o direito de acesso à justiça adequadamente organizada e formada por juízes inseridos na realidade social; direito à pré-ordenação de instrumentos processuais capazes de promover a tutela efetiva dos direitos. Supõe, outrossim, um corpo adequado de juízes, com sensibilidade bastante para captar não somente a realidade social vigente, como também as transformações sociais a que está submetida a sociedade moderna. (WATANABE in Participação e Processo, 1988, p. 134- 135)
Ao cuidar do acesso à justiça, CINTRA, GRINOVER E DINAMARCO (2002, p. 33) sintetizam o que seja o acesso à ordem jurídica justa:
“(a) oferece-se a mais ampla admissão de pessoas e causas ao processo (universalidade da jurisdição), depois (b) garante-se a todas elas (no cível e no criminal) a observância das regras que consubstanciam o devido processo legal, para que (c) possam participar intensamente da formação do convencimento do juiz que irá julgar a causa (princípio do contraditório), podendo exigir dele a (d) efetividade de uma participação em diálogo – tudo isso com vistas a preparar uma solução que seja justa, seja capaz de eliminar todo resíduo de insatisfação. Eis a dinâmica dos princípios e garantias do processo, na sua interação teleológica apontada para a pacificação com justiça”.
MARINONI (2000, p. 28) destaca como pontos nodais da idéia de acesso à Justiça o acesso a um processo justo e imparcial; a possibilidade de participação efetiva das partes no processo; a efetivação da tutela dos direitos com atenção para as diferenças sociais e as situações específicas de direito substancial; o acesso à informação e orientação jurídicas e aos meios alternativos de composição dos conflitos.
Igual posicionamento é defendido por GRINOVER (1991, p. 141), para quem a expressão acesso à Justiça tem um significado peculiar e mais abrangente do que a simples entrada de petições e documentos no protocolo do Judiciário, compreendendo a efetiva e justa composição dos conflitos de interesses, sejam eles solucionados pelo Estado, através do Poder Judiciário, ou por outra forma, alternativa, tais como as opções pacíficas, a mediação, a conciliação e a arbitragem.
14

Pode-se afirmar, destarte, que o acesso à justiça é um direito subjetivo (oponível, inclusive, contra o próprio Estado), devendo ser garantido a todos os indivíduos, a fim de que seja dirimida toda lesão ou ameaça de lesão aos bens jurídicos.
Entretanto, dada sua vinculação essencialmente ideológica, o conceito de acesso à justiça tem sofrido alterações ao longo da história, atrelando-se à realidade e às perspectivas sociais de cada época.
Procedendo-se a uma análise histórica do que eventualmente possa ser entendido como acesso à justiça, verificar-se-á que, num primeiro momento, seu significado estava restrito à acanhada idéia de acesso aos órgãos jurisdicionais, ou seja, à possibilidade de ter os problemas resolvidos na esfera judicial, nada mais.
O Código de Hamurábi assim conclamava os súditos mais fracos a comparecerem perante o imperador – instância judicial de então – para resolução das controvérsias:
Em minha sabedoria eu os refreio para que o forte não oprima o fraco e para que seja feita justiça à viúva e ao órfão. Que cada homem oprimido compareça diante de mim, como rei que sou da justiça. Deixar ler a inscrição do meu monumento. Deixai-o atentar nas minhas ponderadas palavras. E possa o meu monumento iluminá-lo quanto à causa que traz e possa ele compreender o seu caso. (LIMA, 1983, p. 31-32).
A mesma preocupação poderia ser encontrada na Grécia Antiga, seja em razão da isonomia propagada pela Escola Pitagórica, seja através dos estudos levados a efeito por Aristóteles.
No período de transição entre a Idade Média e a Moderna, tal preocupação foi focada no âmbito da Magna Carta, de 1215, ao dispor, dentre outras normas, que a ninguém seria vendido, negado ou retardado o direito ou a justiça.
Na Idade Contemporânea, a partir de seu marco instituidor, a Revolução Francesa, com seu cunho liberal-individualista, iniciando verdadeira reação contra o Poder Judiciário (visto como braço forte do Antigo Regime), reduziu-se a função jurisdicional a mera boca da lei, sem que houvesse preocupação com a idéia do acesso à justiça.
Sob o entendimento de que os direitos naturais não necessitavam de qualquer intervenção (mas tão somente um não fazer), o Estado Liberal permanecia passivo com relação à aptidão de uma pessoa para reconhecê-los e defendê-los adequadamente.
Seguindo tal premissa, os procedimentos adotados para solução dos litígios civis nos Estados Liberais burgueses dos séculos XVIII e XIX voltavam-se tão somente para a garantia do direito formal do indivíduo agravado de propor ou contestar uma ação. Ao acesso formal, mas não efetivo à justiça, correspondia a igualdade, apenas formal, também não efetiva (CAPPELLETTI; GARTH; 1988, p. 9).
Posteriormente, ao cabo de um longo processo político que culminou com a derrocada do próprio Estado Liberal, o acesso à justiça passou a ocupar o ponto central da moderna processualística.
De acordo com CAPPELLETTI e GARTH (1988, p.10), a atenção voltou-se para o efetivo acesso à justiça a partir do momento em que o Estado Liberal individualista transformou-se em Estado Social, armando os indivíduos de novos direitos substantivos coletivos, relacionados ao trabalho, à saúde, à educação, tornando-se necessária uma atuação positiva do Estado para assegurar o gozo dos mesmos.
Desse modo, a partir da segunda metade do século XIX, sob influência do pensamento Marxista, o acesso à justiça passou a ser profundamente discutido, em princípio como forma de proteção ao trabalhador.
No campo legislativo, merece destaque a reforma do Código de Processo Civil austríaco, em 1895, priorizando aspectos como a simplicidade, a celeridade e o comportamento ético das partes, dotando o juiz de amplos poderes instrutórios.
Atualmente, portanto, já está vencida a idéia de que a mera possibilidade de acesso ao Poder Judiciário seja o verdadeiro significado do acesso à justiça. Muito mais do que o acesso aos
15

tribunais, tal expressão deve ser compreendida como a possibilidade material do ser humano conviver em uma sociedade onde o direito é realizado de forma concreta. Não bastando, pois, conferir às partes o direito à obtenção de uma sentença, impondo-se uma resolução tempestiva e efetiva daquele dado conflito.
Dentro da moderna concepção de Estado de Direito, há, de um modo geral, um consenso sobre a necessidade de existir uma instância dotada de independência, poder e imparcialidade para onde os cidadãos possam se dirigir em caso de desrespeito aos seus direitos. Esse ideal impregna de tal modo os pressupostos da democracia moderna que no próprio conceito de cidadania inclui-se entre os elementos essenciais que o definem o “direito à justiça”, por ser este o direito de defender e afirmar todos os direitos (MARSHAL, 1967, p. 63).
3. O Brasil e a evolução do conceito de Acesso à Justiça:
No ordenamento jurídico pátrio, até fins do século XVIII, poucas eram as referências legislativas ao princípio do acesso à justiça, vez que o longo período de colonização, aliado a uma independência meramente formal, tornava inexistentes as bases políticas necessárias à referida preocupação.
Na fase colonial, merece destaque a busca da isonomia intentada pelas Ordenações Filipinas, que vigoraram no Brasil a partir de 1603, as dispor que o juiz deveria preferir sempre o advogado de mais idade e melhor fama ao mais moço, evitando que o advogado de uma das partes fosse mais perito que o da parte contrária (CARNEIRO, Paulo Cezar, 2003, p. 34).
Por sua vez, após “emancipar-se” de Portugal, a Constituição de 1824, em seu artigo 179, ao determinar a elaboração de códigos civil e criminal, impunha que fossem estes fundados nas bases sólidas da justiça e da eqüidade.
Traçando um perfil da monarquia brasileira, o cientista político Andrei Koerner demonstrou que o princípio da inafastabilidade da jurisdição inexistia sequer em seu aspecto formal, uma vez que o sistema excluía escravos, mulheres e os filhos não emancipados, devendo quaisquer conflitos ser resolvidos na esfera doméstica ou mediante representação pelo chefe de família. Além disso, havia as chamadas jurisdições especiais concernentes aos militares, religiosos e funcionários públicos. (apud CARNEIRO, Paulo Cezar, 2003, p. 36).
A Proclamação da República não trouxe, em princípio, maior alteração ao cenário acima. No entanto, a partir da República Nova começaram a surgir mecanismos tendentes a garantir a efetividade material do Judiciário.
A Constituição de 1934, por exemplo, em seu capítulo II, criou a ação popular e a gratuidade judiciária aos necessitados, além de impor aos Estados a criação de órgãos voltados à assistência judiciária gratuita.
A CLT, por sua vez, inaugurou um procedimento célere e relativamente informal para o processamento dos dissídios individuais e coletivos no âmbito das relações laborais.
Entretanto, apesar de referidos avanços, o direito processual nacional, até os anos oitenta do século passado, permaneceu tecnicista e conservador, voltado para a segurança jurídica e para a igualdade meramente formal, sem qualquer preocupação com o efetivo acesso das camadas mais humildes da população.
Para DINAMARCO (1985, p. 312-319), tal atraso deveu-se, em parte, ao fato de ser o processo considerado como um instrumento técnico e o Direito Processual como ciência neutra, preocupada com sua autonomia científica e não com a real efetividade de seus métodos.
Em 1982, a situação começou a alterar-se, a partir da experiência dos Conselhos de Conciliação instalados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em parceria com a Associação dos Magistrados – AJURIS.
Em novembro de 1984, a Lei nº 7.244, tomando por base os Conselhos gaúchos, criou os Juizados de Pequenas Causas, aos quais foi atribuída competência para julgamento das causas de valor até 20 salários mínimos, tendo por princípios a gratuidade, a informalidade, a celeridade, a descentralização e a ênfase à conciliação.
16

Em outubro de 1988, promulgou-se a atual Constituição, consagrando um extenso rol de direitos individuais, coletivos e difusos, trazendo, como contraponto, uma série de instrumentos aptos a garanti-los.
No texto constitucional, merecem destaque a busca pela igualdade (não apenas formal, como material); a integralidade da assistência jurídica aos necessitados; o resgate da justiça de paz, para celebração de casamentos e atividades conciliatórias; a ampliação das ações de natureza coletiva; o fortalecimento do Ministério Público e das Defensorias Públicas; a previsão para criação dos Juizados Especiais com competência para julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e das infrações penais de menor potencial ofensivo (art. 98, I).
Posteriormente, inúmeras foram as reformas introduzidas no Código de Processo Civil voltadas à efetividade do processo, instituindo a obrigatoriedade das tentativas de conciliação, alterando o processamento dos recursos, transformando o tradicional processo de execução em fase de cumprimento da sentença.
Entretanto, tais garantias legais e constitucionais não têm sido efetivamente asseguradas, sequer na estreita acepção de acesso ao Poder Judiciário, implicando na transformação dos direitos garantidos constitucionalmente em meras declarações políticas.
A carência de recursos econômicos, que no caso brasileiro se agrava ano a ano, em razão da cada vez maior concentração de renda, transforma praticamente em letra morta os direitos de milhares de cidadãos que não têm qualquer condição de arcar com os gastos decorrentes de uma demanda judicial.
A situação acima descrita se torna mais grave quando se parte para a questão das causas de pequeno valor pecuniário, cujo proveito econômico, na maioria das vezes, excederia os próprios gastos com o litígio. Ademais, em razão da complexidade de nosso aparato jurídico e da falta de informação e orientação, muitas pessoas não têm ciência dos seus direitos, não conseguindo detectar as lesões e ameaças de que são vítimas. Isso faz com que muitos indivíduos lesionados em seus direitos não busquem as vias oficiais para fins de reparação, disso decorrendo o estado de permanência da lesão, afastando o Estado e a jurisdição de seu escopo magno: a pacificação social com justiça.
4. A efetividade do Acesso à Justiça e o princípio da inafastabilidade da jurisdição:
Consoante BARROSO (2001, p. 81-83), os atos jurídicos, entre eles os normativos, comportam análise sob três planos distintos e inconfundíveis: a existência, a validade e a eficácia.
Um ato jurídico é existente quando nele estão presentes os elementos constitutivos definidos pela lei como causa eficiente de sua incidência.
Existindo o ato, pela presença de seus elementos constitutivos, este se sujeita a um segundo momento de apreciação, que é o da validade, devendo-se constatar se os elementos do ato preenchem os atributos e requisitos que a lei lhes acostou.
Por fim, a eficácia dos atos jurídicos consiste na sua aptidão para a produção de efeitos, para a irradiação das conseqüências que lhe são próprias. Eficaz, assim, é o ato idôneo para atingir a finalidade para a qual foi gerado.
Entretanto, ainda de acordo com BARROSO (2001, p. 83), é preciso distinguir a eficácia jurídica, que é a aptidão da norma para produção dos efeitos próprios, da eficácia social, também denominada de efetividade, que diz respeito ao cumprimento efetivo do direito por parte da sociedade.
A efetividade significa, pois, a concretização do comando normativo, sua força operativa no mundo dos fatos, o desempenho concreto da sua função social, aproximando o dever-ser normativo e o ser da realidade social.
Vê-se, portanto, que o dispositivo contido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição, ao estatuir a inafastabilidade do acesso ao Judiciário é existente, válido e dotado de eficácia jurídica plena; entretanto, ainda não foi totalmente dotado de efetividade, em razão dos óbices que são postos à grande maioria da população.
17

Apesar de, em seu perfil constitucional, a garantia de acesso à justiça cingir-se de caráter universal, inúmeros são os obstáculos sociais, culturais e econômicos que se lhe apresentam.
Vastas camadas da população vêm sendo excluídas da justiça convencional, seja por estarem à margem da sociedade (favelados, moradores de rua), seja pela vultuosidade de seus interesses (grandes corporações, que submetem seus conflitos à arbitragem), fazendo com que o Judiciário sirva a estamento cada dia mais reduzido: a chamada classe média (NALINI, 2000, p. 31). Para a grande maioria da população não só brasileira, como latino-americana, o direito é um dado distanciado de sua existência real, uma mera abstração, apartada de sua realidade, em nada contribuindo para modificar as condições sociais de vida dos mais humildes. (GRAU, 1996, p.123).
Objetivando detectar a origem de referida exclusão, o “Projeto Florença”, idealizado por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, envolvendo juristas, sociólogos, economistas, antropólogos e psicólogos de vários países (contando, inclusive, com o apoio da Ford Foundation e do Conselho Nacional de Pesquisas da Itália), evidenciou que os obstáculos à plena realização do acesso à Justiça se consubstanciam em quatro pontos sensíveis: a admissão ao processo, o modo-de-ser do processo, a justiça das decisões e a utilidade dos pronunciamentos judiciais.
Em seu relatório, Capelletti e Garth chegaram à conclusão de que o problema da falta de efetividade não estava ligado ao fato de as sociedades modernas proclamarem um grande número de direitos sociais. O custo dos litígios, o nível social e educacional das partes, o seu poder econômico, a questão dos interesses difusos e a dificuldade de vê-los assumidos por indivíduos isoladamente são todos inibidores do acesso à justiça.
A admissão ao processo vem sendo dificultada por fatores de ordem econômica, social e jurídica. Seu alto custo, aliado à pobreza e miserabilidade, tem inviabilizado o exercício do direito de ação por grande parcela da população.
A impossibilidade econômica, a descrença, a desproporção entre o custo e o retorno esperado acabam constituindo-se em poderosos obstáculos interpostos entre a pretensão e o processo.
A própria assistência judiciária não vem conseguindo, por falta de estrutura, atender a todos os que dela necessitam, o que impõe uma revisão sobre os valores das custas e taxas judiciárias, bem como sobre a necessidade de adiantamento de preparos, gastos com perícias etc.
Não é raro o cidadão desistir de pugnar em juízo por um direito seu, diante da incerteza decorrente da morosidade e do descrédito nas instituições públicas responsáveis pela prestação jurisdicional.
Nessa esteira de pensamento, DINAMARCO (2003, p. 201) destaca os custos elevados, as deficiências da assistência judiciária e o despreparo da população na defesa dos próprios direitos e interesses como as causas maiores da estreiteza da via de acesso à Justiça.
Os altos custos a serem despendidos ao longo de um processo judicial, mormente no tocante às custas iniciais e aos honorários advocatícios, constituem uma importante barreira ao acesso à justiça, afastando, principalmente, aqueles mais carentes de recursos que, muitas vezes, desistem de pleitear seus direitos.
Ademais, as causas que envolvem somas relativamente pequenas são mais prejudicadas pela barreira econômica, vez que a relação entre os custos a serem enfrentados nas ações cresce na medida em que se reduz o valor da causa.
Por outro lado, uma justiça que não cumpre suas funções dentro de um prazo razoável é, para muitos, uma justiça inacessível. Com efeito, quanto mais longa for a marcha processual, maiores são os custos para as partes, o que pressiona os economicamente fracos a abandonar suas causas ou aceitar acordos por valores muito inferiores àqueles que teriam direito. O passar do tempo, além pôr em risco o resultado útil do processo, prolonga as angústias do conflito e o estado de lesão. Tais constatações vêm transformando o binômio custo/duração no grande fantasma do processo civil da atualidade (DINAMARCO, 2003, p. 337).
Um outro obstáculo que surge – as possibilidades das partes - decorre diretamente dos dois anteriores, visto que aqueles que possuem uma gama maior de recursos financeiros têm inúmeras vantagens ao propor ou defender demandas. Além de poderem pagar para litigar, não
18

necessitando enfrentar o martírio das varas da Assistência Judiciária, podem ainda suportar as delongas do litígio.
Mais um fator correlato se refere à capacidade jurídica pessoal da parte. Muitas (senão a maior parte) das pessoas comuns não podem – ou, ao menos, não conseguem – reconhecer a existência de um direito juridicamente exigível.
4.1 Obstáculos ao Acesso à Justiça:
4.1.1. 1º Óbice: O Custo do Processo
O acesso aos tribunais, na maioria dos países, incluindo-se o pagamento das custas e honorários advocatícios, é altamente dispendioso, constituindo imensa barreira ao acesso à justiça.
O custo excessivo do processo é uma barreira por vezes intransponível para as camadas mais pobres da população. No caso brasileiro, socialmente caracterizado pela concentração de renda nas mãos de poucos, a situação se torna sensivelmente gravosa, fazendo com que milhares de brasileiros não disponham de condições econômicas de arcar com os custos decorrentes de uma demanda judicial.
Essa barreira dos custos prejudica, especialmente, as causas envolvendo somas relativamente pequenas, já que aqueles podem vir a exceder o resultado a ser obtido com a controvérsia. De acordo com as conclusões do Projeto Florença, a relação entre os custos a serem enfrentados nas ações cresce na medida em que se reduz o valor da causa.
Afora as custas judiciais e honorários advocatícios, há processos em que, dada a natureza do direito material, os custos tornam-se ainda mais elevados, por dependerem da realização de perícias dispendiosas, como no caso das ações de investigação de paternidade em que seja necessária a realização do exame de DNA.
RODRIGUES (1997, p. 30) destaca duas formas pelas quais a desigualdade sócio-econômica se traduz em obstáculo ao acesso à justiça: dificultando o acesso ao Direito e ao Judiciário, tendo em vista a falta de condições materiais de grande parte da população para fazer frente aos gastos que impõe uma demanda judicial; ou, sendo conseguido tal acesso, a desigualdade material acaba por colocar o mais pobre em situação de desvantagem dentro do próprio processo.
Enquanto pessoas com recursos financeiros consideráveis têm condições de pagar para terem seus direitos bem defendidos, podendo, ainda, suportar com menos (ou nenhum) sofrimento a demora do processo, pessoas menos abastadas geralmente não têm seus direitos defendidos de forma plena e com afinco, tampouco possuem condições financeiras de suportar a angústia da demora na prestação jurisdicional.
Ademais, em razão da complexidade das leis, bem como da falta de informação e orientação, as pessoas juridicamente leigas não têm aptidão para reconhecer os próprios direitos, tampouco para perceber as lesões de que são vítimas.
Por outro lado, a questão pecuniária também afeta causas envolvendo pequenos valores, já que os custos de sua resolução podem vir a exceder o resultado útil a ser obtido com a demanda, inviabilizando o ingresso em juízo, fazendo com que o conflito permaneça sem solução.
Reconhecendo essa especificidade, CAPPELLETTI e GARTH (1988, passim) aduzem que, sem que seja estabelecido um procedimento especial para a resolução de causas envolvendo pequenos valores econômicos, os direitos das pessoas comuns freqüentemente permanecerão em nível apenas simbólico.
4.1.2. 2º Óbice: A Falta de Igualdade Material entre as Partes
A questão da desigualdade entre os litigantes é outro importante fator de exclusão, relacionando-se diretamente aos recursos financeiros e à aptidão para reconhecer direitos e propor uma ação ou sua defesa.
19

Formalmente, a igualdade perante a justiça está assegurada na Constituição (art. 5º, XXXV). No entanto, tratar como iguais sujeitos que econômica e socialmente estão em desvantagem não é outra coisa senão uma forma de desigualdade e de injustiça (CAPPELLETTI, 1974, p. 67). O desequilíbrio é notório, por exemplo, quando de um lado, situa-se uma empresa dotada de arsenal técnico e econômico e do outro um indivíduo hipossuficiente.
O desconhecimento dos próprios direitos ou dos instrumentos de garantia formam uma barreira psicológica, afetando a disposição das pessoas para recorrer aos processos judiciais.
Atento ao fato de que o conhecimento dos direitos é pressuposto para a efetivação, MORELLO (in Participação e Processo, 1988, p. 167) faz a seguinte indagação:
De qué vale que los operadores jurídicos diversifiquen vocaciones y estudios cada vez más complejos en sus técnicas, y generen una imparable inflación de normas, si, contrariamente, los destinatarios (consumidores) de todo ese arsenal jurídico y de las ulteriores tareas de interpretación, se hallan, vivencialmente, en un vaciamiento o laguna acerca de la existencia, sentido y alcances de unos derechos que ellos en verdad no están en condiciones de alegar, ejercer ni menos tutelar?
A grande desigualdade consiste, particularmente, na ignorância que a maioria das pessoas tem acerca dos seus direitos e dos remédios necessários à sua efetivação. Para fulminar tal entrave, é preciso que a mera assistência judicial se transforme verdadeiramente em assistência jurídica, não somente como atividade dinamizada no âmbito de lides em curso perante o Judiciário, mas aliada a atividades no campo da prevenção, da consultoria, do aconselhamento e da informação.
A despeito da presunção do conhecimento da lei, a realidade é que, no Brasil, muitas pessoas desconhecem os direitos mais básicos e os instrumentos processuais destinados a garanti-los. No âmbito das relações de consumo, por exemplo, um cartaz no interior dos estabelecimentos comerciais comunicando a impossibilidade de se trocar uma mercadoria tem muito mais peso que o direito de arrependimento garantido pelo Código de Defesa do Consumidor.
A falta de conhecimento dos direitos interliga-se, por sua vez, com uma terceira barreira importante – a disposição psicológica das pessoas para recorrer a processos judiciais. Procedimentos complicados, formalismo, ambientes que intimidam, como o dos tribunais, juízes e advogados, figuras tidas como opressoras, fazem com os que sabem onde encontrar aconselhamento jurídico qualificado acabem por não buscá-lo.
Essa carência de informação, repita-se, poderia ser sanada através de adequados mecanismos voltados à assistência jurídica aos hipossuficientes. No entanto, no caso brasileiro, a garantia de assistência jurídica gratuita aos necessitados, fixada na Constituição (artigo 5º, inciso LXXIV), não goza de efetividade, dada a insuficiência do número de Defensores Públicos, aliada à precariedade estrutural dos núcleos da Defensoria.
Em que pese o mandamento constitucional que determina ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, a verdade é que a falta de vontade política está a dificultar a efetivação do direito fundamental de obter aquela assistência.
No núcleo da Defensoria Pública estadual localizado na Faculdade de Direito do Recife, por exemplo, apesar do quantitativo de acadêmicos de Direito ali estagiando, os defensores nele lotados não conseguem dar conta das demandas relativas a Direito de Família que lhe são postas, sendo comuns longas filas de espera para atendimento, formadas principalmente por gestantes e mães com crianças de colo, em busca de pensão alimentícia.
Em referido núcleo, que provavelmente é um retrato da situação existente em todos os demais, a triagem de novos casos é feita apenas dois dias por semana, no exíguo horário das 8h às 12h, com outros dois dias para tentativas de acordo e um dia para trabalhos internos; quanto às ações judiciais, são intentadas apenas após um largo período de espera, ficando até mesmo o acompanhamento do procedimento a cargo das próprias partes, que têm a incumbência de comparecerem periodicamente ao fórum6.
6 Fatos observados quando da realização de estágio relativo à disciplina Prática Judiciária, na Faculdade de Direito do Recife.
20

Para CAPPELLETTI e GARTH (1988, p. 21-22), a desigualdade entre as partes poderia também ser equacionada com uma maior intervenção do juiz na condução do processo, uma vez que julgadores passivos exacerbam claramente esse problema, por deixarem às partes a tarefa de obter e apresentar as provas, desenvolver e discutir a causa.
A inexistência de igualdade material entre as partes é, no âmbito da filosofia aristotélica, uma verdadeira denegação da justiça. Para ARISTOTELES (2006, p. 109), o justo seria uma proporção e recorrer ao juiz seria recorrer à justiça, por ser aquele o responsável por restabelecer a igualdade, ou seja, a proporcionalidade anteriormente quebrada.
Nos Estados onde primeiro surgiu a idéia de ampliação do acesso à justiça, o movimento exprime a concepção fundamental de igualdade substancial, contraposta à igualdade formal (NALINI, 2000, p. 30).
O princípio da igualdade perante o Judiciário somente será observado de maneira conseqüente quando o processo não aprofundar o desequilíbrio entre as partes e quando expressivas camadas populacionais, notadamente as despossuídas, tiverem assegurado o acesso à ordem jurídica justa (NALINI, 2000, p. 171).
Apresentada por Cappelletti e Garth, ao lado da simplificação dos procedimentos e da ampliação da legitimidade, como forma de acessar mais eficazmente a tutela jurisdicional, a assistência judiciária deixa de ser entendida apenas como uma garantia meramente formal, mas como um instrumento assecuratório da igualdade substancial das partes perante o juiz, conferindo-se, aos menos favorecidos economicamente, um defensor apto a realizar efetivamente o contraditório.
Desse modo, urge a necessidade da adoção de novos mecanismos que permitam a melhora da perspectiva dessa verdadeira salvaguarda da democracia substancial que é a garantia da assistência jurídica ao necessitado, pois só assim o Estado estará cumprindo sua missão de garantidor do respeito à dignidade humana.
4.1.3. 3º Óbice: O Problema da Legitimidade Ativa para a Causa
Em virtude do aumento da complexidade da sociedade, tem havido uma crescente ampliação dos direitos que transcendem ao indivíduo, como os chamados interesses difusos. Na sociedade atual, os conflitos não têm mais cunho unicamente individual, podendo envolver uma coletividade ou, até mesmo, todas as pessoas, necessitando de uma técnica processual específica para sua resolução.
Conforme aduzem CAPPELLETTI e GARTH (1988, p. 21-26), o problema básico que eles apresentam – a razão de sua natureza difusa – é que, ou ninguém tem direito de corrigir a lesão a um interesse coletivo, ou o prêmio para qualquer indivíduo buscar essa correção é pequeno demais para induzi-lo a intentar uma ação.
Decorre daí a falta de uma efetiva proteção de referidos interesses, já que o cidadão, individualmente, não se sente motivado a ingressar com uma ação para defender os interesses da coletividade, diante dos obstáculos que encontra para fazer valer seus próprios direitos, de forma que mais remotamente ainda procurará defender interesses que são de todos e que, por isso mesmo, podem lhe parecer alheios.
4.1.4. 4º Óbice: a Capacidade Postulatória:
Por capacidade postulatória se concebe a possibilidade de dirigir-se diretamente ao magistrado para a propositura de ações. No Brasil, salvo pouquíssimas exceções, referida capacidade é privativa dos Bacharéis em Direito, regularmente inscritos na Ordem dos Advogados.
MARINONI (2000, p. 74-75), enxerga a insistência dos advogados no sentido de que são indispensáveis à administração da justiça como verdadeiro obstáculo, podendo representar a troca de uma simples crise de mercado de trabalho por uma crise de legitimidade política e profissional.
21

Conforme demonstra RODRIGUES (1997, p. 129), a concessão de capacidade postulatória exclusivamente aos advogados, colocada como problema para o acesso à justiça, torna-se mais grave frente à miserabilidade da maioria da população brasileira.
Especialmente em alguns conflitos mais simples e de menor expressão pecuniária, a atribuição de capacidade postulatória às próprias partes pode representar importante instrumento em rumo da universalização do acesso à justiça.
Embora se reconheça serem os advogados essenciais à Justiça (Constituição da República, art. 133), e inobstante a segurança e qualidade que seu conhecimento técnico possibilita às partes e ao próprio processo, a imposição da presença do advogado para o ingresso em juízo é, para muitos, uma difícil barreira a ser transposta, seja em razão do alto custo dos profissionais, seja pelo já comentado insuficiente quantitativo de Defensores Públicos.
Entretanto, não basta atribuir capacidade postulatória à parte, vez que o adversário poderá se fazer acompanhar de advogado, obtendo uma decisiva vantagem. Além disso, a proibição da atuação de advogados é uma medida que não se coaduna com outros princípios do ordenamento jurídico pátrio, como a liberdade de atuação profissional e o da essencialidade do advogado à prestação jurisdicional.
Apesar dos esforços voltados à atribuição de capacidade postulatória (tornados necessários pelas necessidades econômicas e outras razões) para minimizar a necessidade de atuação de advogados para a defesa dos direitos do cidadão comum, a assistência e a representação continuarão a ser importantes, especialmente nas questões jurídicas mais complexas.
4.1.5. 5º Óbice: As Formalidades Procedimentais e Estruturais:
No que concerne à técnica processual, muitas são as dificuldades que se põem, a exemplo da uniformidade do procedimento, por muitas vezes inadequado, em relação aos diferentes tipos de direitos materiais; o excesso de burocracia e de formalidades existentes no Código de Processo Civil; a multiplicidade das possibilidades de recursos, responsável direta pela morosidade do aparato jurisdicional, tornando o processo inapto para a tutela preventiva dos direitos.
Quanto à estrutura do Poder Judiciário, encontra-se assoberbada pelo volume excessivo de processos, agravada pela insuficiência de recursos materiais e humanos para solução das demandas que lhe são postas.
A centralização geográfica dos fóruns e tribunais também se transmuda em óbices à acessibilidade, especialmente para os moradores de subúrbios e de cidades que não são sedes de Comarcas.
Ademais, procedimentos complicados, formalismo, ambientes intimidadores, fazem com que o litigante se sinta perdido e desestimulado, acabando por renunciar aos respectivos direitos (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 22).
4.1.6. 6º Óbice: A Duração do Processo:
Há muito que vem sendo travado longo embate entre a celeridade e a segurança jurídica. Na maioria das vezes, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, as partes
têm que esperar, inúmeras vezes, anos ou até mesmo décadas para receberem uma solução para o litígio, isso quando conseguem sobreviver à longa espera. A demora aumenta ainda mais o custo do processo, pressionando os economicamente mais fracos a desistirem da causa ou aceitarem acordos por valores inferiores aos que teriam direito.
O processo, como instrumento de garantia de direitos, requer, por um lado, uma procedimentalização que demanda o transcurso de um certo lapso de tempo. Para que se chegue a uma decisão justa, deve ser efetuada uma série de atividades voltadas à reprodução dos fatos pelos contendores, através da dilação probatória, a fim de que se chegue finalmente a uma decisão.
22

Ademais, sendo o processo um instrumento posto nas mãos de homens falíveis, impõe-se a existência de instâncias para correção de eventuais erros, o que conduz a um inevitável prolongamento.
No passado, mormente sob os auspícios do Estado liberal, a opção legislativa sempre privilegiou a segurança em detrimento da rapidez, em face da idéia de que quanto mais longo o procedimento, mais chance haveria de se chegar a uma decisão justa.
A evolução dos meios de comunicação e transporte fez com que a sociedade moderna passasse a viver sob o manto da celeridade. Isso provocou um descompasso entre o tempo da sociedade e o tempo da Justiça, deixando a exacerbação do fator segurança de ter como contraponto a justiça das decisões, pois, quanto mais demorado o processo, menor a possibilidade do vencedor usufruir o bem da vida.
Segundo Paulo Cezar CARNEIRO (2003, p. 100), a morosidade da justiça tem sido um fenômeno constante, remontando ao direito romano; o que alterou, nesse lapso de tempo, foi a forma como o homem moderno se comporta e reage a essa morosidade.
A sociedade moderna é altamente complexa, vendo-se obrigada a orientar-se cada vez mais por preceitos jurídicos. A partir de então, o Poder Judiciário viu sua estrutura tornar-se inadequada, diante dos diversos avanços da sociedade moderna, sem o correspondente acompanhamento, nos campos da tecnologia, da administração e dos padrões de comportamento.
Os esquemas processuais tradicionais mostraram-se inaptos para a solução dos conflitos emergentes de uma sociedade de massa, em que despontam interesses meta-individuais ou de pequena monta econômica. A justiça tornou-se lenta, complicada, burocratizada e inacessível.
A morosidade na prestação jurisdicional tem efeito extremamente danoso às próprias instituições jurídicas, produzindo, além do descrédito, o agravamento da litigiosidade latente, ponto que tem preocupado de forma muito significativa, pelas profundas repercussões de ordem social que pode acarretar (MARINONI, 1994, p. 70).
Na correta visão de CANOTILHO (1995, p. 652):
A proteção jurídica através dos tribunais implica a garantia de uma proteção eficaz. Neste sentido, ela engloba a exigência de uma apreciação pelo juiz, da matéria de fato e de direito, objecto do litígio ou da pretensão do particular, e a respectiva resposta plasmada numa decisão judicial vinculativa (...). Ao demandante de uma proteção jurídica deve ser reconhecida a possibilidade de, em tempo útil (adequação temporal, justiça temporalmente adequada), obter uma sentença executória com força de caso julgado – a justiça tardia equivale a uma denegação da justiça. Note-se que a exigência de um direito sem dilações indevidas, ou seja, de uma proteção jurídica em tempo adequado, não significa necessariamente uma justiça acelerada. A aceleração da proteção jurídica que se traduza em diminuição das garantias processuais e materiais (prazo de recurso, supressão de instâncias) pode conduzir a uma justiça pronta, mas materialmente injusta. Noutros casos, a existência de processos céleres, expeditos e eficazes – de especial importância no âmbito do direito penal, mas extensiva a outros domínios – é condição indispensável de uma proteção jurídica adequada.
Nesse embate entre ampla defesa e celeridade, é preciso se fazer uso do princípio da proporcionalidade, visando à adequação entre os meios e os fins. Os prazos processuais não podem ser tão extensos que protelem a necessária prestação e satisfação do direito, como igualmente não podem ser tão exíguos a ponto de comprometer o contraditório e a ampla defesa.
A necessidade de encontrar um ponto de equilíbrio entre os dois princípios é a principal razão para criação de diversos procedimentos especiais e de meios alternativos de solução das controvérsias.
O combate è lentidão da justiça não requer apenas reformas legislativas, devendo-se investir em ferramentas que auxiliem juízes e tribunais a cumprir suas funções de forma menos burocráticas, a exemplo do chamado processo virtual que, aproximando o Judiciário dos modernos meios de comunicação, possibilita o manejo do processo em horário integral, através da Internet, além de proporcionar economia de água, papel, mão-de-obra com serviços burocráticos, prédios, arquivos, armários.
23

Entretanto, vale lembrar que a informatização, inobstante a redução de custos para o sistema jurisdicional e para os advogados, não trará maiores avanços para os hipossuficientes, já que estes são vítimas também da exclusão digital.
Tendo o legislador tomado consciência de que a garantia da tutela jurisdicional também tem lugar no ideal de justiça rápida, célere e pacificadora, o princípio da celeridade foi incluído, inicialmente, na lei 9.099/95, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e, já em 2004, foi elevado ao patamar de princípio constitucional, a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 45, que inclui o inciso LXXVIII ao artigo 5º da Constituição, determinando que a todos, no âmbito judicial e administrativo, sejam assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Assim, na visão do constituinte derivado, a razoabilidade deverá ser estabelecida como parâmetro de valoração da durabilidade da lide, fazendo com que os princípios da celeridade e do devido processo legal convivam em perfeita harmonia. Impõe-se, em conseqüência, rever a habilidade do procedimento para realizar a finalidade processual, sua flexibilidade para atender os interesses em jogo e a segurança com que se garantem os direitos questionados.
Nos parâmetros de durabilidade do processo, inclui-se o tempo prudente e justo para que a decisão jurisdicional renda a eficácia esperada, ou seja, a razoabilidade se estende não ao tempo de afirmação do direito em litígio, senão à própria execução da decisão. Para isso devem evitar-se as formalidades supérfluas, que impedem o cumprimento de seu escopo precípuo: a pacificação com justiça.
4.1.7. 7º Óbice: A Inaptidão Sistêmica para Solução das “Pequenas Causas”:
Como bem asseverado por CAPPELLETTI e GARTH (1988, p. 91), procedimentos contraditórios altamente estruturados, utilizando advogados bem treinados e perícias dispendiosas, podem ser de importância vital nos litígios de direito público, mas colocam severas limitações na acessibilidade de nossos tribunais a pequenas causas intentadas por pessoas comuns.
O estudo dos obstáculos ao acesso à justiça demonstrou que as causas envolvendo pequenos valores econômicos, embora existindo em grande número, não eram levadas ao Judiciário, em razão da inaptidão do aparato jurisdicional para solucioná-las.
Por outro lado, somente um rito simplificado permitirá o breve julgamento da imensa gama de pequenos litígios decorrentes da sociedade de massas, sem congestionar as pautas de audiência das varas cíveis dos grandes conglomerados urbanos.
Vê-se, então, a necessidade da criação de um sistema próprio para resolução das chamadas “pequenas causas”, a fim de que referidos conflitos sejam jurisdicizados, evitando a “justiça de mão própria” ou a simples renúncia de direitos.
5. A nova visão do processo e os mecanismos redutores da exclusão jurídica – as “ondas e acesso à justiça”:
O estreitamento dos canais de acesso à justiça vem produzindo forte descrédito nas instituições jurídicas, com repercussão direta no meio social, acarretando o agravamento do que Kasuo Watanabe denominou “litigiosidade contida”, produzindo a expansão da autotutela, o recrudescimento da violência, o descumprimento explícito das normas jurídicas, como bem o demonstra nosso elevado índice de criminalidade.
Daí a necessidade de serem criados mecanismos que viabilizem a abertura do sistema jurídico a essa massa dos juridicamente excluídos, no que se refere à acessibilidade aos meios e instrumentos de tutela dos seus interesses.
Consoante CAPPELLETTI e GARTH (1988, p. 28), o estudo das barreiras supramencionadas revela que os obstáculos criados pelos sistemas jurídicos são mais pronunciados para as pequenas causas e para os autores individuais, especialmente os pobres, enquanto que as
24

vantagens pertencem aos litigantes organizacionais, adeptos do uso do sistema judicial para a obtenção de seus interesses.
Por outro lado, muitos problemas de acesso são inter-relacionados fazendo com que as mudanças tendentes à sua ampliação venham a exacerbar outras barreiras. A atribuição de capacidade postulatória, por exemplo, embora reduza os custos da demanda, poderá fazer com que os litigantes de baixo nível educacional sintam dificuldades para defender os próprios interesses em juízo.
O desafio é criar foros que sejam atraentes para os indivíduos, não apenas do ponto de vista econômico, mas também físico e psicológico, de modo que eles se sintam à vontade e confiantes para utilizá-los, apesar dos recursos de que disponham aqueles a quem eles se opõem.
Para realizar tal mister, é preciso que referidas instâncias apresentem como características principais a celeridade, a simplicidade, um julgador ativo e a possibilidade de dispensar a presença de advogados. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 97-98)
Ante a inegável constatação de que o acesso à chamada ordem jurídica justa é permeado por barreiras muitas vezes intransponíveis, a busca de soluções para sua inefetividade tem sido preocupação constante de juristas e legisladores nas últimas quatro décadas.
No terceiro capítulo do clássico Acesso à Justiça, Mauro Cappelletti e Bryant Garth elencam uma série de soluções práticas para os problemas de acesso à justiça, classificando-as em três posições básicas, as chamadas “ondas de acesso à justiça”, iniciadas em 1965, com a seguinte seqüência: a assistência judiciária, a representação jurídica para os interesses difusos e, a mais recente, verdadeira síntese das duas anteriores, chamada simplesmente “enfoque de acesso à justiça”.
Segundo CAPPELLETTI e GARTH (1988, p. 31),
O recente despertar em torno do acesso à justiça levou a três posições básicas, pelo menos nos países do mundo ocidental. Tendo início em 1965, estes posicionamentos emergiram mais ou menos em seqüência cronológica. Podemos afirmar que a primeira solução para o acesso – a primeira “onda” desse movimento novo - foi a assistência judiciária; a segunda dizia respeito às reformas tendentes a proporcionar representação jurídica para os interesses” difusos”, especialmente nas áreas de proteção ambiental e do consumidor; e o terceiro – e mais recente – é o que nos propomos a chamar simplesmente “enfoque de acesso à justiça ‘ porque inclui posicionamentos anteriores, mas vai muito além deles, representando, dessa forma, uma tentativa de atacar as barreiras ao acesso de modo mais articulado e compreensivo.
Cumpre registrar que o pesquisador Kim Economides ainda sustentou a existência de uma quarta onda, relativamente às dimensões ética e política da administração da justiça. (apud CARNEIRO, Paulo Cezar, 2003, p. 63).
5.1 Primeira Onda - Assistência judiciária aos necessitados:
Os esforços iniciais no sentido de dar efetividade e universalidade ao direito de acesso à justiça voltaram-se à assistência jurídica aos mais pobres, proporcionando-lhes serviços advocatícios gratuitos.
O primeiro passo foi dado nos Estados Unidos, em 1965, através de programas de ação comunitária. Em 1972, a França estatui um programa de seguridade social, sendo os custos dos honorários advocatícios suportados pelo Estado.
Durante a década de 70, foram desenvolvidos programas em diversos países, a exemplo da Suécia, Inglaterra, Canadá e Alemanha (CAPPELLETTI, GARTH, 1988, p. 34).
Referidos autores agrupam os programas de assistência judiciária nos seguintes sistemas: Judicare, adotado na França, Áustria, Inglaterra, Holanda e Alemanha, em que advogados particulares são pagos pelo Estado, proporcionando aos litigantes de baixa renda a mesma representação que teriam se pudessem pagar um advogado; o Sistema de Advogados assalariados, remunerados pelos cofres públicos, a exemplo das Defensorias Públicas brasileiras, utilizado nos
25

Estados Unidos; e os Modelos Combinados, em que cabe à parte optar entre os advogados particulares e os defensores públicos; tal modelo é adotado na Suécia e em Quebec, no Canadá.
No Brasil, a expressão assistência judiciária apareceu pela primeira vez na Carta de 1934. Apesar de a Constituição de 1937 não ter dispositivo referente à matéria, o Código de Processo Civil de 1939 previu a possibilidade de ser pleiteado o benefício da assistência judiciária perante o juiz competente para a causa, que poderia concedê-lo total ou parcialmente, consoante as necessidades de cada um. Em 1946, a matéria voltou a ter previsão constitucional, mantendo-se nas Constituições de 1967 e 1969.
A constituição de 1988 foi a responsável pela expansão de tal garantia, inclusive com ampliação de seu conteúdo: a assistência judiciária transformou-se, então, em assistência jurídica, passando a englobar não apenas a esfera judicial, mas também se voltando à efetividade do direito à informação, tanto endo, como extraprocessual.
Significando muito mais do que a simples representação perante os tribunais, a assistência jurídica implica em auxílio para tornar as pessoas mais ativamente participantes das decisões básicas, tanto governamentais quanto particulares, que afetam suas vidas, sendo, por isso, um ponto focal para os reformadores do acesso à justiça. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 143).
5.2 Segunda Onda - Representação dos interesses difusos:
Neste ponto, o movimento voltou-se à realização de reformas tendentes a romper com a tradicional postura individualista do processo civil, objetivando pôr um fim às violações de massa, que incidiam sobre categorias inteiras de pessoas, especialmente os consumidores, e que não possuíam, sozinhos, força suficiente para se contrapor à potência dos empresários e grandes poluidores.
Foram pensadas, deste modo, formas associativas de tutela, ampliando a legitimação para proteção dos interesses coletivos e difusos, concedendo-a a órgãos públicos, privados ou a representantes individuais autorizados a litigar em nome do grupo.
Desse modo, o movimento de acesso à justiça passou a abranger não só questões ligadas à necessidade de um Judiciário acessível a todos, mas também a expansão da tutela jurisdicional a direitos emergentes.
5.3 Terceira Onda - o novo enfoque do Acesso à Justiça:
Esta fase preocupa-se com o emprego de técnicas processuais diferenciadas, como a simplificação dos procedimentos e a criação de vias alternativas de solução de controvérsias, sem eliminação das formas tradicionais, destacando-se o reforço à oralidade, à livre apreciação das provas, a concentração dos atos processuais, a imediação; objetiva-se tornar mais baratos, rápidos e acessíveis os procedimentos judiciais, ao lado da eliminação ou redução das custas.
Conforme exposto por GOMES NETO (2005, p. 93), enquanto que nas fases anteriores do acesso à justiça o obstáculo a ser transposto eram as espécies de pobreza econômica e organizativa, o adversário passou a ser a própria estrutura do sistema processual em seus pontos de incompatibilidade com a efetivação dos novos direitos, passando-se a buscar alternativas aos juízos ordinários e aos procedimentos usuais.
Passou-se a fazer uso da reforma dos procedimentos judiciais – inclusive com a instituição de procedimentos especiais para o julgamento de certas causas - e estimulando o emprego de métodos alternativos de solução dos litígios, especialmente a arbitragem e a conciliação intra e extraprocessuais.
Iniciou-se, assim, um esforço para criar procedimentos especializados para causas que, apesar do reduzido valor econômico envolvido, eram socialmente importantes, por darem ensejo a elevado número de controvérsias, como as concernentes às relações de vizinhança, às locações e às relações de consumo.
26

Na visão de MARINONI (1994, p. 11):
As palavras chaves para esta nova concepção social de justiça e de lei têm sido a efetividade do acesso: acesso para todos ao sistema legal, aos seus direitos, liberdades e benefícios; acesso aos instrumentos, incluindo os tribunais, que possam fazer valer aqueles direitos, liberdades e benefícios de forma significante e efetiva.
Nesse novo enfoque de acesso à justiça, o que se tenta é tornar efetivos os direitos substantivos relativamente novos atribuídos às pessoas destituídas de poder econômico em face de comerciantes, poluidores, empregadores, locadores e contra a própria burocracia governamental.
Nesse diapasão, são criados novos fóruns de solução de controvérsias destinados a atrair sujeitos que, de outra maneira, jamais chegariam a reclamar seus direitos, dando-lhes oportunidade de defini-los perante um órgão informal e sensível a esses direitos em evolução. O baixo custo e a informalidade encorajam as pessoas que normalmente não compareceriam perante um tribunal a demandar seus direitos através desse novo processo.
O enfoque levou ainda à criação de meios para reconciliação das partes envolvidas em relações quase permanentes que, de outra forma, seriam postas em perigo (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 132).
Vê-se, portanto, que o acesso à justiça tem como corolário o direito a uma predisposição de procedimentos adequados à tutela dos direitos (MARINONI, 2003, p.7), mediante a disposição ordenada de meios destinados à realização dos escopos processuais, sem os quais não se pode conceber um processo efetivo, devendo a técnica estar a serviço da eficiência do instrumento (DINAMARCO, 2003, p. 275).
O Brasil vem seguindo os passos desse movimento mundial de acesso à Justiça, na busca de soluções para o problema da exclusão jurídica que, diga-se de passagem, é reflexo imediato da exclusão social.
Desde a década de 50, com a edição da Lei nº 1060, que estabeleceu a assistência judiciária gratuita, nosso ordenamento jurídico tem sido agitado por normas tradutoras das três ondas Cappellettianas, tais como as Leis 4717/65 (que regula a Ação Popular); 7244/84 (que regulamentou os então chamados Juizados de Pequenas Causas); 7347/85 (cuidando da Ação Civil Pública), culminando com a promulgação da Constituição de 1988, que traz em seu corpo uma série de dispositivos que vieram a tornar o direito de acesso uma verdadeira garantia constitucional.
Com ela, como já ressaltado anteriormente, foram ampliados o conceito de assistência judiciária para o de assistência jurídica integral (art. 5º, inciso LXXIV) e a legitimidade ad causam das associações civis, do Ministério Público e de outras instituições no que concerne à defesa dos interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos.
Numa mudança de perspectiva, estendeu-se a cláusula do amplo e irrestrito acesso ao Poder Judiciário não apenas às situações de lesão a direito, mas também ao perigo de sua ocorrência (artigo 5º, inciso XXXV).
Através da dicção do artigo 98, I, a solução para as causas envolvendo pequenos valores pecuniários ou dotadas de menor complexidade ganhou foros constitucionais, impondo a implantação dos Juizados Especiais Cíveis, posteriormente regulamentados com a edição da Lei 9099/95.
As mudanças no aparato legal não pararam por aí, Código de Proteção e Defesa do Consumidor, arbitragem, Juizados Especiais Federais, sempre em busca de meios alternativos de solução dos conflitos.
No entanto, é preciso que se reconheça que as reformas judiciais e processuais não são substitutos suficientes para as reformas políticas e sociais.
De acordo com MORAIS (2004, p. 99-101):
As crises pelas quais passa a jurisdição não decorrem tão somente dos problemas estruturais, mas fazem parte de um intrincado quadro de problemas, que devem ser entendidos sob diversas perspectivas, a saber: quanto a seu financiamento – infra-estrutura de instalações, pessoa, equipamentos, custos – que dizem respeito não apenas aos valores despendidos, como também ao
27

custo diferido em razão do prolongamento temporal das demandas; quanto a aspectos pragmáticos da atividade jurídica, englobando questões relativas à linguagem técnico-formal utilizada nos rituais e trabalhos forenses, a burocratização e lentidão dos procedimentos e, ainda, o acúmulo das demandas – crise objetiva ou pragmática; a terceira crise se vincula à incapacidade tecnológica de os operadores jurídicos tradicionais lidarem com novas realidades fáticas que exigem não apenas a construção de novos instrumentos legais, mas também a reformulação das mentalidades, moldadas que foram para funcionar a partir de silogismos lógicos neutros; outra crise que diz respeito aos métodos e conteúdos utilizados pelo Direito para a solução pacífica dos conflitos; inadequação do modelo jurisdicional para atender às atuais necessidades sociais, em virtude da sofisticação das relações sociais.
Atualmente, os processualistas têm plena consciência da necessidade de se implementar a abertura do Judiciário à massa dos excluídos, mormente diante de estudos e pesquisas indicadores de que somente 30% da população brasileira têm acesso aos órgãos e instrumentos da justiça pública estatal7. Tal índice de exclusão evidencia não só o baixo nível de consciência dos cidadãos quanto aos seus direitos sociais, mas também a falta de efetividade do Estado, por suas agências institucionais, quanto à universalização dos mecanismos de acesso à justiça estatal.
Uma primeira vitória desse novo enfoque do acesso à justiça no Brasil (que, em parte, pode ser decorrência da redemocratização do país) pôde ser sentida com a explosão de litigiosidade na década de 90. Em 1998, por exemplo, deram entrada no Judiciário 8,5 milhões de processos novos, contra 350 mil em 1988, num aumento de 25 vezes em 10 anos. O problema é que, nesse mesmo intervalo de tempo, o número de juízes apenas duplicou. Segundo BACELLAR (2003, p. 30), mais de oito milhões de causas ingressam anualmente nos juízos brasileiros, sem que o Poder Judiciário esteja adequadamente estruturado para recepcioná-las e solucioná-las. Urge, desse modo, que o novo enfoque do acesso à justiça passe para uma segunda fase, no sentido de dotar o Judiciário de uma estrutura capaz de dar resposta efetiva ao aumento crescente da demanda8.
Por outro lado, uma mudança na direção de um significado mais “social” da justiça não quer dizer que o conjunto de valores do procedimento tradicional deva ser sacrificado. Logo, embora procedimentos modernos e eficientes sejam necessários, não se podem abandonar as garantias fundamentais do processo civil – como a imparcialidade, o contraditório e a ampla defesa.
A crescente ampliação do número de indivíduos com acesso aos órgãos jurisdicionais, através das reformas de natureza procedimental, aumenta a pressão sobre o judiciário, no sentido de reduzir a sua carga e encontrar procedimentos ainda mais baratos. Entretanto, não se pode correr o risco de que o uso de procedimentos rápidos e de pessoal com menor remuneração resultem num produto barato e de má qualidade.
A operacionalização de reformas cuidadosas, atentas aos perigos envolvidos, com uma plena consciência dos limites e potencialidades dos tribunais regulares, do procedimento comum e dos procuradores é o que realmente se pretende com esse enfoque de acesso à justiça. A finalidade não é fazer uma justiça mais pobre, mas torná-la acessível a todos, inclusive aos pobres. E, nas palavras de CAPPELLETTI e GARTH (1988, p. 165), se é verdade que a igualdade de todos perante a lei, igualdade efetiva – não apenas formal – é o ideal básico de nossa época, o enfoque de acesso à justiça só poderá conduzir a um produto jurídico de muito maior “beleza” – ou maior qualidade – do que aquele que dispomos atualmente.
5.4 Métodos Alternativos de Solução dos Conflitos
O novo enfoque do acesso à justiça se bifurcou em duas frentes. Por um lado, tratou-se de simplificar os procedimentos judiciais e, por outro, buscaram-se mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos, caracterizados pelo rompimento com os métodos tradicionais do direito processual e com a adoção de procedimentos mais simples e informais.
Os problemas da administração da Justiça, aliados à consciência de que o importante é a pacificação social, levaram à retomada da mediação, da arbitragem e da conciliação como formas 7 Diagnóstico da Justiça. Conselho da Justiça Federal.8 Carvalho, Luiz Fernando Ribeiro de. Artigo publicado no Jornal do Commercio, p. 9, em 07.abr.1999
28

alternativas de solução dos conflitos, em busca de uma via menos formal, mais rápida e econômica, capaz de permitir às pessoas mais carentes de se socorrerem do Poder Judiciário. (MARINONI, 2003 p. 69-70).
Consoante lecionam CINTRA, DINAMARCO e GRINOVER (2002, p. 27):
Abrem-se os olhos agora, todavia, para todas essas modalidades de soluções não jurisdicionais dos conflitos, tratadas como meios alternativos de pacificação social. Vai ganhando corpo a consciência de que, se o que importa é pacificar, torna-se irrelevante que a pacificação venha por obra do Estado ou por outros meios, desde que eficientes. Por outro lado, cresce também a percepção de que o Estado tem falhado muito na sua missão pacificadora, que ele tenta realizar mediante o exercício da jurisdição e através das formas do processo civil, penal ou trabalhista.
Ainda para CINTRA, GRINOVER E DINAMARCO (2002, p. 26), os meios alternativos de solução dos conflitos caracterizam-se pelos seguintes pontos: ruptura com o formalismo processual, constituindo a desformalização fator de celeridade; gratuidade, com vistas a tornar mais acessível a justiça; delegalização, com a adoção de juízos de equidade e não de juízos de direito.
Além disso, outra vantagem seria o efeito descongestionante dos tribunais tradicionais, que poderiam dedicar maior atenção às causas mais complexas e àquelas que não sejam passíveis de solução extrajudicial.
No Brasil, a primeira grande experiência no emprego de referidos métodos de solução de conflitos se deu em 1982, no Estado do Rio Grande do Sul, por iniciativa do Tribunal de Justiça e da Associação dos Magistrados daquele Estado, mediante a criação dos Conselhos de Conciliação e Arbitramento, cujo sucesso, em razão da gratuidade e da celeridade do rito, fez com que fossem difundidos para outros entes da federação, como Paraná, Bahia e São Paulo, atuando como verdadeiros precursores dos atuais Juizados Especiais Cíveis, conforme adiante demonstrado.
1.2.2. Capítulo do livro do professor
Sua Excelência o Comissário – A Polícia enquanto “Justiça Informal” das classes populares no Grande Recife
1. Nota Explicativa
O ensaio que se segue não é exatamente inédito9, e os dados que ele reporta datam de cerca de vinte anos atrás. Constituem o essencial de uma dissertação de mestrado com o mesmo nome, elaborada sob a orientação do professor Joaquim Falcão, defendida no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE no ano – que já vai se tornando longínquo ... – de 1984. Por que então publicá-lo (ou talvez mais exato, republicá-lo) agora? Em primeiro lugar, porque a essa tentação fui levado pelo generoso incentivo do professor Roberto Kant de Lima, da Universidade Federal Fluminense, que, ao ler a presente versão, sugeriu-me faze-lo, realçando a relativa escassez de que ainda padecemos no que diz respeito a trabalhos sobre a atividade policial no Brasil construídos a partir de uma base empírica. Ora, como disse certa feita Oscar Wilde, “pode-se resistir a tudo, salvo à tentação” ... Mas é evidente quem mesmo verdadeiro, este não é o único motivo. Há outros mais confessáveis – e também verdadeiros.
9 Ele mescla, com algumas supressões e alterações de forma, dois artigos anteriormente publicados. O primeiro, com o mesmo título de “Sua Excelência o Comissário”, apareceu no número 1 da revista Cadernos Gajop (Olinda, março de 1985); o segundo, com o título de “Práticas Judiciárias em Comissariados de Polícia do Recife”, foi publicado no número 22 da Revista OAB/RJ – A Instituição Policial (Rio de Janeiro, julho de 1985). A presente versão foi publicada na Revista Brasiliense de Ciências Criminais (São Paulo, ano 11, n.44, jul/set de 2003)
29

Um deles é o fato de que o trabalho, apesar das publicações a que aludi (ver nota 1), continua de certa forma inédito para um público acadêmico mais vasto, vista a circulação necessariamente restrita dos veículos onde apareceu. Ainda aqui, entretanto, essa não seria uma razão suficiente para faze-lo reaparecer, não fosse, a meu ver, a permanência da sua atualidade. Como já sugere o subtítulo do ensaio, a pesquisa na qual se baseia teve por objeto o estudo de práticas tipicamente judiciárias exercidas pela polícia na resolução de “pequenos casos” que lhe são submetidos – ainda que não exclusivamente – pela população pobre do Grande Recife. Feita há cerca de vinte anos, de lá para cá muita coisa mudou no panorama judiciário brasileiro. Em especial, para o que nos interessa, os Juizados de Pequenas Causas num primeiro momento, e os Juizados Especiais Cíveis e Criminais em seguida, uns e outros inexistentes à época, estariam a sugerir que a realidade que o texto retrata estaria ultrapassada pelas reformas que desde então ocorreram. Afinal, como verá o leitor, os casos que reporto se enquadrariam no que a Constituição de 1988 (art.98, I), anunciando os Juizados Especiais, definiu como “causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo”. Assim, o problema da impossibilidade prática de que tais casos fossem levados ao Judiciário – uma realidade à época em que a pesquisa foi feita – teria sido resolvida. Inclusive, já que a lei não discrimina entre pobres e remediados, no que diz respeito às causas tendo por protagonistas pessoas dos estratos sociais mais desfavorecidos.
Ora, apesar do inegável sucesso que, globalmente considerados, os Juizados Especiais representam, e da razoável suposição de que, em alguma medida, eles absorveram casos que eram levados à polícia, há também boas razões para acreditar que a realidade retratada no ensaio, também numa boa medida, continua em vigor no que diz respeito sobretudo à sua clientela tradicional: os pobres, as pessoas humildes da periferia que continuam se dirigindo ao posto policial mais próximo para resolver, do modo mais rápido e informal possível, as querelas em que se envolvem ou as injúrias de que são vítimas. Excesso de wishful thinking de minha parte? Não creio. É verdade que não mais voltei aos locais onde estive há vinte anos fazendo minha pesquisa. Mas ao longo de todo esse tempo transcorrido, seguidamente, pessoas ligadas ou conhecedoras do meio policial no Recife (às vezes, alunos meus na pós-graduação em direito), ao lerem os textos que produzi, são unânimes em considerar que eles retratam com fidelidade o que lá se passa ainda hoje.
Ou seja: há razões para supor que os Juizados Especiais, por uma série de motivos que não vem ao caso aqui abordar, são preferencialmente procurados por pessoas dos estratos médios e altos da população. Mera hipótese de trabalho? Sim e não. No que diz respeito ao Rio de Janeiro, pelo menos, um estudo feito por Maria Celina D’Araújo mostra que “a Justiça ainda é bem pouco acionada pelos setores menos favorecidos da população”, o que já poderia ser uma confirmação da hipótese (em Vianna et alii, 1999, p.188). No mesmo sentido dessa avaliação, um outro estudo, também sobre Juizados Especiais do Rio de Janeiro, detecta uma significativa estratificação a partir da variável “escolaridade” das pessoas que aí comparecem, como mostra a tabela a seguir:
Sem o 1º grau completo Do 1º ao segundo grau completo A partir do superior completo total16º 51,4% 32,6% 100%Fonte: Vianna et alli, 1999, p.210.
Adotando-se a suposição razoável de que as pessoas sem o primeiro grau completo sejam as mais desfavorecidas no conjunto da população, esse seria um dado a mais a indicar que, para os mais pobres, o Poder Judiciário real, de um modo geral, continua sendo outro. Ou outros, no plural, dos quais a polícia seria apenas um exemplo – ainda que talvez o exemplo por excelência. É sobre essa realidade que convido o leitor a dar uma olhada e, se quiser, exercer um olhar sociológico – ou seja, crítico, mas também compreensivo ...
2. A Polícia Enquanto “Justiça Informal”
30

Num artigo do início dos anos 80, dedicado ao estudo da organização policial numa grande cidade brasileira, dizia o seu autor que a polícia “é mais temida que conhecida pelo cientista social brasileiro” (Paixão, 82, p.63). com efeito, são quase inexistentes, entre nós, pesquisas sociológicas – no sentido empírico do termo – que tenham a instituição policial por objeto. É verdade que isso não quer dizer que não dispomos de bibliografia sobre o assunto. Dispomos, sim. Basicamente de duas espécies e bastante diferenciadas uma em relação à outra. Antes de entrar no tema específico deste texto, vejamos, ainda que rapidamente, quais são.
A primeira delas é aquela produzida dentro dos quadros da cultura jurídica tradicional e que é veiculada nas faculdades de direito. Estamos falando da dogmática jurídica. O problema, aqui, é que essa literatura, dedicada ao estudo do ordenamento jurídico em si, não dá conta da realidade como ela se processa fora dos códigos. Antes, ela normatiza a realidade e produz, inevitavelmente, uma cultura idealista não isenta de alguns perigos. É ela que vai permitir ao jurista, por exemplo, dizer que no Brasil não existe a pena de morte, enquanto convivemos todos com a existência dos “esquadrões da morte”10; ou que desde a Constituição do Império abolimos os castigos físicos nas prisões, enquanto sabemos todos que a tortura de presos comuns é muitas vezes prática corriqueira nas nossas delegacias de polícia.
Não se trata, é claro, de fazer a apologia dessas práticas, trocando-se o idealismo da lei por um sociologismo11 sem ética. Estou é chamando a atenção para o fato de que a literatura jurídica, ao antepor entre si e a realidade o viés da norma, corre o risco de produzir um conhecimento desvinculado das práticas sociais concretas. E a instituição policial configura um exemplo típico do que estou a dizer. Para conhecer o que ela é, como atua, quais são seus usos e costumes (e até jurisprudência!), o melhor caminho, por certo, não será consultar o Código de Processo Penal ou a doutrina jurídica correspondente. Isso porque a polícia, na verdade, dedica-se cotidianamente a praticar atos que em muito ultrapassam o discreto papel que lhe é determinado pelo arcabouço legal de inspiração liberal sob que supostamente vivemos. Assim já se vê que a literatura jurídica, por sua própria natureza, passa ao largo das práticas reais da polícia, algumas das quais foram objeto de uma pesquisa cujos dados, que serão adiante expostos, servem de base ao presente texto.
O segundo tipo de literatura é, em tudo, contrária à anterior. Refiro-me à vigorosa bibliografia crítica dos usos e costumes policiais em relação às classes populares que tem surgido desde o início dos anos 8012. A polícia aí é enfocada sob o ângulo da luta de classes e, desse modo, apreendida enquanto aparelho repressor a serviço das classes dominantes ou de seus interesses. Essa literatura se ocupa das ações truculentas contra trabalhadores, favelados, autores ou meros suspeitos de delitos contra o patrimônio.
Batidas, invasões de domicílios, prisões arbitrárias, maus tratos, humilhações, fuzilamentos nas baixadas etc. constituem o elenco mais comum de atos que configuram esse desempenho. A função de tais ações seria, pelo terror, manter a estrutura de dominação econômica e política debaixo da qual – mas não à sua sombra ... – (sobre)vivem as classes populares. Ou seja: ao invés da visão quase angelical difundida pela literatura jurídica, aqui se trata de uma visão nitidamente diabólica. E sem meios-termos.
Ora, se a literatura jurídica é inadequada para dar conta das práticas policiais reais de um modo geral, essa última, por seu turno, é insuficiente para dar conta de certar práticas policiais específicas que pesquisei. Refiro-me a práticas de feição nitidamente judiciária (pois que existem partes, audiência de julgamento e decisões) exercitadas pela polícia quando confrontada com pequenos ilícitos protagonizados pelas classes populares. Ou seja: aqui não se trata de ações voluntárias da polícia contra as classes populares indiscriminadamente; trata-se de casos específicos que configuram, até certo ponto, conflito interindividuais e intraclasse, protagonizados por indivíduos pertencentes, uns e outros, às classes populares. Para usar uma terminologia emprestada
10 Um levantamento feito pela Folha de São Paulo, em 10 de outubro de 1982, indicava que, entre o início do ano e aquela data, só a Polícia Militar de São Paulo já havia exterminado 354 pessoas, entre delinqüentes, suspeitos ou meros azarados da periferia.11 Sobre o conceito de sociologismo, ver o ensaio seguinte deste livro: “Direito, Sociologia Jurídica, Sociologismo”.12 Ver, a propósito: Aguiar, 1980; Pinheiro, 1981, e Moscatelli, 1982.
31

á cultura jurídica, aqui a polícia não age ex officio, porém por provocação – exatamente como ocorre com o judiciário.
Esses casos configuram majoritariamente, como adiante veremos, pequenos delitos: agressões físicas, ameaças, calúnias, difamações etc. Nesses casos a polícia, ao ser notificada do fato através da queixa, em vez de cuidar de fazer o inquérito para posterior apreciação judiciária – como quer o Código de Processo Penal13 - , geralmente assume ela própria um comportamento judicante, como adiante descreverei. Mas, por ora, vale logo uma advertência: quando me refiro a pequenos delitos e digo que eles são os casos majoritários, estou dizendo que eles não são exclusivos. Porque também há casos como o do inquilino que saiu sem pagar a luz, da moça que quer ser ressarcida pelo dinheiro que gastou com o namorado e até do freguês do bar que foi embora sem pagar a conta. Isto é, questões basicamente civis. Da mesma forma, quando digo que os casos envolvem pessoas da mesma classe, não excluo a ocorrência de conflitos envolvendo pessoas de classes sociais diferentes. É o caso de uma acusação de furto feita pelo patrão contra seus empregados, que é um conflito tipicamente classista, e que também ocorre. Há de tudo um pouco. O que, em passant, constitui a meu ver um desafio para que os cientistas sociais brasileiros prestem mais atenção à polícia, essa instituição tão presente na vida brasileira, mas, apesar disso, salvo no que diz respeito à função de repressão aberta, tão pouco conhecida. Já aqui, contudo, estou adiantando algumas informações da pesquisa para a qual nos voltamos agora.
3. Informações Gerais da Pesquisa
A pesquisa foi realizada entre junho de 1982 e fevereiro de 1983 e compreendeu levantamento de campo em cinco agencias policiais do Grande Recife. Como a minha intenção era captar o desempenho policial relacionado a pequenos casos das classes populares, o meu critério de escolha das agencias a serem pesquisadas esteve direcionado por sua localização próxima a aglomerados habitados por pessoas de baixa renda. A pesquisa de campo propriamente dita compreendeu visitas às cinco agencias escolhidas, onde observei o desenrolar de casos, entrevistei o mais informalmente possível as autoridade e pessoas neles envolvidas e, na medida do possível, consultei os livros de queixas lá existentes. Informo que, no total, foram diretamente observados 15 casos no seu desenrolar e levantados 397 casos anotados nos livros. Uns e outros constituem a base empírica de que me vali para a reconstituição do processo como ele se desenvolve na polícia, e que será relatado adiante.
Antes, uma última informação: das cinco agências pesquisadas, duas são delegacias e as outras três são simples postos policiais que, administrativamente, são subdivisões das delegacias. Na prática, contudo, as pessoas procuram umas e outras indiferentemente, por isso que também não diferenciei. Cada uma dessas agências, quando delegacia, é dirigida por um delegado, assessorado por comissários e agentes de polícia. O delegado se ocupa da direção dos inquéritos que são remetidos ao Judiciário. O solucionamento dos pequenos casos que nos interessam compete aos comissários. Os casos que motivam a abertura de inquérito são encaminhados à delegacia à qual o posto está subordinado. O comissário se ocupa disso e ainda se dedica ao solucionamento dos casos que nos interessam. O comissário, assim, num e noutro local, é quem funciona como juiz.
Nesses locais, de um modo geral, reina um despojamento mais próximo do abandono do que da simples pobreza. Geralmente se trata de velhas casas adaptadas para as funções policiais. Mas estragadas e sujas. Birôs e bancos de madeira quebrados, sofás rasgados – aparecendo estripados com suas molas expostas. Em duas das agências pesquisadas, sequer havia uma máquina de escrever. A divisão especial comporta, de um modo geral, uma ante-sala, onde ficam o “permanente” – é assim que é chamado o agente de plantão – e o público, e o gabinete do comissário. É aí onde se resolvem os casos. As paredes dessa dependência são, quase sempre, despojadas. Quando muito, algumas inscrições, diferentes de lugar para lugar. Num desses locais havia um simples “Deus proteja esta casa”. Noutro, havia várias frases. Desde um aforismo de um
13 De acordo com a doutrina jurídica, a polícia não tem poder jurisdicional. Como diz um autor, “a autoridade policial não é juiz, não julga nem decide no litígio entre as partes” (Noronha, 1964, p.21)
32

rigorismo pouco liberal – “quem não respeita o direito alheio não é digno de consideração” – até uma regra processual de aceitação praticamente universal: “Em primeiro lugar tem a palavra o queixozo” (sic). Na direção dos fundos da casa, geralmente sob a advertência de “Privativo”, fica a entrada para as celas. Como costuma ocorrer em dependências carcerárias brasileiras, de lá vem um cheiro insidioso de urina velha ...4. Os Dados da Pesquisa
4.1. O Início do Processo
O início do processo se dá, normalmente, com a prestação da queixa, que pode ser feita com o “permanente”, mas também diretamente junto ao comissário. A queixa é, às vezes, anotada no livro próprio. E a não anotação não chega a ser exceção. Na verdade, se levarmos em conta os critérios adotados nos 15 casos que observei, haveria mesmo uma paridade entre queixas que são e que não são anotadas, na medida em que, dos 15 casos, 7 foram anotados e 7 não o foram, havendo dúvida quanto a um dos casos, que não consegui identificar no Livro de Queixas.
A anotação, quando ocorre, é vazada no estilo típico das páginas policiais dos jornais “populares”, e a ela se segue a assinatura da parte queixosa ou sua impressão digital – o que não é muito incomum. Às vezes – mas não muitas vezes- o desfecho do caso é anotado, mas com um mínimo de informações substantivas sobre o decidido. Transcrevo um desses casos (conservando inclusive o português nem sempre castiço em que está vazado ...), a título de exemplo.
Inicialmente, a queixa:“Às 9:00 horas de hoje dia 15.08.82 compareceu nesta delegacia G.S.S., residente na
rua ... queixando-se contra a mulher C de tal, residente na r..., alega a queixosa que no dia de hoje as 8:00 horas C invadiu a residência da queixosa e sem qualquer motivos justificáveis passou a agredi-la moralmente bem como a sua genitora de nome Q e demais familiares, sob o pretexto de estar ela queixosa paquerando um cidadão que segundo ela C é seu amante, não satisfeita com as agressões morais, ameaçou a ela queixosa de morte, isto é, havia encomendado uma arma para liquidá-la. As testemunhas serão apresentadas posteriormente. Pelo exposto pede providencias à autoridade.”
Segue-se a assinatura da Queixosa. Na mesma página, marginalmente, havia a seguinte observação sobre o desfecho do caso:
“Caso solucionado com entendimento entre as partes”E segue-se outra vez a assinatura da Queixosa.Mas, uma vez prestada a queixa, anotada esta ou não, a autoridade extrai, de um talão
impresso, a intimação, depois de te-la preenchido com as particularidades do caso: nome e endereço do acusado, dia e hora em que ele deve comparecer para ser ouvido. A intimação vai para o acusado do modo mais informal possível. Pode ser levada por um policial, como pode ir em mãos da própria parte queixosa. Está iniciado o processo. Nem todas as pessoas que vão aos comissariados têm assuntos jurídicos a resolver. Lá existe uma movimentação que extrapola as funções tipicamente policiais. Exemplo disso é o fato de que a população das redondezas, em alguns locais, utiliza o telefone como se ele fosse público – mas gratuitamente! As pessoas chegam, falam com o “permanente”, este acede e elas telefonam. Num dos comissariados cheguei a contar, apenas em duas horas, seis telefonemas desse tipo.
E, de outro lado, nem todos os assuntos jurídicos que lá chegam são questões contenciosas. As pessoas também vão se aconselhar junto ao comissário. Um senhor vai pedir sua opinião sobre uma escritura de aquisição de um imóvel; duas senhoras vão pedir que ele lavre um recibo de compra de uma bicicleta que o marido de uma delas está vendendo ao marido da outra. Há de tudo um pouco. Até o caso de um pedreiro desempregado que vai pedir ao comissário que lhe arranje um emprego de vigilante. E há, também, as práticas judiciárias – para as quais voltamos nossa atenção.
Em raríssimos casos a queixa vem acompanhada de informações mais esclarecedoras sobre a solução dada ao problema. É o que ocorre num caso como o seguinte, aqui transcrito na íntegra – desde a queixa até a solução.
33

“Às 19:45 horas de hoje compareceu nesta distrital a Sra M.O.S, residente no Morro ..., rua C, nº..., queixando-se contra seu ex-companheiro A.C.V.M residente a rua [ilegível], alegando que o mesmo aproveitando sua ausência raptou sua filha menor de 12 anos S.V.M tomando rumo até o presente ignorado, razão pela qual solicita as providencias policiais. Recife, 10 de junho de 1982.”
Seguem-se as assinaturas da queixosa e do agente que anotou a queixa. E logo abaixo:“O pai da menor em tela devolveu a sua genitora a qual se encontra cm sua companhia,
tendo sua genitora trazido sua filha para sua residência a qual vive em sua companhia desde os primeiros dias de existência. Recife, 11 de junho de 1982.”
4.2. Prazo para a Audiência
A audiência é, via de regra, marcada para o primeiro dia útil seguinte. Para a manhã ou para a tarde, a depender da praxe local. Nos 15 casos que observei, o prazo mais longo entre a queixa e a audiência foi de 3 dias, e por causa da seguinte particularidade: a queixa foi prestada num determinado dia 8 e a audiência marcada logo para o dia seguinte, 9. O acusado não compareceu, e o comissário mandou fazer uma nova intimação para o dia 11, considerando que o dia 10 era festa de Corpus Christi. Quanto às conseqüências do não-comparecimento, foi-me dito por duas vezes, em duas agências diferentes, que o acusado fazia jus a uma segunda intimação; não comparecendo, o comissário mandava buscar ...
4.3 Duração da Audiência
As audiências costumam ser rápidas e contínuas. Como exceção, há um caso (o de nº 3, no Quadro nº 1) em que a audiência foi suspensa para que fosse realizada uma sindicância ordenada pelo comissário e retomada alguns dias depois. Ou seja, houve duas audiências. E vale anotar que houve um outro caso, de nº 13, cuja audiência não cheguei a assistir, embora tivesse presenciado o início do processo, com a prestação da queixa. Como quer que seja, o tempo de sua duração se conta em minutos, como o quadro a seguir demonstra.
Quadro nº 1casos Tempo em minutos1º 452º 203º 1ª em 30, 2ª em 454º 305º 156º 127º 258º 129º 1510º 7511 1212º 1513º -14º 615º 14
4.4. Desenrolar da Audiência
No dia e hora marcados, presentes as partes e eventuais testemunhas ou meros acompanhantes, o comissário manda que fale primeiro aquele que prestou a queixa. Frequentemente, um interrompendo o outro. O comissário é o mediador que tenta pôr ordem nessas
34

intervenções. Às vezes com um simples “espere a sua vez!”, às vezes, para os mais exaltados, com um murro na mesa e uma advertência do tipo “a autoridade aqui sou eu!”.
Assim, observo que a audiência, de um modo geral, está estruturalmente dividida em duas grandes partes: uma onde predomina a fala dos querelantes, e outra onde predomina a peroração do comissário, tentando por fim à questão. Ou à própria audiência ... Faço a observação (irônica, certamente) porque em alguns casos observados é visível, a partir de determinado instante, a intenção do comissário de se livrar dos querelantes.
Mas as duas partes constitutivas da audiência não são momentos estanques. Na primeira o comissário também intervém, seja disciplinando a fala dos querelantes, seja já adiantando exortações, ameaças, etc. Na segunda é a vez das partes trazerem outros elementos contra a parte contrária, donde pode emergir uma nova peroração ... Enfim, há um constante vai-e-vem que, com freqüência, desnorteia o próprio pesquisador.
Outro ponto que vale ser destacado é a oralidade dos processos. Não há, nunca, registro escrito dos debates na audiência. Há, todavia, em alguns casos, anotações sobre o que ficou decidido (pequenas e pouco informativas, como vimos), feita no Livro de Queixas. Como exceção, entre os casos observados, houve apenas o de nº 3, onde se procedeu a uma “sindicância”, por escrito, e onde as partes ainda assinaram um “termo de responsabilidade”, sobre o qual adiante falarei.
4.5. A Tipologia dos Casos
Dividindo os casos em dois grandes grupos – os de natureza pessoal e os de natureza patrimonial -, os do primeiro tipo são claramente majoritários, quer no nível dos 15 casos que observei, quer no nível dos casos que levantei nos livros de queixas. Vejamos que casos são esses. Informo que não estou trabalhando com as categorias classificatórias do direito oficial, ainda que fosse possível pegar cada um desses casos e fazer a respectiva transposição. Em vez disso, todavia, preferi trabalhar com conceitos mais “vivos”, construídos a partir da linguagem existente na própria realidade pesquisada: a linguagem das partes e dos policiais, e que transparece nas próprias anotações que são feitas no Livro de Queixas. Esse trabalho de construção me permitiu, até como forma de facilitar a análise, obter três conceitos genéricos que, em conjunto, englobam a maior parte dos pequenos casos que são levados a essas agências policiais. Esses conceitos são: desordem, ofensa moral e agressão. Cada um deles corresponde a ações delituosas diversas. E, no entanto, subsumíveis a um tipo genérico comum, na medida em que partilham certas características próximas.
Esses conceitos, como já frisei, não constam, com esses nomes, nas leis penais do direito oficial. O que não impede que cada um deles corresponda a tipos de delitos aí delineados com maior especificidade. Assim a ofensa moral, para começar com o mais simples, engloba, em termos de direito penal, basicamente os chamados crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria. Em termos da terminologia constante nos livros de queixas, a ofensa moral engloba casos como: “boatando traição”, “maltratando com palavras de baixo calão”, “propostas indecorosas”, “soltando liberdades” – etc.14
A agressão, que numa palavra seria o ato de agredir alguém, engloba, em termos de direito penal, tanto as várias gradações de “lesão corporal” quanto as “vias de fato”, que, para existirem, não exigem a presença de lesão no corpo da vítima, bastando que esta tenha sofrido a agressão. Em termos da terminologia dos livros de queixas, a agressão engloba casos como “um pontapé”, “espancada pelo marido”, “espancou barbaramente”, etc.
Já a desordem é um conceito mais fluido. O seu autor é o que os policiais costumam chamar de “desordeiro”, “arruaceiro” - etc. Ainda que um tanto difícil de explicá-la em termos precisos, digamos que a desordem é uma ação anti-social que atinge a vítima não em seu físico (porque aí seria agressão), ou em sua honra (porque aí seria ofensa moral), mas em certos bens
14 Essas expressões não são títulos dos casos. Elas constam do teor das queixas, conforme estão anotadas. Transcrevo-as para dar uma idéia mais real de que tipos de casos se trata. E também para esclarecer melhor o método com que trabalhei.
35

como o respeito, o sossego, o lar. Daí que sejam considerados desordens atos como “falta com o respeito na rua”, “rádio em volume alto”, ou “invasão de residência”. Mas também há desordem quando se ameaça ou até quando se tenta agredir alguém. Em termos de direito penal, a desordem engloba delitos como a ameaça, a invasão de domicílio, a perturbação do sossego alheio – e assim por diante.
São esses os três tipos que mais aparecem nos livros de queixas. Os restantes são de uma ampla variedade. Há, por exemplo, os pequenos casos de natureza patrimonial, que englobam pequenas dívidas, descumprimento de contrato, subtração de bens móveis etc. ao lado, também, de algumas questões absolutamente originais, como a seguinte: determinado queixoso tinha um cachorro que, depois de morder uma pessoa, morreu (Isto é, o cachorro). A pessoa mordida, mesmo comunicada do fato, se recusa a tomar a vacina. O dono do cachorro vem então prestar queixa para prevenir futuras responsabilidades. Inclino-me a dizer que, nesse caso, em termos de direito oficial, estaríamos diante de uma verdadeira ação cautelar ...
Mas, por seu maior número, fiquemos apenas com os três tipos de natureza pessoal (desordem, ofensa moral e agressão) e os casos patrimoniais. Os 15 casos que presenciei se distribuem por esses quatros tipos. É o que demonstra o quadro a seguir, onde cada caso vem acompanhado de pequeno histórico esclarecedor do seu conteúdo:
Quadro nº 2Caso nº
tipo histórico
1 Agressão Vizinhas se agridem por causa de pé de jerimum em comum que apareceu cortado2 Patrimonial Moça que sustentou rapaz por algum tempo quer ser ressarcida pelos pais do rapaz3 Desordem Lavadeira cuja roupa lavada apareceu salpicada de lama acusa e xinga a vizinha, e a
ameaça fisicamente4 Desordem Depois de fofoca com o marido da queixosa, dá-se uma briga entre esta e o acusado, que
ameaçou quebrar a casa5 Ofensa moral Acusado chamou a queixosa de “rapariga, acostumada a dar isso e isso”.6 Patrimonial Ex-inquilino da queixosa sai de sua casa deixando três meses de luz sem pagar7 Desordem O acusado, depois de uma questão com sua senhoria por falta de pagamento do aluguel, foi
ameaça-la com uma faca8 patrimonial Dono de bar queixa-se contra mecânico que saiu sem pagar a conta9 Patrimonial Acusado começa a construir barraco no terreno da queixosa10 Ofensa moral Queixoso que acusa o pessoal da oficina vizinha a sua casa de ser “um dicionário de
palavrões”11 Ofensa moral Acusados teriam fofocado que a queixosa furtou dinheiro de uma delas12 Patrimonial Dono de frigorífico de aves acusa seus empregados de terem trocado “carro” de carregar
vísceras novo por um velho.13 Ofensa moral Moça acusa mãe e filha de estarem falando mal dela14 Ofensa moral Queixosa acusa vizinha de ter dito que ela teria fofocado que uma terceira, grávida, não
sabia quem era o pai do seu filho.15 patrimonial Pedreiro que se recusa a terminar muro contratado com o queixoso, apesar de já ter
recebido quase todo o pagamento.
Como se vê, os casos de natureza pessoal (9 casos) são majoritários em relação aos de natureza patrimonial (6 casos). Da mesma forma, levando-se em conta já agora os 397 casos levantados nos livros de queixas, esses três tipos de natureza pessoal também se mostram muito mais freqüentes que todo o restante, como demonstra o seguinte quadro:
Quadro nº 3Agências Total dos casos
levantadosSomatório dos três tipos de caso
Percentual15 do somatório s/ o total
1ª 80 65 82 %2ª 160 97 61 %
15 Os percentuais fracionados estão arredondados para mais.
36

3ª 74 56 76 %4ª 25 15 60 %5ª 58 38 66 %
Vistos os casos, vejamos agora os padrões de julgamento operados pela polícia.
4.6. A Jurisprudência Policial
Não é fácil estabelecer padrões regulares de comportamento da autoridade policial que sejam válidos para todas as agências e para os diversos tipos de casos. Ou seja: formalizar o informal. Isso na medida em que os próprios casos têm uma seqüência que depende muito do próprio estilo de comportamento das pessoas envolvidas. Como são elas próprias que acusam ou se defendem (e não profissionais que pautam uniformemente seu comportamento por regras processuais objetivas, como o Judiciário), o seguimento da audiência sofre também uma influência muito forte do estilo de acusar, defender e debater por elas adotado. Sem falar do humor, temperamento, disponibilidade de tempo do próprio comissário. Em todo caso, um esforço interpretativo permite detectar alguns padrões genéricos de solucionamento que, com uma boa dose de flexibilidade, podem ser válidos para todas as agências.
Vejamos, inicialmente, o que ocorre com os casos de natureza pessoal. Mas, antes de avançar qualquer conclusão, irei relatar, muito resumidamente e quase à maneira etnográfica, dois desses casos como eles foram presenciados por mim. Com isso a minha argumentação posterior terá um referencial empírico sobre que se sustentar.
Primeiro caso: desordem (no quadro nº 2, é o caso nº 3)
Estão presentes: Dona M..., a queixosa, e dona C ..., a acusada. A queixosa explica o caso, ambas são lavadeiras e vizinhas. As casas se situam numa encosta do morro, uma (a da queixosa) acima da outra. A roupa lavada da acusada, enquanto estava estendida, apareceu salpicada de lama, e ela teria dito que fora a queixosa, chamando-a de “safada” e “ladrona”, e mandando que ela descesse para “dar nela”. A acusada interrompe: “ela disse que melou e que melava”. A queixosa nega e começa uma discussão. O comissário intervém: “vocês vêm com suas brigas para cá querendo que a gente triture o outro, e, se a gente não faz o que querem, saem dizendo que a gente é comprado ...” a acusada aproveita a brecha: “foi o que ela disse, que o senhor se compra por duzentos cruzeiros!”. O comissário não lhe dá atenção e continua: “o policial não se presta a críticas. Se eu não olhasse o lado humano botava as duas no xadrez! Eu vejo vocês como duas pessoas humanas que deviam ter mais vergonha. Não tem conteúdo passar 24 horas no xadrez. Por que não ficam de bem?” Mas as mulheres parecem irredutíveis. A queixosa é a mais exaltada. O comissário lhe diz: “se a senhora trouxer testemunhas, eu processo ela. Se não, a senhora vai ser punida!”. Mas um dos presentes, que veio acompanhando a acusada, é quem informa que a rua é pela queixosa. O comissário fica num impasse. Chama o “permanente” e manda que ele faça uma sindicância na rua onde moram as duas, para saber quem é quem. Depois suspende a audiência para daí a seis dias, no mesmo horário.
Relato a seguir a continuação da audiência.No dia e hora marcados, o gabinete está cheio. Além da queixosa (e seu marido) e da
acusada, estão mais três mulheres e um homem para testemunhar a favor da queixosa. Ao lado da acusada, para testemunhar a seu favor, apenas uma senhora que a todo instante faz referência a sua condição de crente. O comissário tem em mãos, e brande na direção dos presentes, a sindicância feita junto à vizinhança que testemunhou em peso a favor da queixosa. “Está aqui – diz o comissário -, é a voz do povo que está falando”. A acusada resmunga, diz que eles estão de acerto contra ela. O comissário diz que não faz sentido mães e pais de família levantarem falso testemunho sem mais nem menos. A acusada continua fazendo acusações aos presentes. Mas o comissário retoma a palavra. Diz que essas brigas têm que ter fim. A acusada diz: “seu ***, pode me prender,
37

mas as brigas não vão acabar, não. Só se eu sair de lá. Eles não me deixam viver em paz”. O comissário diz que “não tem conteúdo botar uma mulher como ela, dona-de-casa, responsável, na detenção por 24 horas”. Alterna ameaças com exortações à conciliação. Lembra à acusada que ela tem obrigações para com “a família, a pátria, a sociedade”. “A polícia é como um pai que quando dá uma repreensão é pensando no bem dos filhos. Para assaltantes, autor de latrocínio, a polícia é um terror, mas para gente de respeito, honesta, o que se quer é a reconciliação”. Apela para que a acusada, em consideração à amiga crente que lhe acompanhou, modere seu gênio. A crente, entusiasmada, balança a cabeça, apoiando-o. mas a acusada vira a cara, torce o nariz, diz que ele pode lhe prender: o comissário grita para o “permanente”, que está do lado de fora: “você fica avisado também e avisa aos outros. Qualquer confusão que chegar ao conhecimento de qualquer um, é ir lá e ver na hora quem começou. Quem começou traz pra cá e bota no xadrez à minha disposição”. Mas nem isso parece surtir efeito. Agora o bate-boca também envolve uma outra senhora, que também quer dizer algumas coisas contra a acusada. Mas o comissário, já impaciente, corta: “o caso aqui é dessa senhora, e é esse caso que tem de ser resolvido”.
Para encerrar o processo, o comissário chama o “permanente” e manda-o preparar um “Termo de Responsabilidade”, que deveria ser assinado pela queixosa e seu marido, e também pela acusada. O “Termo de Responsabilidade”, aqui transcrito integral e literalmente, tinha o seguinte teor:
“TERMO DE RESPONSABILIDADE. Eu C.J.S residente na rua ... neste Distrito, assino com meu próprio punho esse Termo de Responsabilidade perante o comissário do Distrito e os policiais do destacamento, e as pessoas que acompanharam esta sindicância de não mais tornar a ofender a pessoa de Dona M.F. e todas testemunhas que testemunharam o fato e se achão presentes como também Dona M.F. assina o mesmo Termo de Responsabilidade da mesma maneira.”
Relato, em seguida, um caso também de natureza pessoal. Informo que o mesmo foi presenciado numa agência diferente da anterior.
Segundo caso: ofensa moral (no quadro nº2, é o caso nº 14).
Entram três mulheres e um rapaz. O rapaz é casado com uma delas, que está grávida. O litígio é entre as outras duas, entrando a grávida como pivô da história. Todos moram perto. A queixosa conta que a acusada tinha ido dizer à grávida que ela, queixosa, andava dizendo que a grávida não sabia quem era o pai do seu filho. A acusada tenta desmentir alguma coisa, mas o comissário manda que ela espere sua vez. Daí a grávida foi tomar satisfação com a queixosa. Ela negou que tivesse dito tal coisa e veio dar parte. O comissário agora manda que a acusada fale. Ela insiste em confirmar que a outra havia dito que a grávida ... – etc. O comissário lhe pergunta: “qual é a prova que você tem?” Ela não tem. É palavra contra palavra. O comissário, parecendo querer voltar ao sossego de um jornal que lia antes delas entrarem, dirige-se uma a outra, dedo em riste, sem maiores perquirições: “você deve cuidar de sua vida” – diz à acusada. “É casada?’ – ela responde afirmativamente. “Vá tomar conta de seus filhos, em vez de ficar destruindo lares”. Para a grávida: “Na próxima vez você não vai tirar satisfação não, vem diretamente a mim!”. À queixosa: “Você também é pra tá em casa”. E para todo mundo: “da próxima vez eu meto no xadrez!”. A queixosa ainda arrisca uma delação: diz que “ela também fuma maconha” – referindo-se à acusada. Mas o comissário quer visivelmente findar a querela: “minha senhora, o que passou, passou. Vamos acabar com essa história”. Durante todo o caso, a grávida e seu marido limitaram-se a balançar a cabeça quando o comissário falou que as outras deviam era ficar em casa, cuidando da família. Quando eles saem, o comissário filosofa sobre as funções da polícia num caso desses: “apenas fazer um medozinho ...”
A frase do comissário resume a lógica que, a meu ver, subjaz ao desempenho policial nesses tipos de casos. Trata-se de tentar impedir que eles evoluam até um delito mais grave. Analiticamente, eu diria que essa tentativa se expressa através de três atitudes básicas assumidas
38

pela autoridade policial, e que eu chamaria de retórica, ameaça e admoestação. A retórica16 ocorre quando o comissário faz apelos a valores éticos socialmente aceitos, como a família, a paz social – etc. A ameaça ocorre quando o comissário apela para a possibilidade de aplicar o direito oficial: fazer inquérito e processar, ou mesmo quando simplesmente ameaça prender. A admoestação refere-se a uma atitude marcadamente policial, caracterizada por palavras de descompostura dirigida às partes.
O desempenho policial é, a meu ver, uma variedade onde se mescla tudo isso. Mas de um modo tanto caótico. Ou seja, não há padrões regulares e generalizáveis, como se as atitudes dos comissários obedecessem a seqüências do tipo “retórica – ameaça – admoestação”, ou “admoestação – ameaça – retórica”. O que há, na verdade, é um uso não sistemático desses três elementos de acordo com o ritmo da audiência. E, às vezes, eles vêm tão imbricados que só um esforço analítico a posteriori permite destaca-los.
Assim, eu diria que no primeiro caso há momentos onde o comissário se vale da retórica (“eu vejo vocês como duas pessoas humanas”), outros em que se vale da admoestação (“o policial não se presta a críticas”), e outros em que utiliza a ameaça (“qualquer confusão [...] quem começou traz pra cá e bota no xadrez à minha disposição”). Ao mesmo tempo, frases como “se eu não olhasse o lado humano, botava as duas no xadrez!”, pode-se dizer que o comissário está, a um só tempo, sendo retórico quando enfatiza o “lado humano”, e ameaçador quando lembra a possibilidade do “xadrez”. Por outro lado, no segundo caso há momentos em que o comissário se vale da admoestação (“você deve cuidar de sua vida”), outros em que se vale da retórica (“vá tomar conta de seus filhos”), e outros em que utiliza a ameaça (“da próxima vez eu meto no xadrez”).
Em que pese as semelhanças, entretanto, os dois casos têm um rito de andamento bem diferente, o que pode ser atribuído ao próprio estilo de agir dos respectivos comissários. No primeiro caso, percebe-se na autoridade policial uma disposição em aconselhar e fazer exortações morais muito maior do que no segundo, onde o comissário, mesmo num caso de ofensa moral, onde já há uma natural oportunidade para exortações desse tipo, quase limita-se a dizer que “ninguém tem prova de nada” e mandar as partes embora com ameaças de detê-las no “xadrez” da próxima vez – tudo isso em não mais do que 6 minutos roubados ao seu jornal ... Já no outro caso chegou a haver duas audiências, intercaladas por uma “sindicância” e coroadas com um “Termo de Responsabilidade”, que foi assinado pelas partes.
Vejamos agora como se passam os casos patrimoniais. Aqui se trata de reparações materiais, e a finalidade buscada é essa reparação. O que se consegue mais com negociações mediadas pelo comissário do que com retóricas exortações morais. O caso a seguir relatado ilustra esse tipo de questão.
Terceiro caso: patrimonial (no quadro nº 2, é o caso nº 15).
Estão presentes o queixoso e o acusado. O primeiro contratou o segundo para fazer um muro, pelo qual já pagou quase toda a importância acertada. O acusado, entretanto – por razões que não ficam claras -, recusa-se a terminar o serviço. O queixoso, além disso, acusa-o da “apropriação indébita” de uma colher de pedreiro que lhe pertencia. Segundo ele, a colher sumiu juntamente com o queixoso. “Mentiroso!” – reage este último. “Pére aí – intervém o comissário – ele não agrediu o senhor”. E a palavra volta para o queixoso. Na verdade ele não faz questão da colher de pedreiro, quer apenas que o outro termine o muro, pois é só o reboco que estava faltando. Com a palavra o acusado, ele diz que a colher de pedreiro é dele e que tem testemunhas. O comissário diz que o queixoso não está fazendo questão da colher, que a questão é só o muro. E sugere: “vamos chegar a uma conclusão”. Propõe que o acusado termine de fazer o muro, ao fim do qual o outro pagaria o restante da importância. Mas o acusado, como que ferido em seu orgulho, resiste à idéia: “eu não quero mais pisar na casa dele”. O comissário sugere: “você arranja uma outra pessoa para fazer”. O acusado pensa um pouco, depois parece aceitar e diz – como querendo deixar as coisas bem clara:
16 Essa categoria foi extraída de Boaventura Santos (1982). As outras duas foram sugeridas pela própria realidade pesquisada.
39

“é somente o reboco”. O queixoso balança a cabeça afirmativamente. O comissário: “pronto, ta resolvido”.
Mas nem sempre as coisas se passam assim, nesse nível de civilidade. Num outro caso, nessa mesma agência e com esse mesmo comissário, um rapaz acusado de furto é preso até que se resolve fazer o “acordo” ... Aparece aqui, a meu ver, uma outra variável. Ou seja, quando o caso configura não uma pequena causa cível (um descumprimento contratual, por exemplo), mas um delito contra o patrimônio, mesmo que pequeno, o desempenho policial deixa transparecer a função mais propriamente repressiva da instituição. Daí que a mediação do comissário tenda a ser feita menos com retóricas exortações morais do que com ameaças concretas para quebrar a resistência dos recalcitrantes. Ameaças que, passando da palavra aos atos, podem até se concretizar numa rápida prisão. É o que acontece no caso que relato a seguir.
Quarto caso: patrimonial (no quadro nº 2, é o caso nº 12).
Estão no gabinete do comissário: o queixoso (bem vestido, relógio no braço) e os acusados – dois rapazes miseráveis típicos: magros e vestidos de calção e camisa esburacada. Um, meio “sarará”, e o outro, negro. O queixoso está na cadeira junto ao birô do comissário. Os rapazes, mesmo o sofá estando desocupado, estão de pé. O queixoso é abatedor de aves, tem um frigorífico. Os rapazes trabalham para ele. Os dois falam ao mesmo tempo, se atropelando. O comissário dá um murro na mesa: “um de cada vez!”. Entre uma frase e outra, eu capto o enredo. No domingo passado um dos acusados, de nome J, saiu com um “carro” carregado de vísceras para jogar fora. O carro foi-lhe entregue pelo “sarará”. Segundo o queixoso, quando J voltou, o carro, que será novo, tinha sido trocado por um velho, imprestável. A questão está entre J e o “sarará”. Este fiz que entregou um carro novo ao primeiro; o primeiro diz que o carro era aquele mesmo que ele devolveu, tão velho que “nem segurava as tripas direito”. O comissário pergunta ao “sarará” – com cara de mais novo – se ele é de menor. Ele responde que tem 17 anos. O comissário diz que ele “também vai dançar”, que vai pro Juizado. E quanto a J, dá uma ordem ao agente que está de pé na porta: “bote ele lá dentro que depois eu converso com ele”. O agente o conduz para o xadrez. O comissário propõe: “vamos ver quanto é o valor, e vamos fazer desconto no salário. Dos dois!”. O “sarará” se defende: “e eu vou pagar inocente?”. O comissário pergunta ao queixoso quanto vale o carro velho. O queixoso faz um gesto de que não vale praticamente nada. O “sarará”, querendo ganhar simpatia, confirma que o carro não presta pra nada. Diz que conhece o carro novo, se o vir, e protesta mais uma vez inocência, dizendo que o outro foi quem trocou o carro sozinho. O comissário diz que “não há prova”. Mas o “sarará” tem a solução: “atoche ele lá, que ele é que ta com o carro”. O comissário manda que todo mundo vá embora, que “eu me acerto com ele”. Depois de algum tempo – cerca de 40 minutos –, o comissário chama o agente e diz que ele vá lá dentro falar com J, para acertar o pagamento do carro em descontos no salário. Lá dentro, conversam o agente e J. este do lado de dentro da cela. Está só de calção. No ar, o velho e conhecido cheiro degradante de urina velha. O agente fala que vai ter de acertar com o queixoso o desconto no salário para pagar o carro. J “negocia”, depois diz que “ta”. O agente o solta. Na saída, diz que é para ele e o outro, o “sarará”, procurarem o queixoso e dizerem que são responsáveis pelo pagamento do carro. Ele balança a cabeça e vai embora.
Antes de passar à última parte desse texto, gostaria de fazer uma observação sobre esse caso. É que, apesar de ter se passado numa agência onde o comissário habitualmente dedica pouco tempo aos casos que lhe chegam, não estou sugerindo que a sua atitude mandando prender um dos acusados para, nitidamente, forçá-lo a um “acordo”, se explique apenas por uma impaciente estratégia de solucionamento da questão. Acho que é mais do que isso. A sua atitude, na verdade, é um exemplo do que, no Brasil, constitui a atitude típica da polícia para com as classes populares de um modo geral, sobretudo quando se trata de reprimir supostos delitos contra o patrimônio: mandar recolher para depois investigar – sem flagrante, sem mandado judicial e sem problemas. É dizer: essas práticas judiciárias da polícia não configuram apenas uma inocente instância apaziguadora de
40

brigas de vizinhos; elas também são – e nesse caso ratificando a visão crítica da polícia entre nós – práticas que reproduzem o arbítrio e a dominação.
5. Considerações Finais
É comum na literatura sociojurídica, inclusive estrangeira – o que mostra que esses fenômenos não são uma particularidade brasileira -, o enfoque dessas instâncias informais de resolução de conflitos sob o prisma da alternatividade. Isto é, verifica-se que o Judiciário tradicional é inacessível para determinados tipos de casos e/ou determinados segmentos sociais, porque é caro, custoso, distante, burocratizante etc, e então conclui-se que, vista essa inacessibilidade, as pessoas procuram instâncias alternativas onde possam resolver seus conflitos (ver, por exemplo, Nader e Tood, 1978, pp.1-2).
Mas aqui, talvez, caiba uma correção, pelo menos em relação aos pequenos casos que foram por mim pesquisados. É que a formulação convencional dá a errônea impressão de que as pessoas, depois de terem defrontado com a inacessibilidade do Judiciário, é que se voltam para outras instâncias. Em termos de Brasil, historicamente nada mais falso. Na verdade, se considerarmos os tipos majoritários de litígios de natureza pessoal que levantei, veremos que o seu tratamento sempre esteve noutras mãos que não o Judiciário. Entre essas outras mãos, a polícia sempre teve lugar de especial destaque.
Na verdade – e curiosamente -, o Código Criminal do Império, de 1830, atribuía explicitamente à polícia competência judicial sobre alguns pequenos delitos de natureza pessoal, que eram capitulados sob a designação de “crimes policiais”. Esses crimes eram, mais ou menos, aquilo que aqui chamei de desordem, ofensa moral e agressão. Frente a sua ocorrência, cabia ao delegado, após a realização de sumaríssimo processo, obrigar o ofensor a assinar um “Termo de Bem Viver” ou ainda um “Termo de Segurança”, conforme o caso (ver Bastos, 1886, p.20), algo muito próximo do “Termo de Responsabilidade” que o comissário de uma das agências faz a acusada de um dos casos assinar. E é bem possível que o Código do Império, na realidade, estivesse simplesmente se rendendo a práticas já existentes no Brasil desde sempre. E que continuaram existindo para além do Império e ao longo das várias repúblicas que temos tido17.
E poderia – e mesmo deveria – ser diferente? Com essa pergunta quero fugir das explicações usuais para esse tipo de fenômeno em termos apenas econômicos. É claro que a imensa maioria das pessoas que comparece a esses locais demandando esses serviços são pessoas pobres. Mas a questão da renda não explica tudo. Afinal, o Judiciário tradicional não é apenas caro. Ele também é lento, distante, excessivamente burocratizado. A sua estrutura é incompatível com a agilidade que esses pequenos casos requerem. Daí porque os queixosos não procuram a polícia para que ela cumpra suas funções legais: a realização de um inquérito para posterior envio à justiça. O que se quer é resolver a questão ali mesmo. Mesmo em casos em que a polícia, pela natureza civil da contenda, nada teria a dizer. É o que sucede no caso nº 15, onde o que o queixoso deseja é que o acusado termine o seu muro. A questão é, em termos legais, uma inadimplência contratual – logo, uma questão cível. Mas, para se valer dos préstimos da polícia, o queixoso se aproveita do fato de que teria havido um furto de uma colher de pedreiro – logo, uma questão penal ...
Também nos outros casos, os de natureza estritamente pessoal, o que as pessoas querem é uma ação pronta, rápida, contra o ofensor. No dizer típico dos comissários, um “corretivo”. O que tudo isso está a indicar é que, para determinados tipos de questão e clientela, a polícia constitui, sem dúvida alguma, um dos locais mais viáveis para onde se pode ir – e se vai – em busca de algum tipo de solução.
Mas, para além dessas razões de ordem subjetiva, relacionadas ao querer das pessoas, há um outro motivo, de ordem mais estrutural, que impede a ida desses pequenos casos ao Judiciário.
17 Ver, a propósito, o artigo memorialístico de um policial mineiro (Valadão, 1968), com “vinte e cinco anos de vida policial”, o qual, escrevendo em 1968, refere-se a pessoas pobres que vão às delegacias pedir a explicação dos termos de “segurança” e de “bem viver” em casos de “ameaça, provocação, briga de vizinho etc, de que os expedientes policiais estão sempre sobrecarregados” (pp. 12-13).
41

Para ver isso, proponho nos afastarmos dos casos em sua individualidade e pensarmos nos mesmos como uma generalidade dotada de uma grandeza numérica bastante expressiva. Abordada por esse ângulo, a pergunta que percorre estas reflexões pode abrigar a seguinte resposta: esses casos não são levados ao Judiciário porque seria impossível, em termos práticos, processa-los conforme a lei.
Vejamos alguns números. Segundo cálculos que fiz a partir dos dados constantes dos livros de queixas, nas cinco agências policiais que pesquisei, devem ser anotadas algo em torno de 1.285 queixas por ano. Se considerarmos que cerca de metade das queixas não são anotadas, esse número deve subir para mais ou menos 2.570 queixas, as quais dão início a um processo informal e rápido de resolução dos casos na própria polícia. Ora, a dimensão desse fenômeno não é para se minimizar. Para se ter uma idéia de sua importância em termos globais, basta considerar que trabalhei apenas com cinco agências policiais, enquanto no Grande Recife ainda existiam, fora as delegacias especializadas, mais 85 unidades policiais (entre delegacias e comissariados) que não foram pesquisadas. Todas – umas mais, outras menos – exercitando jurisdição sobre questões desse tipo.
De outro lado, vejamos o que ocorre no Judiciário. Trabalhando com dados apenas da área penal, na Comarca do Recife existiam, à época da pesquisa de campo, 18 varas. Todas elas, consideradas em conjunto, prolataram no ano de 1982 um total de 2.35818 sentenças – ou seja, julgaram esse número de casos. Por aí se vê que as práticas judiciárias da polícia são, a um só tempo, um escoadouro para pequenos delitos e, também, um coadouro a proteger o Judiciário de uma avalanche de pequenos casos que, se para lá dirigidos, certamente terminaria por afogar de vez esse Poder eternamente às voltas com uma endêmica asfixia. É óbvio que uma sobrecarga nas dimensões do volume de casos que são resolvidos pela polícia, mantidas as condições da época da pesquisa, ou seria impensável, ou seria o caos. Como disse um comissário, refletindo sobre o que aconteceria se esses casos fossem parar na justiça, “desanda tudo”.
Além do mais, a “oficialização” desses pequenos delitos não seria uma operação sem transtornos para o desenrolar cotidiano das próprias relações sociais. Como disse um outro comissário, “com um processo o sujeito passa uns dois anos sem poder nem tirar uma folha corrida”. Assim, ao invés de inquérito, processo e, eventualmente, condenação, temos admoestações, ameaças e, eventualmente, até uma rápida prisão. E tudo com um mínimo de tempo, um mínimo de gastos e nenhuma burocracia. Em resumo, o que as informações históricas disponíveis dizem e raciocínios sociológicos sugerem é que, para as classes populares e seus pequenos casos, o Poder Judiciário real sempre foi outro. É o caso, então, de se indagar: mas se as classes populares já têm o seu foro, qual o sentido da discussão que estamos a fazer?
É que, a meu ver, aqui adentra a questão política da cidadania, dentre cujos itens se inclui a possibilidade de acesso à justiça. Isto é, dentro da moderna concepção de estado de direito, há, de um modo geral, um consenso sobre a necessidade de uma instância dotada de independência, poder e imparcialidade para onde os cidadãos possam se dirigir em caso de desrespeito aos seus direitos. Esse ideal impregna de tal modo os pressupostos da democracia moderna que no próprio conceito de cidadania, tornado célebre por Marshall, inclui-se, entre os elementos essenciais que o definem, o “direito à justiça“, porque é “o direito de defender e afirmar todos os direitos” (1967, p.63).
Mas qual justiça? Até por suas deficiências, não se trata de idealizar o Judiciário tradicional e, por conseqüência, criticar a atuação da polícia simplesmente porque ela se substitui a ele. A questão não é quem julga, mas como se julga. Ou seja: o acesso à justiça que se reivindica não é o acesso ao Judiciário tour court, mas o acesso a uma instância dotada de certos comprometimentos mínimos com o justo. Nesse caso, a crítica que se pode fazer às práticas judiciais da polícia é muito mais do que a constatação jurisdicista de que, não fazendo parte do Poder Judiciário, a instituição policial não tem o poder de julgar. Isso seria reduzir a questão a uma querela nominalista.
Mas, de outro lado, alguns princípios bastante caros ao Judiciário – como o respeito à dignidade das partes, o seu tratamento eqüitativo etc – podem servir de contraponto crítico às práticas policiais. Frequentemente, a polícia desconsidera tais princípios, e com o desembaraço
18 Dados provenientes da Corregedoria Geral de Justiça de Pernambuco, publicados no Diário de Justiça de 23.3.83.
42

típico que caracteriza o desempenho da instituição entre nós. O bom ou o mau atendimento, a maior ou menor atenção dispensada às partes etc. ficam na dependência do bom ou do mau humor, do maior ou menor interesse que tem a autoridade policial em dedicar seu tempo a essas questões. Sem falar no próprio fato de que a polícia – e aqui enfocando a sua função mais nitidamente repressiva – é uma instituição sempre pronta a perpetrar flagrantes injustiças quando se trata de resolver supostos delitos de natureza patrimonial cometidos pelas classes populares. Por isso é que não se pode – ou pelo menos não se deve – partir para uma adesão entusiasmada e ingênua a essas práticas, apenas porque elas são eficientes. Isso seria um sociologismo muito chão. Afinal, há que se questionar sobre a qualidade e a justiça dessa eficiência. Sem isso, arriscamo-nos a achar que o comissário do quarto caso anteriormente descrito agiu muito bem ao mandar “recolher” o rapaz acusado do furto de um carro de transportar vísceras: afinal, o “acordo” foi feito...
Como quer que seja, o que os dados aqui relatados nos ensinam é que, cotidianamente, há uma infinidade de pequenos casos – pessoais e patrimoniais – vivenciados pelas classes populares, para os quais parece necessária uma instância de resolução acessível. Necessária exatamente porque, na sua ausência, esses casos deságuam em instituições como a polícia. Mas, ao mesmo tempo, a polícia está longe de ser uma instituição comprometida com o valor justiça. Em que pese isso, ela constitui, pelo menos para certos casos, o judiciário a que as classes populares têm tido direito19.
Nesse sentido, também no que diz respeito a esse tópico, as classes populares brasileiras permanecem excluídas dos benefícios da cidadania. Mas, se isso mais uma vez nos constrange, não deve nos surpreender. Trata-se, afinal, de mais uma carência ao lado de tantas outras tradicionalmente mais visíveis: saúde, educação, transporte decente, alimentação adequada – em suma, dignidade humana. Quem não tem nada disso – vá lá o trocadilho – também não pode ter justiça ...
2. FILOSOFIA DO DIREITO
Para a primeira unidade, o professor indicou um livro de filosofia geral, além dos textos abaixo, via internet. As aulas da primeira unidade transcritas estão incompletas no que se refere à filosofia da Idade Média, que não foram gravadas. Para a segunda unidade, todo assunto se resume a dois textos. Um de autoria do professor, que está nesta apostila numa versão mais simples, ou seja, sem algumas notas de rodapé. Além disso, coloquei em itálico as partes desse texto que não têm relação com o assunto da prova. O outro texto é de Gisele Citadino, cujo comentário é assunto de uma das aulas digitadas abaixo. Este último foi disponibilizado na xerox.
Textos da primeira unidade
2.1.1 O que é Filosofia e por que vale a pena estuda-la
A. C. Ewing
19 Com isso, não estou excluindo que elas também recorram a outras instâncias que não a polícia. Como também não excluo que outras classes sociais igualmente se valham da polícia para resolver suas questões. A minha pesquisa, como se vê, não é uma globalidade; é um recorte.
43

SEÇÃO INTRODUTÓRIA: A ORIGEM DO TERMO FILOSOFIAUma definição precisa do termo "filosofia" é impraticável. Tentar formulá-la poderia, ao
menos de início, gerar equívocos. Com alguma espirituosidade, alguém poderia defini-la como "tudo e nada, tudo ou nada...". Melhor dizendo, a filosofia difere das ciências especiais na medida em que procura oferecer uma imagem do pensamento humano - ou mesmo da realidade, até onde se admite que isso possa ser feito -- como um todo. Contudo, na prática, o conteúdo de informação real que a filosofia acrescenta às ciências especiais tende a desvanecer-se até parecer não deixar vestígios. Acreditamos que esse desvanecimento seja enganoso. Mas devemos admitir que até aqui a filosofia não tem conseguido realizar suas grandes pretensões. Tampouco tem logrado êxito em produzir um corpo de conhecimentos consensual comparável ao elaborado pelas diversas ciências. Isso se deve em parte, embora não integralmente, ao fato de que, quando obtemos conhecimento verdadeiro a respeito de determinada questão situamos essa questão como pertencente à ciência e não à filosofia. 0 termo "filósofo" significava originariamente "amante da sabedoria", tendo surgido com a famosa réplica de Pitágoras aos que o chamavam de "sábio". Insistia Pitágoras em que sua sabedoria consistia unicamente em reconhecer sua ignorância, não devendo portanto ser chamado de "sábio", mas apenas de "amante da sabedoria". Nessa acepção, "sabedoria" não se restringia a qualquer dos domínios particulares do pensamento e, de modo similar, "filosofia" era usualmente entendida como incluindo o que hoje denominamos "ciência". Esse uso sobrevive ainda hoje em expressões como "filosofia natural". Na medida em que uma grande produção de conhecimento especializado em um dado campo ia sendo conquistada, o estudo desse campo se desprendia da filosofia, passando a constituir uma disciplina independente. As últimas ciências que assim evoluíram foram a psicologia e a sociologia. Dessa forma, poderíamos falar de uma tendência à contração da esfera da filosofia na própria medida em que o conhecimento se expande. Recusamo-nos a considerar filosóficas as questões cujas respostas podem ser dadas empiricamente. Não desejamos com isso sugerir que a filosofia poderá acabar sendo reduzida ao nada. Os conceitos fundamentais das ciências, da figuração geral da experiência humana e da realidade (na medida em que formamos crenças justificadas a seu respeito) permanecem no âmbito da filosofia, visto que, por sua própria natureza, não podem ser determinados pelos métodos das ciências especiais. É sem dúvida desencorajador que os filósofos não tenham logrado maior concordância com respeito a esses assuntos, mas não devemos concluir que a inexistência de um resultado por todos reconhecido signifique que esforços foram realizados em vão. Dois filósofos que discordem entre si podem estar contribuindo com algo de inestimável valor, embora ambos não estejam em condição de escapar totalmente ao erro: suas abordagens rivais podem ser consideradas mutuamente complementares. O fato de filósofos distintos necessitarem dessa mútua complementação torna evidente que o ato de filosofar não é unicamente um processo individual, mas também um processo que possui uma contrapartida social. Um dos casos em que a divisão do trabalho filosófico se torna bastante proveitosa consiste na circunstância de que pessoas distintas usualmente enfatizam aspectos diferentes de uma mesma questão. Contudo, boa parte da filosofia volta-se mais para o modo pelo qual conhecemos as coisas do que propriamente para as coisas que conhecemos, sendo essa uma segunda razão pela qual a filosofia parece carecer de conteúdo. No entanto, discussões a respeito de um critério definitivo de verdade podem determinar, na medida em que recomendam a aplicação de um dado critério, quais as proposições que na prática deliberamos serem verdadeiras. As discussões filosóficas da teoria do conhecimento têm exercido, ainda que de modo indireto, importante efeito sobre as ciências.
UTILIZAÇÃO DA FILOSOFIAHá uma questão que muita gente formula de imediato quando ouve falar de filosofia: qual
a utilidade da filosofia? Não há certamente expectativa alguma de que ela contribua para a produção de riqueza material. Contudo, a menos que suponhamos que a riqueza material seja a única coisa de valor, a incapacidade da filosofia de promover esse tipo de riqueza não implica que não haja sentido prático em filosofar. Não valorizamos a riqueza material por si própria - aquela pilha de papel que chamamos de dinheiro não é boa por si mesma -, mas por contribuir para nossa felicidade. Não resta dúvida de que uma das mais importantes fontes de felicidade, ao menos para os que podem apreciá-
44

la, consiste na busca da verdade e na contemplação da realidade; eis aí o objetivo do filósofo. Ademais, aqueles que, em nome de um ideal, não classificaram todos os prazeres como idênticos em seu valor, tendo chegado a experimentar o prazer de filosofar, consideraram essa experiência como superior em qualidade a qualquer outra. Visto que a maior parte dos bens que a indústria produz, excetuando os que suprem nossas necessidades básicas, valem apenas como fontes de prazer, torna-se a filosofia perfeitamente apta, no que se refere à utilidade, para competir com a maioria dos produtos industriais, quando poucos são os que podem dedicar-se, em tempo integral à tarefa de filosofar. Mesmo que entendêssemos a filosofia como fonte de um inocente prazer particularmente válido por si próprio (obviamente, não apenas para os filósofos, mas também para todos aqueles a quem eles ensinam e influenciam), não haveria razão para invejar tão pequeno desperdício da força humana dedicada ao filosofar.
Não esgotamos, porém, tudo o que pode ser dito em favor da filosofia. Pois, à parte qualquer valor que lhe pertença intrinsecamente acima de seus efeitos, a filosofia tem exercido, por mais que ignoremos isso, uma admirável influência indireta até mesmo sobre a vida de gente que nunca ouviu falar nela. Indiretamente, tem sido destilada através de sermões, da literatura, dos jornais e da tradição oral, afetando assim toda a perspectiva geral do mundo. Em grande parte, foi através de sua influência que se fez da religião cristã o que ela é hoje. Devemos originalmente a filósofos idéias que desempenharam papel fundamental para o pensamento em geral, mesmo em seu aspecto popular, como, por exemplo, a concepção de que nenhum homem pode ser tratado apenas como um meio ou a de que o estabelecimento de um governo depende do consentimento dos governados. No âmbito da política, a influência das concepções filosóficas tem sido expressiva. Nesse sentido, a Constituição norte-americana é, em grande parte, uma aplicação das idéias do filósofo John Locke; ela apenas substitui o monarca hereditário por um presidente. Similarmente, admite-se que as idéias de Rousseau tenham sido decisivas para a Revolução Francesa de 1789. É inegável que a influência da filosofia sobre a política pode às vezes ser nefasta: os filósofos alemães do século X1X podem ser parcialmente responsabilizados pelo desenvolvimento de um nacionalismo exacerbado que posteriormente veio a assumir formas bastante deturpadas. Todavia, não resta dúvida de que essa responsabilidade tem sido freqüentemente muito exagerada, sendo difícil determiná-la exatamente, o que se deve ao fato de aqueles filósofos terem sido obscuros. Contudo, se uma filosofia de má qualidade pode exercer influência nefasta sobre a política, com as filosofias de boa qualidade pode ocorrer o contrário. Não há meios de impedir tais influências sendo portanto extremamente oportuno que dediquemos especial atenção à filosofia com o intuito de constatar se concepções que exerceram alguma influência foram mais positivas do que nefastas. 0 mundo teria sido poupado de muitos horrores caso os alemães tivessem sido influenciados por uma filosofia melhor que a dos nazistas.
Torna-se, portanto, imperativo abandonar a afirmação de que a filosofia é destituída de valor, mesmo com respeito à riqueza material. Uma boa filosofia, ao influenciar favoravelmente a política, pode gerar uma prosperidade incapaz de ser alcançada sob a égide de uma filosofia inferior. Outrossim, o expressivo desenvolvimento da ciência, com seus conseqüentes benefícios de ordem prática, muito depende de seu background filosófico. Houve mesmo quem tenha chegado a afirmar, a nosso ver exageradamente, que o desenvolvimento da civilização como um todo seria concomitante às mudanças na idéia de causalidade, da concepção mágica de causalidade à científica. De qualquer modo, a idéia de causalidade faz parte do objeto da filosofia. A própria ‘perspectiva científica’, em grande parte, foi introduzida inicialmente pelos filósofos.
Todavia, certamente não estaremos nas melhores condições para fazer um estudo proveitoso da filosofia se a encararmos principalmente como uma via indireta de acesso à riqueza material. A principal contribuição da filosofia consiste no intangível background intelectual do qual muito dependem o clima espiritual e a feição geral de uma civilização. Nesse sentido, ocasionalmente se desenvolvem ambições ainda maiores. Whitehead, um dos mais expressivos e acatados pensadores modernos, descreve os dons da filosofia como "a capacidade de ver e de prever, aliada a um sentido do valor da vida, ou seja, o sentido da importância que anima todo esforço civilizado".1 Acrescenta ainda Whitehead que, "quando uma civilização atinge seu auge sem
45

coordená-lo com uma filosofia de vida, difundem-se por toda a comunidade períodos de decadência e monotonia, seguidos pela estagnação de todos os esforços". Para ele, a filosofia consiste em "uma tentativa de esclarecer as crenças que, em última instância, determinam nossa atenção, a qual integra a base de nosso caráter". De um modo ou de outro, podemos ter como certo que o caráter de uma civilização é enormemente influenciado por sua concepção geral da vida e da realidade. Até pouco tempo, para a maioria das pessoas, essa concepção era proporcionada pelo ensino religioso, mas as próprias concepções religiosas foram muito influenciadas pelo pensamento filosófico. Ademais, a experiência demonstra que as concepções religiosas podem conduzir-nos à loucura, a menos que sejam continuamente submetidas a uma avaliação racional. Os que rejeitam qualquer concepção religiosa devem ter o maior interesse em elaborar uma nova concepção para, se possível, substituir a crença religiosa. E fazê-lo significa engajar-se na filosofia.
Embora não passa substituir a filosofia, a ciência suscita problemas filosóficos. Pois ela não pode dizer-nos que lugar ocupam os fatos com que lida no esquema geral das coisas, não conseguindo nem mesmo esclarecer suas relações com os espíritos que os observam. Nem mesmo pode demonstrar, embora deva admitir, a existência do mundo físico ou a legitimidade do uso dos princípios da indução para prever as prováveis ocorrências futuras ou ultrapassar de alguma forma o que tem sido efetivamente observada. Nenhum laboratório científico pode demonstrar em que sentido os homens têm uma alma, se o universo tem ou não um propósito, se, e em que sentido, somos livres, e assim por diante. Não desejamos com isso sugerir que a filosofia possa resolver esses problemas; no entanto, se ela realmente não puder, nada mais poderá fazê-lo, sendo certamente válido tentar descobrir ao menos se tais problemas podem ser solucionados. Veremos, que a própria ciência pressupõe continuamente conceitos que subsumem os domínios da filosofia E, da mesma forma que nenhuma ciência pode florescer se não admitirmos tacitamente uma resposta para certas questões filosóficas, não podemos fazer uso mental adequado da ciência, com o intuito de implementar nosso desenvolvimento intelectual, sem admitirmos uma visão de mundo mais ou menos coerente. Mesmo as melhores conquistas da ciência moderna não teriam sido alcançadas se os cientistas não tivessem adotado determinadas suposições de grandes e originais filósofos, nas quais basearam todo o seu proceder. A concepção "mecanicista" do universo, que caracterizou a ciência durante os últimos três séculos, é derivada principalmente do filosofia de Descartes. Por ter ocasionado maravilhosos resultados, o esquema mecanicista deve ser, em parte, verdadeiro, ainda que parcialmente inadequado, apressando-se o cientista em buscar no filósofo o necessário auxílio para erigir novo esquema que possa substituir o antigo.
Um segundo serviço inestimável prestada pela filosofia (especialmente pela "filosofia crítica") reside no hábito, por ela estimulado, de promover-se um julgamento imparcial considerando-se todas as facetas de uma questão, e na idéia que ela oferece do que seja a evidência e de que devemos buscar ou esperar de uma prova. Pode ser esse um importante questionamento das inclinações emocionais e das conclusões precipitadas, sendo especialmente necessário, e com freqüência negligenciado, em controvérsias políticas. Se ambos os lados considerassem suas diferenças políticas munidos de espírito filosófico, seria difícil admitir a eventualidade de uma guerra. O sucesso da democracia depende muito da habilidade dos cidadãos em distinguir um bom de um mau argumento, não se deixando enganar por confusões. A filosofia crítica estabelece um padrão ideal para o raciocínio correto e capacita quem a estuda a remanejar argumentos confusos. Talvez seja esse a motivação pela qual Whitehead afirma, na passagem acima citada, que "nenhuma sociedade democrática poderá alcançar êxito sem que a educação geral que a inspire exprima uma perspectiva filosófica".
Na medida em que admitirmos que certa cautela é desejável ao afirmarmos que os homens não deixam de viver de acordo com uma filosofia na qual acreditam, e enquanto atribuirmos a maior parte dos desacertos humanos exatamente à falta desse desejo de sintonia com ideais mais nobres, não poderemos negar a extrema relevância de crenças gerais a respeito da natureza do universo e do bem para a determinação da progresso ou da degeneração da humanidade. Algumas partes da filosofia inegavelmente produzem resultados práticos mais expressivos, mas não devemos por isso incorrer no erro de supor que a aparente inexistência de um suporte de ordem prática para
46

determinado campo de estudo implica que a investigação desse campo seja destituída de sentido prático. Conta-se que um cientista, que costumava jactar-se de desprezar a dimensão prática de toda pesquisa, disse certa vez a respeito de uma: "0 melhor disso tudo é que ela possivelmente não revelará qualquer utilidade prática para quem quer que seja." Todavia, essa linha de pesquisa acabou levando à descoberta da eletricidade. De modo similar, estudos filosóficos por demais acadêmicos e aparentemente destituídos de utilidade prática terminam por exercer profunda influência sobre a visão de mundo, chegando até mesmo a afetar, em última instância, a ética e a religião que adotamos. Pois as diferentes partes da filosofia, os diferentes elementos que compõem nossa visão de mundo, deveriam integrar-se. Tal é pelo menos o objetivo, nem sempre alcançável, de uma boa filosofia. Sendo assim, conceitos à primeira vista muito distanciados de qualquer interesse de ordem prática podem vir a afetar de modo vital outros conceitos que envolvem mais de perto a vida diária.
Podemos compreender agora o motivo pelo qual a filosofia não precisa recear a questão de ter ou não valor prático. Devo ao mesmo tempo dizer que não aprovo de modo algum uma concepção puramente pragmática da filosofia. A filosofia merece ser valorizada por si própria, e não por seus efeitos indiretos de ordem prática. E a melhor maneira de assegurarmos esses bons efeitos práticos é nos dedicarmos à filosofia pela filosofia. Para encontrar a verdade, precisamos buscá-la desinteressadamente. E o fato de a encontrarmos se revelará muito útil do ponto de vista prático. Não obstante, uma preocupação prematura com seus efeitos práticos só dificultará nossa busca do que é de fato verdadeiro. Muito menos podemos fazer desses efeitos práticos o critério de sua verdade. As crenças são úteis porque são verdadeiras, e não verdadeiras porque são úteis.2
PRINCIPAIS DIVISÕES DA FILOSOFIAA seguinte classificação é usualmente aceita como uma especificação dos diversos
assuntos que compõem a filosofia.(1) Metafísica.3 Essa disciplina é concebida como o estudo da natureza da realidade em
seus aspectos mais gerais, na medida em que podemos fazê-lo. Ela lida com questões do seguinte tipo: De que modo a matéria se relaciona com o espírito? Qual dos dois é anterior? São os homens livres? 0 que chamamos de eu (self) é uma substância ou apenas uma seqüência de experiências? É o universo infinito? Deus existe? Até que ponto o universo é uma unidade ou uma diversidade? Até que ponto um sistema é racional?
(2) Recentemente, a filosofia crítica tem sido freqüentemente contraposta à metafísica (que nesse caso é às vezes denominada filosofia especulativa). A filosofia crítica consiste na análise e na crítica dos conceitos pertencentes ao senso comum e às ciências. As ciências pressupõem certos conceitos que não são suscetíveis de investigação por meio de métodos científicos, de modo que passam a integrar o âmbito da filosofia. Nesse sentido, todas as ciências, com exceção da matemática, pressupõem de alguma forma a concepção de lei natural; cabe à filosofia, e não a qualquer das ciências particulares, examinar tal concepção. De modo similar, pressupomos, em nossos diálogos mais comuns e menos filosóficos, conceitos fortemente imbuídos de problemas filosóficos, como matéria, espírito, causa, substância e número. Uma importante tarefa da filosofia consiste exatamente em analisar conceitos desse tipo, precisar o que significam e determinar em que medida sua aplicação ao estilo do senso comum pode ser justificada. A parte da filosofia crítica que trata da investigação da natureza e dos critérios de verdade, assim como da maneira pela qual obtemos conhecimento, é chamada de epistemologia (teoria do conhecimento). Questões específicas desse campo são, entre outras, as seguintes: Como podemos definir a verdade? Qual a distinção entre conhecimento e crença? Podemos estar certos daquilo que sabemos'? Quais as funções relativas do raciocínio, da intuição e da experiência sensorial?
No presente trabalho, iremos ocupar-nos desses dois ramos da filosofia , como constituindo sua parte filosófica mais fundamental e característica. Apontaremos ainda algumas disciplinas suplementares, que possuem certa afinidade com a filosofia na acepção que lhe atribuímos neste livro, embora dela sejam distintas na medida em que são dotadas de relativa autonomia. Esses são os ramos que definiremos a seguir.
FILOSOFIA E DISCIPLINAS AFINS
47

(1) É difícil separar a lógica da epistemologia. Mesmo assim, ela é normalmente considerada uma disciplina autônoma. Trata-se de um estudo dos diferentes tipos de proposições e de suas relações que justificam uma inferência. Certas partes da lógica revelam acentuada afinidade com a matemática; outras poderiam igualmente ser classificadas como pertencentes à epistemologia.
(2) A ética ou filosofia moral lida com os valores e a problemática do "dever". Ela formula questões como; Qual o bem supremo? Qual a definição de bem? A retidão de um ato depende unicamente de suas conseqüências? Nossos juízos sobre nossos próprios deveres são subjetivos ou objetivos? Qual a função de um ato punitivo? Qual a razão última pela qual não devemos mentir?
(3) A filosofia política consiste na aplicação da filosofia (da ética principalmente) a questões relacionadas com os indivíduos enquanto organizados sob a égide de um Estado. Ela investiga questões do seguinte tipo: Um indivíduo possui direitos que contrariam os interesses do Estado? Há no Estado algo mais além dos indivíduos que o constituem? É a democracia a melhor forma de governo?
(4) A estética consiste na aplicação da filosofia ao exame da arte e da noção de beleza. É típico da estética formular questões do seguinte tipo: A beleza é objetiva ou subjetiva? Qual é a função da arte? Para que aspectos de nossa natureza apelam as diversas formas de beleza?
(5) 0 termo mais geral - teoria do valor - é às vezes utilizado de modo a abranger o estudo dos valores considerados em si mesmos, embora esse ramo possa ser incluído na ética ou na filosofia moral. De qualquer modo, é sempre possível entendermos a noção de valor como uma concepção geral cujas espécies e aplicações particulares são desenvolvidas pelas disciplinas apresentadas nos itens (2), (3) e (4).
A TENTATIVA DE EXCLUIR A METAFISICA EM FACE DA OBJEÇAO DE QUE MESMO A FILOSOFIA CRI'TICA A PRESSUPÕE
Diversas tentativas, algumas das quais discutiremos posteriormente, foram feitas no sentido de excluir a metafísica como injustificável e confinar a filosofia à sua versão crítica e às cinco áreas afins que mencionamos, na medida em que podem ser consideradas uma abordagem ou um estudo crítico dos conceitos da ciência e da vida prática. Tal concepção foi ocasionalmente expressa pela afirmação de que a filosofia consiste, ou deve consistir, na análise das proposições do senso comum. É óbvio que tal afirmação, quando se pretende exclusiva, chega a ser exagerada. Pois, (1) mesmo que uma metafísica legítima e positiva não seja possível, haverá certamente um campo de estudos que se ocupe da refutação dos argumentos falaciosos que supostamente conduziriam a conclusões metafísicas; e tal campo faria obviamente parte da filosofia. (2) A menos que as proposições do senso comum sejam inteiramente falsas, sua análise deverá fornecer-nos uma explicação geral daquela parcela da realidade à qual se referem as proposições, ou seja, proporcionar, de algum modo, parte da explicação geral do real que a metafísica busca oferecer. Nesse sentido, poderíamos dizer que, se existir, o espírito - obviamente ele existe em certo sentido - podemos obter uma metafísica do espírito a partir da análise das proposições do senso comum relativas a nós mesmos, na medida em que tais proposições são verdadeiras - de fato, seria difícil admitir que todas as nossas proposições do senso comum acerca dos seres humanos possam ser de todo falsas. Talvez não seja essa uma metafísica altamente elaborada e de grande alcance, mas de qualquer modo envolverá genuínas proposições metafísicas. Mesmo se afirmarmos que tudo que conhecemos é apenas aparência, a aparência implica uma realidade que aparece e um espírito para o qual ela aparece, e como estes não podem também ser apenas aparências, estaremos ainda admitindo alguma metafísica. Até mesmo behaviorismo é uma metafísica. Não desejamos com isso afirmar a possibilidade atual ou mesmo futura de ,ama metafísica, no sentido de um sistema elaborado que nos propicie grande dose de informação sobre a estrutura geral da realidade e as coisas que mais desejamos conhecer. Isso só pode ser feito ambulando, tentando-se estabelecer e criticar as proposições metafísicas em questão. Não obstante, por mais que sejamos apaixonadamente metafísicos, não passaremos sem a filosofia crítica. A mera tentativa de dispensá-la acarretará a produção de uma metafísica deplorável. Pois, mesmo na metafísica, devemos partir dos conceitos do senso comum e das ciências, já que não dispomos de outros. Ademais, se nossos
48

fundamentos são seguros, devemos cuidadosamente analisá-los e examiná-los. Dessa forma, não podemos separar totalmente a filosofia crítica da metafísica, o que não impede um filósofo de atribuir muito maior importância a um desses elementos.
A FILOSOFIA E AS CIÊNCIAS ESPECIAISA filosofia difere das ciências especiais com respeito a (1) sua maior generalidade e (2) a
seu método. Ela investiga os conceitos que são supostos simultaneamente por inúmeras ciências diferentes, além das questões que não se situam no âmbito das ciências. A ciência compartilha com o senso comum os conceitos que demandam essa investigação filosófica, mas as descobertas de uma ciência particular suscitam ou intensificam alguns problemas especiais, como, por exemplo, n da ``relatividade", que exigem um tratamento filosófico por não poderem ser discutidos adequadamente pela ciência em questão. Alguns pensadores, como Herbert Spencer, conceberam essencialmente a filosofia como uma síntese dos resultados das ciências, mas hoje em dia os filósofos, em geral, não adotam essa concepção. Sem dúvida, se podemos obter resultados filosóficos através de processos de síntese e generalização a partir das descobertas científicas, isso deveria ser feito. Não obstante, o único modo de sabermos se podemos ou não fazê-lo é tentar, e nesse ponto a filosofia não tem alcançado muito progresso nem se revelado muito proveitosa. As grandes filosofias do passado consistiram parcialmente numa investigação dos conceitos fundamentais do pensamento, em tentativas de estabelecer fatos alegadamente distintos daqueles com os quais lidava a ciência mediante métodos bastante diferentes dos científicos. Elas comumente foram influenciadas, mais do que parece, pelo estado contemporâneo da ciência, mas, sem dúvida, seria muito enganador descrevê-las essencialmente como uma síntese dos resultados da ciência. Mesmo filósofos antimetafísicos, como Hume, estiveram mais voltados para os pressupostos da ciência do que para seus resultados.
Tampouco devemos admitir sem reservas, como uma verdade da filosofa, o resultado ou suposição científica válido em sua própria esfera. Sabemos, por exemplo, que a física contemporânea parece ter mostrado que o tempo da física é inseparável do espaço, o que de modo algum nos autoriza a renunciar esse resultado como um princípio filosófico pelo qual o tempo pressuporia o espaço. Pois, pode ocorrer que o resultado em questão seja verdadeiro apenas com relação ao tempo da física, e isso apenas porque o tempo da física é medido em termos de espaço. Por conseguinte, não precisa ser verdadeiro com relação ao tempo da nossa experiência, do qual o tempo da física é uma abstração ou construção. A ciência pode progredir por meio de ficções metodológicas usando termos num sentido invulgar que a filosofia tem de corrigir. 0 termo filosofia da ciência é usualmente aplicado ao ramo da lógica que lida de maneira especializada com os métodos das diversas ciências.
0 MÉTODO DA FILOSOFIA COMPARADO AO MÉTODO CIENTÍFICOCom respeito a seus métodos, a filosofia difere fundamentalmente das ciências especiais.
A não ser quando se aplica a matemática, todas as ciências utilizam processos de generalização empírica, mas a filosofia reserva a tal método um lugar muito modesto. Por outro lado, a tentativa de assimilar a filosofia à matemática, embora muito freqüente, não tem sido bem-sucedida (exceto em determinados ramos da lógica que, pela própria natureza, têm mais afinidade com a matemática do que com os demais setores da filosofia). Particularmente, parece humanamente impossível que os filósofos possam alcançar a certeza e a clareza que caracterizam a matemática. Essa diferença entre os dois campos de estudo pode ser atribuída a várias causas. Em primeiro lugar, não se tem mostrado possível determinar, em filosofia, o significado dos termos do mesmo modo inequívoco que em matemática. Assim sendo, seu significado pode mudar de forma quase imperceptível ao longo de uma argumentação, sendo muito difícil nos certificarmos de que diferentes filósofos utilizam a mesma palavra com o mesmo sentido. Em segundo lugar, somente na matemática encontramos conceitos simples formando a base de inúmeras inferências complexas e, todavia, rigorosamente válidas. Em terceiro lugar, a matemática pura é hipotética, ou seja, não nos pode dizer o que se passa no mundo real, como, por exemplo, o número de coisas situadas num dado lugar, mas apenas o que ocorrerá se isso for verdade, como, por exemplo, que encontraríamos 12 cadeiras numa sala caso lá houvesse 5 + 7 cadeiras. A filosofia, contudo, objetiva ser categórica,
49

isto é, dizer-nos o que de fato ocorre; conseqüentemente, em filosofia, não é apropriado, como geralmente se faz em matemática, fazer deduções apenas a partir de postulados ou definições.
Desse modo, é impossível encontrar uma analogia adequada entre os métodos da filosofia e os de qualquer outra ciência. É igualmente impossível definir de modo preciso qual é o método da filosofia, a não ser limitando de forma grotesca o seu objeto. A filosofia não emprega um método único, mas uma variedade de métodos que diferem de acordo com o objeto ao qual são aplicados. E a tentativa de defini-los de maneira independente de sua aplicação carece de qualquer propósito útil. De fato, isso é muito perigoso. Ne passado, ela freqüentemente conduziu a uma limitação equivocada do escopo da filosofia, excluindo tudo aquilo que não se sujeitasse ao controle de determinado método escolhido como caracteristicamente filosófico. A filosofia requer grande variedade de métodos, pois deve abranger em sua interpretação todo tipo de experiência humana. Não obstante, ela está longe de ser meramente empírica, pois, tanto quanto possível, tem a tarefa de apresentar uma imagem coerente dessas experiências e a partir delas inferir o que pode ser inferido de uma realidade distinta da experiência humana. No que se refere à teoria do conhecimento, deve a filosofia submeter a uma crítica construtiva todas as modalidades de pensamento; contudo, devemos reservar um lugar nessa visão para qualquer modo de pensar que se nos apresente como autojustificado no que há de melhor em nossas reflexões comuns, e não filosóficas, e não rejeitá-lo por diferir dos outros. Os critérios filosóficos são, em linhas gerais, a coerência e a abrangência; o filósofo deve visar a apresentação de uma visão coerente e sistemática da experiência humana e do mundo, tão esclarecedora quanto o permita a natureza dos casos investigados, mas não deve buscar coerência à custa de rejeitar aquilo que de direito é conhecimento real ou crença justificada. Uma séria objeção a uma filosofia consiste na acusação de que ela sustenta algo em que não podemos acreditar na vida cotidiana. Essa objeção poderia ser feita a uma filosofia que logicamente conduzisse, como algumas, à conclusão de que não há um mundo físico, ou de que todas as nossas crenças, científicas ou éticas, carecem de qualquer justificação.
FILOSOFIA E PSICOLOGIAHá uma ciência que mantém uma relação bastante peculiar com a filosofia: a psicologia.
Na prática, é muito mais provável que as teorias psicológicas particulares venham a exercer influência sobre um argumento filosófico ou, uma teoria a respeito do bem e do mal do que as teorias particulares de uma ciência física também válida a relação inversa: exceto com relação às partes que se aproximam da fisiologia, a psicologia, mais do que qualquer setor particular da física, corre o risco de sofrer as conseqüências adversas oriundas de um equívoco de ordem filosófica. É provável que isso aconteça devido ao fato de que apenas recentemente a psicologia emergiu como ciência especial, ao contrário do que ocorreu com as ciências físicas, que há muito já haviam alcançado posição estável, dispondo de bastante tempo para esclarecer seus conceitos básicos de acordo com seus próprios objetivos. Há uma geração, a psicologia era comumente ensinada por filósofos, sendo muito difícil considerá-la uma ciência natural. Por conseguinte, não teve tempo para completar o processo de esclarecimento de seus conceitos fundamentais, necessário para torná-los, se não filosoficamente inquestionáveis, suficientemente claros e úteis para a prática da ciência em questão. 0 estado contemporâneo da física sugere-nos que, quando uma ciência atinge um estágio mais avançado, tende a se deparar mais uma vez com problemas filosóficos. Poderíamos então afirmar que o período no qual uma ciência é independente da filosofia não coincide com seu florescimento ou com os estágios mais avançados de sua trajetória, mas com a longa fase que separa esses dois extremos. Nesse sentido, a filosofia pode contribuir de algum modo para a pendente reconstrução da física.
CETICISMOOs filósofos têm-se preocupado muito com uma criatura bastante estranha: o cético
absoluto. Não obstante, tal pessoa não existe. Se existisse, refutá-lo seria impossível. Similarmente, ele não nos poderia refutar ou afirmar alguma coisa, nem mesmo seu ceticismo, sem contradizer a si mesmo, pois a afirmação de que nenhuma espécie de conhecimento ou crença pode ser justificada é uma crença. Em contrapartida, também não poderíamos provar que o cético está errado, na medida em que toda prova deve admitir algo, ainda que seja alguma premissa, e também as leis da lógica.
50

Se o princípio da não-contradição não é verdadeiro, não podemos refutar algum mediante o argumento de esse alguém está caindo em contradição. Um filósofo não pode, portanto, partir ex nihilo e provar tudo: ele é forçado a fazer certas suposições. Em particular, tem de admitir a verdade das leis fundamentais da lógica, pois de outro modo não seria possível utilizar argumentos de qualquer espécie ou mesmo formular quaisquer enunciados significativos. Entre essas leis da lógica, assinalamos duas que são muito importantes: trata-se dos princípios da não-contradição e do terceiro excluído. Quando aplicados a proposições, o primeiro afirma que uma proposição não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa, enquanto o segundo afirma que toda proposição deve ser verdadeira ou falsa. Quando os aplicamos a coisas, o primeiro afirma que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo ou ter e não ter uma qualidade ao mesmo tempo, e o segundo, que uma coisa é ou não é e possui ou não uma qualidade. Concordamos em que esses princípios não soam de modo a entusiasmar ninguém, mas o fato é que todo nosso conhecimento e todo nosso pensamento dependem deles. Se a afirmação de algo não excluísse sua própria contradição, nenhum significado poderia ser atribuído a qualquer asserção e ninguém poderia jamais ser contestado, na medida em que tanto a asserção quanto a refutação poderiam ser corretas. Não podemos negar que, em certos casos, pode ser equivocado atribuir ou não a algo uma qualidade. Seria incorreto dizer que certas pessoas são ou não calvas, não só devido à ausência de uma definição precisa do que seja "calvo" mas também porque, na prática, "calvo" e "não-calvo" significam extremos entre os quais reside uma classe intermediária de casos em que não deveríamos aplicar um desses termos, e sim "parcialmente calvo" ou "mais ou menos calvo".
Não se trata, portanto, de uma pessoa possuir ou não uma qualidade definida. Todas as pessoas são dotadas de um grau particular de calvície, embora o uso dos termos "calvo" e "não-calvo" não deixe claro a que graus de calvície desejamos referir-nos. Tenho a impressão de que as objeções ocasionalmente feitas ao princípio do terceiro excluído se escoimam em desentendimentos desse tipo. De modo similar, o princípio da não-contradição é perfeitamente compatível com o fato de um homem ser bom com relação a certo aspecto e mau com relação a outro, ou mesmo com relação ao mesmo aspecto, ser bom num momento e mau em outro.
A filosofia deve também aceitar a evidência da experiência imediata , embora essa atitude não nos leve tão longe quanto poderíamos esperar. Não dispomos normalmente de experiência imediata sobre outros espíritos, a não ser o nosso, sendo provável que a evidência da experiência imediata não possa dizer-nos que os objetos físicos que parecemos experienciar existem independentemente de nós mesmos. Tornaremos oportunamente a abordar essa questão. Logo constatamos que, não obstante, deveremos fazer novas suposições, se quisermos admitir que conhecemos certas coisas a respeito das quais a vida cotidiana não oferece qualquer suporte para que possamos achar que as conhecemos realmente. Todavia, não devemos concluir que a impossibilidade de se justificar uma crença do senso comum mediante um argumento implica necessariamente sua falsidade. Pode ser que, no nível do senso comum, possuamos um conhecimento genuíno ou uma crença justificada que seja por si próprio estabelecido e que dispense uma justificação filosófica. Não cabe ao filósofo, nesse caso, provar a verdade da crença, pois isso pode ser impossível, mas dar-lhe a melhor explicação possível, examinando acuradamente aquilo que ela envolve, Se usarmos a expressão "crença instintiva" para denominar aquele tipo de crença que tomamos como evidentemente verdadeira antes de qualquer crítica filosófica, e que continua a parecer evidentemente verdadeira em nossa vida cotidiana após a crítica filosófica e a despeito dela, podemos afirmar com Bertrand Russell - que não pode certamente ser acusado de credulidade demasiada - que a única razão para rejeitar uma crença instintiva é o fato de ela colidir com outras crenças instintivas, sendo um dos principais objetivos da filosofia produzir um sistema coerente baseado em nossas crenças instintivas, corrigindo-as o menos possível e só para preservar sua coerência. Nesse sentido, já que a teoria do conhecimento só pode basear-se num estudo das coisas reais que conhecemos e da maneira pela qual as conhecemos, podemos afirmar que o fato de uma teoria filosófica em particular levar à conclusão de que não podemos conhecer certas coisas que evidentemente conhecemos, ou que não podemos justificar certas crenças que obviamente são justificadas, é mais uma objeção à teoria filosófica em questão que ao conhecimento ou às crenças
51

que ela questiona. Por outro lado, seria tolice supor que todas as crenças do senso comum devem ser verdadeiras da maneira como se nos apresentam. Talvez seja função da filosofia aperfeiçoá-las, mas não descartá-las, ou alterá-las de modo a torná-las irreconhecíveis.
FILOSOFIA E SABEDORIA PRÁTICAA filosofia está associada tanto ao saber teórico quanto à sabedoria prática, à qual
aludimos através de expressões do tipo "considerar filosoficamente as coisas". De fato, o sucesso da filosofia teórica não nos oferece qualquer garantia de que seremos filósofos no sentido prático ou de que agiremos e sentiremos de modo correto sempre que nos envolvermos em determinadas situações práticas. Uma das doutrinas favoritas de Sócrates é a de que sempre podemos fazer o bem desde que saibamos o que é o bem; não obstante, isso só é verdade se acrescentamos ao significado do termo "saber" uma adequada nitidez emocional daquilo que sabemos do ponto de vista teórico. 0 fato de sabermos (ou acreditarmos) que fazer algo que desejamos iria acarretar muito mais sofrimento a uma outra pessoa - o Sr. A - do que prazer para nós mesmos, sendo, em conseqüência, não-recomendável, não nos impede, todavia, de praticar tal ação, pois a idéia de causar sofrimento ao Sr. A poderia parecer-nos menos repugnante que a de perdermos aquilo que cobiçamos. Na medida em que é inteiramente impossível a qualquer ser humano sentir o sofrimento alheio com a mesma intensidade que os seus, ocorre sempre a possibilidade de sermos tentados a abandonar nossos deveres, fazendo-se necessário não apenas o conhecimento, mas também o exercício da vontade. Nem somos constituídos de modo a ser sempre fácil, quando somos abandonados à nossa própria moral, nos opormos a um forte desejo, ainda que disso dependa nossa própria felicidade. A filosofia não é garantia de nossa conduta correta ou do perfeito ajustamento de nossas emoções às nossas crenças filosóficas. Nem mesmo do ponto de vista cognitivo é ela capaz de nos dizer o que devemos fazer. Para isso, precisamos, além de princípios filosóficos, não só do conhecimento empírico dos fatos relevantes e da capacidade de prever as prováveis conseqüências, mas também de um insight da situação particular, de maneira a podermos aplicar adequadamente nossos princípios.
Obviamente, não é minha intenção afirmar que a filosofia não contribui para vivermos uma vida exemplar, mas apenas que não pode por si só levar-nos a viver de modo exemplar nem decidir o que seja esse tipo de vida. Insisto, entretanto, em que ela pode, a esse respeito, pelo menos proporcionar valiosas sugestões. E teria muito mais a dizer sobre a conexão entre filosofia e vida exemplar, se incluísse neste livro uma discussão especial da ética, disciplina filosófica que trata do bem e da ação correta. Não obstante, devemos fazer uma distinção entre filosofia teórica, enquanto explicação do que é, e ética filosófica, enquanto explicação do bem e da ação correta.
Não pretendo, ao recorrer a essa ilustração, dar a impressão de ser um hedonista, ou uma pessoa convencida de que o prazer e a dor sejam os únicos fatores relevantes para que se possa julgar uma ação boa ou má. Não sou assim.
A metafísica ou a filosofia crítica nos é de pouca valia para decidirmos o que devemos fazer. Pode levar-nos a conclusões que facilitem encararmos as adversidades de maneira mais serena, mas isso depende da filosofa, não havendo infelizmente acordo universal entre os filósofos quanto à possibilidade de uma concepção otimista do mundo ser justificada filosoficamente. No entanto, devemos seguir a verdade aonde quer que ela nos leve, já que nosso espírito, uma vez desperto, não pode apoiar-se no que carece de justificativa, pois o pensamento não pode ser uma falsidade. Ao mesmo tempo, devemos estudar atentamente e não recusar-nos a ouvir as alegações dos que pensam ter alcançado, mediante recursos que não podem ser incluídos nas categorias usuais do senso comum, verdades inspiradoras e reconfortantes a respeito da realidade. Não devemos tomar como certo que as pretensões de uma cognição genuína em matéria de experiência místico-religiosa, com relação a um diferente aspecto da realidade, devam ser necessariamente descartadas coma carentes de justificativa apenas por não se ajustarem a um materialismo sugerido, mas de modo algum provado e, agora, nem mesmo sustentado pela ciência moderna.
52

2.1.2 Passagem da Modernidade à Pós-modernidade
DAVID HARVEY"Condição Pós-moderna"Pós-modernismo
Nas últimas duas décadas, "pós-modernismo" tornou-se um conceito com o qual lidar, e um tal campo de opiniões e forças políticas conflitantes que já não pode ser ignorado. "A cultura da sociedade capitalista avançada", anunciam os editores de PRECIS 6 (1987), "passou por uma profunda mudança na estrutura do sentimento." A maioria, acredito, concordaria com a declaração mais cautelosa de Huyssens (1984):
O que aparece num nível como o último modismo, promoção publicitária e espetáculo vazio é parte de uma lenta transformação cultural emergente nas sociedades ocidentais, uma mudança de sensibilidade para a qual o termo "pós-moderno" é na verdade, ao menos por agora, totalmente adequado. A natureza e a profundidade dessa transformação são discutíveis, mas transformação ela é. Não quero ser entendido erroneamente como se afirmasse haver uma mudança global de paradigma nas ordens cultural, social e econômica; qualquer alegação dessa natureza seria um exagero. Mas, num importante setor da nossa cultura, há uma notável mutação na sensibilidade, nas práticas e nas formações discursivas que distingue um conjunto pós-moderno de pressupostos, experiências e proposições do de um período precedente.
No tocante à arquitetura, por exemplo, Charles Jencks data o final simbólico do modernismo e a passagem para o pós-modernismo de 15h32m de 15 de julho de 1972, quando o projeto de desenvolvimento da habitação Pruitt-Igoe, de St Louis (uma versão premiada da "maquina para a vida moderna" de Le Corbusier), foi dinamitado como um ambiente inabitável para as pessoas de baixa renda que abrigava. Doravante, as idéias do CIAM, de Le Corbusier e de outros apóstolos do "alto modernismo" cederam cada vez mais espaço à irrupção de diversas possibilidades, dentre as quais as apresentadas pelo influente Learning from Las Vegas, de Venturi, Scott Brown e Izenour (também publicado em 1972) mostraram ser apenas uma das fortes lâminas cortantes. O centro dessa obra, como diz o seu título, era insistir que os arquitetos tinham mais a aprender com o estudo de paisagens populares e comerciais (como as dos subúrbios e locais de concentração de comércio) do que com a busca de ideais abstratos, teóricos e doutrinários. Era hora, diziam os autores, de construir para as pessoas, e não para o Homem. As torres de vidro, os blocos de concreto e as lajes de aço que pareciam destinadas a dominar todas as paisagens urbanas de Paris a Tóquio e do Rio a Montreal, denunciando todo ornamento ao crime, todo individualismo como sentimentalismo e todo romantismo como kitsch, foram progressivamente sendo substituídos por blocos-torre ornamentados, praças medievais e vilas de pesca de imitação, habitações projetadas para as necessidades dos habitantes, fábricas e armazéns renovados e paisagens de toda espécie reabilitadas, tudo em nome da defesa de um ambiente urbano mais "satisfatório". Essa busca se tornou tão popular que o próprio Príncipe Charles dela participou com vigorosas denúncias sobre os erros do redesenvolvimento urbano de pós-guerra e da destruição promovida pelos desenvolvimentistas, que, segundo ele, tinham feito mais para destruir Londres do que os ataques da Luftwaffe na Segunda Guerra Mundial.
Nos círculos de planejamento, podemos identificar uma evolução semelhante. O influente artigo de Douglas Lee, "Requiem for large-scale planning models", apareceu num número de 1973 da Journal of the American Institute of Planners e previu corretamente a queda do que considerava os fúteis esforços dos anos 60 para desenvolver modelos de planejamento de larga escala, abrangentes e integrados (muitos deles especificados com todo o rigor que a criação de modelos matemáticos computadorizados podia então permitir) para regiões metropolitanas. Pouco depois, o
53

New York Times (13 de junho de 1976) descreveu como "dominantes" os planejadores radicais (inspirados por Jane Jacobs) que tinham feito um ataque tão violento aos pecados sem alma do planejamento urbano modernista nos anos 60. Hoje em dia, é norma procurar estratégias "pluralistas" e "orgânicas" para a abordagem do desenvolvimento urbano como uma "colagem" de espaços e misturas altamente diferenciados, em vez de perseguir planos grandiosos baseados no zoneamento funcional de atividades diferentes. A "cidade-colagem" é agora o tema, e a "revitalização urbana" substituiu a vilificada "renovação urbana" como a palavra-chave do léxico dos planejadores. "Não faça pequenos planos", escreveu Daniel Burnham na primeira onda da euforia planejadora modernista no final do século XIX, ao que um pós-modernista como Algo Rossi pode agora responder, mais modestamente: "A que, então, poderia eu ter aspirado em minha arte? Por certo a pequenas coisas, tendo visto que a possibilidade das grandes estava historicamente superada". Podem-se documentar mudanças desse tipo em toda uma gama de campos distintos. O romance pós-moderno, alega McHale (1987), caracteriza-se pela passagem de um dominante "epistemológico" a um "ontológico". Com isso ele quer dizer uma passagem do tipo de perspectivismo que permitia ao modernista uma melhor apreensão do sentido de uma realidade complexa, mas mesmo assim singular à ênfase em questões sobre como realidades radicalmente diferentes podem coexistir, colidir e se interpenetrar. Em conseqüência, a fronteira entre ficção e ficção científica sofreu uma real dissolução, enquanto as personagens pós-modernas com freqüência parecem confusas acerca do mundo em que estão e de como deveriam agir com relação a ele. A própria redução do problema da perspectiva à autobiografia, segundo uma personagem de Borges, é entrar no labirinto: "Quem era eu? O eu de hoje estupefato; o de ontem, esquecido; o de amanhã, imprevisível?" Os pontos de interrogação dizem tudo.
Na filosofia, a mescla de um pragmatismo americano revivido com a onda pós-marxista e pós-estruturalista que abalou Paris depois de 1968 produziu o que Bernstein (1985, 25) chama de "raiva do humanismo e do legado do Iluminismo". Isso desembocou numa vigorosa denúncia da razão abstrata e numa profunda aversão a todo projeto que buscasse a emancipação humana universal pela mobilização das forças da tecnologia, da ciência e da razão. Aqui, também, ninguém menos que o papa João Paulo II tomou o partido do pós-moderno. O Papa "não ataca o marxismo nem o secularismo liberal porque eles são a onda do futuro", diz Rocco Buttiglione, um teólogo próximo do Papa, mas porque "como as filosofias do século XX perderam seu atrativo, o seu tempo já passou". A crise moral do nosso tempo é uma crise do pensamento iluminista. Porque, embora esse possa de fato ter permitido que o homem se emancipasse "da comunidade e da tradição da Idade Média em que sua liberdade individual estava submersa", sua afirmação do "eu sem Deus" no final negou a si mesmo, já que a razão, um meio, foi deixada, na ausência da verdade de Deus, sem nenhuma meta espiritual ou moral. Se a luxúria e o poder são "os únicos valores que não precisam da luz da razão para ser descobertos", a razão tinha de se tornar um mero instrumento para subjugar os outros (Baltimore Sun, 9 de setembro de 1987). O projeto teológico pós-moderno é reafirmar a verdade de Deus sem abandonar os poderes da razão.
Com figuras ilustres (e centristas) como o Príncipe de Gales e o papa João Paulo II recorrendo à retórica e a argumentação pós-modernas, poucas dúvidas pode haver quanto ao alcance da mudança ocorrida na "estrutura do sentimento" nos anos 80. Ainda assim, há bastante confusão quanto ao que a nova "estrutura do sentimento" poderia envolver. Os sentimentos modernistas podem ter sido solapados, desconstruídos, superados ou ultrapassados, mas há pouca certeza quanto à coerência ou ao significado dos sistemas de pensamento que possam tê-los substituídos. Essa incerteza torna peculiarmente difícil avaliar, interpretar e explicar a mudança que todos concordam ter ocorrido.
O pós-modernismo, por exemplo, representa uma ruptura radical com o modernismo ou é apenas uma revolta no interior deste último contra certa forma de "alto modernismo" representada, digamos, na arquitetura de Mies van der Rohe e nas superfícies vazias da pintura expressionista abstrata minimalista? Será o pós-modernismo um estilo [caso em que podemos razoavelmente apontar como seus precursores o dadaísmo, Nietzsche ou mesmo, como preferem Kroker e Cook (1986), as Confissões de Santo Agostinho, no século IV] ou devemos vê-lo estritamente como um
54

conceito periodizador (caso no qual debatemos se ele surgiu nos anos 50, 60 ou 70)? Terá ele um potencial revolucionário em virtude de sua oposição a todas as formas de metanarrativa (incluindo o marxismo, o freudismo e todas as modalidades da razão iluminista) e da sua estreita atenção a "outros mundos" e "outras vozes" que há muito estavam silenciados (mulheres, gays, negros, povos colonizados com sua história própria)? Ou não passa da comercialização e domesticação do modernismo e de uma redução das aspirações já prejudicadas deste a um ecletismo de mercado "vale tudo", marcado pelo laissez-faire? Portanto, ele solapa a política neoconservadora ou se integra a ela? E associamos a sua ascensão a alguma reestruturação radical do capital, à emergência de alguma sociedade de "pós-industrial" vendo-o até como a "arte de uma era inflacionária" ou como a "lógica cultural do capitalismo avançado" (como Newman e Jameson propuseram)?
Acredito que podemos começar a dominar essas questões difíceis examinando as diferenças esquemáticas entre modernismo e pós-modernismo nos termos de Hassan (1975, 1985; ver tabela 1.1). Hassan estabelece uma série de oposições estilísticas para capturar as maneiras pelas quais o pós-modernismo poderia ser retratado como uma reação ao moderno. Digo "poderia" porque considero perigoso (como o faz Hassan) descrever relações complexas como polarizações simples, quando é quase certo que o real estado da sensibilidade, a verdadeira "estrutura do sentimento" dos períodos moderno e pós-moderno, está no modo pelo qual essas posições estilísticas são sintetizadas. Não obstante, creio que o esquema tabular de Hassan fornece um útil ponto de partida.
Há muito para contemplar nesse esquema, visto que ele recorre a campos tão distintos quanto a lingüística, a antropologia, a filosofia, a retórica, a ciência política e a teologia. Hassan se apressa a assinalar que as próprias dicotomias são inseguras, equívocas. No entanto, há muito aqui que captura algo do que a diferença poderia ser. Os planejadores "modernistas" de cidades, por exemplo, tendem de fato a buscar o "domínio" da metrópole como "totalidade" ao projetar deliberadamente uma "forma fechada", enquanto os pós-modernistas costumam ver o processo urbano como algo incontrolável e "caótico", no qual a "anarquia" e o "acaso" podem "jogar" em situações inteiramente "abertas". Os críticos literários "modernistas" de fato têm a tendência de ver as obras como exemplos de um "gênero" e de julgá-las a partir do "código mestre" que prevalece dentro da "fronteira" do gênero, enquanto o estilo "pós-moderno" consiste em ver a obra como um "texto" com sua "retórica" e seu "idioleto" particulares, mas que, em princípio, pode ser comparado com qualquer outro texto de qualquer espécie. As oposições de Hassan podem ser caricaturas, mas é difícil haver uma arena da atual prática intelectual em que não possamos identificar uma delas em ação. A seguir, examinarei algumas delas com a riqueza de detalhes que merecem.
Começo com o que parece ser o fato mais espantoso sobre o pós-modernismo: sua total aceitação do efêmero, do fragmentário, do descontínuo e do caótico que formavam uma metade do conceito baudelairiano de modernidade. Mas o pós-modernismo responde a isso de uma maneira bem particular; ele não tenta transcendê-lo, opor-se a ele e sequer definir os elementos "eternos e imutáveis" que poderiam estar contidos nele. O pós-modernismo nada, e até se espoja, nas fragmentárias e caóticas correntes da mudança, como se isso fosse tudo o que existisse. Foucault (1983, xiii), nos instrui, por exemplo, a "desenvolver a ação, o pensamento e os desejos através da proliferação, da justaposição e da disjunção" e a "preferir o que é positivo e múltiplo, a diferença à uniformidade, os fluxos às unidades, os arranjos móveis aos sistemas. Acreditar que o que é produtivo não é sedentário, mas nômade". Portanto, na medida em que não tenta legitimar-se pela referência ao passado, o pós-modernismo tipicamente remonta à ala de pensamento, a Nietzsche em particular, que enfatiza o profundo caos da vida moderna e a impossibilidade de lidar com ele com o pensamento racional. Isso, contudo, não implica que o pós-modernismo não passe de uma versão do modernismo; verdadeiras revoluções da sensibilidade podem ocorrer quando as idéias latentes e dominadas de um período se tornan explícitas e dominantes em outro. Não obstante, a continuidade da condição de fragmentação, efemeridade, descontinuidade e mudança caótica no pensamento modernista pós-moderno é importante. Vou explorá-la a seguir.
Acolher a fragmentação e a efemeridade de maneira afirmativa tem grande número de conseqüências que se relacionam diretamente com as oposições de Hassan. Para começar,
55

encontramos autores como Foucault e Lyotard atacando explicitamente qualquer noção de que possa haver uma metalinguagem, uma metanarrativa ou uma metateoria mediante as quais todas as coisas possam ser conectadas ou representadas. As verdades eternas e universais, se é que existem, não podem ser especificadas. Condenando as metanarrativas (amplos esquemas interpretativos como os produzidos por Marx ou Freud) como "totalizantes", eles insistem na pluralidade de formações de "poder-discurso" (Foucault) ou de "jogos de linguagem" (Lyotard). Lyotard, com efeito, define o pós-moderno simplesmente como "incredulidade diante das metanarrativas".
As idéias de Foucault __ em particular as das primeiras obras __ merecem atenção por terem sido uma fonte fecunda de argumentação pós-moderna. Nelas, a relação entre o poder e o conhecimento é um tema central. Mas Foucault (1972, 159) rompe com a noção de que o poder esteja situado em última análise no âmbito do Estado, e nos conclama a "conduzir uma análise ascendente do poder, começando pelos seus mecanismos infinitesimais, cada qual com a sua própria história, sua própria trajetória, suas próprias técnicas e táticas, e ver como esses mecanismos de poder foram __ e continuam a ser __ investidos, colonizados, utilizados, involuídos, transformados, deslocados, estendidos etc. por mecanismos cada vez mais gerais e por formas de domínio global". O cuidadoso escrutínio da micropolítica das relações de poder em localidades, contextos e situações sociais distintos leva-o a concluir que há uma íntima relação entre os sistemas de conhecimento ("discusos") que codificam técnicas e práticas para o exercício do controle e do domínio sociais em contextos localizados particulares. A prisão, o asilo, o hospital, a universidade, a escola, o consultório do psiquiatra são exemplos de lugares em que uma organização dispersa e não integrada é construída independentemente de qualquer estratégia sistemática de domínio de classe. O que acontece em cada um deles não pode ser compreendido pelo apelo a alguma teoria geral abrangente; na verdade, o único irredutível do esquema de coisas de Foucault é o corpo humano, por ser ele o "lugar" em que todas as formas de repressão terminam por ser registradas. Assim, embora Foucault afirme, numa frase celebrada, que não há "relações de poder sem resistências", há igualmente uma insistência sua em que nenhum esquema utópico pode jamais aspirar a escapar da relação de poder-conhecimento de maneiras não-repressivas. Nesse ponto, ele faz eco ao pessimismo de Max Weber quanto à nossa capacidade de evitar a "gaiola de ferro" da racionalidade burocrático-técnica repressiva. Mais particularmente, ele interpreta a repressão soviética como o desfecho inevitável de uma teoria revolucionária utópica (o marxismo) que recorria às mesmas técnicas e sistemas de conhecimento presentes no modo capitalista que buscava substituir. O único caminho para "eliminar o fascismo que está na nossa cabeça" é explorar as qualidades abertas do discurso humano, tomando-as como fundamento, e, assim, intervir na maneira como o conhecimento é produzido e constituído nos lugares particulares em que prevaleça um discurso de poder localizado. O trabalho de Foucault com homossexuais e presos não pretendia produzir reformas nas práticas estatais, dedicando-se antes ao cultivo e aperfeiçoamento da resistência localizada às instituições, técnicas e discursos da repressão organizada.
É clara a crença de Foucault no fato de ser somente através de tal ataque multifacetado e pluralista às práticas localizadas de repressão que qualquer desafio global ao capitalismo poderia ser feito sem produzir todas as múltiplas repressões desse sistema numa nova forma. Suas idéias atraem os vários movimentos sociais surgidos nos anos 60 (grupos feministas, gays, étnicos e religiosos, autonomistas regionais etc.), bem como os desiludidos com as práticas do comunismo e com as políticas dos partidos comunistas. Mas deixam aberta, em especial diante da rejeição deliberada de qualquer teoria holística do capitalismo, a questão do caminho pelo qual essas lutas localizadas poderiam compor um ataque progressivo, e não regressivo, às formas centrais de exploração e repressão capitalista. As lutas localizadas do tipo que Foucault parece encorajar em geral não tiveram o efeito de desafiar o capitalismo, embora ele possa responder com razão que somente batalhas movidas de maneira a contestar todas as formas de discurso de poder poderiam ter esse resultado.
Lyotard argumenta em linhas semelhantes, embora numa perspectiva bem diferente. Ele toma a preocupação modernista com a linguagem e a leva a extremos de dispersão. Apesar de "o vínculo social ser lingüístico", argumenta, ele "não é tecido com um único fio", mas por um
56

"número indeterminado" de "jogos de linguagem". Cada um de nós vive "na intersecção de muitos desses jogos de linguagem", e não estabelecemos necessariamente "combinações lingüísticas estáveis, e as propriedades daquelas que estabelecemos não são necessariamente comunicáveis". Em conseqüência, "o próprio sujeito social parece dissolver-se nessa disseminação de jogos de linguagem". É muito interessante o emprego por Lyotard de uma extensa metáfora de Wittengenstein (o pioneiro da teoria dos jogos de linguagem) para iluminar a condição do conhecimento pós-moderno: "A nossa linguagem pode ser vista como uma cidade antiga: um labirinto de ruelas e pracinhas, de velhas e novas casas, e de casas com acréscimos de diferentes períodos; e tudo isso cercado por uma multiplicidade de novos burgos com ruas regulares retas e casas uniformes".
A "atomização do social em redes flexíveis de jogos de linguagem" sugere que cada um pode recorrer a um conjunto bem distinto de códigos, a depender da situação em que se encontrar (em casa, no trabalho, na igreja, na rua ou no bar, num enterro etc.). Na medida em que Lyotard (tal como Foucault) aceita que o "conhecimento é a principal força de produção" nestes dias, o problema é definir o lugar desse poder quando ele está evidentemente "disperso em nuvens de elementos narrativos" dentro de uma heterogeneidade de jogos de linguagem. Lyotard (mais uma vez, tal como Foucault) aceita as qualidades abertas potenciais das conversas comuns, nas quais as regras podem ser flexibilizadas e mudadas para "encorajar a maior flexibilidade de enunciação". Ele atribui muita importância à aparente contradição entre essa abertura e a rigidez com que as instituições (os "domínios não-discursivos" de Foucault) circunscrevem o que é ou não é admissível em suas fronteiras. Os reinos do direito, da academia, da ciência e do governo burocrático, do controle militar e político, da política eleitoral e do poder corporativo circunscrevem o que pode ser dito e como pode ser dito de maneiras importantes. Mas os "limites que a instituição impõe e potenciais 'movimentos' de linguagem nunca são estabelecidos de uma vez por todas", sendo "eles mesmos as balizas e resultados provisórios de estratégias de linguagem dentro e fora da instituição". Portanto, não deveríamos reificar prematuramente as instituições, mas reconhecer como a realização diferenciada de jogos de linguagem cria linguagens e poderes institucionais em primeiro lugar. Se "há muitos diferentes jogos de linguagem __ uma heterogeneidade de elementos", também temos de reconhecer que eles só podem "dar origem a instituições em pedaços __ determinismos locais".
Esses "determinismos locais" têm sido compreendidos por outros (e. g., Fish, 1980) como "comunidades interpretativas", formadas por produtores e consumidores de tipos particulares de conhecimento, de textos, com freqüência operando num contexto institucional particular (como a universidade, o sistema legal, agrupamentos religiosos), em divisões particulares do trabalho cultural (como a arquitetura, a pintura, o teatro, a dança) ou em lugares particulares (vizinhanças, nações etc.). Indivíduos e grupos são levados a controlar mutuamente no âmbito desses domínios o que consideram conhecimento válido.
Como podem ser identificadas múltiplas fontes de opressão na sociedade e múltiplos focos de resistência à dominação, esse tipo de pensamento foi incorporado pela política radical e até importado para o coração do próprio marxismo. Assim é que vemos Aronowitz argumentando em The crisis of historical materialism que "as lutas pela libertação, múltiplas, locais, autônomas, que ocorrem por todo o mundo pós-moderno tornam todas as encarnações de discursos mestres absolutamente ilegítimas" (Bove, 1986, 18). Aronowitz se deixa seduzir, suspeito eu, pelo aspecto mais libertador e, portanto, mais atraente do pensamento pós-moderno __ sua preocupação com a "alteridade". Huyssens (1984) fustiga particularmente o imperialismo de uma modernidade iluminada que presumia falar pelos outros (povos colonizados, negros e minorias, grupos religiosos, mulheres, a classe trabalhadora) com uma voz unificada. O próprio título do livro de Carol Gilligan, In a different voice (1982) __ uma obra feminista que ataca o viés masculino no estabelecimento de estágios fixos do desenvolvimento de estágios fixos do desenvolvimento moral da personalidade __, ilustra um processo de contra-ataque a essas presunções universalizantes. A idéia de que todos os grupos têm o direito de falar por si mesmo, com sua própria voz, e de ter aceita essa voz como autêntica e legítima, é essencial para o pluralismo pós-moderno. O trabalho de Foucault com grupos
57

marginais e intersticiais influenciou muitos pesquisadores, em campos tão diversos quanto a criminologia e a antropologia, a assumir novas maneiras de reconstruir e representar as vozes e experiências de seus sujeitos. Huyssens, por sua parte, enfatiza a abertura dada no pós-modernismo à compreensão da diferença e da alteridade, bem como o potencial liberatório que ele oferece a todo um conjunto de novos movimentos sociais (mulheres, gays, negros, ecologistas, autonomistas regionais etc.) Curiosamente, a maioria dos movimentos dessa espécie, embora tenha ajudado definitivamente a mudar "a estrutura do sentimento", dá pouca atenção aos argumentos pós-modernos, e algumas feministas (e.g., Hartsock, 1987) são hostis a eles por razões que mais tarde vamos considerar.
Significativamente, podemos detectar essa mesma preocupação com a "alteridade" e com "outros mundos" na ficção pós-moderna. McHale, ao acentuar o pluralismo de mundos que coexistem na ficção pós-moderna, considera o conceito foucaultiano de heterotopia uma imagem perfeitamente apropriada para capturar o que a ficção se esforça por descrever. Por heterotopia Foucault designa a coexistência, num "espaço impossível", de um "grande número de mundos possíveis fragmentários", ou, mais simplesmente, espaços incomensuráveis que são justapostos ou superpostos uns aos outros. As personagens já não contemplam como desvelar ou desmascarar um mistério central, sendo em vez disso forçadas a perguntar "Que mundo é este? Qual dos meus eus deve fazê-lo?" Podemos ver o mesmo no cinema; num clássico modernista como Cidadão Kane, um repórter procura desvendar o mistério da vida e da personalidade de Kane ao reunir múltiplas reminiscências e perspectivas daqueles que o tinham conhecido. No formato mais pós-moderno do cinema contemporâneo, vemos, num filme como Veludo Azul, a personagem central girando entre dois mundos bem incongruentes __ o mundo convencional da cidadezinha americana dos anos 50, com sua escola secundária, sua cultura de drogaria e um submundo estranho, violento e louco de drogas, demência e perversão sexual. Parece impossível que esses dois mundos existam no mesmo espaço, e a personagem central se move entre eles, sem saber qual é a verdadeira realidade, até que os dois mundos se colidem num terrível desenlace. Um pintor pós-moderno como David Salle também tende a "reunir numa colagem de materiais-fonte incompatíveis como uma alternativa a fazer uma escolha entre eles" (Taylor, 1987, 8; ver ilustração 1.6). Pfeil (1988) chega ao ponto de descrever o campo total do pós-modernismo como "uma representação destilada de todo o mundo antagônico e voraz da alteridade".
Mas aceitar a fragmentação, o pluralismo e a autenticidade de outras vozes e outros mundos traz o agudo problema da comunicação e dos meios de exercer o poder através do comando. A maioria dos pensadores pós-modernos está fascinada pelas novas possibilidades da informação e da produção, análise e transferência do conhecimento. Lyotard (1984), por exemplo, localiza firmemente seus argumentos no contexto de novas tecnologias de comunicação e, usando as teses de Bell e Touraine sobre a passagem para uma sociedade "pós-industrial" baseada na informação, situa a ascensão do pensamento pós-moderno no cerne do que vê como uma dramática transição social e política nas linguagens da comunicação em sociedades capitalistas avançadas. Ele examina de perto as novas tecnologias de produção, disseminação e uso desse conhecimento, considerando-as "uma importante força de produção". O problema, contudo, é que agora o conhecimento pode ser codificado de todas as maneiras, algumas das quais mais acessíveis que outras. Portanto, há na obra de Lyotard mais do que um indício de que o modernismo mudou porque as condições técnicas e sociais de comunicação se transformaram.
parte 2 - David Harvey - Condição Pós-moderna - p. 53-62 Os pós-modernistas também tendem a aceitar uma teoria bem diferente quanto à
natureza da linguagem e da comunicação. Enquanto os modernistas pressupunham uma relação rígida e idenficável entre o que era dito (o significado ou "mensagem") e o modo como estava sendo dito (o significante ou "meio"), o pensamento pós-estruturalista os vê "separando-se e reunindo-se continuamente em novas combinações". O "desconstrucionismo" (movimento iniciado pela leitura de Martin Heidegger por Derrida no final dos anos 60) surge aqui como um poderoso estímulo para os modos de pensamento pós-modernos. O desconstrucionismo é menos uma posição
58

filosófica do que um modo de pensar sobre textos e de "ler" textos. Escritores que criam textos ou usam palavras o fazem com base em todos os outros textos e palavras com que depararam, e os leitores lidam com eles do mesmo jeito. A vida cultural é, pois, vista como uma série de textos em intersecção com outros textos, produzindo mais textos (incluindo o do crítico literário, que visa produzir outra obra literária em que os textos sob consideração entram em intersecção livre com outros textos que possam ter afetado o seu pensamento). Esse entrelaçamento intertextual tem vida própria; o que quer que escrevamos transmite sentidos que não estavam ou possivelmente não podiam estar na nossa intenção, e as nossas palavras não podem transmitir o que queremos dizer. É vão tentar dominar um texto, porque o perpétuo entretecer de textos e sentidos está fora do nosso controle; a linguagem opera através de nós. Reconhecendo isso, o impulso desconstrucionista é procurar, dentro de um texto por outro, dissolver um texto em outro ou embutir um texto em outro.
Dessa forma, Derrida considera a colagem/montagem a modalidade primária de discurso pós-moderno. A heterogeneidade inerente a isso (seja na pintura, na escritura ou na arquitetura) nos estimula, como receptores do texto ou imagem, "a produzir uma significação que não poderia ser unívoca nem estável". Produtores e consumidores de "textos" (artefatos culturais) participam da produção de significações e sentidos (daí a ênfase de Hassan no "processo", na "performance", no "happening" e na "participação" no estilo pós-moderno). A minimização da autoridade do produtor cultural cria a oportunidade de participação popular e de determinações democráticas de valores culturais, mas ao preço de uma certa incoerência ou, o que é mais problemático, de uma certa vulnerabilidade à manipulação do mercado de massa. De todo modo, o produtor cultural só cria matérias-primas (fragmentos e elementos), deixando aberta aos consumidores a recombinação desses elementos da maneira que eles quiserem. O efeito é quebrar (desconstruir) o poder do autor de impor significados ou de oferecer uma narrativa contínua. Cada elemento citado, diz Derrida, "quebra a continuidade ou linearidade do discurso e leva necessariamente a uma dupla leitura: a do fragmento percebido com relação ao seu texto de origem; a do fragmento incorporado a um novo todo, a uma totalidade distinta". A continuidade só é dada no "vestígio" do fragmento em sua passagem entre a produção e o consumo. O efeito disso é o questionamento de todas as ilusões de sistemas fixos de representação (Foster, 1983, 142).
Há um grau considerável desse tipo de pensamento na tradição modernista (no surrealismo, por exemplo) e há o perigo de se pensar as metanarrativas da tradição iluminista como mais fixas e estáveis do que de fato o eram. Marx, como o observa Ollman (1971), criou seus conceitos em termos relacionados, de modo que termos como valor, trabalho, capital estão "separando-se e reunindo-se continuamente em novas combinações", numa luta interminável para chegar a um acordo com os processos totalizantes do capitalismo. Benjamin, um complexo pensador da tradição marxista, levou a idéia da colagem/montagem à perfeição, para tentar capturar as relações multiestratificadas e fragmentadas entre economia, política e cultura, sem jamais abandonar a perspectiva de uma totalidade de práticas que constituem o capitalismo. Taylor (1987, 53-65) também conclui, após rever as evidências históricas do seu uso (particularmente por Picasso), que a colagem é um indicador muito pouco adequado da diferença entre a pintura modernista e pós-moderna.
Mas se, como insistem os pós-modernistas, não podemos aspirar a nenhuma representação unificada do mundo, nem retratá-lo com uma totalidade cheia de conexões e diferenciações, em vez de fragmentos em perpétua mudança, como poderíamos aspirar a agir coerentemente diante do mundo? A resposta pós-moderna simples é de que, como a representação e a ação coerentes são repressivas ou ilusórias (e, portanto, fadadas a ser autodissolventes e autoderrotantes), sequer deveríamos tentar nos engajar em algum projeto global. O pragmatismo (do tipo de Dewey) se torna então a única filosofia de ação possível. Assim, vemos Rorty (1985, 173), um dos principais filósofos americanos do movimento pós-moderno, descartando "a seqüência canônica de filósofos de Descartes a Nietzsche como uma distração da história da engenharia social concreta que fez da cultura norte-americana contemporânea o que ela é agora, com todas as suas glórias e todos os seus perigos". A ação só pode ser concebida e decidida nos limites de algum determinismo local, de alguma comunidade interpretativa, e os seus sentidos tencionados e efeitos antecipados estão
59

fadados a entrar em colapso quando retirados desses domínios isolados, mesmo quando coerentes com eles. Da mesma forma, vemos Lyotard (1984, 66) alegando que "o consenso se tornou um valor suspeito e ultrapassado", mas acrescentando, o que é bem surpreendente, que, como a "justiça como valor não é ultrapassada nem suspeita"(como ela poderia ter permanecido um tal universal, intocada pela diversidade de jogos de linguagem, ele não nos diz), "devemos chegar a uma idéia e uma prática da justiça que não esteja ligados à de consenso".
É precisamente esse tipo de relativismo e derrotismo que Habermas procura combater em sua defesa do projeto do Iluminismo. Embora esteja mais do que disposto a admitir o que denomina "a realização deformada da razão na história" e os perigos ligados à imposição simplificada de alguma metanarrativa a relações e eventos complexos, Habermas também insiste em que "a teoria pode localizar uma delicada, mas obstinada, nunca silente, mas raramente redimida, reivindicação da razão, uma reivindicação que deve ser conhecida de fato quando quer e onde quer que deva haver ação consensual". Ele também trata da questão da linguagem, e, na Teoria da Ação Comunicativa, insiste nas qualidades dialógicas da comunicação humana, na qual falante e ouvinte se orientam necessariamente para a tarefa da compreensão recíproca. A partir disso, argumenta Habermas, surgem de fato declarações consensuais e normativas, fundamentando assim o papel da razão universalizante na vida diária. É isso que permite que a "razão comunicativa" opere "na história como força vingativa". Contudo, os críticos de Habermas são mais numerosos do que os seus defensores.
O retrato do pós-modernismo que esbocei até agora parece depender, para ter validade, de um modo particular de experimentar, interpretar e ser no mundo - o que nos leva ao que é, talvez, a mais problemática faceta do pós-modernismo: seus pressupostos psicológicos quanto à personalidade, à motivação e ao comportamento. A preocupação com a fragmentação e instabilidade da linguagem e dos discursos leva diretamente, por exemplo, a certa concepção da personalidade. Encapsulada, essa concepção se concentra na esquizofrenia (não, deve-se enfatizar, em seu sentido clínico estrito), em vez da na alienação e na paranóia (ver o esquema de Hassan). Jameson (1984b) explora esse tema com um efeito bem revelador. Ele usa a descrição de Lacan da esquizofrenia como desordem lingüística, como uma ruptura na cadeia significativa de sentido que cria uma frase simples. Quando essa cadeia se rompe, "temos esquizofrenia na forma de um agregado de significantes distintos e não relacionados entre si". Se a identidade pessoal é forjada por meio de "certa unificação temporal do passado e do futuro com o presente que tenho diante de mim", e se as frases seguem a mesma trajetória, a incapacidade de unificar passado, presente e futuro na frase assinala uma incapacidade semelhante de "unificar o passado, o presente e o futuro da nossa própria experiência biográfica ou vida psíquica". Isso de fato se enquadra na preocupação pós-moderna com o significante, e não com o significado, com a participação, a performance e o happening, em vez de com um objeto de arte acabado e autoritário, antes com as aparências superficiais do que com as raízes (mais uma vez, ver o esquema de Hassan). O efeito desse colapso da cadeia significativa é reduzir a experiência a "uma série de presentes puros e não relacionados no tempo". Sem oferecer uma contrapartida, a concepção de linguagem de Derrida produz um efeito esquizofrênico, explicando assim, talvez, a caracterização que Eagleton e Hassan dão ao artefato pós-moderno típico, considerando-o esquizóide. Deleuze e Guattari (1984, 245), em sua exposição supostamente travessa, Anti-Édipo, apresentam a hipótese de um relacionamento entre esquizofrenia e capitalismo que prevalece "no nível mais profundo de uma mesma economia, de um mesmo processo de produção", concluindo que "a nossa sociedade produz esquizofrênicos da mesma maneira como produz o xampu Prell ou os carros Ford, com a única diferença de que os esquizofrênicos não são vendáveis".
O predomínio desse motivo no pensamento pós-moderno tem várias conseqüências. Já não podemos conceber o indivíduo alienado no sentido marxista clássico, porque ser alienado pressupõe um sentido de eu coerente, e não-fragmentado, do qual se alienar. Somente em termos de um tal sentido centrado de identidade pessoal podem os indivíduos se dedicar a projetos que se estendem no tempo ou pensar de modo coeso sobre a produção de um futuro significativamente melhor do que o tempo presente e passado. O modernismo dedicava-se muito à busca de futuros melhores,
60

mesmo que a frustração perpétua desse alvo levasse à paranóia. Mas o pós-modernismo tipicamente descarta essa possibilidade ao concentrar-se nas circunstâncias esquizofrênicas induzidas pela fragmentação e por todas as instabilidades (inclusive as lingüísticas) que nos impedem até mesmo de representar coerentemente, para não falar de conceber estratégias para produzir, algum futuro radicalmente diferente. O modernismo, com efeito, não deixava de ter seus momentos esquizóides __
em particular ao tentar combinar o mito com a modernidade heróica __, havendo uma significativa história de "deformação da razão" e de "modernismos reacionários" para sugerir que a circunstância esquizofrênica, embora dominada na maioria das vezes, sempre estava latente no movimento modernista. Não obstante, há boas razões para acreditar que a "alienação do sujeito é deslocada pela fragmentação do sujeito" na estética pós-moderna (Jameson, 1984a, 63). Se, como insistia Marx, o indivíduo alienado é necessário para se buscar o projeto iluminista com uma tenacidade e coerência suficientes para nos trazer algum futuro melhor, a perda do sujeito alienado pareceria impedir a construção consciente de futuros sociais alternativos.
A redução da experiência a "uma série de presentes puros e não relacionados no tempo" implica também que a "experiência do presente se torna poderosa e arrasadoramente vívida e 'material': o mundo surge diante do esquizofrênico com uma intensidade aumentada, trazendo a carga misteriosa e opressiva do afeto, borbulhando de energia alucinatória" (Jameson, 1984, 120). A imagem, a aparência, o espetáculo podem ser experimentados com uma intensidade (júbilo ou terror) possibilitada apenas pela sua apreciação como presentes puros e não relacionas no tempo. Por isso, o que importa "se o mundo perde assim, momentaneamente, sua profundidade e ameaça tornar-se uma pele lisa, uma ilusão estereoscópica, uma sucessão de imagens fílmicas sem densidade"? (Jameson, 1984b) O caráter imediato dos eventos, o sensacionalismo do espetáculo (político, científico, militar, bem como de diversão) se tornam a matéria de que a consciência é forjada.
Essa ruptura da ordem temporal de coisas também origina um peculiar tratamento do passado. Rejeitando a idéia de progresso, o pós-modernismo abandona todo sentido de continuidade e memória histórica, enquanto desenvolve uma incrível capacidade de pilhar a história e absorver tudo o que nela classifica como aspecto do presente. A arquitetura pós-moderna, por exemplo, pega partes e pedaços do passado de maneira bem eclética e os combina à vontade (ver capítulo 4). Outro exemplo, tirado da pintura, é dado por Crimp (1983, 44-5). Olímpia, de Manet, um dos quadros seminais dos primórdios do movimento modernistas, teve como modelo a Vênus de Ticiano (ilustrações 1.7; 1.8). Mas a maneira como isso ocorreu assinalou uma ruptura autoconsciente entre modernidade e tradição, além da intervenção ativa do artista nessa transição (Clark, 1985). Rauschenberg, um dos pioneiros do movimento pós-moderno, apresentou imagens da Vênus Rokeby, de Velázquez, e de Vênus no Banho, de Rubens, numa série de quadros dos anos 60 (ilustração 1.9). Mas ele usa essas imagens de maneira bem diferente, empregando a técnica do silk-screen para opor um original fotográfico numa superfície que contém toda espécice de outros elementos (caminhões, helicópteros, chaves de carro). Rauschenberg apenas reproduz, enquanto Manet produz, e esse é um movimento, diz Crimp, "que exige que pensemos em Rauschenberg como pós-modernista". A "aura" modernista do artista como produtor é dispensada. "A ficção do sujeito criador cede lugar ao franco confisco, citação, retirada, acumulação e repetição de imagens já existentes".
Esse tipo de mudança se transfere para todos os outros campos com fortes implicações. Dada a evaporação de todo sentido de continuidade e memória histórica, e a rejeição de metanarrativas, o único papel que resta ao historiador, por exemplo, é tornar-se, como insistia Foucault, um arqueólogo do passado, escavando seus vestígios como Borges o faz em sua ficção e colocando-os, lado a lado, no museu do conhecimento moderno. Rorty (1979, 371), ao atacara idéia de que a filosofia possa algum dia esperar definir quadro epistemológico permanente de pesquisa, também termina por insistir que o único papel do filósofo, em meio à cacofonia de conversas cruzadas que compreende uma cultura, é "depreciar a noção de ter uma visão, ao mesmo tempo que evita ter uma visão sobre ter visões". "O tropo essencial da ficção", dizem-nos os ficcionistas pós-modernos, é uma "técnica que requer a suspensão da crença, bem como da descrença" (McHale,
61

1987, 27-33). Há, no pós-modernismo, pouco esforço aberto para sustentar a continuidade de valores, de crenças ou mesmo de descrenças.
Essa perda da continuidade histórica nos valores e crenças, tomada em conjunto com a redução da obra de arte a um texto que acentua a descontinuidade e a alegoria, suscita todo tipo de problemas para o julgamento estético e crítico. Recusando ( e "desconstruindo" ativamente) todos os padrões de autoridade ou supostamente imutáveis de juízo estético, o pós-modernismo pode julgar o espetáculo apenas em termos de quão espetacular ele é. Barthes propõe uma versão particularmente sofisticada dessa estratégia. Ele distingue entre plaisir (prazer) e "jouissance" ( cuja melhor tradução talvez seja "bem-aventurança física e mental sublime") e sugere que nos esforcemos por realizar o segundo, um efeito mais orgásmico (observe-se o vínculo com a descrição jamesoniana da esquizofrenia), através de um modo particular de encontro com os artefatos culturais de outro modo sem vida que preenchem a nossa paisagem social. Como a maioria de nós não é esquizóide no sentido clínico, Barthes define uma espécie de "prática de mandarim" que nos permite alcançar "jouissance" e usar essa experiência como base para juízos estéticos e críticos. Isso significa a identificação com o ato de escrever (criação), e não com o de ler (recepção), mas Huyssens (1984, 38-45) reserva sua ironia mordaz para Barthes, afirmando que ele reinstitui uma das mais cansativas distinções modernistas e burguesas: a de que "há prazeres inferiores para a ralé, isto é, a cultura de massas, e há a nouvelle cuisine do prazer do texto, "jouissance". Essa reintrodução da disjunção cultura superior/ cultura inferior evita todo o problema da destruição potencial das formas culturais modernas pela sua assimilação à cultura pop através da pop arte. "A eufórica apropriação americana da jouissance de Barthes é predicada em ignorar esses problemas e em fruir, de modo não muito diferente do dos yuppies de 1984, os prazeres do connoisseurismo escrevível e da gentrificação textual." A imagem de Huyssens, como sugerem as descrições de Raban em Soft city, pode ser bem apropriada. O outro lado da perda da temporalidade e da busca do impacto instantâneo é uma perda paralela de profundidade. Jameson (1984a; 1984b) tem sido particularmente enfático quanto à "falta de profundidade" de boa parte da produção cultural contemporânea, quanto à sua fixação nas aparências, nas superfícies e nos impactos imediatos que, com o tempo, não têm poder de sustentação. As seqüências de imagens das fotografias de Sherman têm exatamente essa qualidade, e, como observou Charles Newman num artigo no New York Times sobre o estado do romance americano (NYT, 17 de julho de 1987):
O fato é que um sentido de redução do controle, da perda da autonomia individual e de uma impotência generalizada nunca foi tão instantaneamente reconhecível na nossa literatura __ as personagens mais planas possíveis, traduzidas na dicção mais plana possível. A suposição parece ser a de que a América é um vasto deserto fibroso em que umas poucas sementes lacônicas mesmo assim conseguem brotar por entre as rachaduras.
"Falta de profundidade planejada" é a expressão usada por Jameson para descrever a arquitetura pós-moderna, e é difícil não dar crédito a essa sensibilidade como o motivo primordial do pós-modernismo, afetado apenas pelas tentativas de Barthes de nos ajudar a chegar ao momento de jouissance. A atenção às superfícies sempre foi, na verdade, importante para o pensamento e a prática modernistas (particularmente a partir dos cubistas), ma sempre teve como paralelo o tipo de questão que Raban formulou sobre a vida urbana: como podemos construir, representar e dar atenção a essas superfícies com a simpatia e a seriedade exigidas a fim de ver por trás delas e identificar os sentidos essenciais? O pós-modernismo, com sua resignação à fragmentação e efemeridade sem fundo, em geral se recusa a enfrentar essa questão.
O colapso dos horizontes temporais e a preocupação com a instantaneidade surgiram em parte em decorrência da ênfase contemporânea no campo da produção cultural em eventos, espetáculos, happenings e imagens de mídia. Os produtores culturais aprenderam a explorar e usar novas tecnologias, a mídia e, em última análise, as possibilidades multimídia. O efeito, no entanto, é o de reenfatizar e até celebrar as qualidades transitórias da vida moderna. Mas também permitiu um rapprochement, apesar das intervenções de Barthes, entre a cultura popular e o que um dia permaneceu isolado como "alta cultura". Esse rapprochement foi procurado antes, embora quase sempre de maneira mais revolucionária, quando movimentos como o dadaísmo e o surrealismo
62

inicial, o construtivismo e o expressionismo tentaram levar sua arte ao povo como parte integrante de um projeto modernista de transformação social. Esses movimentos vanguardistas tinham uma forte fé em seus próprios objetivos e uma imensa crença em novas tecnologias. A aproximação entre a cultura popular e a produção cultural do período contemporâneo, embora dependa muito de novas tecnologias de comunicação, parece carecer de todo impulso vanguardista ou revolucionário, levando muitos a acusar o pós-modernismo de uma simples e direta rendição à mercadificação, à comercialização e ao mercado (Foster, 1985). Seja como for, boa parte do pós-modernismo é conscientemente antiáurica e antivanguardista, buscando explorar mídias e arenas culturais abertas a todos. Não é por acaso que Sherman, por exemplo, usa a fotografia e evoca imagens pop que parecem saídas de um filme nas poses que assume.
Isso evoca a mais difícil questão sobre o movimento pós-moderno: o seu relacionamento com a cultura da vida diária e a sua integração nela. Embora quase toda a discussão disso ocorra no abstrato, e, portanto, nos termos não muito acessíveis que sou forçado a usar aqui, há inúmeros pontos de contato entre produtores de artefatos culturais e o público em geral: arquitetura, propaganda, moda, filmes, promoção de eventos multimídia, espetáculos grandiosos, campanhas políticas e a onipresente televisão. Nem sempre é claro quem está influenciando quem no processo.
Venturi et al. (1972, 155) recomenda que aprendamos nossa estética arquitetônica nos arredores de Las Vegas ou com os subúrbios tão mal-afamados como Levittown, apenas porque as pessoas evidentemente gostam desses ambientes. "Não temos de concordar com a política operária", afirmam, "para defender os direitos da classe média média à sua própria estética arquitetônica, e descobrimos que a a estética do tipo Levittown é compartilhada pela maioria dos membros da classe média média, branca e negra, liberal e conservadora. "Nada há de errado, insistem eles, em dar às pessoas o que elas querem, e o próprio Venturi foi citado no New York Times (22 de outubro de 1972), numa matéria apropriadamente intitulada "Mickey Mouse ensina os arquitetos", dizendo "Disneyworld está mais próxima do que as pessoas querem do que aquilo que os arquitetos já lhes deram". A Disneylândia, assevera ele, é "a utopia americana simbólica".
Há, no entanto, quem veja essa concessão da alta cultura à estética da Disneylândia antes como uma questão de necessidade do que de escolha. Daniel Bell (1978, 20), por exemplo, descreve o pós-modernismo como a exaustão do modernismo através da institucionalização dos impulsos criativos e rebeldes por aquilo que chama de "a massa cultural" (os milhões de pessoas que trabalham nos meios de comunicação, no cinema, no teatro, nas universidades, nas editoras, nas indústrias de propaganda e comunicações etc. e que processam e influenciam a recepção de produtos culturais sérios, e produzem os materiais populares para o público de cultura de massas mais amplo). A degeneração da autoridade intelectual sobre o gosto cultural nos anos 60 e a sua substituição pela pop arte, pela cultura pop, pela moda efêmera e pelo gosto da massa são vistas como um sinal do hedonismo inconsciente do consumismo capitalista.
Iain Chambers (1986; 1987) interpreta um processo semelhante de maneira bem distinta. A juventude da classe operária da Inglaterra teve dinheiro suficiente durante a expansão do pós-guerra para participar da cultura de consumo capitalista, usando ativamente a moda para construir um sentido de sua própria identidade pública, e até definindo suas próprias formas de pop arte, diante de uma indústria da moda que buscava impor o gosto através da pressão da publicidade e da mídia. A conseqüente democratização do gosto numa variedade de subculturas (do "macho" das cidades aos campi universitários) é interpretada como o desfecho de uma batalha vital que fortaleceu os direitos de formação da própria identidade até dos relativamente desprivilegiados, diante de um comercialismo poderosamente organizado. Os fermentos culturais de base urbana que começaram no início dos anos 60 e existem até hoje estão, na visão de Chambers, na raiz da virada pós-moderna:
O pós-modernismo, seja qual for a forma que a sua intelectualização possa tomar, foi fundamentalmente antecipado nas culturas metropolitanas dos últimos vinte anos: entre os significantes eletrônicos do cinema, da televisão e do vídeo, nos estúdios de gravação e nos gravadores, na moda e nos estilos da juventude, em todos os sons, imagens e histórias diversas que
63

são diariamente mixados, reciclados e "arranhados" juntos na tela gigante que é a cidade contemporânea.
Também é difícil não atribuir alguma espécie de papel plasmador à proliferação do uso da televisão. Afinal, sabe-se que o americano médio hoje assiste à televisão por mais de sete horas diárias, e a propriedade de televisões e vídeos (neste último caso, presentes em ao menos metade dos lares americanos) é hoje tão disseminada no mundo capitalista que alguns efeitos devem por certo ser registrados. As preocupações pós-modernas com a superfície, por exemplo, podem remontar ao formato necessário das imagens televisivas. A televisão também é, como aponta Taylor (1987, 103-5), "o primeiro meio cultural de toda a história a apresentar as realizações artísticas do passado como uma colagem coesa de fenômenos eqüi-importantes e de existência simultânea, bastante divorciados da geografia e da história material e transportados para as salas de estar e estúdios do Ocidente num fluxo mais ou menos ininterrupto". Isso requer, além disso, um espectador "que compartilhe a própria percepção da história do meio como uma reserva interminável de eventos iguais". Causa pouca surpresa que a relação do artista com a hsitória (o historicismo peculiar para o qual já chamamos a atenção) tenha mudado, que, na era da televisão de massa, tenha surgido um apego antes às superfícies do que às raízes, à colagem em vez do trabalho em profundidade, a imagens citadas superpostas e não às superfícies trabalhadas, a um sentido de tempo e de espaço decaído em lugar do artefato cultural solidamente realizado. E todos esses elementos são aspectos vitais da prática artística na condição pós-moderna.
Apontar a potência dessa força na moldagem da cultura como modo total de vida não é, no entanto, cair necessariamente num determinismo tecnológico simplista do tipo "a televisão gerou o pós-modernismo". Porque a televisão gerou o pós-modernismo". Porque a televisão é ela mesma um produto do capitalismo avançado e, como tal, tem de ser vista no contexto da promoção de uma cultura do consumismo. Isso dirige a nossa atenção para a produção de necessidades e desejos, para a mobilização do desejo e da fantasia, para a política da distração como parte do impulso para manter nos mercados de consumo uma demanda capaz de conservar a lucratividade da produção capitalista.
Charles Newman (1984, 9) vê boa parte da estética pós-modernista como uma resposta ao surto inflacionário do capitalismo avançado. "A inflação", diz ele, "afeta a troca de idéias tão certamente quanto afeta os mercados comerciais." Assim, "somos testemunhas das contínuas batalhas intestinais e mudanças espasmódicas na moda, na exibição simultânea de todos os estilos passados em suas infinitas mutações e na contínua circulação de elites intelectuais diversas e contraditórias, o que assinala o reino do culto da criatividade em todas as áreas do comportamento, uma receptividade não crítica sem precedentes à Artes, uma tolerância que, no final, equivale à indiferença". Desse ponto de vista, conclui Newman, "a celebrada fragmentação da arte já não é uma escolha estética: é somente um aspecto cultural do tecido social e econômico".
Isso por certo ajudaria a explicar o impulso pós-moderno de integração à cultura popular através do tipo de comercialização aberta, e até crassa, que os modernistas tendiam a rejeitar com sua profunda resistência à idéia (embora nem sempre ao fato) da mercadificação de sua produção. Há, no entanto, quem atribua a exaustão do alto modernismo precisamente à sua absorção com a estética formal do capitalismo corporativo e do Estado burocrático. Assim, o pós-modernismo não assinala senão uma extensão lógica do poder do mercado a toda a gama da produção cultural. Crimp (1987, 85) é deveras quanto a esse ponto:
O que temos visto nos últimos anos é a virtual tomada da arte pelos grandes interesses corporativos. Porque, seja qual for o papel desempenhado pelo capital na arte do modernismo, o atual fenômeno é novo precisamente por causa do seu alcance. As corporações se tornaram, em todos os aspectos, os principais patrocinadores da arte. Elas foram impressionantes coleções. Concedem fundos para toda grande exposição nos museus... As casas de leilão se tornaram instituições de empréstimos, dando um valor completamente novo à arte como algo colateral. E tudo isso afeta não somente a inflação do valor dos velhos mestres como a própria produção artística... [As corporações] estão comprando barato e em quantidade, contando com a escalada do valor de jovens artistas... O retorno à pintura e à escultura em moldes tradicionais é o retorno à
64

produção de mercadorias, e eu sugeriria que, enquanto tradicionalmente tinha uma condição ambígua de mercadoria, a arte tem uma condição de mercadoria totalmente clara.
O desenvolvimento de uma cultura de museu (na Inglaterra é aberto um museu a cada três semanas e, no Japão, mais de 500 foram abertos nos últimos quinze anos) e uma florescente "indústria da herança" que se iniciou no começo dos anos 70 dão outra virada populista (se bem que, desta vez, bastante classe média) à comercialização da história e de formas culturais. "O pós-modernismo e a indústria da herança estão ligados", diz Hewison (1987, 135), já que "ambos conspiram para criar uma tela oca que intervém entre a nossa vida presente e a nossa história". A história se torna "uma criação contemporânea, antes um drama e uma re-representação de costumes do que discurso crítico". Estamos, conclui ele, citando Jameson, "condenados a procurar a História através das nossas próprias imagens e simulacros pop dessa história, história que permanece sempre fora do alcance". A casa já não é vista máquina, mas como "uma antigüidade na qual viver".
A invocação de Jameson nos traz, por fim, à sua ousada tese de que o pós-modernismo não é senão a lógica cultural do capitalismo avançado. Seguindo Mandel (1975), ele alega que passamos para uma nova era a partir do início dos anos 60, quando a produção da cultura "tornou-se integrada à produção de mercadorias em geral: a frenética urgência de produzir novas ondas de bens com aparência cada vez mais nova (de roupas a aviões), em taxas de transferência cada vez maiores, agora atribui uma função estrutural cada vez mais essencial à inovação e à experimentação estéticas". As lutas antes travadas exclusivamente na arena da produção se espalharam, em conseqüência disso, tornando a produção cultural uma arena de implacável conflito social. Essa mudança envolve uma transformação definida nos hábitos e atitudes de consumo, bem como um novo papel para as definições e intervenções estéticas. Enquanto alguns alegam que os movimentos contraculturais dos anos 60 criaram um ambiente de necessidades não atendidas e de desejos reprimidos que a produção cultural popular pós-modernista apenas procurou satisfazer da melhor maneira possível em forma de mercadoria, outros sugerem que o capitalismo, para manter seus mercados, se viu forçado a produzir desejos e, portanto, estimular sensibilidades individuais para criar uma nova estética que superasse e se opusesse às formas tradicionais de alta cultura. Seja como for, considero importante aceitar a proposição de que a evolução cultural que vem ocorrendo a partir do início dos anos 60 e que se afirmou como hegemônica no começo dos anos 70 não ocorreu num vazio social, econômico ou político. A promoção da publicidade como "a arte oficial do capitalismo" traz para a arte estratégias publicitárias e introduz a arte nessas mesmas estratégias (como uma comparação da pintura de David Salle com um anúncio dos Relógios Citizen [ilustrações 1.6 e 1.10] revela). Portanto, é necessário deter-se sobre a mudança estilística que Hassan estabelece com relação às forças que emanam da cultura do consumo de massa: a mobilização da moda, da pop arte, da televisão e de outras formas de mídia de imagem, e a verdade dos estilos de vida urbana que se tornou parte da vida cotidiana sob o capitalismo. Façamos o que fizermos com o conceito, não devemos ler o pós-modernismo como uma corrente artística autônoma; seu enraizamento na vida cotidiana é uma de suas características mais patentemente claras.
O retrato do modernismo que tracei, com a ajuda do esquema de Hassan, está por certo incompleto. É igualmente certo ser ele um retrato tornado fragmentário e efêmero pela enorme pluralidade e caráter enganoso de formas culturais envoltas nos mistérios do fluxo e da mudança rápidos. Mas creio ter dito o bastante sobre o que constitui o quadro geral da "profunda mudança na estrutura do sentimento" que separa a modernidade da pós-modernidade para iniciar a tarefa de desvelar as suas origens e formular uma interpenetração especulativa do que isso poderá significar para o nosso futuro. Contudo, considero útil arrematar esse retrato com um exame mais detalhado de como o pós-modernismo se manifesta na arquitetura urbana contemporânea, porque a proximidade ajuda a revelar as microtexturas em vez das grandes pinceladas de que a condição pós-moderna é feita na vida cotidiana. É essa a tarefa de que me encarrego no próximo capítulo.
Ilustração 1.10 Um anúncio dos Relógios Citizen incorpora diretamente as técnicas pós-modernas
65

de superposição de mundos ontologicamente diferentes semrelação necessária entre si (compare-se o anúncio com o quadro de David Salle na ilustração 1.6) O relógio anunciado é quase invisível.
NOTAAs ilustrações usadas neste capítulo (pinturas com mulheres nuas) foram criticadas por algumas feministas de convicção pós-moderna. Elas foram deliberadamente escolhidas porque permitiam uma comparação entre campos supostamente separados do pré-moderno, do moderno e do pós-moderno. O nu clássico de Ticiano é ativamente trabalhado na Olímpia modernista de Manet. Rauschenberg apenas reproduz através da colagem pós-moderna; David Salle superpõe mundos diferentes; e o anúncio dos Relógios Citizen (o mais ultrajante do lote, mas que apareceu nos suplementos de fim de semana de vários jornais britânicos de qualidade por um longo período) é um engenhoso uso da mesma técnica pós-moderna para fins puramente comerciais. Todas as ilustrações usam um corpo feminino para inscrever sua mensagem particular. Procurei dizer também que a subordinação da mulher, uma das muitas "contradições problemáticas" das práticas iluministas burguesas (ver p. 24 acima e p. 228 abaixo), não pode esperar nenhum alívio particular pelo recurso ao pós-modernismo. Pensei que as ilustrações diziam isso tão bem que tornavam desnecessário explicar. Mas, ao menos em alguns círculos, essas imagens particulares não valeram suas costumeiras mil palavras. Do mesmo modo, parece que eu não deveria ter pensado que os pós-modernos apreciassem sua própria técnica de contar mesmo uma história ligeiramente diferente por meio das ilustrações em comparação com o texto. (Junho de 1990.)
Tabela 1.1 Diferenças esquemáticas entre modernismo e pós-modernismo
modernismo pós-modernismo
romantismo/simbolismo.... ...........parafísica/dadaísmoforma(conjuntiva,fechada)........ ...antiforma(disjuntiva,aberta)propósito....................... ....jogoprojeto............................ .acasohierarquia....................... ...anarquiadomínio/logos................. ......exaustão/silêncioobjeto de arte/obra acabada.. .......processo/performance/happeningdistância..................... ......participaçãocriação/totalização/síntese.. .......descriação/desconstrução/antítesepresença.......................... ..ausênciacentração ...................... ....dispersãogênero/fronteira............. .......texto/intertextosemântica...................... .....retóricaparadigma.................... .......sintagmahipotaxe....................... .....parataxematáfora................... .........metonímiaseleção......................... ....combinaçãoraiz/profundidade........... ........rizoma/superfícieinterpretação/leitura........ .......contra ainterpretação/desleiturasignificado....................... ..significantelisible (legível).............. .....scriptible (escrevível)narrativa/grande histoire..... ......antinarrativa/petite histoirecódigo mestre.................. .....idioletosintoma......................... ....desejotipo............................. ...mutantegenital/fálico.............. ........polimorfo/andróginoparanóia....................... .....esquizofreniaorigem/causa................ ........diferença-diferença/vestígioDeus Pai....................... .....Espírito Santometafísica.................... ......ironiadeterminação................ ........indeterminaçãotranscendência................ ......imanência
Fonte: Hassan (1985, 123-4)
2.1.3. Cartografia da Racionalidade ModernaAlexandre Araújo Costa
66

Entre metáforas e paráfrasesTeorias são metáforas sobre o mundo, mesmo quando pretendem ser descrições. Isso
ocorre porque, por trás (mais precisamente, por dentro) da linguagem pretensamente denotativa dos textos que compõem as teorias, pulsam valores, símbolos e narrativas mitológicas que integram os nossos modos de organizar experiências e constituir a realidade. E esses elementos que subjazem à teoria são justamente o ponto cego das concepções tradicionais e modernas.
As perspectivas tradicionais20 não tematizam seus próprios pressupostos porque eles são tidos como verdades óbvias. A tradição nunca discute os seus próprios mitos, pois é justamente sobre eles que se constróem os discursos tradicionais, cuja base de justificação é a autoridade da sua mitologia particular. Assim, o discurso tradicional afirma os seus pressupostos como dotados de uma autoridade inquestionável, o que os deixa imune ao debate e à crítica.
Portanto, os discursos tradicionais são sempre dogmáticos, na medida em que eles estabelecem um jogo de linguagem em que é inadmissível a crítica aos pressupostos em que ele se sustenta. Cada discurso tradicional apresenta os seus pressupostos como verdadeiros e não se coloca como portador de uma verdade, mas sim como portador da Verdade. Cada discurso tradicional apresenta a sua própria mitologia como parte da história, apresentando o seu relato particular sobre o mundo como a imagem o mundo. Além disso, os pressupostos são dotados de uma atemporalidade que os torna imutáveis, pois eles são apresentados como parte da própria natureza e não como uma construção histórica.
Porém, como afirmava Nietzsche, a Verdade não passa de um conjunto de metáforas que, de tão usadas para falar do mundo, passam a ser compreendidas como uma descrição da realidade. Porém, a simples cristalização histórica de uma metáfora na forma de uma verdade não pode servir como a sua justificação, embora acarrete um sentimento social de que se trata de um fato evidente. Nesse contexto, dizer a verdade significa apenas falar do mundo utilizando o repertório das metáforas usuais, mentir segundo uma convenção estabelecida.
Quem vive dentro de uma cultura não costuma perceber essa convenção, pois a sua visão percebe a metáfora como se fosse a coisa. Um grego não precisava justificar perante o cidadão a predominância da pólis e da tradição; um cristão não precisa justificar para outro porque os mandamentos do seu deus são obrigatórios; um pai não justifica perante o filho o seu poder. Tudo isso é sentido como parte da ordem objetiva do mundo, fatos tão evidentes e naturais que não faz sentido algum colocá-los em dúvida.
Portanto, para toda concepção comprometida com uma determinada tradição, a função das teorias científicas e filosóficas é a mesma que a função das artes: representar o mundo, um mundo que é apresentado como um ente cuja existência independe do homem e que se desvela perante um olhar cuidadoso. Nessa medida, a atividade cognitiva é percebida como um exercício de contemplação e não de criação21.
O teórico, tal como o artista de então, não tinha como objetivo criar novos conceitos e símbolos, mas simplesmente representar o mundo em palavras e imagens, o que faz com que a qualidade tanto da arte como da teoria seja medida em razão de sua fidelidade ao modelo original. E a fidelidade é o critério de avaliação da paráfrase, e não da metáfora. Nesse contexto, a arte é mimesis (ou seja, como repetição do mundo, julgada por ideais verossimilhança) e a teoria é re-presentação (ou seja, tornar presente no discurso abstrato o que é presente na realidade, evidenciando a essência das coisas, que se mostra para a razão e não para os sentidos).
É certo que o mundo, então, era outro, pois não havia uma redução do real ao empírico, típica da revolução científica dos séculos XVII e XVIII, quando as explicações mecânico-causais
20 Não uso aqui o termo pré-moderno porque ele seria uma fonte de equívocos, tanto por ele sugerir que as perspectivas tradicionais deixaram de existir após a consolidação da modernidade (sendo que elas permanecem até os dias de hoje), quanto por seu uso implicar a existência de uma escatologia (no sentido histórico da palavra), na qual as concepções pré-modernas evoluíram para as concepções modernas e estas para as concepções pós-modernas (outra expressão, aliás, também geradora de muitos equívocos, mas que utilizaremos, na falta de um nome mais apropriado).21 Como adverte Hobsbawm, “traçar um paralelo entre as artes e as ciências é sempre perigoso, pois as relações entre cada uma delas e a sociedade em que vicejam são muito diferentes” [A era das Revoluções, p. 301]. Porém, assumidos os riscos, creio que essa aproximação abre espaço para uma série de metáforas muito ricas.
67

tornaram-se as únicas explicações aceitáveis. Platão, por exemplo, explicava o mundo mediante um discurso narrativo (alegórico ou dialógico) que alguns filósofos modernos, especialmente da tradição analítica, provavelmente estariam mais dispostos a catalogar como literatura do que como filosofia.
E isso acontece porque a narrativa é uma espécie de discurso literário, cuja natureza metafórica parece incompatível com o discurso teórico da modernidade, cujo modelo é o da paráfrase aristotélica, que explicava os fenômenos a partir de uma descrição abstrata de suas causas. Porém, enquanto a metafísica aristotélica implicava a aceitação de uma finalidade para as coisas22, colocando lado a lado causa final, a eficiente, a material e a formal, a metafísica moderna somente admite a explicação pela causa eficiente, recusando as outras categorias causais aristotélicas.
Com a modernidade, muita coisa foi alterada, mas restou presente a identificação da verdade com uma descrição fiel da realidade, de forma que as concepções modernas continuaram tratando as artes e as ciências como formas de representar do mundo. Se as representações pictóricas medievais foram sendo consideradas cada vez mais toscas, pueris até, em seu irrealismo, as representações antigas foram julgadas merecedoras da maior deferência, pois antiguidade greco-romana fornecia muitas obras que o renascimento fixou como os modelos canônicos a serem seguidos.
Como não se supunha ainda que a realidade pudesse ser uma invenção nossa, o desafio do homem era compreender o mundo, desvendar suas leis, descobrir o modo do seu funcionamento. Quem enfrentou este desafio talvez acreditasse estar criando uma nova arte, uma nova filosofia ou um novo homem, mas não acreditava estar moldando um mundo novo, e sim desvelando uma realidade que, embora sempre tenha existido, não era devidamente conhecida. Para eles, não se tratava de uma revolução (ligada à criação de uma nova ordem), mas de um renascimento (ligada ao retorno à verdade e aos valores esquecidos).
Embora esta valorização da paráfrase23 implique um culto da representação, isso de modo algum significa uma necessária desvalorização da capacidade criativa. O gênio parafraseador não é quem inventa o mundo, mas quem inventa formas novas de representá-lo, desvelando e esclarecendo o que outros não viam. Imenso é o desafio desses artistas que se esforçaram para conquistar a capacidade de traduzir em imagens ou em palavras a vida, a tensão, a luz, a dor, o medo. Quando Leonardo inventou o sfumato, ele se tornou capaz infundir uma nova vida às imagens. Compare com os dele os quadros de Mantegna ou de Uccello, e estes parecerão retratos de estátuas! Mas da Vinci não pretendia ter inventado os seres humanos, assim como Michelangelo não inventou a confiante energia do David a espera de Golias.
O mundo é o modelo criado pelos deuses e não pelos homens, de forma que as teorias filosóficas e científicas, tal como as obras de arte, devem apenas refleti-lo. O reflexo, a tradução, a representação, a mimeis, todas essas palavras expressam a idéia de uma fidelidade ao modelo, o que somente pode ser conquistado a partir de um olhar objetivo. Frente a esse novo olhar sobre o mundo, a arte e os conhecimentos anteriores pareceram ultrapassados. Essa nova objetividade, manifestada em padrões de pensamento que vieram a ser chamados de racionais, consolidou-se gradualmente como o padrão correto de descrição do mundo.
Mas o humanismo do renascimento ainda não era o racionalismo moderno, pois a valorização do homem não implicava a negação da transcendência, havendo ainda espaço para a metafísica tradicional, o misticismo e a teologia. Embora o papel do filósofo fosse refletir o mundo, este ainda não havia sido reduzido ao mundo finito dos fenômenos empíricos. Além disso, apesar de a razão ser um instrumento com força crescente, ainda vigia a crença tradicional de que boa parte do mundo era oculta à investigação racional, Assim, antes do século XVII, a racionalidade dedutiva e matemática era um instrumento importante, mas não era a única forma reconhecida como correta.
22 Aliás, esse tipo de pensamento teleológico até hoje não foi banido do pensamento científico, especialmente em concepções escatológicas da história ou de leituras superficiais da teoria darwiniana (quando se fala, por exemplo, que o objetivo do desejo sexual é possibilitar a reprodução da espécie). 23 Entendida como uma redescrição que tenta ser o mais fiel possível ao original, sem agregar novos sentidos.
68

No quattrocento italiano, Nicolau de Cusa utilizava metáforas matemáticas, mas ainda supunha a existência de um intelecto acima da razão, à qual seria impossível compreender o infinito. Durante o mesmo quattrocento, seu contemporâneo Alberti desenvolveu a perspectiva linear e matematizada como um dos sistemas de representação do mundo, porém este era apenas um dos instrumentos à disposição dos artistas para efetuar seu trabalho. Com o tempo, a razão passou a ser entendida como a única forma de compreender o mundo, recusando as outras formas de acesso pelo fato de elas não serem capazes de conduzir à certeza — e busca da certeza é o desafio da modernidade.
Não é à toa que Descartes afirmou que se comprazia “sobretudo com as matemáticas, por causa da certeza e da evidência de suas razões”. E essa certeza que ele encontrava na matemática não era simplesmente subjetiva (não era apenas um sentimento de estar certo), mas a certeza objetiva de quem tem consciência de que conhece a verdade.
A verdade tem caráter objetivo, pois somente poder haver uma descrição correta do mundo. Não obstante, os homens que dizem conhecer as verdades dizem as coisas mais diversas, e cada um dels acha que a sua verdade é a Verdade. Como explicar essa imensa discordância entre os homens? Uma resposta possível é a de que a capacidade de distinguir o verdadeiro do falso não é idêntica em todos os homens e que, portanto, somente alguns de nós são capazes de ter acesso à verdade. Esse tipo de resposta gera perspectiva aristocráticas, pois apenas o cultivo do logos pode conduzir à verdade.
E aristocrática é a verdade da tradição, pois ela é um privilégio do Sábio, ou seja, da pessoa cuja autoridade intelectual é culturalmente reconhecida. Na história grega, os Sofistas já se tinham diferenciado dos Sábios, pois não portavam a verdade da tradição, mas apenas um conhecimento técnico e relativista. E contra os dois se ergueram os Filósofos, em nome de uma postura revolucionária, que não admitia a verdade da tradição, mas postulava a verdade do logos.
E contrapondo-se a essa aristocracia do pensamento, moldou-se o homem moderno, cuja manifestação mais clássica é a do revolucionário Discurso do Método, de Descartes. Um pequeno livro, narrado em primeira pessoa, a voz de um sujeito e não a voz da tradição. Um sujeito que pretendia chegar à verdade pelas próprias pernas, por meio do uso altivo e independente de sua própria Razão.
Descartes percebeu claramente os homens têm a a crença de que eles conheçam a verdade absoluta, mas que a maior parte do que é comumente aceito como verdade não passa de preconceitos herdados de uma determinada tradição. O fato de pertencer a uma cultura nos faz ter uma série de certezas subjetivas em relação ao mundo, mas o que importava ao conhecimento não era o sentimento de certeza, mas a possibilidade de ter uma certeza objetiva acerca do mundo.
A certeza subjetiva é uma experiência pessoal, assim como a fé. Mas, se ter fé é ter certeza sem ter motivos, a certeza que buscam os homens modernos é uma certeza objetiva, motivada, justificada por argumentos racionais. Ao perceberem que a certeza antiga era fundada na crença acerca da tradição e da autoridade, os modernos buscaram um novo fundamento para a certeza.
Mas onde encontrar a base dessa certeza objetiva, se a certeza é uma experiência subjetiva? Como converter a certeza em verdade? Os gregos não precisavam responder a essa pergunta justamente porque eles nunca identificaram certeza e verdade. A certeza, fruto da dialética, tinha a ver com a verossimilhança e não com a verdade, que se mostra ao logos a partir da contemplação. Os cristãos medievais e modernos buscaram uma certeza que não podia ser alcançada pela razão, valorizando mais a fé que a demonstração.
Já a postura cartesiana implicou uma nova estratégia de resposta a essa pergunta. Em um primeiro momento, a pergunta parece insolúvel, pois a admissão de que somente há certeza subjetiva conduz à idéia de que não há critério objetivo de verdade fora do próprio sujeito. Esse é o ponto central da recusa da tradição como fonte de verdade e de obrigatoriedade, que Descartes traduz muito bem ao dizer que “a pluralidade das vozes não é prova que valha algo para as verdades difíceis de descobrir, uma vez que é mais verossímil que um só homem as tenha encontrado do que todo um povo”.
69

Já que eu posso duvidar de tudo o que está fora de mim, apenas o que está dentro de mim pode servir como base para uma certeza objetiva. Então, o único critério objetivo de certeza é a razão individual, o que implica uma rejeição de qualquer critério heterônomo de verdade. Essa é uma posição revolucionária, pois desterritorializa a verdade, que é roubada dos espaços do poder estabelecido (universidades, autoridades acadêmicas, cânones tradicionais) e reterritorializada em um novo espaço: a reflexão individual.
É preciso despolitizar a verdade, e essa despolitização era verdadeiramente revolucionária, pois contrapunha-se diretamente às regras de poder simbólicos então vigentes. A verdade, vista como fruto da objetividade e não da sabedoria, é uma verdade que não se submetia a qualquer dos instrumentos tradicionais de domínio simbólico do conhecimento. É claro que despolitização da verdade é só uma condição para a sua repolitização, pois a verdade é reterritorializada, mas em um novo terreno simbólico, no qual as verdades tradicionas não configuram conhecimento legítimo.
Essa revolução é especialmente forte porque ela não traduz a simples certeza intuitiva dos adolescentes que se julgam donos da verdade, mas é fruto maduro do relativismo cartesiano, que nunca presumiu que o seu espírito “fosse, em algo, mais perfeito do que o das pessoas em geral” e que, frente à experiência da pluralidade de culturas e pontos de vista, defendia a revolucionária tese de que “todos os que possuem sentimentos opostos aos nossos nem por isso são bárbaros ou selvagens, mas que muitos usam, tanto ou mais do que nós, a razão”.
Embora Descartes não tenha inventado a modernidade, a sua trajetória é exemplar: o que o liberta do jugo da tradição foi a sua possibilidade de conviver durante longo tempo com a diferença. Na história que ele narra24 que, durante nove anos, não fez outra coisa “senão viajar pelo mundo, de um lado para outro, procurando ser mais um expectador do que um ator em todas as comédias que nele se representam”.
E um homem que se moldou no respeito à diversidade não pode reafirmar a sua cultura como objetivamente correta. Essa experiência da pluralidade incapacitou Descartes de oferecer a resposta etnocêntrica padrão, consistente em afirmar a superioridade de sua própria cultura, pelo simples fato de ela ser a sua própria cultura. E, diante da negação radical do argumento de autoridade e da prevalência da tradição, Descartes concluiu: “eu não poderia optar por ninguém, cujas opiniões me parecessem ser preferidas às de outrem, e achava-me como que compelido a tentar eu próprio conduzir-me”.
Essa experiência radical de observação solitária de um mundo estranho tem muita semelhança com o existencialismo do começo do século XX: ambos são o resultado angustiante da morte de um deus. O deus da Tradição, para Descartes, e o deus da Razão, para os existencialistas. A morte de deus deixa em seu lugar um vazio que os antigos crentes precisam preencher de novas formas. Esse horror ao vazio, esse desejo de segurança em um território no qual as bases da segurança foram minadas, aproxima Sartre de Descartes, por mais que em ambos sejam muito diferentes tanto as perguntas como as respostas. Essa angústia de quem encontra o nada onde esperava presença, essa náusea, irmana os filósofo da angústia da verdade25 com o da angústia da liberdade.
E, assim como Sartre não colocava verdadeiramente em dúvida a liberdade (considerada como constitutiva da condição humana), Descartes nunca colocou em dúvida a existência de uma verdade objetiva26 nem a nossa capacidade de alcançar essa verdade mediante o uso da razão. Ele não era um dos céticos que “duvidam apenas por duvidar e simulam estar sempre indecisos”, pois a sua questão era justamente a de desenvolver um método em que pudesse estar “seguro de usar em tudo minha razão, se não perfeitamente, pelo menos da melhor forma que eu pudesse”. Ele necessitava, portanto, de um ponto de apoio objetivo, de um alicerce sólido para reconstruir o
24 E é preciso ressaltar que Descartes constrói o seu discurso em grande medida como narrativa diacrônica, e não como teoria sincrônica.25 Segundo Guéroult, Descartes é um pensador que “no que tange à angústia, só conhece a da verdade – supondo-se que possamos chamar de angústia a inflexível vontade e a completa certeza de descobri-la.” [GUÉRAULT, Martial. Descartes selon l’odre des raisons. Citado em DESCARTES, Discurso do método, p. 104.26 Chegando mesmo a dizer que “havendo somente uma verdade de cada coisa, todo aquele que a encontrar sabe a seu respeito tanto quanto se pode saber” [DESCARTES, Discurso do método, p. 46].
70

edifício do conhecimento que a sua dúvida metódica colocava abaixo, numa atitude francamente desconstrutiva. Como ele próprio disse,
resolvi fazer de conta que todas as coisas que até entrão haviam entrado no meu espírito não eram mais verdadeiras que as ilusóes de meus sonhos. Mas, logo após, concluí que, enquanto eu queria pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E, notando que essa verdade “penso, logo existo” era tão firme e segura que as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de abalar, julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o primeiro princípio da Filosofia que procurava.
Cogito ergo sum, ou seja, posso duvidar de tudo, menos de meu próprio pensamento e de minha própria subjetividade: essa é a certeza que pode me reconduzir à verdade. Uma certeza simultaneamente subjetiva (pois é sempre um eu que não duvida de sua própria existência e racionalidade) e objetiva (porque seria irracional pensar o contrário).
Se Descartes houvesse insistido nesse ponto com mais vigor, talvez tivesse chegados a formulações muito próximas das elaboradas por Kant no século XVIII, no sentido de que o que chamamos de realidade é constituído pelos modos de ser dessa subjetividade que cogita. Entretanto, Descartes simplesmente não colocava em dúvida que a realidade existisse objetivamente, independentemente de nós, o que não abria espaço para o surgimento da hipótese kantiana de que a realidade é fruto da subjetividade, pois o que chamamos de realidade não é o conjunto das coisas em si, mas o nosso peculiar modo de vê-las.
Ele chegou até mesmo a cogitar de que talvez os pensamentos que lhe ocorriam poderiam ser “dependências de sua natureza”, mas logo negou essa idéia em nome de um elemento perfeito que garantisse a objetividade e perfeição do mundo, no que renovou os argumentos ontológicos de Agostinho acerca da existência de Deus.
Descartes ainda postulava uma relação de identidade entre o mundo em si e a sua verdadeira descrição, de tal forma que o desafio cartesiano era o de reconstruir uma objetividade do conhecimento sobre a subjetividade da certeza. Um desafio imenso, diga-se de passagem, que somente se deixa resolver mediante a existência de uma certeza objetiva, cuja existência depende da nossa capacidade de distinguir objetivamente o verdadeiro do falso: ou seja da nossa Razão.
Logo tornou-se claro que a mentalidade moderna somente seria capaz de admitir um único critério de verdade objetiva: a subjetividade universal, que é descrita como uma racionalidade universal e igualitária, dado que “não somos uns mais racionais do que outros”. Nessa medida, é possível provar que há certos fatos cuja verdade precisa ser admitida por todas as subjetividades, provar que há certas normas cuja validade precisa ser aceita por todos os sujeitos, isso significa fundamentar (ou seja, demonstrar de maneira objetiva) a verdade dessas afirmações e a validade dessas normas. Assim, a busca de critérios objetivos já não era mais a procura da verdade justificada por uma tradição (e, portanto, uma verdade constituída coletivamente), mas de um ponto interior fixo, de uma certeza objetiva do sujeito.
A universalização da subjetividade é via moderna para garantir a objetividade do mundo, estando ela na base das principais concepções da modernidade. Essa é a base da estratégia contratualista que, formulada inicialmente por Hobbes, domina as teorias de legitimidade política moderna até os dias de hoje27. Também é essa a base tanto da estratégia dedutiva que orienta o pensamento lógico e matemático28 quanto da estratégia empirista que, apesar de todas as críticas dos epistemólogos dos séculos XIX e XX, ainda domina o pensamento científico29.
Todos esses elementos se vinculam à busca de uma verdade objetiva, fundada na evidência racional de certos fatos e argumentos. Esse é justamente o é o primeiro princípio cartesiano: “jamais aceitar alguma coisa como verdadeira que não soubesse ser evidentemente como tal”. As identificações da verdade com a razão, da racionalidade com a impossibilidade subjetiva da
27 Com base na universalidade do interesse de garantir a própria vida, prova-se que cada homem individualmente deveria escolher a submissão e, portanto, fundamenta-se a autoridade do poder estabelecido.28 Com base na universalidade da racionalidade, toda dedução matemática devidamente demonstrada é entendida como uma verdade universal.29 Com base na universalidade da intuição sensível, provado indutivamente que uma regra geral é extraída de observações empíricas que poderiam ser feitas por qualquer sujeito, fundamenta-se a veracidade de uma proposição.
71

dúvida e da certeza objetiva com a evidência racional, elas podem ser tudo, menos evidentes e certas.
Para os medievais, a verdade última estava na metanóia (uma compreensão da verdade para além da limitada razão dos homens), que era talvez certa, mas não poderia ser evidente, já que essa era uma via aberta para poucos. Com a valorização moderna da evidência empírica, foi criada uma nova racionalidade, fundada em uma nova metafísica. Desde este momento até a desconstrução do conceito de evidência, feita por Hume e Kant no século XVIII, a história do pensamento moderno pode ser lida como a história de um conhecimento que considera evidente.
O olho que não se vêMas qual era o fundamento dessa evidência? Evidentemente, era a própria razão, pois
tratava-se de uma evidência racional tudo aquilo que a razão não poderia pôr em dúvida sem recair em absurdo. A modernidade buscou a transcendência, o dever, a salvação, a felicidade e a virtude, mas sempre por meio da certeza racional. Ela efetuou a separação entre a certeza imotivada da fé (que não foi abandonada, mas passou a ser uma virtude ligada apenas aos aspectos da religião) e certeza motivada da filosofia e das ciências (ligadas ao pensamento fundado em evidências racionais), de tal forma que se pode falar de uma secularização do pensamento filosófico e científico.
Mas que razão era esta? Essa pergunta não foi respondida, pois a razão era o instrumento com o qual se olhava o mundo e, portanto, ela própria não podia ser tematizada. Os pensamentos podiam ser racionais, mas o próprio pensar era uma realidade objetiva que se impunha ao cogito cartesiano. Penso, logo existo.
Embora a modernidade não tenha respondido a esta questão, ela estabeleceu o critério básico de racionalidade (a evidência) e criou uma nova mitologia, fundada em um novo conceito de homem, em um novo ideal de verdade, uma verdade secularizada e voltada para a análise racional das coisas finitas (que são aquelas que cabem na razão), especialmente do próprio homem.
Essa redução da verdade à certeza pode soar hoje como uma infinita pretensão: a negação dos tradicionais limites reconhecidos à razão, que passou a ser utilizada como critério único para todo o pensamento humano, fosse ele vinculado física, à ética ou à lógica. Esse processo de criação de um novo homem, de uma nova razão, de uma nova objetividade, foi gestado ao longo de séculos e alcançou sua maturidade no início do século XVII, época que marca o início da modernidade filosófica.
Mas a modernidade é caracterizada justamente por essa pretensão de fazer o pensamento humano abarcar a totalidade do mundo e, simultaneamente, submeter todo o pensamento humano a uma só matriz, afirmando como único critério de verdade evidência perante o sujeito. Nesse processo, o mundo greco-romano reinterpretado pela cultura tardo-medieval, elegido como parâmetro de correção pelos os renascentistas, passou definitivamente ao passado, transformando-se na Antigüidade que é história e não modelo. Trata-se da época em que Descartes colocou o sujeito como o fundamento da certeza filosófica, em que Hobbes tentava substituir uma fundamentação teológica do poder por uma fundamentação racional, universalizando a aceitação subjetiva da autoridade.
Esses pensadores inventaram um novo modo de perceber a história, em que o presente ultrapassa e suplanta o passado e o novo é sinônimo de bom. Eles julgaram ter encontrado a luz que os levaria para fora da caverna (não percebendo que eles haviam simplesmente inventado uma nova lanterna), e nós ainda vivemos no mundo que eles compuseram com seus novos instrumentos.
A partir desse momento, a redescrição unitária e matematizada do mundo ganhou os contornos de única descrição correta da realidade. Foi o tempo em que a perspectiva linear passou a passou a ser entendida por muitos como o sistema correto de representação do mundo, e quando Galileu deu o último passo na matematização do conhecimento físico, traduzindo as constantes do mundo em equações matemáticas. Esse momento foi tão vital para as ciências que hoje é tipicamente conhecido como Revolução Científica.
Foi também esse o tempo que Cervantes inventou o romance moderno, voltando sua ironia demolidora contra as idéias medievais refletidas na loucura de Dom Quixote. Nessa mesma época,
72

Shakespeare criava um novo sujeito no teatro, analisando desnudando a personalidade desse novo homem que surgia e Rembrandt pintava sua lição de anatomia, mostrando o orgulho das novas academias de ciências.
Olhando com os olhos contemporâneos, creio ser correto afirmar que a modernidade inaugurou um novo modo de pensar o mundo, mas não inaugurou um novo modo de pensar o próprio pensamento. Nesse campo, longe de promover uma ruptura com o modo tradicional de pensar, a modernidade simplesmente inaugurou uma nova tradição, com ídolos e crenças novos, porém fundados nas velhas idéias de naturalidade e evidência.
Então, o que mudou frente às concepções tradicionais não foi propriamente o objetivo reconhecido às ciências e às artes, mas a fixação da utopia de que era possível observar o mundo a partir de uma perspectiva objetiva. Mas a arte e a ciência ainda eram entendidas como a representação de um mundo objetivo, de um ponto de vista pretensamente objetivo e único, que pudesse organizar a experiência humana e construir uma representação perfeita do real. Esse novo critério de objetividade foi chamado de racionalidade.
Contra o pluralismo medieval, com suas crenças “ingênuas” e suas supertições “ridículas”, era preciso erguer o edifício da Verdade. E a Verdade, por ser a representação de um mundo objetivo, era única. Como há apenas uma verdade, o conhecimento verdadeiro não pode ser validamente contestado e duas verdades nunca podem estar em contradição. Nasce, então, a Ciência. Contra o pluralismo contraditório e multiforme do senso comum, uma só Racionalidade, um só Mundo, uma só Verdade.
E a Ciência, no fundo, é uma só, pois, sendo o conhecimento do mundo, todas as ciências particulares precisam dizer coisas compatíveis entre si. Portanto, há apenas um método científico, que deve conduzir à verdade, que é objetiva e acessível ao home. Nesse ponto, empiristas e racionalistas só divergem no detalhe, pois se ambos discordam do valor a ser dado para fatos empíricos, ambos concordam que a racionalidade é a base da ciência.
Na arte, Arnold Hauser aponta que o espaço da arte gótica é dominado pela justaposição de detalhes, de modo que a obra individual é composta por numerosas partes relativamente independentes, dominadas por um senso de coordenação e não de subordinação. A sobreposição de tempos e espaços diferentes dentro de uma mesma obra é recusada pela Renascença, que construiu um espaço plástico homogêneo, em que tudo o que pode ser apreendido é visto a partir de um mesmo ponto no espaço e no tempo. Essa concepção simultânea somente é possibilitada pela homogeneidade propiciada pela perspectiva central, que organiza toda a cena em torno de um único ponto.
Esse tipo de objetividade, porém, não resistiu às críticas da modernidade madura, especialmente às críticas demolidoras de Hume e às quase-desesperadas tentativas kantianas de remendar o projeto da modernidade. Esses pensadores colocaram em xeque a objetividade das nossas representações do mundo. Questionando a idéia de causalidade, o Hume demonstrou que a certeza científica sobre fatos empíricos estava assentada sobre uma crença. Tentando salvar a verdade absoluta da matemática e da física frente as dúvidas levantadas pelo jovem Hume, o velho Kant teve que construir a revolucionária idéia de que o nosso conhecimento não é uma representação objetiva e direta do mundo, mas um fruto do modo humano de olhar o mundo. Depois desses pensadores, a triunfante modernidade
A objetividade mudou o foco: da objetividade frente às coisas, chegamos à objetividade frente aos homens. De uma racionalidade vista como o modo correto de perceber as coisas objetivas, partimos para uma racionalidade que é o modo objetivo como os homens percebem as coisas. Apesar da grande mudança no sentido, a palavra permaneceu a mesma: a Racionalidade.
Voltando ao paralelo com as artes, é possível identificar essa radicalização kantiana no impressionismo do final do século XIX. Monet, Renoir, Pissarro, todos eles perceberam que a pintura acadêmica de Ingres, inspirada ainda pelos princípios do Renascimento, não mostravam o mundo como ele é. A perspectiva renascentista e os modos tradicionais de pintar foram percebidos como uma série de convenções que tentavam conquistar a ilusão de tridimensionalidade a partir de jogos de claro e escuro, jogos nos quais a verdadeira luz se perdia, pois sem a gradação do claro e
73

do escuro era impossível construir a perspectiva. Com esse tipo de técnica é impossível, por exemplo, pintar uma paisagem ao ar livre, e isso é algo que nós vemos.
Para os impressionistas, era preciso pintar exatamente o que o olho enxerga, e eles se esforçaram para pintar a luz exatamente como o olho humano a vê. Para quem acredita na objetividade do mundo, as várias pinturas de Monet da Catedral de Rouen são uma repetição talvez entediante, de visões sobre um mesmo objeto. Mas Monet pinta a luz, e a luz é diferente em cada uma das situações... a catedral já não é o objeto da pintura., mas o modo como o próprio Monet enxerga a luz em determinadas condições atmosféricas. E aí está a revolução: não se tratava de pintar o mundo, mas de pintar o modo como o homem via o mundo, de pintar a luz (que é o que vemos) e deixar que o olhar do observador construísse a imagem. Uma pintura de Seurat ou de Signac, que levaram ao extremo esse objetivo, não passa de uma série de pontos de cores básicas, que nossos olhos percebem como gradações de cor, desde que elas sejam olhadas suficientemente de longe.
Assim, a modernidade madura dos século XVIII e XIX mudou completamente o objeto de representação, mas, tal como Kant, manteve intangível o ideal de objetividade: objetivo não é o mundo, mas o modo de olhar. Porém, a objetividade do modo de olhar garante a objetividade das imagens. De toda forma, os impressionistas ainda supõem pintar o modo como vemos a luz e, sendo a luz externa a nós, a dualidade sujeito objeto ainda permanece no centro de sua concepção, pois a obra de arte ainda tem uma referência externa a ela mesma. A arte impressionista ainda não é a constituição de objetos, mas a representação de objetos, motivo pelo qual o impressionismo representa a modernidade madura e não a sua superação.
Mas, o chegar nesse ponto, foi praticamente impossível evitar que os revolucionários pensadores e artistas do início do século XX, seguindo as intuições de alguns gênios extemporâneos do século XIX, especialmente de Nietzsche, Cézanne, Gauguin e van Gogh, olhassem para o espelho. Qual não deve ter sido o susto quando perceberam que a Racionalidade não era racional. Que a pretensa objetividade racional não era uma forma objetiva de ver o mundo, mas uma certa forma de construir um mundo. Daí para a percepção de que o artista não refletia o mundo, mas criava obras que constituíam um objeto independente no mundo, não faltava muito. E foi esse passo que abriu caminho tanto para a arte abstrata e conceitual quanto para a hermenêutica.
A imagem no espelhoCuriosamente, a racionalidade moderna é um conhecimento pelas causas eficientes (para o
mundo) e formais (para a lógica) e, feita uma análise crítica da própria racionalidade, ela precisa admitir que parte de algumas idéias que não podem ser comprovadas. Se a base da evidência indutiva é a crença (crítica essa que representa uma radicalização das idéias de Hume), então não existe uma Racionalidade racionalmente demonstrável. Talvez o golpe mais duro nessa visão unificada, embora o menos evidente para as pessoas em geral, foi a elaboração das matemáticas não-euclidianas no século XIX, que sepultando a idéia da matemática única, demoliu as bases da unificação do pensamento moderno.
A utopia da verdade única, do espaço homogêneo do renascimento, passou a ser vista como uma concepção ingênua e ultrapassada. Se a modernidade era ultrapassada, então era preciso criar um novo nome, pois o moderno é aquilo que ultrapassa e não o que fica para trás. Por isso, no campo das artes, o que atualmente chamamos de arte moderna foi a arte que surgiu, no início do século XX, como uma ruptura radical do espaço plástico renascentista. Mas, na filosofia, ainda permanece a convenção de chamar de moderna a ruptura com o medieval, o que nos fez designar as reflexões contemporâneas pela expressão pós-modernidade, esse termo ambíguo e provisório que tem a virtude de indicar que não sabemos bem onde estamos, mas sabemos que as velhas bússolas já não são capazes de nos orientar.
Os tradicionais explicitaram seus pressupostos, mas não se preocuparam em os justificar. Os modernos passaram séculos tentando fundamentar racionalmente as bases do seu pensamento, até terem que admitir que os pressupostos de uma teoria não são sujeitos à prova, pois ele sempre estão para além da própria teoria. A modernidade tardia teve que capitular, reconhecendo o vazio
74

dessas tentativas de fundamentação, pois seria logicamente impossível fundamentar o fundamento último.
O processo de superação desse trauma é duro e ainda está em pleno desenvolvimento. Na arte, ele significou um rompimento com a função representativa da arte, ligando-a mais à expressão ou provocação de sentimentos do que à representação de algo ou do Belo. Na filosofia, ele levou a conjecturas como as de Deleuze e Guattari, que consideram o filósofo como um criador de conceitos e não como alguém que contempla o mundo.
Nesse meio termo, certas concepções tentam reconstruir a modernidade em novas bases, buscando novos pontos de objetividade na qual se possa construir um critério único de verdade. Popper tentou substituir a falida comprovação da verdade por uma comprovação objetiva da falsidade. Kuhn introduziu uma noção de paradigma que implica a idéia de que, exceto em situações excepcionais de giro paradigmático, existe um conjunto de concepções apto a servir como critério suficiente de verdade. Em certo sentido, essas concepções representam a continuidade da busca de um chão firme em meio às idéias transitórias, da busca de uma objetividade possível, em meio à instabilidade de sentidos.
O homem da modernidade tardia era um homem cindido, como Weber ou Goethe, como os pré-rafaelistas e os neojusnaturalistas. Eles eram forçado a reconhecer o desencantamento do mundo, mas esse desencantamento era sentido como uma falta. O mundo, sem um conjunto de idéias que lhe atribua um sentido, é um lugar que para muitos pode parecer demasiadamente árido.
Em grande parte, o romantismo do século XIX pode ser visto como a projeção do sentido em um passado idealizado, em um tempo anterior à modernidade e à própria razão. Frente a uma razão que se sabe (ou intui) fragilizada, muitos buscaram suas forças em outras fontes: tradição, sentimento, paixão, instintos. Mas os românticos não eram medievais: eles viviam em dois mundos e sabiam que eles eram incompatíveis.
Nunca vi tamanha repetição da palavra racionalidade como na introdução de Weber ao célebre ensaio A ética protestante e o espírito do capitalismo, de 1905, na qual ele tenta caracterizar a racionalidade como uma peculiaridade da cultura européia, não percebendo que a racionalidade européia é apenas uma das perspectivas possíveis de o homem lidar com suas próprias experiências. Essa quase litania da racionalidade não poderia surgir senão em contextos de crise, que exigem afirmação ou a reafirmação das crenças fundamentais. E tudo duas décadas depois de Nietzsche ter escrito o seu Zaratustra, proclamando a morte da Razão moderna.
Na filosofia do direito, creio que a manifestação mais clara dessa cisão está na teoria pura do direito de Kelsen. Após insistir em uma fundamentação neokantiana da norma fundamental, Kelsen passou a afirmar que o fundamento do direito é hipotético, chegando mesmo a reconhecer, em obra não publicada em sua vida, que a norma fundamental não passa de uma ficção epistemológica.
Essa consciência kelseniana traduz, de modo acabado, a cisão do pensador moderno: uma teoria moderna sempre pretende falar sobre o mundo e, portanto, precisa supor que o mundo existe e pode ser conhecido. Mas essa pressuposição é percebida como ingênua e insustentável. Então, já que a razão não oferece bases sólidas para a construção da teoria, é preciso, é preciso fingir que essas bases existem, para ser possível um discurso científico porque racional. E outro não é o sentido da ficcionalidade da norma fundamental.
Essa situação de cisão interna, de reconhecimento do limite da razão e do inconformismo com esse próprio limite, tem seus reflexos também na arte, especialmente quando ela se desvinculou do Belo ou do Sagrado. Até hoje, muitos sentem a ausência de beleza nas obras de arte como uma perda, talvez irreparável em virtude dos tempos, mas uma perda a ser sentida e quiçá lamentada. Esse fato pode ser percebido na pintura abstrata de Kandinsky, na música dodecafônica de Schoenberg, na literatura contemporânea de Joyce.
Então não há critérios objetivos para definir o que é arte? Não mais do que para definir o que é verdade. A superação do pensamento tradicional (e a modernidade não passa de uma tradição) sobre o próprio pensar passa necessariamente pela superação da própria necessidade de fundamentar. É preciso admitir, sem amargura, que nosso pensamento carece de bases sólidas e que
75

não há um critério objetivo de verdade. Sem isso, estaremos reconstruindo a armadilha moderna, de identificar com a razão os critérios que nos parecem naturais. Todos os modernos caíram nessa tentação ao tentar fundamentar os valores básicos, como a Verdade e Ética.
Se o pensamento não é fundamentado, então ele não representa uma verdade, mas pode instaurar uma verdade, assim como um pintor pode instaurar uma nova estética, como fez Kandinsky ao inventar a pintura abstrata ou Picasso e Braque ao inventarem o cubismo a partir da inspiração de Cézanne. Mas, se as teorias científicas não são representacionais, elas são o quê?
Mapas de mapas de mapasToda teoria é uma metáfora e toda metáfora é um “poema em miniatura”. E a poesia não
representa a beleza que está no mundo, mas inaugura uma beleza própria, que somente existe dentro do universo da própria poesia. Inclusive, belos sentimentos costumam inspirar muitos maus poemas, como dizia Wilde com outras palavras.
A teoria é algo que se cria, algo que se instaura, algo que não precisa de justificação externa a ela mesma. Em especial: a falta de fundamentação não é um problema para a poesia porque a poesia, como o amor, não busca fundamentação. Ambos limitam-se a existir, e perguntar-se sobre os motivos que levam uma poesia a ser bela é como perguntar-se sobre os motivos que levam uma pessoa a amar outra. A resposta pode ser uma bela teoria, que elabore um sentido para aquilo que não tem.
Se toda teoria é uma metáfora, então a explicação da teoria é uma metáfora sobre a metáfora. Mas não vale a pena cunhar o termo meta-metáfora porque, além de redundante, ele seria equivocado. A teoria é uma teoria de alguma coisa e, portanto, faz sentido falar em uma metateoria. Já a metáfora não é metáfora de alguma coisa, mas a criação de um sentido novo. Como afirma Ricoeur, as metáforas não são traduzíveis porque criam o seu próprio sentido. Elas podem ser parafraseadas, mas “uma tal paráfrase é infinita, incapaz de exaurir o sentido inovador”. Portanto, a metáfora de uma metáfora é uma metáfora nova, com novos sentidos.
O problema da modernidade é que ela tentou fazer da ciência uma paráfrase, sem perceber que, no fundo, estava construindo metáforas. E toda metáfora é perigosa, pois carrega em si possibilidades imprevisíveis de significação, como os aforismos de Nietzsche. Mas nesse perigo resta sua própria força, pois “não existem fatos, só interpretações”.
Na falta de um acesso direto que nos permita mostrar o mundo como ele é (uma espécie de paráfrase), construímos um discurso teórico que é a instauração de uma descrição lingüística do mundo. Então, toda teoria pode ser vista como um mapa de um terreno imaginário, como o Aleph de Borges ou as cidades invisíveis de Calvino.
A metáfora cartográfica, muito presente nas teorias de Deleuze e Guattari e atualmente retomada por Boaventura, parece-me a mais adequada para organizar nossos conhecimentos acerca do conhecer. De acordo com esse modelo de compreensão, conhecer é (ou é como se fosse) traçar mapas. Creio que a principal virtude dessa perspectiva é evitar uma das maiores fontes de distorções ideológicas no campo da ciência, que é a quase onipresente confusão entre o conhecimento e o mundo. Como os mapas evidentemente não são o mundo, mas uma representação resumida e esquematizada daquilo que chamamos de realidade, a metáfora cartográfica ao menos põe um freio na nossa tendência idealista de resumir a coisa ao modelo que elaboramos para representá-la.
Além disso, ninguém imagina que um mapa cai do céu ou que está presente, imutável, em alguma espécie de mundo das idéias platônico. O mapa é sempre uma construção humana, tal como o conhecimento.
Também nos é muito razoável a idéia de que é preciso haver vários mapas sobre um mesmo terreno. Mapas que podem ter escalas imensas, quase 1:1, e acentuar todos os detalhes de uma determinada situação, evidenciando, por exemplo, cada curva de nível existente em um determinado monte. Eles podem ter escalas medianas, nas quais as peculiaridades de um determinado monte se perdem, mas é possível enxergar a serra traçando os seus caminhos sinuosos. E podem ter escalas mínimas, chegando ao extremo do mapa-múndi, em que nada resta de particular na representação.
76

Cada mapa desses serve a funções diferentes e representa coisas diversas. Um mapa físico, um político, um hidrográfico, um histórico, cada um deles tem o seu espaço e ninguém é louco o suficiente para afirmar que um deles é absolutamente melhor que os outros. O que se espera é que cada um deles cumpra bem algumas funções específicas.
Como não faltam pessoas para defender a primazia de uma determinada forma de conhecer (normalmente chamada de científica) ou que pretendem construir teorias que abranjam todas as facetas de um mesmo problema (como se o conhecimento fosse um inútil mapa de escala 1:1), a metáfora cartográfica parece-me oferecer um modelo extremamente produtivo para pensar o processo de conhecimento.
Especialmente porque a cartografia não possibilita apenas a elaboração de mapas individuais, mas também o estabelecimento de relações entre os mapas existentes, para retirar deles os conhecimentos relevantes. Essas relações, obviamente, não vêm prontas, mas precisam ser estabelecidas pelo intérprete. Se essas relações são possíveis, é porque somos capazes de enquadrar os diversos mapas em uma visão mais abrangente, que sirva como base para que sejam identificados os pontos de contato e de afastamento. Na nossa metáfora cartográfica, essa visão mais abrangente somente pode ser identificada como um outro mapa.
Esse metamapa (ou seja, uma cartografia de mapas e não de terrenos), por sua vez, pode abranger uma determinada região da cartografia, mas provavelmente ele não será capaz de abranger todos os mapas do mundo. Então, é possível imaginar um meta-metamapa (ou seja, um mapa de mapas de mapas), que tente ser ainda mais abrangente, servindo como ponto de encontro dos vários metamapas parciais. No limites, teríamos um meta-meta-meta-metamapa, ou seja, o mapa mais abrangente e genérico que se pode imaginar, que deveria representar o terreno comum entre todas as cartografias.
Esse mapa dos mapas, que seria uma espécie de mapa-múndi do conhecimento humano, por ser demasiadamente geral, teria um baixíssimo grau de detalhamento. E, se não fosse assim, seria inútil, pois o excesso de minúcias tornaria o mapa tão imenso que impediria a qualquer intérprete a formação de uma visão de conjunto.
Porém, apesar de sua generalidade, o supermetamapa teria que ser tão amplo que não caberia em uma folha só. Assim, nós somente o encontramos de forma fragmentada, como uma série de pedaços. Ocorre, porém, que as suas várias partes não formam um todo muito coerente. Isso se explica pelo fato de que os vários mapas específicos que ele precisa topografar não são homogêneos e dizem coisas contraditórias. O mapa da poesia não diz sobre o homem o mesmo que o mapa da medicina. E menos ainda o mapa da poesia brasileira não diz sobre a mulher o mesmo que a psicanálise freudiana.
Não custa relembrar que o supermapa não é um composto dos mapas individuais: os mapas individuais cartografam topografias e os metamapas cartografam cartografias. Como eles têm objetos diversos, embora relacionados, não se pode esperar olhar para o metamapa e ver, dentro dele, os conhecimentos da física quântica. O que se pode esperar é encontrar algumas noções que dêem um espaço para a física quântica e a relacionem com os outros conhecimentos, possibilitando o diálogo entre os mapas diversos.
Para dar conta de uma tarefa tão imensa, o supermetamapa precisa ser contraditório (pois guarda dentro de si muitos contrários) e vago, repleto de ambigüidades e potencialidades sutis de sentido. Se tivéssemos que apontar o metamapa mais próximo do supermetamapa, eu creio que ele seria o da poesia em geral, com todas as suas multiplicidades semânticas.
Visto com cuidado, o supermetamapa mostra-se repleto de vazios e de sobreposições, de símbolos imprecisos, de duplicações inexplicáveis, de distorções muito evidentes da realidade. Mas esse mapa, não deve ser olhado muito de perto. Aproximar-se demais dele é como mirar de muito perto uma aparelho de televisão ou um quadro impressionista: a imagem que esses instrumentos proporcionam somente se revela plenamente a partir de uma certa distância.
Esse grande mapa é o senso comum. Sua função é ficar à distância e servir como base para que dialoguem entre si os mapas mais incongruentes (da poesia à física quântica), oferecer algumas
77

simbologias gerais que terão ecos nos outros mapas (como a unidade, a causalidade ou a simultaneidade), mas que serão diversas em cada um deles, especialmente nos de grande escala.
O sonho da ciência moderna era fazer um grande mapa, perfeito, que substituísse essa colcha de retalhos incongruentes por um mapa sistemático e racional. Em lugar de sobreposições e vazios, um espaço homogêneo e contínuo. Em lugar de signos de conteúdo variável, uma linguagem bem definida e sem ambigüidades, normalmente identificada com a matemática. Construída essa base sólida, todos os outros mapas deveriam ser uma especialização desse grande mapa: no fundo, todos eles seriam parte do mapa.
Assim, é como se houvesse um grande mapa geral, que pudesse ser apreendido em uma escala muito pequena: um mapa-múndi do conhecimento. A escala desse mapa, contudo, poderia ser ampliada, incluindo os elementos que foram inicialmente articulados em mapas de escala um pouco maior (a física, a biologia, a química, o direito). E poderia ser ampliada ainda mais, englobando-se no mapa características ainda mais específicas (espeleologia, entomologia, pediatria, lógica) e cada vez mais específicas (estudo da formação de estalagmites, estudo da reprodução de uma espécie de tubarões, estudo das reações das crianças de seis anos a um determinado agente alergênico, estudo das implicações lógicas envolvendo uma combinação entre os operadores deônticos de obrigação e permissão, etc.).
Embora cada um desses mapas específicos houvesse sido historicamente construído de forma independente, deveria ser possível unificá-los no grande mapa do conhecimento científico. Imaginem a imensa satisfação do primeiro homem a unificar os vários mapas antigos e estabelecer o primeiro globo terrestre. Após limitar as incongruências dos mapas isolados, compará-los, descartar as imperfeições, inventar modos de fazer dialogarem perspectivas diferentes... A unidade, essa idéia mágica que os pré-socráticos buscaram na natureza, os escolásticos em Deus, a modernidade na razão: uma perspectiva única, que fosse capaz de servir como chave de compreensão para todos os mistérios do mundo.
Creio que a imagem arquetípica da ciência contemporânea foi oferecida em uma série de TV dos anos 80, voltada à divulgação científica, chamada Cosmos: uma câmera focaliza a Via Láctea; aproxima-se de um de seus braços, onde encontra o sistema solar; daí, centra-se gradualmente na terra, em um continente, em um país, em uma cidade, em um bairro, em uma rua, em uma pessoa, em uma mão, em uma célula, em uma molécula, em um átomo, em um elétron, em um fóton, etc. Cada um desses elementos é visto como um close de um grande e imenso mapa, que poderia ser infinitamente ampliado (na medida da infinitude do universo) ou reduzido (na medida da infinita divisibilidade do espaço), mas que sempre guardaria absoluta unidade com os mapas intermediários.
Essa unidade completa é o objetivo máximo da ciência moderna. A fragmentação do senso comum é o principal limite posto a essa unidade, e creio ser ela um limite que não pode ser ultrapassado. Portanto, em vez de distorcer ainda mais os mapas, na tentativa de unificá-los, prefiro a busca de cartografar os mapas e metamapas, sabendo que esse processo é uma eterna simplificação (não representamos, mas esquematizamos o real), que ela é criadora (traçamos e não descobrimos os mapas) e que ela nunca leva a uma perfeita unidade (utopia tipicamente moderna).
Artigo de João Paulo para a 2ª unidade
Pluralismo Político e Jurisdição Constitucional : O Procedimentalismo Democrático como Alternativa Hermenêutica para a Superação da Dicotomia
Liberalismo versus Republicanismo - Uma Síntese.
Introdução
78

Desde meados da década de 80, as transformações observadas no contexto sócio-político-econômico mundial têm determinado significativos impactos institucionais, provocando a rediscussão dos princípios que informam o projeto social e político da modernidade. Com efeito, o fim da guerra-fria e a expansão do mercado em escala global têm provocado uma profunda reflexão sobre o papel do Estado e das categorias a ele tradicionalmente vinculadas, tais como Soberania, Democracia, Cidadania e Constituição nesse momento de perplexidades.
Se no berço da modernidade o ideal de integração social como pressuposto da felicidade e do bem-estar pareciam objetivos fáceis de serem atingidos fosse através de vínculos tais como a nacionalidade, ou a cidadania, o que se observa hoje é uma certa dificuldade do Estado em manter a coesão através do recurso a estes velhos conceitos.
Na verdade, de modo geral, os Estados apresentam hoje na sua base social uma diversidade crescente, determinada pelo crescente individualismo e acirrada pela derrubada de fronteiras em um mundo globalizado, provocando como resultado uma fragmentação social com força cada vez mais destrutiva e desagregadora. Com efeito, para além das diferenças sociais, culturais, econômicas, religiosas e étnicas intrínsecas a qualquer formação social, correntes migratórias diversas, proporcionadas pela redução dos espaços entre os povos, proporciona um contato cada vez mais intenso entre pessoas com valores, crenças e concepções de mundo cada vez mais diferentes.
As sociedades contemporâneas são, pois, marcadas pela complexidade e pelo pluralismo (são multiculturais e multiétnicas). Isso traz à discussão a necessidade do estabelecimento de parâmetros político-institucionais que permitam a convivência entre as pessoas num ambiente marcado pela diferença30.
É dentro desse contexto que orgulhos nacionais são afirmados com cada vez mais força, impulsionando a intolerância e fundamentalismos diversos, trazendo permanentes desafios à prática democrática.
Ainda que esta discussão tenha adquirido impulso naquelas sociedades do leste europeu e da América Latina, recém saídas de regimes autoritários, e ainda em processo de aprendizagem e consolidação democrática, o problema. parece atingir indistintamente os países “centrais” e “periféricos”, em um processo de “periferização do centro”31
De certo modo, acreditou-se que o triunfo da ideologia liberal-democrática pudesse sepultar definitivamente os conflitos étnicos, religiosos e nacionalistas, afastando-os para um passado cada vez mais distante. No entanto, é preciso considerar os limites de qualquer racionalidade sobre as paixões e emoções como forças capazes de operar significativas transformações sociais. (Mouffe, 1999: 11-12)
Por outro lado, o desaparecimento da oposição entre totalitarismo e democracia, binário que servia para distinguir quem era “amigo” e quem era “inimigo” leva a uma certa perplexidade e incerteza. Daí a necessidade de redefinição de uma “nova fronteira política” como forma de superação da crise estabelecida32.
30 As diferenças se manifestam tanto entre os povos dos diversos Estados como dentro do povo de um mesmo Estado. Vale lembrar nesse sentido que a intolerância se manifesta com relação ao outro, aquele que é diferente. Nesse sentido, na realidade brasileira, são vítimas da intolerância grupos diversos tais como o índio, o negro, o nordestino.31 “O problema deixa de ser uma singularidade dos chamados ‘países periféricos’, em que o Estado democrático de direito, a rigor, nunca se realizou de maneira satisfatória, e estende-se aos ‘países centrais’, especialmente àqueles da América do Norte e da Europa ocidental desenvolvida, nos quais o modelo de Estado democrático de direito como Estado de bem-estar teve um êxito considerável. Nesse sentido, cabe falar mesmo ode tendência a uma ‘periferização do centro’. Problemas sociais típicos que se relacionam com a ‘exclusão’ social tendem a se expandir em escala global, de tal maneira que mesmo a concepção do primado da diferenciação funcional na sociedade mundial se torna questionável”. (Neves, 2001: 354)32 “A desaparição da oposição entre totalitarismo e democracia, que havia servido como principal fronteira política para discriminar entre amigo e inimigo, pode conduzir a uma profunda desestabilização das sociedades ocidentais. Com efeito, afeta o sentido mesmo da democracia, pois a identidade desta dependia em grande parte da diferença se havia estabelecido a respeito do outro que a negava. portanto, é urgente redefinir a identidade democrática e isso não pode ser feito senão através do estabelecimento de uma nova fronteira política” (Mouffe, 1999: 12).
79

A partir de qual elemento é possível dar uma conformação de unidade ao grupo social? Qual a conformação político-social capaz de conferir uma unidade ao grupo? Quais são, pois os elementos que informam o pacto que viabiliza a convivência social? E no contexto da jurisdição constitucional, qual deve ser a preocupação central do magistrado? Deve a jurisdição constitucional se preocupar prioritariamente com a defesa das minorias, atuando contramajoritariamente, ou deve atuar como uma instância capaz de tutelar os valores éticos partilhados por uma sociedade politicamente organizada?
As respostas a estas perguntas estão muito longe de serem unânimes, havendo pois uma certa variedade de soluções possíveis para o problema. Trabalharemos aqui com duas matrizes, que enfrentando o problema apresentaram resultados distintos. A primeira matriz é dada pelo liberalismo, enfatizando o aspecto da autonomia moral do indivíduo como ser dotado de razão e capaz de buscar de modo uniforme os mesmos princípios de justiça em qualquer tempo e espaço. Tal concepção é formulada de modo mais perfeito e acabado por John Rawls, através da sua conhecida idéia de justiça como equidade. O liberalismo pretende estabelecer uma unidade a partir do referencial da autonomia individual. Na formulação Rawlsiana, haveria um certo consenso em torno dos princípios de justiça que devem informar a construção de uma sociedade.
A segunda matriz é apresentada pelo comunitarismo, herdeiro da tradição republicana, que ao contrário do liberalismo, rejeita as soluções universalistas antes pedindo atenção para os aspectos sócio-culturais particulares nos quais se inscreve o grupo humano, valorizando a sua contextualização histórica e a força de suas tradições.
Para a hermenêutica liberal, amparada em uma pretensão universalista, os mecanismos do judicial review voltados à proteção dos direitos individuais, são adequados à preservação do pluralismo, enquanto variedade de concepções individuais do bem. Para os comunitaristas de modo diverso, é impossível pretender engendrar critérios universalmente aceitos, já que a contextualização histórico-social dos diversos grupos sociais determinam a necessidade de soluções relativistas.
Como alternativa, apresentamos o modelo habermasiano que vê tanto na perspectiva liberal como na perspectiva comunitarista falhas na abordagem do problema, antes reclamando a necessidade de uma solução combinada entre as virtudes tanto do liberalismo como do comunitarismo. Assim, se por um lado, na tese liberal é acertada a defesa do espaço de realização dos projetos individuais, por outro lado o comunitarismo acerta ao apontar a necessidade de mecanismos que permitam a coesão e cooperação do grupo. Com isso, Habermas estabelece uma síntese entre esfera pública e esfera privada, ancorando o consenso sobre a organização social numa perspectiva processualista fundada na ação comunicativa.
Assim, a tese proposta consiste em demonstrar a insuficiência da análise do problema da democracia em sociedades complexas em função do binômio liberalismo versus republicanismo (comunitarismo). Para superar este impasse, apresentamos como hipótese adequada o modelo habermasiano fundado na ação comunicativa, e no modelo de democracia deliberativa que promove uma interação bastante frutífera entre o universalismo liberal e o relativismo comunitarista.
Assim, o consenso em sociedades pluralistas, jamais pode ser dado definitivamente com respeito a conteúdos, os quais devem estar permanentemente abertos à modificação, como forma de afirmação do ideal democrático. Para que tal ocorra, porém, é preciso que exista um referencial hermenêutico adequado a essa tarefa. Um referencial hermenêutico que enxergue a relevância dos procedimentos inscritos na Constituição como forma de manifestação tanto das maiorias quanto das minorias.
1- Liberdade dos Antigos versus Liberdade dos Modernos: Atualizando o debate
Observando o modo como se apresenta a liberdade na modernidade e na antiguidade, considera Benjamin Constant que a idéia de liberdade tal como experimentada pelos antigos não é a mesma que a liberdade experimentada pelos modernos. Na antiguidade, a liberdade vinculava-se a uma participação positiva, a uma efetiva discussão e deliberação dos assuntos de interesse
80

coletivo em praça pública. Por esta concepção livre é aquele que participa do processo de formação da vontade do Estado.
Isaiah Berlin percebe igualmente a distinção entre o modo como a liberdade se manifesta, e considera que a liberdade está associada a um status de ação positiva.
Combinando-se as duas perspectivas, podemos admitir que na antiguidade a liberdade tem um caráter positivo, de participação nos assuntos públicos.
Comparada a liberdade dos antigos com a noção de liberdade na modernidade, percebemos uma ausência de coincidência entre as duas noções. Com efeito, se para os antigos a liberdade tinha um caráter positivo, na modernidade a liberdade assume características distintas. É ainda Benjamin Constant que esclarece que a idéia de liberdade moderna é traduzida pela não ingerência do Estado nos assuntos privados. Assim, para os modernos, livre é aquele que consegue afastar o Estado da sua esfera privada, garantindo o livre exercício de sua autonomia particular.
Essa perspectiva assume um caráter evidentemente negativo, já que a liberdade é exercida como uma forma de reação contra eventuais ingerências de outros indivíduos e mesmo do poder público na esfera privada de cada um.
Percebe-se através de Constant e Berlin, que enquanto os antigos valorizavam a construção da esfera pública, os modernos enfatizam a valorização da esfera privada.
A interpretação de Bobbio, porém, aporta novos elementos. Bobbio entende que a liberdade negativa dos modernos está vinculada ao ideal liberal, enquanto a liberdade positiva dos antigos vincula-se ao ideal democrático. Assim, “’liberdade’ significa ora a faculdade de cumprir ou não certas ações, sem o impedimento dos outros que comigo convivem, ou da sociedade, como complexo orgânico, ou, mais simplesmente, do poder estatal; ora o poder de não obedecer a outras normas além daquelas que eu mesmo me impus. O primeiro significado é aquele recorrente na teoria liberal clássica, segundo a qual ‘ser livre’ significa gozar de uma esfera de ação, mais ou menos ampla, não controlada pelos órgãos do poder estatal; o segundo significado é aquele utilizado pela doutrina democrática, segundo a qual ‘ser livre’ não significa não haver leis, mas criar leis para si mesmo.” (Bobbio, 2000: 101)
Esta concepção entende que o liberalismo é aquele modelo político que defende uma autonomia individual tão mais ampla quanto possível. De modo diverso a democracia dependeria do desenvolvimento de mecanismos capazes de promover o “autogoverno” do grupo social.
Posta nestes termos, a questão parece estar polarizada em dois extremos, como se democracia e liberalismo fossem reciprocamente excludentes.
Assim, é preciso verificar em que medida tais conceitos podem implicar-se mutuamente na construção de um modelo de organização social que seja adequado às sociedades contemporâneas.
Observando os modelos de organização social, percebemos uma forte identidade entre a idéia de liberdade dos antigos e o ideal republicano, enquanto percebemos também uma clara vinculação entre a noção de liberdade dos modernos e o pensamento liberal. Passemos a uma análise dos dois modelos:
2 – A Dicotomia Liberalismo versus Republicanismo
2.1 – O Republicanismo e a Relevância da Esfera Pública
81

Pode-se considerar que o republicanismo33 tem suas primeiras manifestações na antiga Grécia, com o modelo organizacional das cidades-estado. O republicanismo faz da esfera pública o centro de gravidade da organização social. Na Grécia distinguiam-se os âmbitos público e privado de atuação. No âmbito privado, na esfera da casa ou oikia, era reconhecido o governo de um só, enquanto na polis o governo era exercido por muitos governantes. Era na esfera de atuação pública que o cidadão encontrava-se entre iguais, atuando politicamente e dignificando a sua própria condição. Na verdade, uma das preocupações centrais do homem antigo é a preocupação com o bem como forma de realização da felicidade. Nesse sentido, para os antigos a felicidade, enquanto realização plena do ser do homem depende do exercício da virtude (arete). Para que isso ocorra, é preciso que o homem exerça a virtude no lugar que lhe é próprio, qual seja, a comunidade política. Daí a máxima aristotélica do zoon politicon segundo a qual “o homem é um animal político”.
É fácil perceber que a noção antiga de felicidade em nada se assemelha à moderna concepção de prazer, marcada pelo individualismo que o modelo liberal consagrou.
Assim, para Aristóteles a felicidade reside na realização da natureza humana, qual seja, a vida em comunidade (Galuppo, 2004: 339).
O tema da vida em comunidade foi retomado, já na modernidade principalmente a partir de Rousseau, com a idéia de contrato social fundado em uma “vontade geral”, cuja inspiração republicana é clara.
Registra David Held que “O republicanismo começou a desfrutar de uma espécie de revitalização no final do século XI, quando uma série de comunidades do norte da Itália estabeleceram seus próprios ‘consules’ ou ‘administradores’ para gerir seus assuntos judiciais desafiando os direitos papais e imperiais de controle legal. Até fins do século XII, o sistema consular foi substituído por uma forma de governo que incluía conselhos de governo dirigidos por funcionários conhecidos como podestá, com poder supremo em matéria executiva e judicial. O elemento central da argumentação republicana renascentista era que a liberdade de uma comunidade política se baseava em que a única autoridade a que havia de dar contas era a própria comunidade. O autogoverno é a base da liberdade, junto com o direito dos cidadãos a participar – em um marco constitucional que define distintos papéis para as forças sociais dominantes – no governo de seus assuntos comuns. De acordo com este ponto de vista, a liberdade dos cidadãos consiste na pela consecução dos fins que eles mesmos escolheram, e o mais alto ideal político é a liberdade cívica de um povo autogovernado e independente. A comunidade em seu conjunto ‘deve conservar em última instância a autoridade soberana’, assinando a seus diversos governantes ou magistrados ‘um grau superior ao de funcionários eleitos’. Tais governantes devem assegurar o cumprimento efetivo das leis promulgadas pela comunidade para fomentar seu próprio bem-estar, já que não são soberanos no sentido tradicional, senão ‘agentes’ ou ‘administradores’.
Na percepção de Sérgio Cardoso,
Esta postulação de uma esfera de interesses comuns, bem como a exigência do ‘império da lei’ (que inspiram ao republicanismo seus discursos relativos à moderação e à contenção dos desejos e interesses privados e mesmo ao desinteresse de si, em vista do amor pela cidade, e à abnegação, em função do empenho na promoção do bem público; enfim, as chamadas ‘virtudes cívicas’) assinaladas como elementos centrais e condições necessárias da existência das repúblicas, não são, no entanto suficientes para determinar o que ordinariamente chamamos regime republicano.
33 Sobre o conceito de republica, explica Sergio Cardoso que “Respublica, res populi: o que pertence ao povo, o que se refere ao domínio público, o que é de interesse coletivo ou comum aos cidadãos; por oposição a uma esfera de coisas e assuntos privados, relativos à alçada dos particulares, grupos, associações ou indivíduos. É certo que esta divisão não ocorre de maneira espontânea. Ela se impõe, justamente, pela postulação de um espaço público, dotado dos instrumentos que asseguram seu reconhecimento, o caráter coletivo de sua apropriação e suas regulações. Assim, o termo república não designa apenas a existência de uma esfera de bens comuns a um certo conjunto de homens, mas também, de imediato, a constituição mesma de um povo, suas instituições, regras de convivência e agências de administração e governo, cujas orientações derivam de um momento de instituição ou fundação política. República se diz, então, sobretudo dos ‘regimes constitucionais’, daqueles em que as leis e regulações ordinárias, bem como as disposições do governo, derivam dos princípios que conferem sua forma à sociedade e em que tais estabelecimentos, postos acima de todos, a protegem de todo interesse particular ou transitório, de toda vontade caprichosa ou arbitrária. Deste modo, o termo nos remete também à idéia de ‘governo de leis’ (e não de homens), de ‘império da lei’ e mesmo de ‘estado de direito’, expressões que declaram, na sua acepção mais imediata, a prescrição de que os mandam também obedeçam, mesmo nos casos em que a forma de governo não seja democrática e em que apenas alguns, ou mesmo um só, ocupam as posições de mando e postos de governo”. (Cardoso, 2004: 46).
82

O Republicanismo representa um momento importante do desenvolvimento político-institucional da humanidade, buscando reproduzir na renascença o ideal de participação ativa presente nas experiências da antiguidade clássica. (Held, 2001: 55)
Ao retornarmos aos textos dos humanistas do século XIV italiano, encontramos uma forte defesa da liberdade associada a valores ligados à condição do cidadão e não aos indivíduos”. Assim, enquanto o liberalismo constrói a democracia a partir do indivíduo, o republicanismo constrói a democracia a partir da visão do cidadão. (Bignotto, 2004: 21)
A experiência do cidadão ativo, contudo, entrou em declínio, cedendo espaço para uma progressiva diminuição da esfera pública. Mas que fatores determinaram o ocaso do republicanismo?
Para Held, a antítese do homo politicus é o homo credens. Com isso,
a visão cristã do mundo transformou a lógica da ação política da polis em um sistema teológico. A concepção helênica do homem, como ser concebido para viver em uma cidade, foi substituída pela preocupação pela forma como os humanos podiam viver em comunhão com Deus. Em agudo contraste com a concepção grega, segundo a qual a polis é a representação do bem político, a concepção cristã do mundo insistia na idéia de que o bem reside na submissão à vontade de Deus ... Até a Reforma acabar com a noção de uma única verdade religiosa, observou-se uma grande articulação entre a interpretação da vontade divina34 e o poder secular .
De qualquer sorte, é preciso destacar
...a importância que adquire no pensamento republicano a questão da participação política, da implicação efetiva de todos na expressão e realização do bem comum (a exigência que mais aproxima as repúblicas das democracias, os regimes fundados na convicção de que o interesse de todos melhor se realiza pelo igual concurso de todos, na formação das decisões políticas, do que pela inteligência ou virtudes de um ou de alguns). O regime republicano não propõe apenas que o poder seja contido por leis e se exerça para o povo, em vista do bem comum, mas exige ainda que seja exercido de algum modo, por todo o povo, ou ao menos em seu nome – nos casos em que se admite a representação política.
Para David Held,
O elemento central da argumentação republicana renascentista era que a liberdade de uma comunidade política se baseava em que a única autoridade a que havia de dar contas era a própria comunidade. O autogoverno é a base da liberdade, junto com o direito dos cidadãos a participar – em um marco constitucional que define distintos papéis para as forças sociais dominantes – no governo de seus assuntos comuns. De acordo com este ponto de vista, a liberdade dos cidadãos consiste na pela consecução dos fins que eles mesmos escolheram, e o mais alto ideal político é a liberdade cívica de um povo autogovernado e independente. A comunidade em seu conjunto “deve conservar em última instância a autoridade soberana”, assinando a seus diversos governantes ou magistrados “um grau superior ao de funcionários eleitos”. Tais governantes devem assegurar o cumprimento efetivo das leis promulgadas pela comunidade para fomentar seu próprio bem-estar, já que não são soberanos no sentido tradicional, senão “agentes” ou “administradores”.
2.2 – O liberalismo e o paradigma da autonomia individual
34 Esclarece David Held que “O cristianismo, por suposto não ignorou as questões acerca das regras e metas que os seres humanos devem aceitar com o fim de viver uma vida produtiva. Apesar de que o cristianismo foi imposto em muitas comunidades, dificilmente se haveria convertido em uma religião mundial se não houvesse sustentado valores e aspirações que, até certo ponto, são apreciáveis por si mesmos, em virtude de seu papel nos assuntos humanos. Mais ainda, seria um erro considerar o cristianismo como um abandono total da preocupação pelo tipo de ideais que haviam sido tão importantes para setores inteiros do mundo antigo. O ideal de igualdade, por exemplo, se conservou até certo ponto no cristianismo, ainda que em um contexto completamente distinto. Se há sugerido que a afirmação cristã da ‘igualdade dos homens perante Deus’, junto com a possível existência de uma comunidade na qual ninguém tem direitos morais ou políticos superiores, eram as únicas bases sobre as quais o valor da igualdade podia ser preservado para a sociedade em seu conjunto, em um mundo de excedentes econômicos mínimos, no qual a massa da população vivia perto ou abaixo do nível de subsistência. Nessas condições, a concepção religiosa da igualdade, era, ao menos, uma forma de conservar o conceito. Sem dúvida, o cristianismo se utilizou para justificar uma série de instituições diversas, incluindo a escravidão e a servidão. Mas continha elementos contraditórios, alguns dos quias se converteriam mais adiante em sementes de sua própria ruptura”
83

Em oposição ao republicanismo, o liberalismo surgiu com os movimentos burgueses de contestação ao antigo regime, reivindicando um espaço privilegiado para os direitos individuais, tais como liberdade, propriedade, intimidade, honra, etc. Apesar das diversas variantes, as tendências liberais em geral guardam em comum a defesa de uma esfera privada oponível ao Estado e aos outros indivíduos.
Historicamente o liberalismo se impôs a partir das lutas contra o sistema absolutista e a intolerância religiosa. A luta do liberalismo, em oposição às monarquias despóticas e à Igreja era permitir a definição de uma esfera privada independente do Estado e da Igreja, favorecendo a liberação da vida pessoal, familiar e empresarial dos indivíduos contra quaisquer interferências políticas.
Apesar das diversas variantes do liberalismo, todas defendem a necessidade de um Estado organizado por uma Constituição capaz de promover a defesa de certos valores como a propriedade privada e a economia de mercado como mecanismos de coordenação dos interesses individuais.
O centro de gravidade da teoria política liberal gira em torno da conciliação entre três matrizes: a primeira, aquela que enfatiza o poder do Estado como força garantidora da coesão e unidade social, a segunda aquela que enfatiza as forças do livre mercado e dos direitos exercidos pelos indivíduos, e a terceira aquela que dá ênfase à formação da vontade coletiva, como mecanismo de integração da comunidade. Cada uma dessas três vertentes pode ser associada a um modelo de pensamento, respectivamente, Hobbes, Locke e Rousseau. Estas três vertentes relacionam-se dinamicamente encontrando em cada um dos autores citados seus expoentes mais destacados.
A concepção hobbesiana parte da preocupação com a necessidade de estabelecer um poder capaz de estabelecer a ordem social e política como forma de garantir as liberdades individuais. Até então, no estado pré-social, no estado de natureza hobbesiano, vigora a guerra de todos contra todos, sendo o homem o lobo do homem. Nessas condições, é impossível cogitar do exercício de direitos, já que vigora a lei do mais forte.
Como se vê, ao justificar o exercício do poder através da figura do todo-poderoso Leviatã, resultou da concepção de Hobbes um modelo de organização social que pende para o lado do Estado.
Em formulação diversa, Locke no seu “tratado do governo civil” enfatiza o importância da proteção da propriedade como forma de fundamentação do contrato social. Assim,
o objetivo da sociedade civil é o bem dos indivíduos. O estado de natureza é um estado de insegurança, e isso faz com que os homens renunciem a uma parte de sua liberdade para ter maior segurança. Os homens se unem em sociedade para defender a própria vida, a liberdade, os haveres. Por isso, ao reunir-se em sociedade, os homens renunciam só ao poder de defender-se, mas não ao direito à vida e à propriedade.
De modo diverso, a concepção de Rousseau para a liberdade passa pela distinção entre a liberdade natural e a liberdade convencional. Para ele, o “contrato social” é uma necessidade imposta pela realidade fática. Rousseau entende que
...como os homens não podem engendrar novas forças, mas somente unir e orientar as já existentes, não têm eles outro meio de conservar-se senão formando, por agregação, um conjunto de forças que possa sobrepujar a resistência, impelindo-as para um só móvel, levando-as a operar em concerto.
Desde que o indivíduo na modernidade aparece como unidade mínima, impõe-se a necessidade de encontrar um mecanismo que permita a reintegração das partes fragmentadas. Isto é possível a partir da união dos planos individuais de ação em torno de um procedimento integrativo. A este procedimento corresponde a imagem do “contrato social”, sem o qual os indivíduos estariam destinados a perseguir egoisticamente os seus projetos individuais em uma situação de “guerra de todos contra todos”. Explica Rousseau que
84

encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda a força comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. Esse, o problema fundamental cuja solução o contrato social oferece.
Nesta perspectiva, não existe possibilidade de estabelecer critérios matérias que justifiquem a união dos homens. O que existe é apenas o interesse formal de viver em sociedade para obter a colaboração mútua.
Nesse sentido, o contrato social seria a expressão de uma “vontade geral”, entendida como a representação de um interesse comunitário35. É fácil perceber que a idéia de liberdade em Rousseau está mais próxima do ideal de virtude cívica.
3 – Uma Teoria da Justiça: a idéia de justiça como equidade
Retomando a tradição liberal, e buscando articular as forças de Estado, Mercado e Comunidade, apresenta-se o modelo elaborado por John Rawls. A concepção de Justiça como equidade, elaborada por John Rawls é exposta em “A Theory of Justice”, livro publicado em 1971, havendo influenciado decisivamente desde então, o debate sobre política e democracia nos meios acadêmicos. Herdeiro da tradição liberal, Rawls tem como perspectiva fundamental apresentar uma teoria política adequada ao pluralismo das sociedades contemporâneas.
A formulação liberal de Rawls representa a versão do liberalismo mais influente nas discussões de filosofia política contemporânea. O liberalismo de Rawls tem como categorias principais as noções de justiça, equidade e direitos individuais tendo em Kant a sua matriz filosófica mais influente.
A proposta de Rawls é estabelecer uma ética que defenda a prioridade da justiça sobre o bem, opondo-se radicalmente às concepções liberais de inspiração utilitarista36. Para Rawls,
... parece pouco provável que pessoas que se vêem como iguais, com direito a fazer exigências mútuas, concordariam com um princípio que pode exigir para alguns, expectativas de vida inferiores, simplesmente por causa de uma soma maior de vantagens desfrutadas por outros. Uma vez que cada um busca proteger seus próprios interesses, sua capacidade de promover sua concepção do bem, ninguém tem razão para aceitar uma perda duradoura para si mesmo a fim de causar um saldo líquido maior de satisfação. Na ausência de impulsos benevolentes fortes e duráveis, um homem racional não aceitaria uma estrutura básica simplesmente porque ela maximiza a soma algébrica de vantagens, independentemente dos efeitos permanentes que pudesse ter sobre seus interesses e direitos básicos. Assim, parece que o princípio da utilidade é incompatível com a concepção da cooperação social entre iguais para a vantagem mútua. Parece ser inconsistente com a idéia de reciprocidade implícita na noção de uma sociedade bem-ordenada.
3.1 – Posição original e escolha racional: O véu de ignorância
Quando Rawls elabora a sua teoria da justiça, ele imagina que as pessoas na posição original, uma situação hipoteticamente imaginada, estariam sob um véu de ignorância com a 35 Para Rousseau, “Há comumente muita diferença entre a vontade de todos e a vontade geral. Esta se prende somente ao interesse comum; a outra ao interesse privado, e não passa de uma soma das vontades particulares. Quando se retiram, porém, dessas mesmas vontades, os a-mais e os a-menos que nela se destroem mutuamente, resta como soma das diferenças, a vontade geral. (Rousseau, 1997: 91-92) “Imediatamente, esse ato de associação produz, em lugar da pessoa particular de cada contratante, um corpo moral e coletivo, composto de tantos membros quantos são os votos da assembléia, e que, por esse mesmo ato, ganha sua unidade, seu eu comum, sua vida e sua vontade. Essa pessoa pública, que se forma, desse modo, pela união de todas as outras, tomava antigamente o nome de cidade e, hoje, o de república ou de corpo político, o qual é chamado por seus membros de Estado quando passivo, soberano quando ativo, e potência quando comparado a seus semelhantes”. (Rousseau, 1997: 71)
36 O utilitarismo é aquela concepção segundo a qual a sociedade não tem nenhum direito de interferir em qualquer questão inerente à esfera interna da vida de qualquer indivíduo, e tem apenas um direito condicional de interferir em assuntos sociais envolvendo interações entre várias pessoas. Neste último caso, a norma de conduta da sociedade deve ser o princípio da utilidade ou o princípio da maior felicidade. A sociedade deve agir apenas com a finalidade de promover a maior felicidade do maior número possível. Quando a intervenção não servir àquele propósito utilitário, a sociedade não tem o direito de se impor sobre os indivíduos.
85

incumbência de elaborar os princípios que devem informar a estrutura básica da sociedade. Rawls não desconhece o pluralismo que marca as sociedades contemporâneas. Dado o fato do pluralismo, e as diferentes religiões, crenças concepções de vida, é necessário estabelecer um referencial de justiça que possa ser legitimado por uma práxis de cooperação social.
O véu de ignorância seria a garantia de que as pessoas não saberiam o que seriam na sociedade futura, se brancas ou negras, se homens ou mulheres, se ricos ou pobres e assim por diante.
Para Rawls,
Uma característica da justiça como equidade é a de conceber as partes na situação inicial como racionais e mutuamente desinteressadas. Isso não significa que as partes sejam egoístas, isto é, indivíduos com apenas certos tipos de interesses, por exemplo, riquezas, prestígio e poder. Mas são concebidas como pessoas que não têm interesse nos interesses das outras. Elas devem supor que até seus objetivos espirituais podem sofrer oposição, da mesma forma que os objetivos dos que professam religiões diferentes podem sofrer oposição.
Na posição original,
Os homens devem decidir de antemão como devem regular suas reinvindicações mútuas e qual deve ser a carta constitucional de fundação de sua sociedade. Como cada pessoa deve decidir com o uso da razão o que constitui o seu bem, isto é, o sistema de finalidades que, de acordo com sua razão, ela deve buscar, assim um grupo de pessoas deve decidir de uma vez por todas tudo aquilo que entre elas se deve considerar justo e injusto. A escolha que homens racionais fariam nessa situação hipotética de liberdade eqüitativa, pressupondo por ora que esse problema de escolha tem uma solução, determina os princípios da justiça.
A estrutura básica da sociedade refere-se ao modelo através do qual as instituições sociais, políticas e econômicas se comportam em relação aos indivíduos, atribuindo-lhes direitos e deveres. Assim, uma sociedade bem ordenada será aquela na qual se verifique uma concepção pública de justiça aceita por todos, especialmente no que se refere aos princípios de justiça, e portanto as instituições políticas, econômicas e sociais são reconhecidas publicamente como justas.
A idéia de posição original em Rawls, apresenta-se como ponto de partida para a teoria da justiça como equidade. Tem como peculiaridade o fato de associar a questão da justiça a um processo de escolha racional. Se por um lado as perspectivas contratualistas recorrem à imagem do contrato como capaz de promover a passagem do estado de natureza para o estado de direito, por outro lado, Rawls recorre ao dispositivo procedimental da posição original para justificar a sociabilidade inerente à sociedade concebida como um sistema justo de cooperação entre pessoas livres e iguais.
Explica Rawls:
Na justiça como equidade a posição original de igualdade corresponde ao estado de natureza na teoria tradicional do contrato social. Essa posição original, não é, obviamente, concebida como uma situação histórica real, muito menos como uma condição primitiva de cultura. É entendida como uma situação puramente hipotética caracterizada de modo a conduzir a uma certa concepção de justiça. Entre as características essenciais dessa situação está o fato de que ninguém conhece seu lugar na sociedade, a posição de sua classe ou o status social e ninguém conhece sua sorte na distribuição de dotes e habilidades naturais, sua inteligência, força, e coisas semelhantes. Eu até presumirei que as partes não conhecem suas concepções do bem ou suas propensões psicológicas particulares. Os princípios da justiça são escolhidos sob um véu de ignorância. Isso garante que ninguém é favorecido ou desfavorecido na escolha dos princípios pelo resultado do acaso natural ou pela contingência de circunstâncias sociais. Uma vez que todos estão em uma condição semelhante e ninguém pode designar princípios para favorecer sua condição particular, os princípios da justiça são o resultado de um consenso ou ajuste eqüitativo. Pois dadas as circunstancias da posição original, a simetria das relações mutuas, essa situação original é eqüitativa entre os indivíduos tomados como pessoas éticas, isto é, como seres racionais com objetivos próprios e capazes, na minha hipótese, de um senso de justiça. A posição original é, poderíamos dizer, o status quo inicial apropriado, e assim os consensos fundamentais nela alcançados são eqüitativos.”
O véu de ignorância é o mecanismo que garante a imparcialidade e a neutralidade na posição original de uma sociedade regida pela justiça como equidade. Através dele é assegurado que as concepções individuais do bem, talentos e posição social não determinam a escolha dos princípios de justiça.
86

3.2– Os princípios de justiça
Caracterizada a posição original, Rawls pergunta: que princípios devem ser escolhidos pelos indivíduos na posição original para governar uma sociedade justa?
Lembrando que uma sociedade justa é aquela que adota o referencial da “justiça como equidade”, Rawls entende que os princípios norteadores de uma sociedade justa são aqueles aceitos por “...pessoas livres e racionais, preocupadas em promover seus próprios interesses... numa posição inicial de igualdade como definidores dos termos fundamentais de sua associação”. Tais princípios além de fundamentar o acordo social inicial, regulam também todos os acordos subseqüentes, especificando “... os tipos de cooperação social que se podem assumir e as formas de governo que se podem estabelecer” .
A originalidade de Rawls está em excluir desde logo da concepção da “justiça como equidade” o princípio da utilidade, que tanta influência havia logrado até então no pensamento liberal37. Nesse sentido, Rawls é enfático ao considerar que o princípio da utilidade é inconsistente com o ideal de reciprocidade presente em uma sociedade bem ordenada:
À primeira vista, parece pouco provável que pessoas que se vêem como iguais, com direito a fazer exigências mútuas, concordariam com um princípio que pode exigir para alguns expectativas de vida inferiores, simplesmente por causa de uma soma maior de vantagens desfrutadas por outros. Uma vez que cada um busca proteger seus próprios interesses, sua capacidade de promover sua concepção do bem, ninguém tem razão para aceitar uma perda duradoura para si mesmo a fim de causar um saldo líquido maior de satisfação. Na ausência de impulsos benevolentes fortes e duráveis, um homem racional não aceitaria uma estrutura básica simplesmente porque ela maximiza a soma algébrica de vantagens, independentemente dos efeitos permanentes que pudesse ter sobre seus interesses e direitos básicos.
Preocupado em elaborar uma concepção de justiça capaz de viabilizar eqüitativamente a cooperação entre cidadãos livres e iguais, Rawls apresenta dois princípios elementares:
a) Todas as pessoas têm igual direito a um projeto inteiramente satisfatório de direitos e liberdades básicas iguais para todos, projeto este compatível com todos os demais; e, nesse projeto, as liberdades políticas, e somente estas, deverão ter seu valor equitativo garantido.
b) As desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer dois requisitos: primeiro, devem estar vinculadas a posições e cargos abertos a todos, em condições de igualdade eqüitativa de oportunidades; e, Segundo, devem representar o maior benefício possível aos membros menos privilegiados da sociedade.
Os dois princípios de justiça regulam a distribuição de bens entre os membros de uma sociedade, independentemente de quaisquer diferenças de sexo, raça, religião, projetos de vida ou concepção do bem.
O primeiro princípio representa o princípio da igual liberdade (equal liberty principle), e o segundo princípio divide-se em dois: o princípio da igualdade equitativa de oportunidades (fair equality of opportunities) e o princípio da diferença (difference principle) (Oliveira, 2003: 18).
O primeiro princípio representa o compromisso liberal de atribuição igualitária das liberdades fundamentais, tais como as liberdades políticas (votar e ser votado) as liberdades de expressão e reunião, a liberdade de consciência e de pensamento, as liberdades da pessoa física, etc (Oliveira, 2003:19).
De outra sorte, o segundo princípio representa a preocupação com o ideal de justiça distributiva, já que
como todos possuem os mesmos direitos e deveres, as desigualdades (de riqueza e autoridade, por exemplo) são justas,
37 O utilitarismo tem como expoentes nomes como Bentham, H Sidgwick, e J S Mill. Este último talvez com maior poder de influência nas formulações liberais: Para Mill, na feliz síntese de Wolff, a sociedade não tem nenhum direito de interferir em qualquer questão inerente à esfera interna da vida de qualquer indivíduo, e tem apenas um direito condicional de interferir em assuntos sociais envolvendo interações entre várias pessoas. Neste último caso, a norma de conduta da sociedade deve ser o princípio da utilidade ou o princípio da maior felicidade. A sociedade deve agir apenas com a finalidade de promover a maior felicidade do maior número possível. Quando a intervenção não servir àquele propósito utilitário, a sociedade não tem o direito de se impor sobre os indivíduos.
87

fair, eqüitativas, na medida em que promovem benefícios para todos, em particular para os menos privilegiados”38
Rawls considera que da análise conjugada entre o primeiro e o segundo princípios, o princípio da igual liberdade tem precedência sobre o princípio da diferença (Rawls 2000: 47-48). Este entendimento traduz o ideal rawlsiano da primazia do justo sobre o bem, típico dos modelos deontológicos (Oliveira, 2003: 18).
Desde “Uma Teoria da Justiça” até os escritos tardios, o pensamento de Rawls passa por um claro processo de evolução. Com efeito, Rawls abandona a perspectiva de escolha racional que tão enfaticamente marca os seus escritos, para evoluir para a perspectiva de um “consenso sobreposto”, fruto de um construtivismo político desenvolvido no seu “Liberalismo Político”. Para ele agora, os princípios seriam selecionados e não exatamente escolhidos.
A proposta de John Rawls em “Liberalismo Político” consiste fundamentalmente em desenvolver um modelo capaz de abarcar as diferentes doutrinas religiosas, filosóficas e morais através de um consenso sobreposto (overlapping consensus). Para isso, Rawls desenvolve a noção de “razão pública”, como forma de manifestação da manutenção da estabilidade e justiça em uma sociedade marcada pela diferença.
Nesse sentido, Rawls entende que os cidadãos no próprio exercício de suas liberdades fundamentais, dado o ponto de vista de suas respectivas doutrinas abrangentes, entendem a sua concepção política como compatível, ou ao menos não em conflito com as outras doutrinas existentes na sociedade. Assim, a razão pública – o debate dos cidadãos no espaço público sobre os fundamentos constitucionais e as questões básicas de justiça – agora é mais bem orientada por uma concepção política cujos princípios e valores todos os cidadãos possam endossar.
Apesar da evolução do pensamento de Rawls, desde “Uma Teoria da Justiça” chegando no “Liberalismo Político”, observa-se como constante a tentativa de fundamentação de um modelo de vida que por ser estabelecido desde o ponto de vista do indivíduo, caracteriza-se pelo individualismo e solipsismo egoístico. Ou seja, a formulação rawlsiana é marcada por um profundo monologuismo, carecendo de abertura dialógica e um certo desprezo pelo poder da atividade política, em um processo designado por Chantal Mouffe como “evasão do político”. Assim,
a pretensão liberal de que um consenso racional universal poderia ser alcançado através de um diálogo isento de distorções, e de que a livre razão pública poderia garantir a imparcialidade do estado, só é possível ao preço de negar o irredutível elemento do antagonismo presente nas relações sociais; o qual pode gerar conseqüências desastrosas para a defesa das instituições democráticas. negar o político não o faz desaparecer, só pode conduzir-nos à perplexidade quando nos enfrentamos a suas manifestações e à impotência quando queremos tratar com elas.
4 – O republicanismo comunitarista como crítica ao liberalismo: a questão da contextualização histórico-social
Apresentando nítida influência republicana, a escola comunitarista notabilizou-se pelas críticas à perspectiva liberal, notadamente ao modelo de John Rawls.
A expressão “comunitarista” designa um grupo de autores de língua inglesa (Alasdair MacIntyre, Michael Sandel, Charles Taylor e Michael Walzer) que participando do debate político e moral questiona o individualismo e o formalismo presentes na tradição política liberal.
O ponto principal consiste em questionar a tese liberal da primazia do justo sobre o bem. Para os comunitaristas, não é possível falar em justiça, sem considerar a importância do bem comunitário.
Para os comunitaristas,
38 Vem daí a fundamentação do sistema de cotas a partir do referencial liberal da justiça como equidade. Oliveira, 2000: 19.
88

a ética deve ser subordinada à moral (ou à teoria da justiça), na medida exata em que a coexistência entre a pluralidade de concepções particulares do bem simbólico não pode ser fundada senão sobre a universalidade do justo. Ora, é precisamente essa universalidade que é em primeiro lugar questionada pelos comunitaristas.
Ainda que existam certas variações de autor para autor, dois temas são recorrentes: em primeiro lugar, o questionamento da tese liberal da neutralidade no que se refere às diferentes concepções de vida; em segundo lugar o entendimento liberal do universal como processo de determinação da organização social.
Questionando o postulado liberal da primazia da justiça sobre o bem, o comunitarismo através de seus mais relevantes autores, destacam em uníssono a importância da contextualização histórico-social do indivíduo. Com isso, o ideal do indivíduo universal abstrato capaz de escolher racionalmente em qualquer tempo e lugar o mesmo modelo de organização social, é para os comunitaristas antes um mito do que uma realidade plausível. Para os comunitaristas, qualquer possibilidade de instauração de uma sociedade justa depende necessariamente da observação das tradições partilhadas pela comunidade e pela história comum dos indivíduos. Para os comunitaristas, cada grupo humano tem seus próprios referencias do que seja o bem comum e a justiça, e por isso os pactos que fundam uma sociedade são únicos, impossíveis de serem repetidos.
É sintomático nesse sentido, perceber em Alasdair MacIntyre uma preocupação com a busca da virtude (“After Virtue”)39. Para MacIntyre, a busca da vida boa nunca depende exclusivamente de considerações individuais. De modo diverso, a particularidade moral de um indivíduo é herança de um passado da família, da cidade, da tribo, da nação e de uma certa variedade de débitos, patrimônios, expectativas e obrigações legítimas. Assim, toda identidade individual traz uma carga histórica e social impossível de ser desconsiderada.
Idêntica é a observação de Walzer que na elaboração do conceito de “igualdade complexa” não deixa de considerar a importância da contextualização histórica e social dos bens nas diferentes “esferas de justiça”.
No que se refere à justiça distributiva, por exemplo, Walzer considera que o lugar de cada um na ordem política, a reputação de cada um entre os colegas e mesmo os bens materiais de cada um, são sempre atribuídos às pessoas por outros homens e mulheres através de uma certa variedade de procedimentos, agentes e critérios distributivos socialmente estabelecidos.
Como afirma Walzer, não existe um modelo único e simplificado deste mundo de arranjos e ideologias distributivas. Para Walzer, nunca, em tempo algum existiu uma fórmula universal para tais intercâmbios.
Assim, para Michel Walzer, a Justiça é uma construção humana, sendo questionável sua possibilidade de realizá-la de uma única forma. A conclusão a que se segue é que os princípios de justiça são plurais; os bens socialmente existentes devem ser distribuídos por diferentes razões, de acordo com diferentes procedimentos e por diferentes agentes. Todas essas diferenças derivam dos diferentes entendimentos sobre os bens sociais, conseqüência inevitável do particularismo histórico e cultural.
Este é também o ponto de vista de Michael Sandel ao discutir o “liberalismo e os limites da justiça”. Para Sandel, é preciso denunciar que a versão do liberalismo ora em voga no debate político-moral e na filosofia política é passível de consideráveis objeções. Na verdade, assim como os demais comunitaristas, o ponto central da sua crítica está na concepção universalista do indivíduo desprovido de concepções particulares do bem, tese fundamental que inspira a posição original e sistema liberal de John Rawls.
A primeira objeção apontada por Sandel é aquela de ordem sociológica. Na verdade, a elaboração de uma teoria da justiça coerente precisa levar em consideração a influência dos condicionamentos sociais como forma de modelar valores individuais e arranjos políticos. Nesse sentido, a neutralidade pretendida pelo liberalismo é impossível. Tanto mais se lembrarmos que toda ordem política corporifica certos valores prevalentes na sociedade. Os indivíduos, por
39 A expressão “after virtue” é traduzida primariamente como “depois da virtude”, mas pode também ser traduzida como “em busca da virtude”. Entendida desta forma, o comunitarismo de MacIntyre revela uma clara conexão com o ideal aristotélico de vida em comunidade. (Galuppo, 2004: 340)
89

viverem em sociedade estão a todo instante manifestando seus desejos e inclinações. Assim, idéia de prioridade do sujeito, tão cara ao liberalismo leva no fundo, ao individualismo, que inviabiliza a manifestação das virtudes cooperativas, como altruísmo e benevolência. Por isso, a idéia de uma sociedade fundada em princípios neutros é a falsa promessa do liberalismo40.
A segunda objeção refere-se à tese da prioridade da justiça sobre o bem e a inspiração kantiana da formulação de Rawls.
Parece oportuno ressaltar que as perspectivas comunitaristas têm o grande mérito de jogar luzes sobre os aspectos históricos e culturais de uma sociedade, fortalecendo o debate sobre o seu pacto fundamental no âmbito da esfera pública.
De qualquer sorte, o comunitarismo parece mais adequado para explicar a fundamentação do pacto social naquelas sociedades onde existam uma certa unidade e homogeneidade notadamente no que se refere aos aspectos éticos e culturais.
Quando falta esta unidade, o comunitarismo já não consegue dar respostas satisfatórias para a fundamentação de uma sociedade marcada pela fragmentação. Talvez por isso, as concepções liberais ganharam espaço no debate atual. Considerando o pluralismo que caracteriza as sociedades contemporâneas, o liberalismo acabou por conquistar definitivamente os espaços de teoria social e política da modernidade.
5 – A questão da primazia
Se por um lado os liberais enfatizam a primazia da justiça sobre o bem, por outro lado os comunitaristas enfatizam a primazia do bem sobre a justiça.
Com efeito, o comunitarismo desponta como uma teoria satisfatória para aquelas sociedades onde não exista um elevado grau de diferenciação social, caracterizada por uma certa homogeneidade política. Para essas sociedades, a concepção do bem comum antecede qualquer concepção de justiça. Daí a opção comunitarista de priorizar a igualdade sobre a liberdade.
As sociedades contemporâneas porém, estão muito distantes do referencial de homogeneidade que caracterizava as sociedades antigas. As sociedades dos nossos dias são marcadas pelo pluralismo e pela diversidade. Dada a necessidade de garantir a realização dos diferentes projetos de vida fruto das diferentes concepções individuais, o liberalismo estabelece a prioridade da liberdade sobre a igualdade.
Como resultado dessa diversidade de concepções, a idéia de tolerância adquire diferentes significados, conforme se adote a perspectiva liberal ou comunitarista. Assim, para os liberais, tolerância significa respeito para com as diferentes concepções individuais do bem. Por sua vez, o comunitarismo enxerga a tolerância como significado de respeito para com as diversas concepções grupais do bem.
É preciso considerar que a concepção da justiça como equidade como expressão liberal traz nas suas fórmulas universalizantes um mecanismo que acaba por encobrir as diferenças culturais e étnicas existentes na sociedade. Daí a crítica comunitária de que o universalismo liberal não pode servir de fundamentação última dos princípios que informam o funcionamento da sociedade. Tais princípios devem ser relativizados e contextualizados nas especificidades de cada grupo em particular.
Por outro lado, isto não significa que a fórmula comunitária é a mais adequada para a fundamentação do pacto social nas sociedades contemporâneas, pois como lembra Marcelo Neves, Contra o modelo comunitarista, pode-se contrapor o argumento tradicional de que uma elevação dos valores grupais, sejam esses de preferência ou de identidade, a critério de legitimação última da ordem político-jurídica, impede qualquer possibilidade de crítica conseqüente a regimes totalitários de base étnica ou nacionalista. Além do mais, cabe enfatizar que a concepção comunitarista, na sociedade global supercomplexa e culturalmente heterogênea de hoje, mostra-se profundamente inadequada. Não apenas entre as diversas fronteiras estatais destaca-se uma forte diversidade de valores e etnias, mas também no âmbito do território de cada Estado estão presentes os mais diversos valores grupais, que, em regra, encontram-se em relação de conflito. ... A partir desse fato inegável, parece-me equivocada uma
40
90

fundamentação ética (referente a auto-realização do grupo ou às suas preferências) ou ‘étnica’ (referente à identidade do grupo) dos sistemas político e jurídico, sejam estes estatais ou supra-estatais, e sobretudo da sociedade mesma. Diante da diversidade cultural e étnica da sociedade global de hoje, até mesmo dentro dos respectivos territórios estatais, a insistência num modelo comunitarista da ordem político-jurídica impede uma análise consistente e um tratamento adequado dos problemas estruturais da sociedade global de hoje, relacionando-se, no plano da prática política. Com formas de nacionalismos étnicos e fundamentalismos religiosos que são incompatíveis com o estado democrático de direito.
... o multiculturalismo extremo, ao enfatizar a diversidade de valores e etnias que caracterizam a sociedade hodierna, também não é capaz de oferecer qualquer modelo conseqüente para o tratamento jurídico-político das diferenças culturais. Ao partir, empiricamente, do fato de que diversas culturas estão presentes na sociedade, sustenta, normativamente, que as diversas identidades grupais devem ser respeitadas, de tal maneira que qualquer restrição à identidade de um grupo étnico ou cultural é concebida como injustificável. O fato que não é tomado suficiente e adequadamente em consideração pelo multiculturalismo extremo é que as diversas identidades grupais estão freqüentemente em conflito, muitas vezes de forma destrutiva para o Estado e a sociedade. [...] Na crítica ao multiculturalismo radical observa Alain Touraine com razão, que ‘não há sociedade multicultural possível sem o recurso a um princípio universalista que permita a comunicação entre os indivíduos e os grupos social e culturalmente diferentes’. Em consonância com isso, enfatiza que ‘é necessário rejeitar com a mesma força uma concepção jacobina de cidadania e um multiculturalismo extremo que rejeita todas as formas de cidadania’.
Como se percebe, a busca por uma alternativa capaz de proporcionar um equilíbrio entre os extremos pode ser bastante interessante para o desenvolvimento da democracia contemporânea. Tal alternativa teria que combinar as virtudes tanto do liberalismo como do comunitarismo, proporcionando de um lado, a observância da contextualização sócio-histórica na qual se inscreve o indivíduo, e de outro lado, adotando princípios de universalização que permitam a convivência entre pessoas diferentes.
6 – O Enfoque da hermenêutica liberal
Na tarefa jurisdicional, o magistrado pode adotar uma certa variedade de perspectivas hermenêuticas, em busca da aplicação da norma ao caso concreto.
Do ponto de vista da hermenêutica liberal, importa adotar uma perspectiva de neutralidade orientando a prestação jurisdicional “por uma compreensão deontológica das normas e dos princípios jurídicos” (Cittadino).
Nesse sentido, a preocupação de Rawls é traduzida sob a perspectiva da “Constituição-garantia”, como forma de assegurar aos indivíduos a possibilidade da realização dos projetos individuais de cada um41. O judicial review, enquanto prerrogativa atribuída aos tribunais para declarar a inconstitucionalidade de ato administrativo ou legislativo, aparece como o mecanismo mais adequado para alcançar tal fim. Assim, “... o tribunal deve evitar que a lei seja corroída pela legislação de maiorias transitórias ou, mais provavelmente, por interesses estreitos, organizados e bem-posicionados, muito hábeis na obtenção do que querem”.
Daí a importância de compreender a Constituição como um sistema de direitos a serem protegidos contra maiorias eventuais que ameacem o desacordo razoável, fixando um espaço de liberdade imune a interferências externas. (Cittadino, 2000: 183).
Assim, a Constituição representa um procedimento político compatível com a concepção de justiça política, realizando os valores da “razão pública”. A essência da Constituição resta assim afastada das decisões majoritárias, sendo um procedimento que tem no povo o seu autor (Cittadino,2000: 184). Para Rawls, o povo é quem confere o através do judicial review o poder que tem a Suprema Corte de declarar a inconstitucionalidade das leis (Cittadino, 2000: 184). Há que se lembrar ainda que a Suprema Corte, decidindo de acordo com a “razão pública” delimita, afirma, e explicita o seu conteúdo. Assim, a Suprema Corte desempenha um duplo papel: de um lado, cumpre uma missão educativa “situando os valores políticos no centro do debate político”, de outro lado, dá 41 Para Rawls, “...a ênfase inicial recai sobre a constituição, ao especificar um procedimento político justo e viável sem quaisquer restrições constitucionais em relação a resultados legislativos. Mas essa ênfase inicial não é, evidentemente a ultima palavra. As liberdades fundamentais associadas à capacidade de ter uma concepção do bem também devem ser respeitadas, e isso requer restrições constitucionais adicionais contra a violação da igual liberdade de consciência e da liberdade de associação (assim como as liberdades restantes que lhes dão garantia)”.
91

vida à “razão pública” na esfera do debate público. Como se percebe a perspectiva liberal da democracia tem no judicial review um importante instrumento de realização.
Esta concepção é partilhada em certa medida por Ronald Dworkin, que estabelecendo uma vigorosa defesa dos direitos individuais, constrói uma concepção segundo a qual os direitos individuais são “trunfos” que não podem ser desconsiderados pelos tribunais42. Nesse sentido, ele defende que os “levar os direitos a sério” consiste em reconhecer a força normativa de tais direitos, que se expressam ora como regra, ora como princípio.
Para Dworkin,
A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. Os dois conjuntos de padrões apontam para decisões particulares acerca da obrigação jurídica em circunstâncias específicas, mas distinguem-se quanto à natureza da orientação que oferecem. As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão... Essa primeira diferença entre regras e princípios traz consigo uma outra. Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm – a dimensão do peso ou importância. Quando os princípios se intercruzam ... aquele que vai resolver o conflito tem de levar em conta a força relativa de cada um. Esta não pode ser, por certo, uma mensuração exata e o julgamento que determina que um princípio ou uma política particular é mais importante que outra freqüentemente será objeto de controvérsia.
Resolvem-se as colisões de regras através da aplicação dos mecanismos de compatibilização horizontal e vertical de que dispõe o sistema jurídico, já que “Se duas regras entram em conflito, uma delas não pode ser válida” (Dworkin). Assim, no plano horizontal, aplicam-se os critérios cronológico e o da especialidade, traduzidos respectivamente pelos brocardos latinos lex posterior derogat priori e lex specialis derogat generali. No plano vertical aplica-se o critério hierárquico, através do qual lex superior derogat inferior. No tocante ao conflito de princípios a solução será necessariamente diferente. Em havendo conflito de princípios, não é possível a aplicação dos critérios supra mencionados, pois os princípios não são de cronologia distinta e nem possuem grau de especialidade diferenciada. Expressando igualmente direitos fundamentais, também não estão em escalões normativos distintos, razão pela qual é necessário buscar outro critério para o deslinde da questão.
Assim, no processo de interpretação da Constituição, a opção por um princípio em detrimento do outro, não provoca a sua exclusão do sistema, representando inegavelmente em uma opção diante da aplicabilidade das normas no caso concreto. Daí a expressão acertada de Bonavides para quem o conflito de regras se resolve no plano da validade, enquanto a colisão de princípios se resolve na dimensão do valor, demandando a verificação do “peso” dos princípios em jogo.
Para o positivismo clássico, isso significaria que a decisão nesses casos depende de uma faculdade discricionária, importando uma ponderação de valores diante do contexto a que se destina.
Dworkin porém, encontrando nos princípios jurídicos um sentido de validade deontológico, rejeita a tese da discriocionariedade dos juízes, tão cara ao positivismo clássico (Cittadino).
Tais situações levam preferencialmente àquelas situações designadas por Dworkin de “casos difíceis” (Hard cases). Diante de um hard case, Dworkin defende a tese segundo a qual “... mesmo quando nenhuma regra regula o caso, uma das partes pode, ainda assim, ter o direito de ganhar a causa. O juiz continua tendo o dever, mesmo nos casos difíceis, de descobrir quais são os direitos das partes, e não de inventar novos direitos retroativamente”.
42 “Os direitos individuais são trunfos políticos que os indivíduos detêm. Os indivíduos têm direitos quando, por alguma razão, um objetivo comum não configura uma justificativa suficiente para negar-lhes aquilo que, enquanto indivíduos, desejam ter ou fazer, ou quando não há uma justificativa suficiente para lhes impor alguma perda ou dano.” (Dworkin, 2002: XV)
92

Tal tarefa demandaria do juiz capacidades sobre-humanas, daí a metáfora do juiz-Hércules43. O juiz teria nesse caso, a difícil tarefa de reconhecer a diferença entre os “direitos preferenciais” (ground rights), e “direitos institucionais”. Para Dworkin os direitos preferenciais são aqueles que “fornecem uma justificação para as decisões políticas tomadas pela sociedade em abstrato”, enquanto os direitos institucionais são aqueles que “oferecem uma justificação para uma decisão tomada por alguma instituição política específica”. Dworkin exemplifica essa situação recorrendo a uma situação hipotética: “Suponhamos que minha teoria política afirme que todo homem tem direito à propriedade de outro desde que dela necessite mais. Eu posso ainda admitir que ele não tem um direito legislativo com o mesmo sentido; em outras palavras, eu posso admitir que ele não tem nenhum direito institucional a que a presente legislatura promulgue uma lei que viole a Constituição, algo que uma tal lei presumivelmente faria. Também posso admitir que ele não tem nenhum direito institucional a uma decisão judicial que perdoe o roubo. Mesmo que eu faça essas concessões, posso manter minha alegação inicial, argumentando que as pessoas, em seu conjunto, têm uma justificação para emendar a Constituição com o fito de abolir a propriedade, ou talvez para se rebelar e derrubar por completo a atual forma de governo. Eu posso alegar que cada homem possui um direito preferencial residual que pode justificar ou exigir tais atos, mesmo que eu conceda que ele não tem direito a decisões institucionais específicas, quando se considera como essas instituições estão atualmente constituídas”.
Assim como Rawls ao elaborar o conceito de “razão pública”, Dworkin entende que os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição são decorrentes de princípios morais que decorrem do ideal de justiça e de equidade, fixando limites ao executivo e ao legislativo. Daí a necessidade de que a interpretação da Constituição passe por uma “leitura moral”. (Cittadino)
7 – O Enfoque da hermenêutica comunitária
Se os liberais defendem o instituto do judicial review como mecanismo indispensável à democracia, em posição diversa estão os comunitários para quem a possibilidade de controle da legislação pelos tribunais representa uma limitação ao processo deliberativo democrático.
Para os comunitários a defesa do judicial review é amplamente incompatível com os desígnios de uma política de reconhecimento igualitário, sufocando as distintas identidades culturais. (Cittadino, 2000: 194).
Em severa crítica ao judicial review, Charles Taylor entende que o modelo adotado pela perspectiva liberal acaba por criar padrões de homogeneidade que neutralizam a necessidade de diferenciação entre os diversos grupos sociais, reduzindo seus respectivos espaços de autonomia.
Para demonstrar a sua tese, Taylor traz a situação dos franceses de Quebec e o seu relacionamento com o Canadá inglês. A província de Quebec, como se sabe, guarda a especificidade de conservar as suas tradições francesas desde a colonização em contraste com a maioria inglesa no Canadá. Além dos conflitos de índole social, decorrentes da convivência no mesmo país entre culturas plurais distintas, o Estado canadense tem sobre si a pressão de manter a integração social. Daí a relevância das instituições democráticas e o desenvolvimento de estratégias legitimadoras como fator de coesão.
Uma dessas estratégias repousa na chamada “notwithstandig clause”ou cláusula não obstante. Em 1982 o Canadá estabeleceu em nível constitucional a sua carta de direitos com a
43 “Podemos, portanto, examinar de que modo um juiz filósofo poderia desenvolver, nos casos apropriados, teorias sobre aquilo que a intenção legislativa e os princípios jurídicos requerem. Descobriremos que ele formula essas teorias da mesma maneira que um árbitro filosófico construiria as características de um jogo. Para esse fim, eu inventei um jurista de capacidade, sabedoria, paciência e sagacidade sobre-humanas, a quem chamarei de Hércules. Eu suponho que Hércules seja juiz de alguma jurisdição norte-americana representativa. Considero que ele aceita as principais regras não controversas que constituem e regem o direito em sua jurisdição. Em outras palavras, ele aceita que as leis têm o poder geral de criar e extinguir direitos jurídicos, e que os juízes têm o dever geral de seguir as decisões anteriores de seu tribunal ou dos tribunais superiores cujo fundamento racional (rationale), como os juristas, aplica-se ao caso em juízo”. (Dworkin, 2002: 165)
93

finalidade de garantir os direitos fundamentais aos canadenses. Para tanto estabeleceu os direitos liberais clássicos, tais como a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, e garantias processuais diversas, tal como o devido processo legal. Impôs tratamento igualitário a todos os canadenses vedando quaisquer distinções em virtude de sexo, raça ou religião.
O problema posto: como compatibilizar os interesses de sobrevivência e autonomia das minorias, notadamente a minoria francesa com a universalidade pretendida pela Constituição canadense?
A violação dos direitos fundamentais enseja judicial review em qualquer das esferas governamentais como forma de assegurar o tratamento igualitário aos canadenses. No que se refere porém ao estabelecimento de legislação pelas Províncias, a Constituição submete o judicial review aos limites da cláusula notwithstanding.
Assim, uma certa variedade de normas provinciais foram editadas como forma de garantir a sobrevivência da cultura francesa na província de Quebec. Como lembra Gisele Cittadino,
foi com base nesta cláusula que algumas leis relativas à proteção cultural dos franco-canadenses foram promulgadas em Quebec: a que os proíbe de matricular seus filhos em escolas de língua inglesa; a que obriga uma administração em língua francesa das empresas com mais de 50 empregados e a que impede o uso de idiomas diferentes do francês em documentos comerciais.
A defesa das legislações provinciais amparadas na notwithstanding clause é o caminho adotado por Taylor. Assim, como forma de sobrevivência da comunidade franco-canadense em Quebec, os governantes da Província podem impor restrições aos seus cidadãos.
Isto é possível dado que Quebec representa uma “sociedade distinta” no contexto canadense. Daí que as declarações no sentido de desconsiderar tal peculiaridade não representam senão uma equivocada e inadequada pretensão homogeneizante.
Assim, Taylor entende que uma sociedade democrática não pode estabelecer em primeiro plano os direitos individuais e provisões não discriminatórias, deixando os objetivos comuns de uma sociedade na condição de coadjuvantes. Acusando a tradição liberal difundida principalmente por John Rawls e Ronald Dworkin, Taylor reclama como fundamental para a construção de uma sociedade pluralista e democrática a necessidade de observar as peculiaridades dos distintos projetos de vida compartilhados pelos diferentes grupos que compõem uma sociedade.
Nesse sentido, a interpretação da Constituição pelos comunitaristas revela uma necessária preocupação com a tutela dos valores partilhados por um grupo social específico, e o papel do tribunal constitucional ganha um perfil de atuação contramajoritária.
8 – Para além da dicotomia liberalismo versus republicanismo: a alternativa do procedimentalismo democrático.
8.1 – Ação Comunicativa e Democracia Procedimental
A teoria da ação comunicativa representa um esforço de resgate dos fundamentos da modernidade, representando simultaneamente uma crítica social e uma proposta de reelaboração do ideal moderno de racionalidade. Rejeitando as perspectivas pós-modernas, Habermas entende que o projeto da modernidade é um projeto ainda não realizado em sua plenitude.
Nesse sentido, a contribuição de Jürgen Habermas para o debate refere-se especificamente ao questionamento do modelo de razão instrumental que tem predominado na modernidade. Tal modelo segundo Habermas, dadas as características das sociedades atuais, deixou de ser pertinente. Para Habermas, a insistência na utilização de um modelo inadequado tem determinado a crise da modernidade. A superação da crise, assim, dependeria da elaboração de uma teoria da modernidade fundada em novos paradigmas.
Habermas entende que a queda das grandes metafísicas determinou a necessidade de se buscar a validade da moral jurídica (Geltung) no acordo, ou “consenso” resultante de uma “discussão prática” entre os membros de uma comunidade.
94

Nesse sentido, a proposta de Habermas consiste em criticar o paradigma predominante na modernidade que tem na filosofia da consciência seu principal referencial. Este modelo apresenta como pecado essencial o monologuismo ao inserir as normas nos registros do sujeito racional e o desprezo pelas particularidades históricas e os dados sócio-culturais.
De acordo com Habermas, a sociedade comporta dois aspectos que se entrecruzam, mas que são diferentes: o sistema (System) e o mundo da vida (Lebenswelt).
O sistema representa a realidade objetiva que se manifesta nas relações externas entre os membros da sociedade, sendo coordenado por meios não lingüísticos, poder e dinheiro que coordenam a estrutura burocrática da sociedade. Ao lado do sistema encontra-se a Lebenswelt, que repousa sobre a comunicação recíproca entre os membros da sociedade e tem como objetivo a compreensão recíproca.
Esta distinção permite diferenciar duas racionalidades distintas. No sistema, temos uma racionalidade técnico-instrumental, consistindo em uma racionalidade com respeito a fins, e portanto estratégica. Essa racionalidade explica o desenvolvimento tecnológico nas sociedades modernas, definindo um padrão de bem-estar. Na Lebenswelt, a racionalidade é orientada pela comunicação, ocupando-se da compreensão mútua. Esta racionalidade tem fundamento em uma lógica argumentativa.
O desenvolvimento social proporcionado pela modernidade porém, provocou um hiperdimensionamento da racionalidade instrumental, típica do sistema e um conseqüente estreitamento da racionalidade comunicacional da Lebenswelt, em um processo chamado por Habermas de “colonização do mundo da vida”, levando a uma crescente burocratização do cotidiano.
A conseqüência desse processo é a exacerbação da fundamentação das ações pelos referencias de legalidade e um progressivo esvaziamento das preocupações com a fundamentação ética do direito.
Através da percepção de que a linguagem é o meio de comunicação universal, Habermas procura moldar no espaço público uma ética discursiva, priorizando as relações interpessoais em detrimento da pura individualidade solipsista do sujeito.
Esta concepção permite enxergar o espaço público como uma estrutura comunicacional mediadora entre o setor privado do mundo vivido (Lebenswelt) e o sistema jurídico-político (System).
Em desenvolvimento recente, Habermas apresenta a discussão sobre a necessidade de fundamentação externa do direito. Em consonância com o seu “Faktizität und Geltung”, o direito precisa satisfazer simultaneamente ao duplo requisito de consistência com o ordenamento jurídico e aceitabilidade geral.
Temos assim, duas dimensões, quais sejam, a da justificação interna e a da justificação externa, explicando que o problema da racionalidade do direito consiste em como pode a aplicação de um direito contingentemente surgido ser realizada de modo internamente consistente e externamnete fundada de modo racional (Habermas, 1998: 268).
Em desenvolvimento à teoria da ação comunicativa, Habermas propõe a concepção de democracia procedimetal. A virtude da concepção habermasiana reside no fato de, estabelecendo um diálogo com liberais e comunitários, procurar uma via alternativa para a questão democrática contemporânea. O caminho de Habermas consiste em elaborar um modelo procedimental que tem como característica a compatibilização entre o processo político deliberativo dos comunitários com o modelo hermenêutico deontológico, típico do liberalismo. Habermas procura assim criar um modelo democrático com “conotações normativas mais fortes que o modelo liberal, porém mais débil que o modelo republicano” (Habermas, 1998: 374).
Na construção bipolar entre facticidade e validade, Habermas é enfático ao buscar a superação de visões unilateralistas sobre o direito, tal como fazem o sociologismo, ressaltando o aspecto fático, ou como fazem algumas teorias modernas da justiça, ressaltando o aspecto legitimidade. (García Amado, 1997: 24)
95

Qual seria então para Habermas o fundamento de validade último do direito? Habermas explica que uma vez separados direito, moral e religião na modernidade, fica para o direito um campo aberto à argumentação, à ação comunicativa, que só pode basear-se no entendimento como fonte de legitimidade normativa. Para que realmente seja possível esta construção discursiva e consensual das normas jurídicas, os sujeitos devem pressupor-se como reciprocamente autônomos, reconhecendo-se certos direitos (García Amado)
Habermas enumera uma série de direitos que são exigidos para tornar possível a efetiva realização do princípio discursivo, base do procedimento democrático e fundamento da legitimidade e com ele da validez das normas resultantes. Tais pressupostos são aqueles em que os membros de uma comunidade jurídica moderna hão de partilhar se querem poder ter por legítimo seu ordenamento jurídico sem apoiar-se para tanto em fundamentos de tipo religioso ou metafísico (García Amado, 1997: 28).
Para Habermas,
... o procedimento que representa a política deliberativa constitui a peça nuclear do processo democrático. Esta leitura da democracia tem conseqüências para essa concepção de uma sociedade centrada no Estado, da qual partem os modelos habituais de democracia. Pois, dessa leitura se seguem diferenças, tanto com respeito à concepção liberal do Estado como guardião de uma sociedade econômica (no sentido de centrada na economia) como com respeito à concepção republicana de uma comunidade ética institucionalizada em forma de Estado... conforme a concepção liberal o processo democrático se efetua exclusivamente na forma de compromissos entre interesses. As regras de formação de compromissos que, através do direito universal e igual de sufrágio, através da composição representativa dos órgãos parlamentares, através do modo de decisão, através dos regulamentos de regime interior, etc., têm a finalidade de assegurar a fairness dos resultados, se fundam e fundamentam em última instância em, e desde, os direitos fundamentais liberais. Em troca, conforme a concepção republicana, a formação democrática da vontade se efetua na forma de um auto-entendimento ético-político; a deliberação haveria de poder apoiar-se, no que a conteúdo se refere, em um consenso de fundo inculcado pela própria cultura na qual se há crescido e se está; está pré-compreensão sócio-integradora pode renovar-se mediante o recordo ritualizado do ato de fundação republicana. A teoria do discurso toma elementos de ambos lados e os integra em uma concepção de um procedimento ideal para a deliberação e a tomada de decisões. Este procedimento democrático estabelece uma conexão interna entre as considerações pragmáticas, os compromissos, os discursos de auto-entendimento e os discursos relativos à justiça e fundamenta a presunção de que sob as condições de um suficiente subministro de informação relativa aos problemas de que se trate e de uma elaboração dessa informação, ajustada à realidade desses problemas, se conseguem resultados racionais, ou, respectivamente, resultados fair.”
A busca pelo juiz pela decisão deve acontecer de modo discursivo, e portanto intersubjetivo. Da teoria do discurso faz depender a aceitabilidade da decisão, não da qualidade dos argumentos, mas da estrutura do próprio processo argumentativo (García Amado, 1997: 55).
8.2 – O modelo procedimental de interpretação da Constituição: elementos para uma hermenêutica democrática.
Na perspectiva da democracia procedimental, a Constituição adquire como prerrogativa principal a de funcionar como baliza dentro da qual os procedimentos no Estado democrático de direito devem acontecer. Tal concepção permite, por um lado, a manifestação das diversas forças sociais em sua plenitude, em atenção ao pluralismo que marca as sociedades contemporâneas, e por outro lado, permite que o próprio jogo político se encarregue de alçar ao poder aqueles grupos (ou concepções) que melhor consigam mobilizar a opinião pública.
Assim,
o que se exige, é o acesso igualitário das diversas preferências valorativas e identidades étnicas aos procedimentos jurídico-políticos. Isso implica que nenhuma delas possa ter pretensão de prevalecer absolutamente sobre as demais, excluindo-as. A prevalência dos valores de determinado grupo em um determinado procedimento (eleitoral, legislativo, administrativo ou jurisdicional) do estado democrático de direito justifica-se apenas enquanto é relativa, ou seja, desde que os procedimentos permanecem abertos aos valores dos outros grupos, que poderão prevalecer em outra eventualidade procedimental.” (Neves).
Para que isso ocorra porém, é necessário que Estado institucionalize procedimentos adequados à pluralidade, abrindo o acesso de todos aos procedimentos (eleição, jurisdição, admintstração, etc). (Neves)
É claro que uma tal concepção não pode ser construído à margem de um referencial de
96

tolerância. Se impõe como fundamental a necessidade de “respeito recíproco às diferenças étnicas e éticas de grupos e indivíduos” (Neves, 2001: 242)
O Estado assim, pode ser entendido como um espaço procedimental em que os princípios democráticos são afirmados com vigor.
Com isso, como explica Neves,
O relevante é que os procedimentos constitucionais, independentemente de seus resultados, permaneçam abertos para a diversidade de expectativas, valores e interesses, mesmo os que eventualmente sejam derrotados. Os procedimentos atuam seletivamente, mas não terão força legitimadora se ignorarem a continuidade do dissenso na esfera pública. Os canais de mutação devem permanecer abertos para o fluxo de informações que advêm contraditória e conflituosamente do mundo da vida e dos diversos sistemas sociais autônomos. Novas possibilidades de vigência normativa e decisão vinculante não estão excluídas. Nesse sentido, o que se impõe (dever-ser) para a manutenção de uma esfera pública pluralista é o consenso em torno dos procedimentos constitucionais. Assim sendo, a observância desses procedimentos não só legitima o resultado procedimental no interior dos sistemas jurídico e político, reestruturando expectativas, mas também legitima o sistema constitucional como um todo na perspectiva externa da esfera pública, independentemente do resultado eventual do procedimento, ou seja, o Estado democrático de direito legitima-se enquanto os seus procedimentos absorvem sistemicamente o dissenso e, ao mesmo tempo, possibilitam, intermediam e mesmo fomentam a sua emergência na esfera pública.
Uma aplicação desse entendimento está na concepção hermenêutica de Peter Häberle, para quem a aplicação da Constituição depende de um esforço para o qual concorrem uma pluralidade de agentes.
Häberle estabelece a distinção entre interpretação e intérpretes constitucionais “em sentido estrito” e “em sentido amplo”.
A interpretação em sentido estrito é uma atividade consciente dirigida à compreensão e aplicação de uma norma”. A interpretação em sentido amplo compreende qualquer ‘atualização’ da Constituição (qualquer exercício de um direito constitucional, de uma função constitucional, etc.). Assim, a colocação em prática da Constituição representa interpretação constitucional em sentido amplo, processo do qual participam todos os cidadãos, grupos sociais e órgãos estatais, proporcionando materiais hermenêuticos aos intérpretes em sentido estrito (Araujo 1994: 83).
Daí que a interpretação da Constituição é tarefa de uma “sociedade aberta de intérpretes”, sendo uma atividade na qual intervém a sociedade inteira e não apenas de um grupo fechado de juristas. Nas palavras de Häberle,
no processo de interpretação constitucional estão potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado com numerus clausus de intérpretes da Constituição”
Como elemento de articulação entre instituições e sociedade, Häberle aponta a “opinião pública”, entendida como “...media (imprensa, rádio, televisão, que, em sentido estrito, não são participantes do processo, o jornalismo profissional, de um lado, a expectativa de leitores, as cartas de leitores, de outro, as iniciativas dos cidadãos, as associações, os partidos políticos fora do seu âmbito de atuação organizada..., igrejas, teatros, editoras, as escolas da comunidade, os pedagogos, as associações de pais” (Häberle)
Esta concepção de “opinião pública” depende do entendimento de que o povo é essencialmente pluralista e dinâmico, e não algo compacto, homogêneo e uniforme. Assim, o povo não manifesta uma vontade única, mas uma pluralidade de vontades que interagem entre si. (Araújo, 1994, 86)
Daí que o entendimento de democracia a partir de Häberle não fundamenta-se na tradicional idéia de que o povo entendido como conjunto unitário tem uma vontade soberana. De modo diverso, a concepção fragmentada do povo permite a Häberle demonstrar a permanente possibilidade da minoria vir a converter-se em maioria.
Sendo a democracia fundamentalmente um processo aberto às alternativas existentes, sua garantia representa proteger os mecanismos que permitem a configuração de alternativas, proporcionando-lhes chances para que possam ser postas em prática (Araújo, 1994 : 86).
É oportuno considerar que a perspectiva de Häberle difere consideravelmente do enfoque luhmanniano da “legitimação pelo procedimento”. Para Luhmann, os procedimentos são
97

mecanismos que geram presunção de legitimidade substituindo consensos materiais44 diante da necessidade de redução de complexidade em uma sociedade marcada pela hipercomplexidade, contingência e incerteza. O compromisso de Luhmann é assim com a redução de alternativas como forma de aumentar a previsibilidade e a segurança.
Häberle por outro lado tem em mente a idéia oposta, qual seja a do aumento de possibilidades mediante a “abertura” dos canais democráticos, viabilizando o surgimento de alternativas. Daí que o foco de Häberle recai sobre a legitimação do procedimento e não através do procedimento como em Luhmann. (Araújo)
Sintetizando, é possível admitir que
... o Estado democrático de direito legitima-se enquanto os seus procedimentos absorvem sistemicamente o dissenso e, ao mesmo tempo, possibilitam, intermediam e mesmo fomentam a sua emergência na esfera pública. Como modelo jurídico-político, ele legitima-se enquanto é capaz de intermediar consenso procedimental e dissensso contenudístico e, dessa maneira, viabilizar e promover o respeito das diferenças na sociedade global supercomplexa da contemporaneidade. (Neves, 2001:353).
Nesse sentido, o papel do tribunal constitucional é o de garantir a permanente abertura dos processos institucionais e sociais.
Deste modo, para aquelas leis que tenham sido objeto de grande debate social, com participação dos diversos setores interessados, é de se presumir que a sua elaboração está submetida a um certo controle social. Daí que no exame da sua constitucionalidade, o Tribunal Constitucional, observando tal peculiaridade deve autoconter-se. (Araújo, 1994: 88)
Outrossim, naquelas hipóteses em que o conteúdo da legislação em exame revelar um forte dissenso social, o Tribunal terá como tarefa garantir a força integradora da Constituição, procurando refletir o dissenso existente na sociedade.
Finalmente, o Tribunal deverá levar em conta os interesses que não tenham sido representados, velando pelo caráter eqüitativo da participação. (Araújo, 1994: 88)
9- Conclusão
Os desafios apresentados às sociedades contemporâneas têm levado à rediscussão sobre os parâmetros dentro dos quais a democracia pode ser potencializada. Desde o projeto moderno de conduzir à felicidade através de modelos de racionalidade centrados na individualidade do sujeito até as crises demonstradas pelos déficits da teoria impostos pela realidade, tornou-se evidente que o ideal de unidade e coesão teria que superar a tensão no sentido da fragmentação. Nesse sentido, várias propostas se apresentaram como solução para o problema.
O liberalismo, pretendendo enxergar o indivíduo de modo universal e imutável, buscou enfatizar o aspecto da autonomia moral, criando uma esfera privada na qual o indivíduo fosse livre para buscar a realização dos seus projetos individuais de vida. Para isso, procurou enfatizar a prioridade da justiça sobre as concepções individuais do bem.
O comunitarismo por sua vez, procurando enfatizar a importância do debate público, contrapôs-se radicalmente à concepção individualista liberal, antes reconhecendo a importância da realização da justiça através do consenso em torno das concepções do bem.
44 Para Niklas Luhmann as decisões valem e adquirem força coativa não exatamente pelo seu conteúdo, mas por passarem por um procedimento estabelecido consensualmente. Note-se que o consenso a que se refere Luhmann não é estabelecido sobre o conteúdo da decisão, mas sobre os critérios que devem orientar a tomada de decisão (procedimento). Para Luhmann “.. tem de se assegurar que decisões obrigatórias sejam consideradas como premissas do comportamento, sem que se possa especificar com antecedência quais as decisões concretas que serão tomadas. A legitimação pelo procedimento e pela igualdade das probabilidades de obter decisões satisfatórias substitui os antigos fundamentos jusnaturalistas ou os métodos variáveis de obtenção do consenso”. Para que isso ocorra é necessário ter em mente as diferenças que existem entre a aceitação de premissas de decisão e a aceitação da própria decisão. Com isso a “legitimidade depende assim, não do reconhecimento ‘voluntário’, da convicção de responsabilidade pessoal, mas sim, pelo contrário, dum clima social que institucionaliza como evidência o reconhecimento das opções obrigatórias e que as encara, não como conseqüências duma decisão pessoal mas sim como resultados do crédito da decisão oficial”.
98

Uma concepção e outra trabalham com as noções de pluralismo e tolerância de maneira diversa. Enquanto para o liberalismo o pluralismo se reflete na diversidade de concepções individuais do bem, para o comunitarismo o pluralismo se refere à uma pluralidade de concepções grupais do bem. Assim, para os liberais a idéia de tolerância deve se referir ao respeito para com as diversas concepções individuais do bem. Para os comunitaristas, a tolerância deve se referir ao respeito às diversas concepções grupais do bem.
A concepção do processualismo democrático enxerga as duas matrizes como reducionistas, já que tanto os princípios universalistas que proporcionam a autonomia individual como os princípios que reconhecem a inserção social do indivíduo em uma comunidade implicam-se reciprocamente. Assim, uma concepção verdadeiramente comprometida com a realização da democracia precisa necessariamente promover a interação mútua entre esfera privada e esfera pública em torno dos procedimentos que informam a ação comunicativa. O procedimentalismo democrático é aquele estabelecido por Jurgen Habermas. Ainda que a perspectiva liberal de John Rawls envolva também aspectos inequivocamente procedimentais, o seu modelo não consegue articular de modo satisfatório a esfera pública com a esfera privada, procurando garantir simultaneamente um espaço importante tanto para o universalismo como para os particularismos, antes pendendo para o individualismo da esfera privada através de recursos a um modelo procedimental universalista.
O modelo habermasiano por outro lado busca conferir relevância a ambos os aspectos: de um lado o universalismo, tão caro aos liberais, é importante para a construção de um consenso mínimo em torno aos procedimentos institucionalizados pelo Estado Democrático de Direito; de outro lado o relativismo tem o seu indiscutível papel no que se refere à construção dos conteúdos normativos, dentro do processo argumentativo que se desenvolve no âmbito social.
A interpretação da Constituição dentro desses diversos contextos teóricos adquire matizes sensivelmente distintos. Se para a hermenêutica liberal a defesa do judicial review como garantia dos direitos fundamentais individuais é uma referência teórica importante, para os comunitaristas a defesa do judicial review de modo absoluto não se compadece com a necessidade de respeitar as peculiaridades e diferenças existentes nos diversos contextos sócio-históricos-culturais.
Assim, a interpretação da Constituição em um regime comprometido com a democracia deve se deixar influenciar pela perspectiva que a enxerga como um marco procedimental, estabelecendo balizas dentro das quais o debate democrático deve ocorrer. Daí a importância dos procedimentos legislativo, eleitoral e judiciário, como formas de acesso das diferentes concepções do bem às estruturas de mando.
É preciso assim que estes procedimentos estejam permanentemente abertos, sem jamais consolidar um conteúdo específico, antes permitindo que o próprio jogo político-democrático se encarregue de determinar os seus conteúdos de modo que grupos hoje minoritários possam em um momento posterior serem alçados à condição de majoritários.
Sintetizando estas idéias podemos pontuar:1 – As sociedades contemporâneas, marcadas pela complexidade e pelo pluralismo pressionam as instituições demandando respostas eficientes ante o risco da fragmentação e do florescimento de experiências autoritárias e anti-democráticas;2 – A formação de consensos ocorre de modo diferenciado no Estado Liberal, no Estado Social e no Estado Democrático de Direito. Enquanto o consenso no Estado liberal é um consenso referente à forma e ao conteúdo das normas que regulam o funcionamento social, no Estado Social, dada a absorção do conflito entre capital e trabalho, o consenso alcançado é tão somente um consenso formal. O regime democrático é um regime no qual o espaço do dissenso não pode ser eliminado;3 – O comunitarismo procura lidar com o problema da diversidade entendendo que o pluralismo verificado nas sociedades contemporâneas refere-se a uma pluralidade de concepções de vida partilhadas por pessoas integrantes de um mesmo grupo, daí a ênfase na esfera pública enquanto espaço de manifestação de valores partilhados;4 – O liberalismo por sua vez enfatiza a relevância da autonomia moral do indivíduo, daí a preocupação com a construção de uma esfera privada enquanto espaço de manifestação do
99

pluralismo. Sob o ponto de vista liberal, o pluralismo manifesta-se enquanto pluralidade de diferentes concepções individuais de vida;5 – A perspectiva alternativa do procedimentalismo democrático fundado na ação comunicativa habermasiana, procura superar o universalismo liberal e o particularismo comunitarista, articulando as esferas pública e privada;6 – A interpretação da Constituição fundada no liberalismo promove a defesa do judicial review enquanto mecanismo assecuratótio dos direitos das minorias ante maiorias eventuais; 7 – A hermenêutica comunitária, discutindo os limites do judicial review em sociedades pluralistas, entende que uma ampla adoção de tal mecanismo acaba por sufocar a autonomia de grupos com diferentes concepções de vida;8 – A função do intérprete da Constituição em um regime democrático deve ser a de garantir a abertura procedimental da Constituição, permitindo que grupos minoritários possam ter acesso aos procedimentos institucionalizados.
Aulas gravadas transcritas
Aula do dia 27 de abril de 2007
Queremos ver as origens da reflexão filosófica. A filosofia é muito mais ampla do que a reflexão filosófica voltada para o direito. A filosofia trabalha no plano dos pressupostos. Não tem a preocupação, não tem compromisso em dar respostas para perguntas. A filosofia é válida tão somente pelo fato de enfrentar todo tipo de perplexidade.
Toda origem daquilo que a gente tem por filosofia nasce de uma perplexidade. Tudo que gera perplexidade e nos motiva a descobrir o porquê, leva necessariamente a uma reflexão filosófica. As reflexões filosóficas nada mais são do que fruto de inquietação humana, para explicar fenômenos naturais, como a chuva, etc.
No começo essas perguntas eram respondidas com base na crença, porém pacificador, acreditava-se que a sucessão dos dias e das noites passava por uma divindade que assim queria. A filosofia nessa época atuava como pacificador dos espíritos inquietos dos humanos.
A superação desse momento mitológico na forma de explicar o mundo, passando-se a valer-se da razão, a partir de dados efetivamente trazidos pela realidade, deu-se no século IV antes de Cristo. Tem-se um marco inicial do que a gente chama de pensamento filosófico na nossa cultura ocidental. Claro que as reflexões no campo da ética e da moral só viriam a aparecer algum tempo depois, com Sócrates.
O que faziam esses filósofos comprometidos com a explicação racional? Rejeição de toda explicação da realidade que pudesse ser reconduzida a uma divindade. Acreditava-se que tudo que existia na natureza tinha uma explicação, uma causa na própria natureza. São os chamados fisiólogos.
O primeiro tema dos fisiólogos foi a busca de explicação de coisas ligadas à natureza, e a obsessão pela busca da causa levava ao infinito, o elemento primordial, a causa de tudo, a chamada ARQUE. Esse elemento primordial, a causa de tudo, tinha uma explicação diferente para cada filósofo. Anaxímenes achava que a causa de tudo era o ar. Já Heráclito achava que a ARQUE era o fogo. Outro achava que era a composição de terra, ar, fogo e água. Portanto, a filosofia nasce dessa forma. Curiosamente isso não se dá em uma cidade continental grega, mas numa das colônias de pescadores do mar Jônico devido à intensa atividade comercial.
A reflexão propriamente ética começa a surgir um século mais tarde, na cidade de Atenas. Discute-se o que é a verdade, o que é a justiça, questões relativas ao funcionamento da sociedade, e
100

o marco fundamental desse processo é Sócrates. Tanto que a filosofia dessa época é dividida entre pré-socráticos e pós-socráticos.
Como Sócrates nada escreveu, persiste hoje a dificuldade de se saber qual é o Sócrates-pessoa do Sócrates-personagem. Porque muitas vezes Platão fala como se fosse Sócrates, em seus diálogos. Sócrates fazia filosofia nas ruas. Interpelava as pessoas com perguntas. Utilizava-se de técnicas curiosas, fazendo com que as pessoas “parissem” as suas idéias, técnica chamada de maiêutica. Isso acabou incomodando os poderosos, a partir do momento em que ele colocava em dúvida suas próprias convicções, sendo então condenado a beber sicuta. Em sua técnica, utilizava-se primeiramente do confronto, para depois, utilizando-se da ironia, mostrar que a pessoa na verdade não tem certeza daquilo que está afirmando. Daí aquela máxima socrática “só sei que nada sei”. Há aí um confronto entre idéia de doxa (nossa opinião) e a episteme. Aquela consiste na idéia que a gente pensa que é, e este o verdadeiro conhecimento. Sócrates traz a preocupação com a busca da verdade. Não é que Sócrates diga o que é a verdade, mas adota um método que cria a inquietação e que gera perplexidade.
A importância de Sócrates foi a introdução da questão ética e política na reflexão filosófica. O Sócrates não dá uma resposta do que é a justiça, mas abre as portas para a investigação, a partir da perplexidade. Esse é o primeiro passo é criar o ambiente da perplexidade. Se temos convicções e certezas não há o que pensar. Mas que certezas são essas? Que convicções são essas? No que é que a gente acredita? Esse é o grande legado de Sócrates.
Isso só foi possível por conta do desenvolvimento da democracia na Grécia. Até então vigorava a oligarquia, a tirania, e só quando é instalada a democracia, é que essa reflexão começa a ganhar espaço.
Enquanto Sócrates fazia filosofia na rua, Platão fazia filosofia na sua academia. Platão cria um sistema, uma formula do que seria uma forma de estar no mundo em sintonia com a realidade, com as instituições, etc. Notabilizou-se pela criação desse sistema, que podemos chamar de prevalência do mundo das idéias. Para Platão, a realidade nada mais é do que uma lembrança daquilo que de fato importa, que são as idéias, aquilo que a gente tem na nossa cabeça como sendo padrões ideais. Em todos os livros de Platão essa idéia é recorrente. Fala-se no clássico da alegoria da caverna, a própria idéia da reminiscência, e a idéia platônica do mundo sensível e do mundo supra-sensível. São três as idéias platônicas (o mito da linha dividida, a alegoria da caverna e a reminiscência). A primeira consiste na divisão de dois mundos distintos: o mundo sensível, o mundo material, aquilo que a gente vê, toca, cheira, e o mundo supra-sensível, aquilo que não se sente, mas se atinge através da mente, do pensamento. Diz Platão que a verdade, o verdadeiro conhecimento, está no mundo supra-sensível. Nesse contexto a gente teria diferentes formas de conhecimento. No mundo sensível a gente teria a visão do mundo, como nos é apresentado, e a gente tem também o conhecimento das coisas de uma pessoa comum. Uma coisa é a visão, outra coisa é o conhecimento. Ambos estariam no mundo sensível. No mundo supra-sensível estaria o conhecimento das coisas através da geometria (influência de Pitágoras). Exigir conhecimento prévio de formas geométricas revela um esforço de abstração. O estágio mais elevado do mundo supra-sensível seria o conhecimento da verdade através da dialética.
A alegoria da caverna consistia em um grupo de prisioneiros que viviam numa caverna escura, amarrados, olhando para o fundo da caverna, e viam imagens refletidas na parede da caverna. Eles pensavam que aquilo era o mundo real. Mas na verdade isso era a projeção de algo que aparecia. Até que em num belo dia um desses prisioneiros se solta e consegue sair da caverna e perceber que tudo aquilo que ele via antes como uma realidade específica, na verdade era muito diferente daquilo que ele viu lá fora, um mundo de cores, sons e imagens. Platão se refere a esse momento dizendo que esse prisioneiro “olha para a luz”, uma expressão que denota “conhecer a verdade”. Esse conhecimento da verdade é uma analogia ao mito da linha dividida, do mundo sensível e supra-sensível. Quando ele descobre, vê a distinção do que é a idéia da coisa e a coisa em si, ele volta para avisar aos seus companheiros, e acaba sendo desacreditado e assassinado.
101

Qual a visão social do filósofo nesse contexto? É a de compartilhar o conhecimento com as pessoas de seu convívio, mas isso traz o risco de ser mal interpretado e eliminado, como ocorreu com Sócrates.
A alegoria da caverna suscita uma série de reflexões: a percepção da realidade, o papel social do filósofo, a existência de mundos distintos, ou seja, que a verdade não está naquilo que a gente vê, mas sim muito além do nosso mundo sensorial.
Pelo mito da reminiscência, Platão diz que o processo de conhecimento, do saber, representa uma relembrança, ou seja, aprender é na verdade relembrar, lembrar de algo que a gente em algum momento da nossa existência, antes de nascer, a gente já sabia. No momento que a gente nasce, a gente esquece de tudo, então o processo de aprendizagem seria na verdade um processo de relembrança. Isso mostra que nossa cabeça está pronta para ter todas as idéias, todo o conhecimento da verdade.
Localiza-se um conflito entre o modelo de pensamento de Sócrates e aqueles que desde os tempos de Sócrates tinham bastante influência na cidade: os sofistas. Estes eram criticados porque não tinham compromisso com a verdade, com o saber. Eles vendiam suas técnicas para governantes, ensinava a argumentar, saíam de cidade em cidade vendendo seus serviços, de oratória, isso escandalizava. Defendiam uma verdade estabelecida num jogo lúdico de argumentação. O marketing deles era provocar discussões em praça pública, onde ganhava quem conseguia reduzir o outro ao silêncio. Partiam de pressupostos que eram construídos dentro do próprio discurso, ou seja, começava-se a argumentar a partir de um ponto aceito como verdade, sem o direito de entrar em contradição.
Redescobrimos a importância dos sofistas no estudo do poder da linguagem (teoria da linguagem) na construção de sentidos. É uma herança de uma época em que a linguagem definia e modelava a realidade.
Hoje as expressões sofistas e sofisma denotam algo negativo. O sofisma é um raciocínio tortuoso, que não é verdadeiro. Mas a expressão sofista designa uma pessoa sábia, mas tamanha foi a carga depreciativa que se estabeleceu que ligamos ela a algo ruim.
O que é justiça em Platão? É uma virtude da cidade. Assim como ela pode ser também uma virtude do indivíduo. Ele estabelece uma relação direta entre o indivíduo e a cidade. Quanto mais virtuosos forem os indivíduos de uma cidade, mais virtuosa será essa cidade. Quanto mais virtudes o indivíduo tiver, mais virtudes a cidade vai ter. A idéia de virtude de Aristóteles é diferente. Platão acredita na virtude em si. Aristóteles trabalha com uma idéia da virtude contextualizada, virtude relacional.
Platão diz que na cidade existem três diferentes tipos de pessoas: os governantes (sábios), os guerreiros (corajosos) e os artesãos (temperança), cada um com uma função específica. Quanto mais virtuosos os indivíduos nesse contexto, mais virtuosas serão as cidades, pois elas são compostas pelas principais virtudes de suas diferentes atividades. O referencial de justiça é construído a partir daí. Quanto mais virtuosos forem os indivíduos, mais justa será a polis.
Platão era elitista, porque dizia que só estaria habilitado para governar quem era sábio. Isso é influência do que aconteceu com Sócrates. Não é possível que alguém possa se desfazer de um pensador como de Sócrates, que tinha uma contribuição tão grande pra dar.
Resumo da aula: ... reflexão filosófica diante da perplexidade ... essa reflexão filosófica atingiu inicialmente o mundo natural. Só algum tempo depois é que ela atinge o mundo ético, o mundo da política, enfim, o que a gente pode chamar hoje da reflexão sobre a justiça. Nesse contexto é fundamental a contribuição de Sócrates, Platão e Aristóteles, no período de ouro da democracia grega, e que criaram padrões de reflexão que perduram até os dias atuais. Sobre Sócrates é importante destacar sua técnica, a maiêutica e a seu o compromisso com a verdade, em oposição aos sofistas. E sobre Platão, a formulação do seu mundo das idéias.
Aula do dia 02 de maio de 2007Acho que não teve aula neste dia.
102

Aula do dia 04 de maio de 2007
Só posteriormente aos fisiólogos é que a questão ética foi introduzida no debate filosófico, graças a Sócrates. A partir daí, tentei demonstrar a vocês a importância de Platão, a construção do mundo das idéias, a reflexão sobre a construção de um mundo ideal, fruto de um processo mental de conhecimento da realidade, e deixei aberto a reflexão sobre Aristóteles.
Em certo sentido, Aristóteles tem uma dimensão ainda maior do que Platão, porque ele foi um grande sistematizador. Aristóteles, ao contrário de Platão, por exemplo, sempre teve preocupação de catalogar, reunir todo o conhecimento até então existente, para a construção de um grande sistema filosófico, e isso é de uma grandeza impressionante para uma pessoa só. De fato conseguiu escrever e refletir sobre praticamente tudo, sobre lógica, matemática, biologia, fisiologia, botânica, ética, política. Também tem de fato uma grande e vasta reflexão sobre o que até então é justiça. É nesse sentido que podemos falar que ele veio organizar tudo que havia até então manifestado como certo.
Antes mesmo de Sócrates, havia por parte dos fisiólogos, uma preocupação de determinar o que é o ser e como explicar a mudança das coisas. Na verdade o grande debate que se estabeleceu na época foi entre Heráclito e Parmênides. Eles estabeleceram talvez o primeiro grande embate filosófico da história. Eles procuravam explicar as coisas tal como elas se apresentavam. E Heráclito dizia que nada é, tudo está em constante mudança, tudo está em fluxo, daí a máxima de Heráclito, que é muito citada, que tudo flui, que é impossível banhar-se duas vezes nas águas do mesmo rio, porque o rio por ser uma correnteza, quando você volta ao rio as águas não são as mesmas. Heráclito trabalhava com o mobilismo da realidade. A realidade é móvel, cambiante, que você não consegue dizer o que é o real, sem compreender o movimento inerente a ela. Já Parmênides, talvez o grande teórico do monismo, entendia que existe uma unidade _____ . O que aparece como sendo um movimento, na verdade é uma ilusão, na verdade o real está por trás daquilo que aparenta ser um movimento. Heráclito e Parmênides, portanto, trabalhavam com perspectivas nitidamente conflitantes, e é claro nesse sentido a influência que Parmênides teve na construção do pensamento de Platão. Este quando cria a sua teoria das idéias, ou teoria das formas, é nitidamente inspirado na teoria de Parmênides, que acreditava na possibilidade de identificar uma realidade capaz de ser apreendida ____ movimento.
Aristóteles nesse contexto, faz algo de impressionante. Mete-se desse debate e acaba por criar algo novo, a partir de um sentido de (oposição dissolúvel). A teoria de Aristóteles, de compreensão da realidade, entendia as coisas como sendo o ser tendo duas formas de manifestação. Compreendia o ser em ato, e o ser em potência. Quando você compreende algo em ato e em potência, você introduz necessariamente a idéia de movimento, o movimento seria exatamente a passagem, do ser em potência para o ser em ato. Dando exemplo disso aqui: uma criança é em ato uma criança, mas é em potência um adulto. Assim como uma semente, que é uma semente em ato, mas em potência é uma árvore, que por sua vez é em potência lenha, cadeira. É possível para Aristóteles compreender o mundo dentro de uma perspectiva que introduz um movimento como algo inerente à própria realidade sem abandonar a compreensão do que são as coisas ______ . Então essa perspectiva aristotélica é interessante pelo fato de permitir se criar um critério de classificação da realidade. Aristóteles foi um grande classificador. Essa idéia de gênero e espécie, de categorias, tudo isso é inspiração aristotélica.
O ser para Parmênides era algo possível de ser identificado a partir da observação do real. Para Heráclito, o ser era algo impossível de ser apreendido a partir dessa análise, porque tudo é movimento. Aristóteles compreende o ser em duas dimensões: o ser pode ser compreendido em ato, e ser compreendido em potência. Para que a gente possa compreender então dentro dessa perspectiva do ser, a gente precisa introduzir um elemento de ligação entre a potência e o ato, exatamente a idéia do movimento. Ari resolve essa grande pendenga filosófica estabelecida pelos fisiólogos pré-socráticos. De certa maneira isso é engenhoso.
Aristóteles talvez deva muito dessa grandeza ao fato de ter sido preceptor historicamente de Alexandre O Grande. Isso a princípio fez com que ele pudesse conhecer através dos territórios
103

que eram conquistados, outras culturas, outras formas de organização social, outras espécies vegetais e animais. Se por uma lado isso facilitou o acesso aos dados, por outro lado permitiu que sendo ele um filósofo “oficial”, permitiu que Aristóteles tivesse seus pensamentos divulgados por grande extensão territorial. Isso viria no final da Idade Média a ser bastante importante, bastante significativo, pois através dos árabes houve a reintrodução do pensamento aristotélico no mundo ocidental, via península Ibérica.
POR PROBLEMAS NO GRAVADOR (CABEÇOTE SUJO), A PARTIR DESTE MOMENTO A FITA FICOU INAUDÍVEL. SEGUE COMENTÁRIOS A PARTIR DE ANOTAÇÕES DE CADERNO:
O debate filosófico sobre a justiça na idade média foi influenciado pelo cristianismo. No inicio do medievo, Agostinho aproveita a teoria platônica do mundo das idéias: mundo sensível e mundo supra-sensível. O sensível seria o imperfeito, mutável, enquanto o supra-sensível seria o perfeito, o imutável. Construção lógica que encaixa perfeitamente com os propósitos da igreja, na dicotomia vida terrena x vida pós-morte. Influenciado por Platão, Agostinho cria a idéia de cidade dos homens versus cidade de Deus. O cristianismo sempre se recusava a reconhecer a importância de Aristóteles, por não vislumbrar coerência de suas teorias com os propósitos da igreja. Mas no final da Idade Média, Tomás de Aquino vem a resgatar os ensinamentos aristotélicos, posto que inevitável, ante a grande divulgação empreendida pelos árabes.
Aula do dia 09 de maio de 2007 [professor viajou]Aula do dia 11 de maio de 2007 [professor viajou]
Aula do dia 16 de maio de 2007
O Direito na perspectiva Kelseniana
A gente ouve muito falar em Kelsen, quase sempre de forma negativa. E de fato, é preciso reconhecer que Kelsen tem uma proposta de construção de uma perspectiva de direito, de jurisdicidade, que é uma grande teoria da validade. Só que a validade que Kelsen defende seria uma validade formal. Por isso mesmo, a gente percebe que Kelsen estabelece critérios para que uma norma possa ser considerada como válida. E a gente pode dizer que uma norma é válida se ela estiver em adequação com as normas superiores do sistema, que, em última análise é chamada de Norma Fundamental. O problema é que Kelsen, ao preocupar-se com a validade, tão-somente na sua dimensão formal, exclui do Direito todas as questões de ordem política, axiológica etc. Não tem nenhuma preocupação com fundamentação de um direito justo, por exemplo. Isto não é preocupação para Kelsen. Talvez, reconhecendo a dificuldade que existe na construção de um parâmetro de justiça, ele tenha se proposto a construir uma teoria que se auto-intitula “pura” do direito. Não é o Direito que é puro; é a teoria que é pura. Inicialmente, quero retalhar algumas idéias acerca da teoria pura do direito. Apesar de ser muitíssimo citado, Kelsen é pouquíssimo lido. É quase uma relação de proporcionalidade inversa. Quanto mais citado, menos lido; quanto menos lido, mais citado. Kelsen, no nosso universo jurídico, é aquela imagem de formalismo, como se fossem manifestações de algo ruim, negativo. E, no entanto, a gente encontra uma grande dificuldade, e isso é algo curioso, porque parece que a teoria do direito não consegue, ao mesmo tempo que combate Kelsen, não consegue construir nada que possa substituir; não se consegue construir uma teoria que tenha um grau de aceitação, de abrangência, de penetração no inconsciente coletivo, que é a teoria pura do direito. Isso é interessante, porque as críticas são quase sempre bastante pertinentes, o resgate do princípio de moralidade, e é preciso também que a gente se preocupe não apenas com a validade da dimensão formal, mas também com a dimensão ética, no sentido de que se possa incorporar uma moralidade específica e comprometida com o referencial de justiça. Se é que isso é possível em termos de complexidade contemporânea do direito. Eu vou deixar essas questões mais gerais, vamos tentar discutir os pressupostos de Kelsen. Ele vive um
104

momento em que existia um sincretismo metodológico. O direito é uma grande panacéia. Todo mundo agora pode definir, pode se arvorar, meter-se a dizer o que é direito, tanto sociólogos, quanto políticos, quanto antropólogos. Não existe rigor. Por isso, o grande ponto de partida de Kelsen é o combate ao sincretismo metodológico. Contra esse sincretismo metodológico ele propõe a pureza do método. Portanto, o direito para Kelsen servia como um processo de filtragem para que ele pudesse ser, então, percebido em sua específica pureza. Fazendo isso, Kelsen tem toda uma dicotomia kelseniana que opõe o mundo do ser ao mundo do dever-ser. Algo que eu já mencionei para vocês na aula passada, mas que na verdade é um pressuposto fundamental de Kelsen que se reflete tanto na hermenêutica, quanto no ordenamento jurídico e bem assim na construção do Direito do ser. Ele tem uma estrutura argumentativa sólida e deixa poucas brechas para a crítica da teoria. Eu diria que ela é bem amarrada. Quanto ao dever-ser refere-se a uma constatação de Kelsen na tentativa de enxergar dois mundos distintos. Primeiro, o mundo dos fatos (o mundo do ser) e o mundo das normas (o mundo do dever-ser). Diria Kelsen, então, que, quando a gente trabalha com o direito a gente trabalha com juízo de dever-ser. Quando a gente trabalha com fatos, como a sociologia, por exemplo, a gente está trabalhando com fatos. São mundos distintos que não se confundem. A partir daí, ele começa uma célebre e consagrada construção escalonada do ordenamento jurídico. A pirâmide normativa, a imagem de pirâmide, não é dele. Ele apenas toma emprestado essa imagem de ______. Ele dá uma dimensão maior a isso pela penetração que teve a teoria pura do direito. Ele vai dizer, então, que todo dever-ser fundamenta-se em outro dever-ser. Portanto, normas fundamentam-se em normas. Toda norma possui como fundamento de validade numa outra norma. Daí perceber-se o ordenamento jurídico tal qual uma imagem de uma pirâmide. Nós teríamos na base um número maior de normas, por isso, mais aberta, com um maior grau de concretude, em oposição ao que acontece no ápice da pirâmide onde teríamos menos normas, todas com caráter de abstração e de abertura. Isso faria com que percebêssemos que existem diferentes espécies normativas num contexto do ordenamento jurídico. Se a gente adota o pressuposto fundamental de que todo dever-ser fundamenta-se em outro dever-ser, vamos testar a teoria pura do direito. Uma sentença é um dever-ser? A sentença é uma expressão da norma? É uma expressão normativa? Sim ou não? Sim, é um sentido concreto. Nesse sentido, a sentença seria aplicação de normas superiores. Que normas superiores poderiam ser fundamentos de validade para uma sentença? Poderia ser uma lei ordinária, uma lei complementar ou a própria Constituição. Aliás, esse é o momento que a gente vê hoje, consagração de um pós-positivismo para uma visão direta, sem inclusive necessidade de referência à própria legislação. Isso é complicado e a gente vai ter uma discussão no momento oportuno. Mas vamos imaginar que o juiz fundamente a sua sentença. Ou seja, a sentença fundamenta-se em uma lei ordinária. O dever-ser fundamenta-se no dever-ser. Vamos supor, então, que se é verdade que uma lei ordinária é dever-ser ela precisa ter um fundamento de validade. Qual seria o fundamento de validade de uma lei ordinária? Pode ser a própria Constituição ou uma regulamentação de uma lei complementar, qualquer que seja. O fato é que a gente sempre sairia desse processo procurar fundamento útil da norma jurídica até o momento em que chegaríamos na Constituição, que seria para Kelsen o fundamento de validade de dever-ser positivo que fundamenta toda ordem jurídica. O problema para Kelsen é que se todo dever-ser fundamenta-se em outro dever-ser e se a constituição é um dever-ser, a pergunta é qual o dever-ser que fundamenta a constituição? Qual é a norma que fundamenta a constituição? Esse ponto foi um dos mais falhos na teoria pura do direito. Ele não poderia, simplesmente, dizer que a constituição fundamenta-se no poder. Qual é o poder que cria a constituição? É o poder constituinte. Kelsen, porém, não pode admitir isso. A gente não pode dizer isso. A constituição é válida, porque ela é fruto de uma decisão do poder constituinte, que tem a força para positivar aquele direito. Kelsen, porém, não pode jamais admitir isso. É um poder de fato. Não é um poder-direito. É um poder capaz de gerar direito. Portanto, ele tem prerrogativas jurídicas de gerar direito, mas ele não é um poder que possa ser exercido, calcado, limitado pelo direito. É um poder de fato, o que significa dizer que, se a Constituição fundamenta-se num poder constituinte, vamos admitir que uma norma dever-ser está se fundamentando em um fato. E, portanto, estamos quebrando um pressuposto fundamental de Kelsen. É por isso mesmo que se eu admito que isso é verdade, como posso admitir
105

que essa regra não seria uma regra confiável, já que essa regra não seria uma regra absolutamente confiável. O que faz Kelsen para sair desse impasse. Ele elabora a teoria da norma fundamental. Ele vai entrar através de um artifício próprio ao dizer que se vai entender a Constituição em dois sentidos. Entender a Constituição em um sentido jurídico positivo, que é a Constituição posta, mas também entender a Constituição num sentido lógico, jurídico, que quer dizer que podemos entender que a Constituição de um Estado possui duas dimensões. Uma dimensão, portanto, que é representada pela expressão da norma posta e uma segunda dimensão que é a expressão da norma pressuposta. Tem até um livro de Eros Grau que brinca com essa qualidade de Kelsen: “O direito posto e o direito pressuposto”. Portanto, a gente teria, em um primeiro momento, a norma posta, editada, no sentido jurídico-positivo, do direito posto, e num sentido lógico-jurídico uma norma pressuposta. O que é essa norma fundamental pressuposta? Nada mais é do que um artifício lógico. É apenas uma condição sem a qual não podemos pensar a ordem jurídica na forma idealizada por Kelsen. Se ele não fizesse isso não teríamos como fundamentar o estratamento de normas, a hierarquização de normas, o dever-ser fundamentado no dever-ser. Se isso não fosse feito, não teríamos como defender ou sustentar a visualização do direito nesses modos. Essa norma, para Kelsen, seria uma norma necessariamente pressuposta. Não é uma norma que se possa, enfim, enxergar como efetivamente posta. Porque toda norma posta pressupõe autoridade capaz de conferir-lhe a positividade. E se existe autoridade é porque existe uma norma anterior que conferiu o poder a esta pessoa, que o investiu de autoridade. E se existe essa norma, existe uma outra autoridade e assim, sucessivamente. E, portanto, ele resolve cotar, criando a imagem da constituição dividida em duas dimensões. É claro que isso talvez possa ser um grande artifício, mas de fato é para fechar o ordenamento jurídico. A gente pode, dentro desse contexto, perceber que Kelsen trabalha com uma visão que permite dividir ou repartir as funções de Estado, que é o direito repartido em esferas de competência. Essa discussão sobre tripartição de poderes é uma grande bobagem. Para Kelsen o Estado possui apenas duas funções: criação e aplicação do direito. Para Kelsen isto estaria espalhado e consagrado pelos três Poderes. Tanto o Executivo, quanto o Legislativo e o Judiciário criam e aplicam o direito. Portanto, não é uma questão de dividir, de quem cria e quem aplica. Os três criam e aplicam o direito. Portanto, nesse contexto, todos os três seriam capazes de criar e aplicar o direito simultaneamente. Em qualquer ponto que eu colocasse na pirâmide normativa seria uma manifestação simultânea relação de criação do direito em relação aos atos abaixo desse momento. Vejam um exemplo: o juiz, quando dá uma sentença, ele pode, eventualmente, fundamentar sua decisão em determinado dispositivo legal. Vamos imaginar que a situação seja de um homicídio e ele fundamenta sua decisão no Código Penal – matar alguém, pena de seis a vinte anos. Pois, bem. O juiz quando dá essa decisão ele não está apenas aplicando a norma a qual ele se refere. Mas está aplicando e afirmando toda a ordem jurídica. Toda autoridade, no momento em que está aplicando o direito, está afirmando toda a ordem jurídica na sua plenitude. Ele abre a possibilidade de discutir o direito em termos de eficácia, enquanto concebe a ordem jurídica globalmente eficaz. Uma outra análise. Se para Kelsen, qualquer movimento na pirâmide representa simultaneamente criação e aplicação do direito, ele consegue, então, perceber que existem dois momentos únicos nesta pirâmide que fogem a essa regra. Ou seja, lá no extremo ápice da pirâmide temos uma pura criação do direito exatamente no momento que temos a criação do direito a partir da percepção lógica e nos dá uma pura aplicação, sem ser criação, para mais nada. Trata-se de mera execução. Salvo esses dois momentos, qualquer outro momento na pirâmide será simultaneamente criação e aplicação do direito. Não há para Kelsen a possibilidade de visualizar em um só Estado, dentro de uma lógica consagrada pelo liberalismo de Montesquieu, que dividia os três poderes distintos em competências que se comunicavam, etc. Para Kelsen, isso era uma grande bobagem. Outro ponto que deve ser analisado é a questão da hermenêutica kelseniana. No penúltimo capítulo da teoria pura do direito ele cria uma imagem que também é muito citada e que precisa ser articulada com isso que acabamos de falar. É a teoria da moldura. Para Kelsen, o ato interpretativo é curioso. O próprio Tercio Ferraz dizia que o estudo da interpretação a partir de Kelsen leva a uma grande frustração. Na verdade, a função daquele que interpreta o direito é o de poder marcar o limite do possível; marcar, portanto, uma moldura dentro do qual seja possível a
106

decisão. Kelsen não diz qual é a melhor decisão. Nem trabalha com o juízo de adequabilidade. Coube na moldura, é uma decisão válida. Basta que a decisão esteja dentro desse limite para que a decisão possa ser aceita pela ordem jurídica de acordo com esse conceito de validade. O problema, portanto, é que isso nos leva a uma disfunção. A aplicação do direito decorre, portanto, de um ato de conhecimento ou ato de vontade? O que é aplicação do direito para Kelsen? Se para ele basta caber na moldura, a pergunta é a decisão a ser tomada vai ser aquela que é melhor, enfim, a partir de um processo de um suposto conhecimento, o exercício de capacidades cognitivas, sobre o que é bom, sobre o que é adequado ou simplesmente a autoridade, a pessoa que está investida de poder decisório quer. Para Kelsen, a interpretação do direito e sua aplicação é, sobretudo, um querer. É um ato de vontade. Eu sei que essa é melhor. É simplesmente uma vontade que é legitimada pela ordem jurídica. Para Kelsen, como ele quer; não que a decisão seja tecnicamente melhor. Isso acaba colocando no mesmo plano uma pessoa que nunca estudou direito e pessoas que passaram a vida toda estudando direito. A diferença entre os dois vai ser apenas o fato da pessoa estar investida de autoridade. Então, isso é para nós que interpretamos o direito, a partir de Kelsen, frustrante. Kelsen não consegue perceber que existe uma melhor ou uma pior decisão. Simplesmente, é uma decisão que cabe naquele sistema lá. Para Kelsen, então, a distinção entre direito positivo e ciência do direito ela se torna sempre claramente perseguida nesse contexto. Diria Kelsen, a função daquele que opera no plano normativo, jurídico, aquele que opera no plano jurídico, portanto, ele trabalha com a linguagem das fontes do direito e, portanto, trabalha com o direito positivo. Ele trabalha construindo juízos de dever-ser. Já o cientista do direito trabalha com juízos descritivos; descreve a realidade. Para Kelsen, portanto, a função dessa moldura é tão-somente traçar os limites do possível. O cientista do direito teria como missão simplesmente mostrar onde está a moldura. Cabe ao operador do direito preencher, pintar este quadro e dar o sentido que ele entender melhor para aquele caso concreto. O problema é que Kelsen, no seu ideal de pureza, vai dizer que o direito, tal como ele é, é simplesmente a expressão de limites que devem ser preenchidos não pelos cientistas, mas por aqueles que atuam no plano normativo. E, além disso, é fazer política. É confundir o plano da ciência com o plano do direito positivo. E há uma frase que sintetiza isso: o direito, tal como ele é, é a expressão dos mais fortes; tanto melhor que os mais fortes forem também os mais justos. E se não foram os mais justos isso não é problema para o cientista do direito. O problema de Kelsen é de se construir um referencial de jurisdicidade na pretensa neutralidade, numa retirada de aspectos morais. Isso não quer dizer que a teoria pura do direito não consiga explicar aquilo que aconteceu na Alemanha nazista. Cabe como uma luva, porque houve o processo que levou ao poder, que produziu normas que defenderam o nazismo. Se isso é verdade, a gente pode perguntar, então. Se a teoria pura do direito se presta para o nazismo, será que se presta também para um regime socialista? Perfeitamente. Presta-se para um ou para outro, já que Kelsen não tem preocupação com o conteúdo, mas apenas com a forma. Esse é o grande problema quando a gente pensa em democracia, em direitos humanos etc, quando se fala em teoria pura do direito, fica faltando alguma coisa, simplesmente, porque é preciso critérios para preencher este quadro ou para ter uma noção de validade que possa necessariamente incorporar valores nessa discussão. E a TPD seguiu um caminho que não é o melhor caminho para isso, porque não atinge a discussão sobre a modalidade ética, moral do direito. Isso é um defeito da TPD? É perfeitamente compatível com a proposta dele. Ele faz aquilo que ele se propõe.
Anotações de caderno da aula de 18/05/2007
O pensamento jurídico na modernidade1 – generalidades2 – caracterização da modernidade3 – a discussão sobre a verdade no direito4 – segurança X justiça
* o Estado surge para justificar/legitimar o direito
107

* a crise do Estado social só atinge a dimensão empresarial, e não o “estado providência”* escola da exegese = compromisso nitidamente liberal* escola da livre investigação da justiça = só no caso das lacunas* escola do direito livre = extrema preocupação com a justiça
Consagração do costume: segundo legem = na escola da exegese Praeter legem = na da livre investigação Contra legem = na escola do direito livre
* diante da atual imprecisão da CF/88, quem vai dizer como é o Estado brasileiro (liberal ou social) é o juiz, na aplicação da lei.
* Poder Judiciário – argumentação – o sentido da norma é a posteriori* é possível encontrar a verdade no direito? Considerar a pluralidade existente.
Resumo da aula, ditado pelo professor: o Estado moderno compreende pelo menos três fases distintas. A primeira com Estado absoluto, uma segunda com Estado liberal, e uma terceira com o Estado social. Contemporaneamente é possível identificar uma crise do Estado social e uma conseqüente defesa de um modelo cuja consagração tende a qualificá-lo como neoliberal. Neste quadro evolutivo, percebe-se desde as primeiras escolas jurídicas consagradas pela modernidade, uma preocupação com a construção de sentidos normativos que seriam uma expressão de uma verdade universal. A crise do pensamento jurídico contemporâneo mostra a insuficiência desta concepção. A aplicação do direito em contexto de crise parece ser muito mais comprometida com a construção de sentidos no caso concreto, do que com um suposto desentranhamento de vontades estabelecidas a priori.
Aula do dia 23 de maio de 2007Acho que não houve aula neste dia.
Aula do dia 25 de maio de 2007Acho que não houve aula neste dia.
Aula do dia 30 de maio de 2007Acho que não houve aula neste dia.
Aula do dia 01 de junho de 2007
A CRISE DA MODERNIDADE E SUAS REPERCUSSÕES PARA O DIREITO
O que é a idéia de crise, qual é a repercussão disso para o pensamento moderno, e como o direito tem reagido ___ de justiça. O que é que a gente deve entender por crise? Será que quando se diz que algo entrou em crise, quer dizer que está esgotado? A gente pode dizer que o projeto da modernidade está esgotado, já deu o que tinha que dar? Ou seja, quando algo entra em crise, necessariamente tem que ser considerado como ultrapassado? Como é que a gente caracteriza essa idéia de crise?
A idéia de crise está usualmente associada a declínio, colapso, decadência, ou seja, associado a algo alternativo. Quando a gente diz que fulano “está em crise”, ou que este conceito é um conceito em crise, a gente está querendo discutir sua aceitabilidade geral do conceito, ou demonstrar que a pessoa não está bem. Mas é preciso entender que a idéia de crise não significa necessariamente uma decadência, declínio ou colapso. A idéia de crise representa tão somente um processo crucial, um processo fundamental que é marcado na evolução de algo. Se a gente puder
108

usar a imagem ___ da medicina de ____ ele dizia que “a crise é um ponto fundamental para a compreensão das opções do quadro clínico”. A partir da crise, a gente tem duas possibilidades: ou o paciente piora, ou ele melhora. Portanto seria um momento crucial, momento marcado na evolução de algo. Quando eu digo que a modernidade está em crise, eu não quero necessariamente dizer que é um projeto falido. A crise da modernidade é apenas um momento fundamental de discussão, uma busca de readequação. Dentro desse contexto a gente tem duas possibilidades: ou negar a permanência do projeto da modernidade, é o que faz os chamados PÓS-MODERNOS, que dizem “a modernidade já foi, a gente tem que desconstruir essa idéia de racionalidade que foi consagrada pela modernidade, e reconhecer que a gente vive num mundo em que existem poucos ou pontos fatos (não entendi direito) para a racionalização”. Ou ainda, como fazem aqueles revisionistas, podemos assim chamar, como é o HABERMAS, que acredita que o projeto da modernidade não acabou, é um projeto inacabado. Ele propõe uma revisão do conceito de racionalidade, por isso ele resgata a chamada racionalidade comunicativa, ele propõe outro tipo de racionalidade, que foi pouco explorado na modernidade. Daí é que eu quero contextualizar aqui essa idéia de crise como um momento nebuloso, onde a gente não sabe muito bem o que vem pela frente. No momento atual também não sabemos exatamente em que referenciar, em que narrativa confiar de forma absoluta, já que a gente tem muita dúvida, muita incerteza do que vem pela frente. É sempre bom lembrar que o projeto da modernidade é um projeto que associa idéia de felicidade, a idéia de verdade, e a idéia de razão. Ou seja, para a modernidade, esses três conceitos são conceitos que guardam uma nítida e clara correlação. Ou seja, o caminho da felicidade é a verdade, e a verdade só pode se atingida através da razão. Uma questão importante: o que é noção da felicidade e verdade, sempre esteve presente no pensamento ocidental, desde os gregos, e também na Idade Média. Acreditava-se na Idade Média, graças à ___ e à escolástica, que o caminho da felicidade era a verdade, mas a verdade alcançava-se através da recuperação da palavra de Deus, pela interferência da Igreja Católica, portanto era uma verdade dogmática, uma verdade que os pais da igreja diziam que era. Então a modernidade rompe com isso e coloca a razão como o centro da reflexão sobre o caminho da verdade e a felicidade. Portanto, o que parece fundamental aqui é a gente estabelecer os limites e possibilidades dessa noção de razão na modernidade. Qual é a racionalidade em que inspira a modernidade? Qual é a racionalidade no contexto da modernidade, ajuda a construir o que é o direito, como se aplica o direito, o que é a justiça, qual a verdade do direito moderno? Isso tentei fazer com vocês na aula passada. Vocês devem estar lembrados que eu tracei ______ evolutivo das diversas manifestações do Estado moderno, e tentei a partir disso mostrar as escolas jurídicas dentro desse contexto. E queria aqui discutir quais são as possibilidades que a gente pode para caracterizar isso, que a gente pode apresentar como proposta que seja minimamente defensável, e comprometida com aquilo que se deseja que o direito faça, que o direito cumpra com o seu papel. Quais são as propostas que a gente pode aqui contextualizar? Por que é que a forma de pensamento clássica não serve mais hoje. Por que ela é insuficiente, por que ela está sendo rediscutida, por que está em crise? É isso que a gente deve saber. A gente ouve muito falar que a aplicação de um raciocínio jurídico a partir de uma estrutura silogística, subsuntiva, é algo ruim, algo negativo. Na medida em que seja a principal manifestação do que é o raciocínio jurídico na modernidade. Existe a maior premissa, a menor, e a conclusão. Ou seja, tem premissas, que se forem encadeadas, necessariamente levam a uma conclusão única e universal. Qualquer pessoa, que tomar a premissa maior, premissa menor, e analisa as duas premissas, de forma conjugada, extrairá uma conclusão, que será a conclusão universal. E aí, por que é que isso não serve mais? Por que é que isso não basta?
O silogismo é algo que foi consagrado especificamente no contexto da escola da exegese. Talvez a premissa maior LEI, a premissa menor FATO, e a conclusão. Mas a gente precisa entender também que esta mesma estrutura silogística também se aplica para a jurisprudência dos conceitos, na jurisprudência dos valores. Basta ter um conceito de justiça, não mais o referencial da premissa maior como a lei, mas o meu conceito de justiça, que possa partir da mesma estrutura silogística e possa chegar à conclusão. Não estou criticando aqui o conteúdo da decisão, o problema é a estrutura formal do raciocínio, por que é que ele é insuficiente.
109

Essa estrutura silogística talvez seja uma das principais estruturas, que aliás ela surgiu dentro de uma perspectiva aristotélica, que favoreceu o desenvolvimento da técnica, durante a modernidade. Foi, portanto a partir do privilégio de uma racionalidade eminentemente fundada em raciocínio silogístico que a gente assiste o desenvolvimento do campo científico, técnico. O que é curioso, ____ isso aqui que a gente quer retratar, nesse momento de crise, é que a gente vive hoje numa época em que a gente convive com objetos tecnológicos maravilhosos, como gravadores MP3, Ipod, computadores, celulares, internet, sem os quais não sabemos mais viver. São coisas que fazem parte de nosso dia a dia, e que são de certo modo fruto de um processo claro de predomínio de uma perspectiva voltada para o desenvolvimento técnico científico. Isso é, portanto voltado para a idéia de modernidade. Mas nesse mesmo mundo que a gente vive, a gente vê que existe ainda muito espaço para coisas que a gente não pode vincular à idéia de razão. Quer ver um exemplo: se você for em uma livraria, ou mesmo na revista VEJA, veja na lista dos dez livros mais vendidos, que tipos de livros são aqueles, quais são os livros que são colocados logo na entrada da livraria? Livros de auto-ajuda, livros que apelam para o misticismo, ocultismo, talvez isso explique o sucesso de Paulo Coelho, que é um sucesso mundial. O texto de Paulo não tem nada a ver com a razão. Pelo contrário. O que ali se discute são questões que não podem ser racionalizadas. Então como é que a gente pode explicar essa convivência nesse nosso mundo de hoje, de uma forte tendência tecnológica, e ao mesmo tempo, um espaço muito grande para o misticismo, que vai na contra-mão. A gente pode explicar isso reconhecendo que existe um momento de dúvida, de que a razão possa mesmo nos levar à felicidade. Há então a necessidade de reconhecer que a racionalidade consagrada pela modernidade não conseguiu ocupar todos os espaços de nossas vidas. É por isso mesmo que podemos dizer que vivemos numa crise sim, vamos reconhecer, apostar na emancipação através da razão pode não ser uma boa aposta, pode enfim resultar numa frustração. Pois bem, para o direito, a gente vai encontrar neste contexto, uma clara preocupação com a reflexão do que é a aplicação do direito e os seus compromissos fundamentais. Qual o compromisso fundamental do direito? Aplicar a lei? Talvez essa referência seja ultrapassada há bastante tempo. Porque a aplicação da lei depende de uma série de considerações de ordem valorativas, de análises sociais, que não cabem num contexto eminentemente textual, aquilo, portanto permite o processo de construção. É dentro desse contexto, procura-se como uma das alternativas como solução daquilo que a gente chamaria de crise de modernidade, procura-se, portanto reabilitar ou pelo menos desenvolver outras formas de racionalidade. Essa é aposta moderna. Então a gente tem o caminho da crise, que a continuar apostando na modernidade, a gente teria que reabilitar a idéia de razão. Se a gente a partir da crise procura rejeitar a razão, então a modernidade é algo em declínio em seu lugar alguma coisa está subindo e ganhando espaço. Seria então a proposta PÓS-MODERNA. A gente tem dois caminhos: caminho moderno, e o caminho pós-moderno. Ambos procuram reconhecer como fundamental esse momento crítico que a gente vive hoje. Ninguém nega que a divergência não está na negação da crise, pelo contrário, está na forma como se enfrenta a crise.
O primeiro caminho foi trazido com mais influencia pelo alemão Habbermas. Ele parte do pressuposto de que existem na vida, duas esferas distintas de atuação. Chamadas SISTEMA e MUNDO DA VIDA. Cada uma dessas esferas da atuação humana tem racionalidades próprias, ou seja, o sistema tem uma racionalidade eminentemente técnica instrumental, dominado pelo dinheiro, pelo poder. Já o mundo da vida, traz como elemento principal uma racionalidade diferente daquela existente nos chamados sistemas, era uma racionalidade chamada comunicativa. O livro clássico de Habbermas é a teoria da ____ comunicativa. Ele diz que o mundo da vida é esse que a gente está, de encontrar um ao outro, de se comunicar, de buscar ____. Depois iremos fazer alguns reparos sobre sua teoria.
Na crise que a gente vive hoje, na modernidade, o que a gente verifica é um processo de colonização do mundo da vida. É como se a racionalidade técnica instrumental tivesse invadido os espaços do mundo da vida, destruindo o potencial emancipatório da racionalidade. Esse é o diagnóstico de Habbermas: se a gente hoje está em crise, é porque a gente não soube explorar o potencial emancipatório da racionalidade comunicativa, que está presente no mundo da vida. Pelo contrário, deixou que a racionalidade técnico instrumental invadisse o mundo da vida, destruindo
110

seus espaços de consenso e potencial dinamizador. O que ele propõe então? A reabilitação da racionalidade comunicativa. Portanto a modernidade é um projeto inacabado, tudo que foi construído foi investimento em um tipo errado de racionalidade. É preciso, portanto, recolocar nos trilhos a evolução do projeto da modernidade, reviver o projeto iluminista da emancipação e da felicidade através da razão, só que agora vamos trabalhar com um novo modelo de racionalidade, que seria tipicamente uma racionalidade comunicativa. É claro que a gente precisa fazer uns reparos nessa construção, que apesar de ser engenhosa, sofre de problemas que merecem ____. Primeiro, é possível falar em consenso no mundo de hoje? É possível falar em pautas consensuais universalmente aceitas em sociedades pluralistas e fragmentárias como são as nossas sociedades? Eu vou em uma aula mais adiante fazer com vocês uma atividade em sala que vocês vão ter uma exata dimensão do que estou dizendo. Vocês vão ver como é difícil encontrar uma pauta que seja universalizada de juízos éticos morais dificílimos de serem uniformemente aplicados para todas as pessoas em um modelo social. Habermas é bastante criticado pela certa herança kantiana, como bom moderno que é, em acreditar em premissas que podem ser universalizadas, que podem ser compartilhadas por todos.
E o caminho pós-moderno? É o de negar tudo isso. Não há razão possível, não há racionalidade possível, e a gente tem que reconhecer que vivemos em um mundo marcado pela fragmentação de opiniões e que as palavras pouco expressam senão meros pontos de vista que podem simplesmente indicar as diferentes individualidades. Quem são os representantes desse movimento pós-modernista? São os franceses, os chamados pós-pluralistas, Michel Foucout, ___, todos com herança nigeana (acho que é isso), mas são dois caminhos diferentes. O que a gente precisa saber então, dentro desse pano de fundo, é o seguinte: como é que o direito reage? Como é que o direito pode então trabalhar para em atenção a isso que hoje é uma evidência, é um debate filosófico, como é que o direito se encaixa nessas questões? Como é que o direito dentro do contexto de crise de modernidade, na pós-modernidade, pode enfim servir como uma pauta de aplicação de realização de justiça, para fins de legislação? Como é que o direito aí deve se comportar?
Primeiro, o direito tem um compromisso desde sua origem muito clara com a idéia de regulação. Direito é regulação ou emancipação? Pra que serve o direito?
Se é regulação, de que adianta o discurso em favor das minorias, da realização dos direitos sociais? Como é que a gente pode viabilizar essas duas idéias que são antagônicas: ou você regula, ou você controla, ou você permite emancipação, o que necessariamente implica uma perda de controle. Como é que o direito faz isso?
Por que se a gente admite o direito como regulação, a gente tem que reconhecer que o direito não tem compromisso com realização de direitos sociais, minorias, nada disso. Se a gente reconhece o direito como emancipação, a gente tem que reconhecer também, junto com isso, que direito é compromisso com minorias, e que a regulação é secundária. Ou seja, a função do direito seria trazer para uma situação de igualdade aqueles que estão em uma situação de poder desfavorável. E afinal de contas, qual é a finalidade do direito? Qual é o perfil do direito brasileiro hoje? É um direito regulatório, ou um direito emancipatório? Se a gente imaginar a partir da constituição?
Giovana responde: na prática essa visão emancipatória do direito fica mais enquadrada na questão das normas programáticas.
Pois é, normas de baixa carga normativa, a princípio submetidas à reserva do possível. E aí, eu pergunto a vocês: qual a finalidade de declarar direitos sociais para considerar no final das contas, que se trata de programas, “se for possível a gente faz”, qual a finalidade disso?
Giovana responde: seria um cala-boca para a sociedade assumir ___ uma resposta às questões sociais.
Pois é, Marcelo Neves tem um trabalho bem interessante que cai direto nesse ponto, a famosa constitucionalização simbólica ___ . Ele mostra exatamente isso: esse fenômeno da constitucionalização simbólica, que ____ desse constitucionalismo social, ele tem muito mais um compromisso com a ênfase em aspectos extra-normativos do que propriamente normativos. Ou seja,
111

a função dessas normas, definidoras de direitos sociais, no jogo político-jurídico, não é para se realizar, é para servir como um álibi, ou uma forma de compromisso dilatório, ou uma confirmação de valores sociais, é um símbolo de identificação das estruturas de poder com ____ sociais.
O Estado neoliberal deixa de ser um estado intervencionista no sentido de ser garantidor dos direitos sociais, e passa a ser um estado que reforça a sua dimensão regulatória. É claro que isso traz o desafio de fazer com que essas normas, que estão lá na constituição, elas têm uma função, elas devem cumprir com um papel político, elas têm uma efetividade de uma relatividade (ou realizabilidade) prática.
Mas quero dizer pra vocês que a questão não é simples. Por que a gente também não pode, e aí eu tenho que ser democrático a ponto de reconhecer que a gente não deve simplesmente rejeitar a todas as normas que estão na constituição brasileira que estão comprometidas com a posição liberal devem ser não aplicadas absolutamente. Não pessoal, isso é tão negativo, penso eu, negar a aplicabilidade de direito de índole liberal, do que negar a aplicabilidade de direitos sociais. Simplesmente pala sua vinculação ideológica. Porque nosso país é um país marcado pela pluralidade ideológica. Ou seja, me parece ser tão autoritário a negação de uma dimensão de direitos liberais, como de outra. O problema então está em saber como fazer. Porque regulação e emancipação convivam harmonicamente. Como é nossa constituição: liberal ou social? Ela é uma e outra. É sintomático a gente ver por exemplo, os princípios da ordem econômica, livre iniciativa, livre concorrência, propriedade privada lá no início, e depois no final a função social da propriedade, a intervenção do Estado para garantir direitos do consumidor, enfim, tudo isso mostra que a constituição brasileira representa um compromisso entre duas tendências antagônicas. Nossa constituição é compromissária. O que significa dizer que se por um lado isso é bom, porque isso é um retrato do que representa nossa sociedade mesmo, por outro lado, nada está resolvido, porque essa constituição é um ponto de partida, e não um ponto de chegada. Porque essa constituição precisa ser aplicada. Quem determina a aplicação da constituição é o Judiciário. São os Juízes quem vão dizer quem é o Estado brasileiro, são eles quem vão dizer se o estado brasileiro é social, liberal. Daí é que a gente pode perceber claramente toda expectativa, tudo aquilo que foi gerado a partir da promulgação da CF 88, em torno das prerrogativas e da atuação futura desse poder agora que ganhou ...
(mudança de lado da fita)... por razões que a cada dia aparece na televisão, escândalos das empreiteiras, e
Gualtama, o dinheiro público que atrasa o desenvolvimento do país, os investimentos acabam sendo tragados para interesses particulares ...
Mas há os que dizem “o Brasil ta indo bem, o dólar ta caindo”, ta tudo bem uma conversa! A curto prazo sim, mas a longo prazo o Brasil perde, porque no país em que existe corrupção, não há o menor interesse de investimentos, de geração de emprego, porque o estado que simplesmente não consegue gerir seu próprio orçamento, um estado que ta servindo para interesses patrimonialistas. As empresas só querem saber de investir em país onde possa escoar sua produção. Se as obras para fazer as rodovias não são realizadas, vai haver um momento em que isso vai complicar.
Mas eu disse então que nesse contexto a gente tem que reconhecer que a função do Judiciário é harmonizar essas diferentes tendências. A aplicação do direito possui por acaso alguma lógica específica, alguma racionalidade que explica essa aplicação do direito, ou será que a gente tem que reconhecer que o juiz decide ideologicamente e ponto final? E reconhecemos a autoridade do juiz porque o juiz é juiz. Como é que funciona isso? Será que ele tenta adequar a sua ideologia à norma, ou o contrário, tenta adequar a norma à sua ideologia? O juiz tenta é adequar a norma à sua ideologia.
Eu não sei por que danado a gente continua insistindo nessa de pensar no direito como uma técnica. A técnica é importante, mas é secundária, para construir o raciocínio, para justificar uma ideologia, que todo mundo tem, e muitas vezes são inconscientes. As pessoas são diferentes mesmo. E não dá para racionalmente ocultar esses ____ ideológico. É por isso que eu acho interessante discutir esse mito que se divulga por aí que o juiz é um técnico que vai decidir com
112

base na lei, e que a lei contém sentidos absolutos universais inquestionáveis! Como se o juiz fosse uma máquina de interpretar a lei, e fosse contra as suas próprias emoções, sua própria história de vida, não existe isso. Mesmo o juiz bem intencionado, ele pode ser traído pelas circunstancias.
Um exemplo que eu sempre dou em sala de aula é a história do medicamento Interferon. Trata-se de um remédio utilizado para hepatite. É uma questão polêmica, do ativismo judicial. A gente vive num país desigual, com distancias crescentes entre ricos e pobres, e aí a gente tem que ter um Judiciário comprometido com as questões sociais. Eu acho esse discurso politicamente perfeito. No caso do Interferon, que é um remédio utilizado para tratamento do hepatite, e é distribuído pelos postos de saúde, portanto, o próprio Poder Executivo tem uma parcela no orçamento destinado para a compra do Interferon e disponibilização para aqueles que não podem comprar. Em determinado momento, começou-se a discutir que existia no contexto do Poder Judiciário uma crescente demanda em um outro tipo de remédio. É um Interferon Pequilado, com a diferença de que este tem um grau de eficácia maior do que o outro. Surgiram demandas pedindo que o Estado, por força do que determina a Constituição, tem o dever de prestar positivamente com suas obrigações na área de saúde. Por conta disso, o Estado tem que prover não o Interferon simples, mas o pequilado. O que vocês como juizes sociais fariam? Veja que essa é uma questão tipicamente ideológica. Você tem norma para negar, ou para conceder. Pode construir um raciocínio negando, e pode construir um raciocínio concedendo.
Alguns juízes por se auto-compreenderem como juízes comprometidos com as causas sociais, concedem àquela pessoa que pleiteou o pequilado como direito, e portanto com o correspondente dever do Estado de comprar o remédio e disponibilizar a ele. Só que tanto um como o outro remédio saem de uma mesma conta. Portanto, o juiz que está dando aqui, está tirando de algum lugar. Está tirando, porque não vai ter mais o Interferon simples para outras pessoas da rede de distribuição do Estado. Essas pessoas que pediram o remédio, ele tem o que muitos brasileiros não têm, que é o chamado acesso à justiça. É possível que esse acesso à justiça seja viabilizado através dos próprios laboratórios, que têm interesse em pendurar a conta do Estado à venda do remédio. Então o laboratório proporciona uma assessoria judiciária para, dizer a um doente que este pode pedir ao Estado o remédio mais caro.
O juiz, comprometendo-se com causas sociais, acaba por privilegiar interesses tipicamente liberais, interesses do capital.
Os critérios racionalizadores seriam a razoabilidade, proporcionalidade, de inspiração alexiana, seriam pauta para ponderação. Duvido da força racionalizadora disso daí. Em primeiro lugar, o que é razoável? Senão aquilo que eu acho, e que necessariamente os outros não acham? O que é proporcional? Alexi se esforça na criação de uma fórmula de aplicação de direito fundada na otimização de princípios. É uma preocupação interessante, porque supostamente conferiria uma racionalidade na aplicação de direito. Porém isso traz um problema, porque norma não é valor, não é questão de valor, norma é dever ser, valor é preferência. Eu posso preferir aplicar um valor em detrimento de outro. Mas normas não. Norma ou é ou não é, não tem essa de poder ponderar. Ou deve ser, ou não deve ser.
No debate hoje do que é a aplicação do direito, tenho observado certo desamparo, certa angústia. Isso de um lado tem levado para uma ideologização do discurso jurídico, e é ou era o caminho ___, que traz esses riscos, se a pessoa estiver atenta a isso, tudo bem. E um outro caminho, que é o caminho da reflexão sobre o que é a aplicação do direito. Esse caminho implica muitas vezes em você tentar saltar, olhar por fora, o processo da aplicação do direito como algo que é fruto de estruturas que estão no embate constante na sociedade mesmo. Ou seja, o juiz no final das contas ele decide com uma suposta roupagem que ele confere a sua decisão de forma a pretensamente legitimar sua decisão, mas no final de contas é uma preferência pessoal, uma preferência individual do juiz.
Aluno pergunta se há diferença no grau de ideologização nos diversos ramos do direito: Honestamente não. Esse argumento é frágil. Primeiro porque essa idéia de dividir o
direito em ramos é complicado. Nessa onda que a gente chama de pós-positivista, todo poder é dado a moral, princípios. Princípios enraízam supostamente em todo ordenamento jurídico. Em segundo
113

lugar, como a gente pensa que mesmo naqueles domínios jurídicos que reclamam a estrita legalidade, como o direito tributário ou penal, a gente ainda está supondo que não há interferência do processo de ideologização porque ta ____ que observar o texto da lei. Isso também parte daquela crença equivocada de que o texto tem conteúdos universais, que podem ser interpretados da mesma forma para todo mundo. Então em todo domínio existe espaço para a criação do direito. Há interferência, maior ou menor, é verdade, para _____ do discurso. Isso a gente tem que reconhecer. O que a gente tem que saber é quais são os limites dessas interpretações, aí sim, talvez seja um pouco interessante. Primeiro é reconhecer: não há uma decisão melhor, ou pior, não há uma decisão que seja adequada. Existem decisões possíveis, dentro de um quadro de normatividade que é construído intersubjetivamente. Apesar de achar que não há decisão melhor nem pior, eu não posso deixar de dizer que é possível dizer quando uma decisão não cabe. A gente precisa ter consciência de saber qual é nosso compromisso, qual é a nossa ideologia.
Direito é assim. Acreditar num sentido universal, objetivamente compartilhado é tolice. É um auto engano. Vou explorar com vocês numa aula futura o potencial da retórica na construção de sentidos. Quem trabalha com retórica aqui na faculdade de direito é João Maurício. É importante a retórica porque é ela quem confere sentido ao ______. Por exemplo: falar no princípio da legalidade, e dizer que a legalidade é impenetrável a ideologias, é uma estratégica retórica. Dizer que o direito é impermeável a ideologias é uma estratégica retórica. A gente molda a realidade a partir desses diferentes olhares. E cada pessoa tem sua forma de olhar as coisas, e isso é reconhecer que a gente vive num ambiente marcado por retóricas, não uma retórica, ou seja, diferentes narrativas sobre o mesmo problema. Aliás, sobre isso é importante lembrar que nesse contexto de crise da modernidade a gente tem uma ênfase cada vez maior no poder da linguagem. A realidade não existe mais em si, mas ela existe a partir do discurso, a partir do que eu falo, a partir da narrativa. Esse é o real. A minha realidade é aquilo que eu falo. A realidade existe para alguém em um discurso.
RESUMO DA AULAContemporaneamente, cogita-se da existência de uma crise que se ramifica por várias
formas e modos de agir humano. Esta crise em regra associada à crise da modernidade, traz como conseqüência a discussão sobre os limites e possibilidades da emancipação através da razão. Cogita-se, assim, a partir deste momento crítico, que dois são os caminhos possíveis: o primeiro, o da readequação do projeto do iluminismo, e o segundo, o da sua negação. Os primeiros acreditam no projeto da modernidade. Os segundos acreditam que o projeto da modernidade já foi ultrapassado por uma tendência que na falta de outra denominação, convencionamos chamar de pós-modernidade. O direito neste contexto parece sofrer de uma certa crise que repercute especificamente na sua dimensão hermenêutica. Daí a necessária discussão sobre o processo de interpretação, aplicação e fundamentação do direito. A redescoberta da dimensão lingüística do direito tem contribuído para a compreensão da pluralidade que marca as sociedades contemporâneas. Neste sentido, cabe reconhecer que é bobagem apostar em uma neutralidade do juiz, bem como em uma suposta imunidade dos juízes a questões ético-ideológicas presentes na sua história de vida e na sua forma de estar no mundo. Isto invoca necessariamente a discussão sobre a atividade judicial enquanto tarefa essencialmente humana e tendo como referência a interpretação de textos que nada mais representam do que narrativas e olhares decorrentes dessa complexidade que chamamos realidade.
Aula do dia 06 de junho de 2007
Acho que não teve aula nesse dia.
Aula do dia 08 de junho de 2007
Análise do texto “O Pensamento Ideológico” de Ovídio Baptista.
114

Questionário do texto:1- Discuta as relações entre naturalização do direito e ideologia.
[entender naturalização no sentido de racionalização](naturalização do direito é imaginar um direito isento de ideologia, estritamente racional,
como pregava o pensamento moderno. Impossível. O Juiz adapta a norma à sua ideologia, por exemplo. Uma opinião diferente da racional é tida como irreal, ideologizada.). [resposta de André]
2- Evidencie o caráter a-histórico do pensamento jurídico moderno.
(o caráter a-histórico do pensamento jurídico moderno é a negação da evolução do pensamento no tempo, é a negação da ideologia. Há a presunção de se ter alcançado a verdade através da razão, verdade essa que vale para o ontem, hoje e para o amanhã) [resposta de André]
... Eu achei particularmente interessante o contraponto que ele estabelece logo no início do texto com autor Fukuyama. Vocês devem conhecer Fukuyama, um autor norte-americano de origem japonesa, e ele tem um livro que talvez tenha sido a síntese desse compromisso ideológico do pensamento liberal. Ele tem um livro chamado “Fim da História – de Hegel a Fukuyama”, esse livro foi escrito logo após a queda do Muro de Berlim, em que o capitalismo ganhou a dimensão que a gente hoje vê aí. Antes havia um contraposto entre Socialismo e Capitalismo, existiam alternativas, existia a possibilidade de efetivamente nós termos o ponto e o contraponto: de um lado o socialismo e do outro o capitalismo. O Fukuyama diz lá: já que o socialismo se mostrou incapaz de fazer frente ao capitalismo, pode ser então que a história acaba aqui e ponto final. Nós estamos então no momento final. No momento em que nada mais há de ser feito, nada mais haverá de ser feito, já que o capitalismo e o liberalismo representariam o estado da arte, como modelo ideal de organização econômica de um povo.
A grande crítica que se faz a esse pensamento é exatamente como conectar essa idéia que é de um fenômeno evidentemente histórico a algo que é natural, a algo que decorre da própria natureza. Veja que isso ocorria também com os medievais né (?), veja isso é que é curioso, argumentava-se que era preciso obedecer à palavra de Deus enquanto interpretada pelos padres da igreja, porque isso decorria da natureza, havia um processo de cristalização da história ali e uma compreensão de que esses pressupostos não deveriam ser discutidos e ser feito tão somente aquilo que a ideologia dominante no momento preconizava.
De certo modo, a história mostrou que existem novas formas de pensar a realidade. A modernidade aqui, ela rompe com a tradição medieval, mas ao mesmo tempo a modernidade, vocês vão ver no texto, ela não rompe com a forma de conceber os pressupostos e obedecer a eles. A modernidade simplesmente diz, olha, eu trago o novo, e simplesmente esse novo, o fundamento dessa modernidade, não são questionados. Por que eu trago o novo? O que eu trago de novo?
Olha, tudo isso só se torna evidente a partir do momento em que a gente começa a perceber que há uma crise desse grande modelo da modernidade. A gente percebe que isso que ela prometeu, ela não conseguiu até agora, pelos menos, cumpri-la. É claro que há uma proposta ilusória da modernidade, mas até agora ela não foi cumprida (frase duvidosa, difícil de entender). Daí a pergunta pertinente, por que é, então, que nós devemos nos considerar os portadores da racionalidade e os grandes representantes do estado da arte de todo pensamento da modernidade de séculos e séculos de existência. Por quê ? Essa que é a pergunta que a própria modernidade não faz. A modernidade não se coloca no espelho, ele não tem uma concepção que eu diria reflexiva, ela não reflete sobre os próprios pressupostos. Ela simplesmente vende um ideal de prosperidade, de felicidade e de sucesso através da racionalidade.
O texto traz alguns aspectos que eu quero pontuar para vocês (trecho duvidoso). Na página 8, ele trouxe uma idéia que eu achei bem interessante:
115

“A rigor, não são consideradas ‘naturais’ apenas as modernas instituições políticas, mas também as ciências modernas são pensadas como a expressão definitiva do conhecimento humano possível. Não temos a menor capacidade de supor que algo possa substituir, num período histórico de longa duração, os pressupostos de nossa ciência. Temos dificuldade em questioná-los, ou duvidar de sua perenidade”.
Eu pergunto a vocês honestamente: não é difícil a gente pensar que existe algo além da razão, algo além da racionalidade? É ou não é? .....
Isso é uma dificuldade terrível que todos nós temos, típica desse processo, desse momento histórico.
Também há uma outra passagem, mais ou menos na metade do terceiro parágrafo:
“Este modo de pensar autoriza supor que também o ‘nosso’ Direito seja ‘natural’, por isso que ‘científico’, em sua acabada racionalidade. Supomos que as instituições jurídicas, fiéis ao pensamento de Bacon, acabaram liberando-se dos ídolos”.
Os idola representam uma forma de desviar a compreensão racional da realidade.
Portanto, o objetivo da modernidade é exatamente de retirar esse pensamento ideológico para a compreensão daquilo que é o mundo natural, daquilo que é natural.
Outra passagem importante:
“Na discussão a respeito de ideologia, devemos precaver-nos contra dois riscos. O primeiro está representado pela tendência que temos de atribuir a nossos opositores a condição de ideológicos, na suposição implícita de que dispomos de um ‘ponto de Arquimedes’ (um ponto zero, ou seja, a verdade) que nos permita o acesso privilegiado à verdade absoluta”.
Quando a gente está em uma discussão, a gente acha que a nossa compreensão é a melhor. Se o outro não concorda com a nossa compreensão, com a nossa forma de ver as coisas, é porque ele está permeado de ideologia.
É aquela idéia de que: eu sou a ciência e você é a ideologia, que no debate acadêmico é muito presente, mas que no trato com o outro, com o amigo e com o namorado, está presente também.
Quando você se vê dono de uma verdade, e, de repente, essa verdade, por ser uma verdade universalizada, faz com que o outro seja o errado. Ou ele concorda com você, porque você tem a verdade, porque você compreende racionalmente a realidade. Ou simplesmente você descarta a opinião dele, porque é uma opinião ideologizada e, portanto, inútil para a compreensão daquilo que é a verdade. Não é assim que funciona? É assim mesmo, isso é tipicamente moderno.
Continuando aqui:
“O ‘outro’ é que, não alcançando a ‘nossa’ verdade, teriam eles o pensamento distorcido por falsas noções, mistificadoras da realidade. O ‘outro’ é que não consegue atingir a ‘nossa’ verdade, tida como a única e, enquanto verdade, eternamente válida. É a marca do pensamento conservador. Tudo que questiona a ‘realidade’, construída pelo pensamento conservador, é ideológico, no sentido de irreal, pois a visão conservadora supõe que nosso ‘mundo’ seja o único possível”.
Lá no final uma outra parte particularmente interessante:
“Esta é a grande ironia da condição humana. Os idealistas consideram-se elevados à condição privilegiada de alguém que, tendo emergido da cultura que o produziu, haja superado sua historicidade”.
116

É como se a modernidade tivesse a luz. Aliás, a própria idéia de iluminismo prega isso. O caminho do esclarecimento, da verdade é esse aqui. Você pode ver luz, desde que você compreenda que, a partir de um processo histórico, você pode ser esclarecido, contanto que você negue a sua condição histórica. Então isso é algo que vale para o passado, para o presente e para o futuro. Veja que coisa mais louca. O projeto da racionalidade projeta-se universalmente, ela enraíza-se universalmente para todo e qualquer momento de existência humana.
Então isso é que faz nós acreditarmos que Aristóteles e Platão eram ingênuos, que os medievais eram tolos, obscurantistas, que só viam em Deus a sua lei da salvação. Isso não deixa de ser uma arrogância grande, de uma arrogância que fica difícil de a gente compreender. O que é que garante que o nosso pensamento hoje não vai ser visto como ridículo mais adiante. O que?
E ai ele começa a analisar efetivamente o pensamento de Fukuyama e ai coloca na página 11:
“A identificação da democracia liberal como o sistema político do ‘fim da história’ sugere que esse seria o sistema próprio de uma sociedade de ‘escravos satisfeitos’, conclusão que se harmoniza com a premissa em que se sustenta o autor do ‘fim da história’: uma sociedade conformada com o próprio destino...”
Aqui ele se identifica com o estoicismo, um pensamento do final da decadência da filosofia grega, que prega aquela filosofia do conformismo, da paralisia.
“...por isso que acomodada pela ‘educação universal que é absolutamente crucial no preparo das sociedades para o mundo econômico’”.
Ou seja, o capitalismo e idealismo, enfim, trariam efeitos colaterais, quais sejam: a pobreza e a integração (?) de alguns, mas isso seria da própria natureza das coisas, isso seria, portanto, algo decorrente da própria naturalidade.
Aqui também a questão da a-temporalidade, página 13:
“Por outro lado, ao ler Fukuyama, devemos prestar atenção ao emprego freqüente que ele faz do vocábulo ‘hoje’. Na linguagem comum, o ‘hoje’ deveria referir-se ao estado de coisas existentes na contemporaneidade de quem fala...”
Portanto, o hoje se refere ao olhar de quem está falando.
“...Entretanto, como teríamos atingido o ‘fim da história’, o ‘hoje’ a que ele se refere ‘naturaliza-se’, tornando-se perene”.
Olha vou contar uma coisa para vocês. Eu vejo isso muito em prova dos alunos e na redação de final de curso. Muitos falam: “Hoje nos entendemos isso e isso”. Olha esse “hoje” que você coloca lá, está se referindo a um pressuposto que é ideologicamente fixado pelo próprio aluno. Ou seja, a partir de uma pretensa compreensão de que este “hoje” parte de um olhar universal, o autor, enfim, quem escreve, fazendo início da sua argumentação com essa referência à temporalidade como fixada no “hoje”, na verdade o que faz é ideologizar, portanto, passível de crítica sobre qualquer outro olhar. Percebe isso?
“Hoje nós temos uma sociedade que é marcada pela violência”. Esse é o seu olhar que demanda naturalmente uma comprovação ou que sugere uma comprovação de que há uma universalização dessa percepção. A não ser que em outro tempo ou em outro lugar. Outro tempo não, porque hoje foi fixado como o agora, mas em outro lugar, essa sociedade não seja uma sociedade que possa ser caracterizada como violenta.
Página 15:
117

“Advertimos, como disséramos antes, para a dificuldade encontrada pelos escritores quando buscam estabelecer um conceito de ideologia que seja minimamente incontroverso. Observamos também que o conceito tem uma ligação genética com o Racionalismo, ao mostrar que a concepção corrente pressupõe que a pessoa que se diz isenta de ideologia - ou que acusa o ‘outro’ de ideológico -, haja superado sua própria cultura, encontrando o sonhado ‘ponto de Arquimedes’, de onde, livre de qualquer compromisso com a tradição que o tenha formado, haja atingido a verdade absoluta”.
Olha isso é um problema. A gente sabe, bom, se é assim, estamos todos fruto da cultura? E aí é que é uma dificuldade que a gente não sabe nem se está por se construir. Se nós somos mesmo frutos da nossa cultura, devemos, então, reconhecer que mesmo com o argumento da ciência, com o da racionalidade ou com o da modernidade, ou seja lá o que for, na verdade são também argumentos ideológicos, portanto, argumentos frutos da cultura. Não são, portanto, argumentos que podem ser considerados naturais. Pelo contrário, são argumentos tão ideológicos quanto os outros.
Se isso por um lado é importante reconhecer, por outro lado gera um risco, que é o risco de nós cairmos em um relativismo absoluto. Se tudo é ideologia, o que vai, então, nos fundamentar.
Lá embaixo:
“O segundo cuidado, portanto, será esse de livrarmo-nos das ideologias totalizantes ou ‘ideologias totais’, capazes de submeter-nos a um relativismo e a um historicismo absolutos, perante os quais todos os pontos de vista teriam idêntico valor, já que todos seriam ideologicamente comprometidos”.
Como superar isso aqui? Isso aqui é o que vem sendo discutido, talvez, como um novo padrão de modernidade ou como um padrão de pós-modernidade, ou um novo padrão de conhecimento que possa ser ao mesmo tempo mais compatível com essa compreensão de que a própria modernidade ela traz pressupostos ideológicos, mas ao mesmo tempo não se deve cair no relativismo absoluto, porque isso não é tecnicamente bom para o ??? e traz absoluta insegurança quanto a fixação de padrões sociais e etc (trecho confuso).
Acha particularmente interessante quando ele traz aqui na página 16, como o processo da naturalização da realidade se manifesta no processo civil. Ele diz:
“No direito processual, esta ‘naturalização’ da realidade tem uma extraordinária significação. Diríamos que ela é um dos pilares do sistema. É através dela que o juiz consegue tranqüilidade de consciência, que lhe permite a ilusão de manter-se irresponsável. Se ele recusar-se a outorgar alguma espécie de tutela que, de algum modo, modifique o statu quo, imaginará que sua imparcialidade será preservada. Para o pensamento conservador, manter o statu quo é o modo de não ser ideológico. O magistrado que indefere a liminar pedida pelo autor não imagina que esteja outorgando, diríamos, uma ‘liminar’ idêntica ao demandado, apenas de sinal contrário, enquanto idêntico benefício processual, permitindo que ele continue a desfrutar do statu quo a custo zero...”
Ou seja, quando você indefere uma liminar, na verdade você está deferindo naturalmente outra, porque existe alguém !!!!. Existe o contraditório no direito que seja talvez a razão disso aqui.
“...Este é o suporte teórico que legitima, tanto a plenariedade da cognição, quanto a busca da ‘vontade da lei’. Se o juiz aplicar a vontade da lei, imagina-se que a injustiça terá sido cometida pelo legislador. Oportunamente, quando examinarmos a ideologia da ordinariedade voltaremos a este ponto”.
118

Enfim, pessoal, eu acho que vale a pena a gente pensar sobre tudo isso aqui. Sobre a nossa historicidade, sobre o fruto da nossa história, o produto do nosso direito, da nossa história primeiro, e as estratégias de que lança mão a modernidade para naturalizar, para, enfim, banalizar aquilo que deveria ser considerado rigorosamente como fruto da história.
Falar em “dever ser” é falar em ideologia. Aquilo que pode também ser considerado como fruto da história.
As perguntas feitas aqui no inicio da aula, elas conduzem a uma conclusão do texto.Há a necessidade de evidenciar que além do processo de naturalização, houve pela
modernidade um novo discurso de racionalidade que é construído a partir dessa naturalização da modernidade, e a proximidade que se tem com a ideologia. A modernidade se diz aquela forma de conceber o homem e a realidade desprovida de ideologia, mas será que estes pressupostos da modernidade não podem ser compreendidos como pressupostos ideológicos. Até que ponto a gente pode livrar a modernidade disso.
E a ........., ela tem um caráter evidentemente a-histórico, pode vê como o pensamento moderno faz um esboço no sentido da eliminação da ideologia, da a-historicidade, superamos as ideologias, e somos, portanto, agora o começo, o meio e o fim de tudo.
Aula do dia 13 de junho de 2007
Luhmann
O que é o direito? O que representa o Direito dentro da nossa sociedade? Nossa sociedade possui como elemento de coesão de manutenção da unidade, uma série de mecanismos que buscam a controlar as chamadas expectativas. Essa noção de expectativa de Luhmann é bem curiosa porque “expectativa” para ele pode ser dividida em expectativas cognitivas e expectativas normativas.
As primeiras são aquelas expectativas tipicamente adaptáveis à realidade. Isso significa o seguinte: quando a gente ta fazendo uma experiência, ou na vida mesmo, a gente espera que determinadas coisas aconteçam. P. ex. a gente espera que os metais dilatem com o calor. Isso numa expectativa lumanista, é uma expectativa cognitiva. Então a gente espera que, ao encontrar um elemento com todas as propriedades do metal, a gente espera que, ao administrar o calor, ele vai se dilatar. Só que essa expectativa é tipicamente cognitiva, ou seja, eu posso eventualmente encontrar um elemento que tenha todas as propriedades do metal e se um belo dia eu administrar esse calor a esse elemento, e ele não se dilatar, eu posso continuar com a expectativa de todos os metais que dilatam com o calor. Isso é uma expectativa cognitiva porque ela é adaptável ante à desilusão. Se eu me desiludo, se eu me frustro, essa expectativa necessariamente é adaptada contra o fato. Portanto, elas possuem adaptabilidade contra-fática.
A expectativa normativa, ao contrário, é uma expectativa que não de adapta ante à desilusão. Portanto, se eu frustro a minha expectativa normativa, mesmo frustrada, ela continua tendo a sua durabilidade assegurada. Ex: eu venho na rua dirigindo meu carro, o sinal fecha e o carro da frente fura o sinal. Será que eu devo pensar, ‘já que o carro da frente furou o sinal, eu também estou autorizado a furar o sinal?’ já que ‘se para aquele motorista o sinal não valeu, se a expectativa que o carro da frente ia parar no sinal foi frustrada, então eu posso também furar o sinal?’. É assim que funciona?! Não! Essa expectativa é normativa, porque ao contrário das expectativas cognitivas, ela possui mecanismos que asseguram a sua durabilidade, asseguram a sua validade, mesmo diante da desilusão, mesmo diante da frustração. Isso talvez já deixe de forma bastante clara aqui que essas expectativas normativas se referem a um domínio meramente ético. De certo modo, são expectativas normativas todas aquelas que são decorrentes do Direito, da Moral, da Religião, que têm, portanto, uma durabilidade assegurada contra-faticamente.
Bom, esse foi o primeiro Luhmann, que trabalhava no plano, no controle das expectativas e no destaque do Direito como importante instrumento de proporcionar uma congruente generalização de expectativas normativas, ou seja, o papel do Direito é fazer com que
119

essas expectativas normativas possam ser congruentemente generalizadas, ou seja, elas precisam valer de modo igual para todos. Portanto, o contra-ponto dessa idéia seria o de afastar os chamados “casuísmos”, aquelas interpretações casuísticas que, numa linguagem popular, fazem com que ‘todos são iguais perante a lei mas uns são mais iguais que os outros’. Enfim, a função do Direito, portanto, seria a de selecionar essas expectativas éticas, expectativas normativas, portanto, e conferir a elas uma congruente generalização. Portanto, seria algo generalizadamente difundido entre todos os procedimentos de uma determinada sociedade estritamente organizada. Então essas são as noções principais do primeiro Luhmann.
O segundo Luhmann tem uma característica fundamental: a incorporação do pensamento que veio de certo modo aprofundar e sofisticar essa idéia de ........ mas que tem como grande destaque, na biologia, o próprio funcionamento da reprodução das células animais. Foi então a partir da biologia de ........ e Varela, dois chilenos que terminaram caminhando no mesmo campo da epistemologia depois, eles têm livros não só que trabalham com idéia de biologia mas trabalham com a própria idéia de como é o conhecimento humano (tem um livro bem interessante ‘A árvore do conhecimento’) e Luhmann então, ficou impressionado com aquele potencial explicativo daquele modelo dado em sua teoria e meio que transportou para o modelo social como seria o funcionamento da sociedade à imagem e semelhança de como funciona uma célula viva no seu mecanismo de reprodução.
Como Luhmann fez isso?! Nesse livro (os sistemas sociais) ele mostra que o processo da modernidade foi caracterizado por uma progressiva autonomização de diversos sistemas sociais. Então na verdade ele compreende o Direito, a Política, a Religião, etc, apenas como redes de comunicação. A gente então não tem rigorosamente um domínio que possa ser materializado, mas enfim, a própria noção de Direito, de Política, de Moral, tudo isso está presente na sociedade com outro discurso. Portanto, tudo isso que Luhmann chama de ‘sociedade’ é construído a partir de uma grande rede, uma grande teia comunicativa.
Bom, esse processo, que hoje é ponto referencial de Luhmann, nasce com o surgimento daquilo que a teoria contemporânea costuma chamar de modernidade. O que é modernidade? A gente entendeu aqui que modernidade é o processo de racionalização da realidade. Portanto, uma ruptura com a tradição até então dominante, de inspiração teológica. Luhmann é claro, não rompe com essa idéia mas ele compreende, ele dá uma leitura diferente a esse processo. Ele vai dizer ‘existe até o advento da modernidade modelos de organização social hierárquicos. Na modernidade isso desaparece’. Na prática isso significa o seguinte, se antes da modernidade a gente tinha uma grande mistura do que era Direito, do que era Moral, do que era Costume, a gente não sabia as conseqüências para uma pessoa que matava outra, a gente não sabia se a conseqüência era religiosa, se ela ia pro inferno de cabeça p/ baixo, ou se a conseqüência era na questão de convivência, a pessoa era excluída do grupo, seja lá o que for, não havia essa diferença ...... porque tudo que construía o dever-ser, que orientava a conduta das pessoas na sociedade, este dever-ser era permeado por interferências diversas e que não eram a princípio separáveis, era tudo uma coisa só. Era tudo um grande caldo de crenças que fazia com que a pessoa existisse e tivesse sua conduta orientada pela ......
Então com a modernidade, para Luhmann, há uma separação em diversos subsistemas sociais, então a gente teria um grande sistema e vários subsistemas, cada um deles com seu código respectivo. Assim, a modernidade traz necessariamente uma separação entre o Direito, Religião, Moral, Política, Arte, Ciência. Todos esses subsistemas possuem uma linguagem própria, um código próprio, e isso ele foi trazer a partir de uma verificação de como uma célula se reproduz. Ele trouxe a possibilidade de compreender esses subsistemas como se fossem células que então teriam o potencial de auto-reprodução a partir do momento em que ela conseguisse fixar o seu código de preferência. O código binário que é o zero ou um, na linguagem cibernética, ou então o sim ou o não, e que no campo na política seria ter poder e não ter poder, no Direito seria o da licitude e o da ilicitude, no campo do amor seria ser amado e não ser amado, no campo da ciência, é cientifico e não é cientifico enfim, sempre uma afirmação e uma negação.
120

A grande contribuição de Luhmann aqui é perceber que dependendo dos fatos que acontecem na sociedade, podem possuir conseqüências distintas em decorrência da leitura que cada um dos subsistemas a que toque esse fato possa dar ao fato. Por exemplo, ‘matar uma pessoa” se acontecesse isso no Medievo (pré-modernidade) a pessoa era execrada, mandavam mata-la, acreditava-se que em decorrência disso além de merecer a morte, essa pessoa deveria necessariamente ir para o inferno, ou seja, o argumento teológico não era separado do argumento jurídico.
Bom, na modernidade, esse exemplo de uma pessoa matar outra, como a gente pode interpretar a partir da teoria dos sistemas? A pessoa vai para o inferno?! Depende! A gente não pode dizer ‘não’ absolutamente. Isso porque talvez a gente esteja aqui olhando do ponto de vista do subsistema jurídico, a gente esteja mais preocupado em estabelecer qual a conseqüência jurídica para essa situação, qual é a sanção. A gente sabe que esse mesmo fato vai trazer conseqüências distintas para os vários subsistemas sociais. Uma pessoa que mata outra pessoa, naturalmente cometeu a princípio homicídio, então ela deve sofrer uma conseqüência estabelecida pelo nosso próprio direito (no nosso caso, pena de 06 a 20 anos). Mas essa pessoa, à luz do subsistema religioso, também vai sofrer uma conseqüência. Se a pessoa matou outra pessoa, ela não ama ao próximo, que vai de encontro a um dos mandamentos religiosos e para o subsistema religioso, ela deverá ir para o inferno, não merece o reino do céu, ou coisa parecida. Essa pessoa no campo do subsistema moral, também tem uma leitura, um significado para esse subsistema moral, assim como nas boas relações, essa pessoa que mata outra mostra que tem problemas no campo de adaptabilidade, de convivência, a pessoa deve ser naturalmente colocada de lado.
Enfim, isso mostra que as conseqüências para cada subsistema são definidas pelo próprio subsistema. É isso o importante a ser destacado. Um exemplo de coisa tipicamente pré-moderna, esse preconceito que existe entre o modo como a pessoa se veste, ou o modo como a pessoa usa o cabelo, e sua eventual competência ou incompetência intelectual, seja lá o que for. Imaginem um advogado com o cabelo todo cortadinho, com o sapato brilhando no Tribunal e de outro lado um advogado que está com aquele famoso terno xadrez, todo desmanchado, o cabelo imenso, enfim, quero saber de vocês, através de uma perspectiva visual, o que isso sugere?! Esse tipo de preconceito, que naturalmente acontece, é resquício desse tipo de pensamento pré-moderno, é o de associar a forma como uma pessoa se veste com a sua competência técnica-intelectual, seja lá o que for. Isso na teoria dos sistemas fica tudo separado, uma coisa é a estética, outra coisa é a profissão, portanto se uma coisa é independente da outra, nada pode confirmar que uma pessoa por se vestir de uma forma ou de outra, tenha menos competência do que uma pessoa ou outra.
Então o que a Teoria dos sistemas faz?! Ela busca explicar o funcionamento da sociedade a partir da identificação de que existem mecanismos que, fundados nesse código binário que cada um dos sistemas possui, as informações são produzidas a partir de uma leitura dessa ... traje seletiva que é feita pelo próprio código binário. É importante dizer que o subsistema só se diferencia dos demais quando ele constrói seu código binário. No caso do Direito o nosso código binário é lícito/ilícito. Para Luhmann seria, portanto, condição necessária para a congruente generalização das expectativas normativas a afirmação consistente desse código binário licitude/ilicitude. Isso significa que para que o Direito possa se diferenciar de todos os outros subsistemas, ele precisa consolidar, ele precisa afirmar esse código lícito/ilícito como critério que permita sua própria reprodução, de tal forma que toda informação que opere no plano do sistema jurídico seja construída a partir dessa leitura.
Atenção! Para a gente entender o funcionamento desse código binário, existe aqui a necessária análise do fechamento operacional, que é o fato de que tudo que opere no sistema seja determinado a partir da perspectiva do código, que fecha, portanto, a operacionalidade do sistema.
Só que esse fechamento operacional tem como condição necessária uma abertura cognitiva. Isso significa que para que esse código binário seja considerado fechado do ponto de vista operacional, ele precisa ser aberto cognitivamente, ou seja, todas as informações de todo e qualquer subsistema social podem naturalmente ser incorporados ao subsistema jurídico. Não se trata aqui de um isolacionismo ou fechamento do subsistema jurídico. Para Luhmann então uma
121

informação do subsistema científico, do subsistema amoroso, do subsistema das boas relações, da moral, da política, todos eles são o ambiente no qual se insere o subsistema jurídico e por isso tudo isso é uma informação que pode naturalmente passar a operar no subsistema jurídico desde que passe pelo filtro que seleciona o que é lícito e o que é ilícito. Essas idéias são muito .... a Luhmann, a idéia de seletividade, de redução de complexidade, ele diz isso mesmo, a sociedade que a gente vive é marcada por uma contingência imensa, tudo pode, tudo é possível, nossa sociedade é absolutamente assustadora nesse ponto de vista. É preciso, portanto, que existam mecanismos capazes de reduzir essa complexidade, saber o que deve e o que não deve ser feito, o que pode e o que não pode acontecer. O que vai operar então no sentido da redução dessa complexidade são exatamente aqueles mecanismos que controlam as expectativas específicas do Direito, que trabalha com a noção de generalização dessas expectativas.
Então, fechamento operacional e abertura cognitiva são idéias portanto que se ... são inter-relacionadas, não pode se fazer abertura cognitiva sem fechamento operacional, que significa destruição do código lícito/ilícito. Também não pode haver fechamento operacional sem abertura cognitiva porque esse fechamento sem abertura significa o isolamento do subsistema jurídico.
Vamos fazer agora uma análise introduzindo uma palavra que vocês já conhecem, a famosa ‘autopoiese’. Quando acontece essa reprodução do sistema fundado no código binário, a gente pode dizer que o subsistema é um subsistema autopoiético, ele produz-se a si próprio, é uma auto-produção mesmo, ele se auto-reproduz, portanto, é um sistema reflexivo, é um sistema que está inserido em um contexto em que ele próprio lê esse contexto e traz para a sua própria modelagem e consolidação. Vejam como isso parece com o funcionamento de uma célula, com a idéia da omeostase, da manutenção do equilíbrio da célula, da membrana, o que ta dentro, o que ta fora, isso tudo são informações que estão na base de toda essa formulação, sem dúvida.
A análise de Luhmann então naturalmente tem certas restrições, certos limites. Quais são as questões que limitam isso aqui?!
1º - essa é uma teoria que busca explicar a modernidade. Se a gente for imaginar como são as sociedades hoje no Oriente Médio, isso aqui não vale nada, porque para a formulação, e os pressupostos, as premissas que Luhmann estabeleceu, o Oriente médio seria uma sociedade fundada então no Corão, seria uma sociedade pré-moderna. Não seriam sociedades que passaram por um processo de diferenciação funcional que marcaria a modernidade. Então para Luhmann não faria o menor sentido olhar para aquilo e tentar explicar como funciona o Direito, as relações sociais, porque ali a gente tem religião de forma bastante dominante, ainda não separada do que é o uso social do que é o Direito, é tudo uma coisa só, portanto típico de sociedades pré-modernas.
2ª - esse modelo de explicação da modernidade, ou seja, onde houve o processo de autonomização o Direito funciona dessa forma, autopoieticamente. Esse tipo de pressuposto de Luhmann também já foi colocado entre parênteses por um professor pernambucano, Marcelo Neves. A primeira teoria deste professor é de mostrar que na verdade esse pressuposto de Luhmann também tem limitações de explicar o que seria Direito periférico, como funciona o Direito na modernidade periférica. Isso ficaria muito claro quando a gente percebe que no Brasil, p.ex., um país onde há um processo que a gente pode associar o processo de vinculação a um projeto de modernidade, mas ao mesmo tempo não houve essa autonomização de forma absoluta no código lícito/ilícito, ao contrário, esse tipo de consolidação do código, se é que um dia vai acontecer, ainda está por vir, a gente pode dizer que ainda não aconteceu. Só que a gente não pode dizer que a nossa sociedade é pré-moderna, a nossa sociedade não é pré-moderna, ainda que não se encaixe totalmente na perspectiva da modernidade autopoiética fundada por Luhmann, porque em sociedades como a brasileira, o código binário, licitude/ilicitude, é frágil, não se afirma de forma sólida, não impõe a sua força perante os demais subsistemas, isso explica a chamada corrupção, onde prevalecem critérios de outros subsistemas, o subsistema econômico, a prática brasileira que já se procurou explicar como elemento cultural. O código aqui diante da licitude e ilicitude não tem a menor força, o que prevaleceu? O código do subsistema econômico, ter/não ter. Este terminou destruindo, e isso que é interessante, destruiu casuisticamente a força do código licitude/ilicitude. Então o Direito, nesse contexto, perde a sua força de congruente generalização de expectativas
122

normativas já que foi algo casuisticamente estabelecido e apesar de existir um código licitude/ ilicitude, esse Direito é um Direito que não pode ser considerado autopoiético, é um Direito frágil, é um Direito que não tem a força da sua auto-reprodução, e por isso pode ser considerado um direito mais alopoiético do que autopoiético. Então quando acontece a alopoiese? Quando critérios e padrões reprodutivos de outros subsistemas destroem casuisticamente a força do código binário licitude/ilicitude. Isso sempre acontece por critério econômico, político, de boas relações, qualquer um prevalece sobre o código lícito/ilícito no contexto do subsistema jurídico. Então na prática, a gente teria que presumir que, para que a autopoiese acontecesse, cada código teria que ficar na sua, cada código binário teria que operar no seu subsistema, então quando isso não acontece a gente tem o estágio de alopoiese ou miscelânea social que caracterizaria a grande dificuldade do Direito e das sociedades periféricas.
Bom, eu quero fazer ainda uma ultima análise. Será que a gente pode identificar nessa idéia de licitude/ilicitude alguma semelhança com Kelsen?! É uma pergunta capciosa porque à primeira vista a gente faz uma associação direta mesmo, Luhmann é Kelsen. Luhmann é uma teoria sofisticada para repetir o que Kelsen disse faz tempo. A gente podia pensar isso?! A gente não pode confundir Kelsen com Luhmann, porque: a primeira diferença: a idéia de licitude/ilicitude não se esgota na legalidade. Portanto não há aqui uma norma fundamental que possa estabelecer um critério para a validade de todo o direito. Existe aqui tão somente normas infra-ordenadas, o que existe aqui são critérios que estabelecem tão somente a reprodução sistêmica, o que quer dizer que aquilo que seria a norma fundamental de Kelsen poderia ser reformulada a partir da teoria dos sistemas de Luhmann já que é possível o próprio sistema se alterar e se construir permanentemente. Segunda diferença: Luhmann trabalha o Direito como comunicação. Ele trabalha a noção de Direito com uma perspectiva de que tudo que é comunicação social, tudo que está no nosso meio social é passível de incorporação e de prazer proporcionado pelo próprio ambiente jurídico. Kelsen tem uma preocupação com o estabelecimento de critérios para a validação do Direito. Isso sem dúvida aproxima muito a Luman, a partir de que a idéia de validação dele seria condicionada a perspectiva da operatividade do código binário. Então o que a gente pode dizer é que essa perspectiva aqui é mais abrangente do que a de Kelsen, o Direito é construído a partir da Lei, dos Costumes, de praticas sociais, das praticas dos tribunais, tudo isso é produção de Direito a partir naturalmente da interferência do código binário licitude/ilicitude.
Para finalizar, tem um livro que eu recomendo (Celso Cantilombo ???) traz a idéia de que p. ex, no Direito a gente teria Constituição como vínculo estrutural entre o subsistema jurídico e o político, e portanto, a Constituição trabalharia tanto com o subsistema político, com seu código binário específico ter poder/não ter poder e com o sub-sistema licitude/ilicitude. Isso daria a possibilidade de que efetivamente o discurso de fundamentação e o discurso de aplicação do direito pudessem ser compreendidos a partir da expectativa do que é a interpretação ou a atuação dos tribunais funcionais na teoria dos sistemas, ou seja, no momento em que o juiz está aplicando o Direito, ele trabalha majoritariamente com o código binário do subsistema jurídico. No momento em que a legislação está sendo criada, no momento em que a Constituição está sendo criada, ela trabalha majoritariamente com o critério poder/não poder, de forma que a gente tem uma interpenetração entre essas duas dimensões a partir do momento em que a Constituição fica no meio do código binário de um e no código binário do outro, atuando a Constituição como vínculo estrutural, aquele ponto em que começa o subsistema político e o subsistema jurídico. Um exemplo prático disso aqui: determinadas decisões do STF são tipicamente decisões que a gente sabe que não está dentro de uma análise eminentemente técnica, são decisões políticas, não há como negar. Por mais que seja por força argumentativa, por maior que seja o esforço por vinculação legislativa, constitucional, existe uma grande percepção de que a discussão leva em conta aspectos muito mais políticos do que jurídicos. Mas uma decisão que eu acho bem dramática é aquela que aconteceu quando houve aquele posicionamento do STF quando houve a edição da Emenda nº 26, na Constituição anterior (67/69). Essa emenda foi a que convocou a Assembléia Nacional Constituinte. Ora, se nossa Constituição é rígida, se fosse analisada de forma estritamente jurídica por nosso STF, o que aconteceria? Seria declarada inconstitucional, ela viola procedimentos e normas que
123

estabelecem essa disparidade da nossa Constituição. No entanto, isso não aconteceu, a EC nº 26 foi aprovada, temos uma nova Constituição e por isso mesmo há quem diga que o fundamento da Constituição de 88 está lá no Regime Militar (dentro de uma perspectiva jurídica). No momento em que estava a Assembléia Nacional Constituinte, a gente tem o descompromisso total com a Assembléia Nacional de manter ou não o direito passado. Mas se a gente entende isso aqui, a gente percebe que o contexto que permitiu que isso aqui acontecesse foi eminentemente político, daí a gente pode perceber que a partir da teoria dos sistemas, Luhmann tem também uma explicação interessante para isso. Ele diz que a função dos Tribunais muitas vezes faz com que o código binário lícito/ilícito legalidade/ilegalidade seja trocado pelo legitimidade/ilegitimidade, portanto ele teria uma moralidade que vez por outra apareceria, seria mais ou menos como o funcionamento de um ar-condicionado ou de uma geladeira, você programa a temperatura lá no termostato e ele começa a subir, portanto, vai evoluindo no padrão X, e quando atinge aquela temperatura, ele desliga e começa o processo todo de novo, e volta a ser licitude/ilicitude de novo (aquele padrão determinado) no momento em que a temperatura baixar demais. É mais ou menos isso. É como se houvesse uma troca entre os critérios de licitude/ilicitude que não pode funcionar de forma absoluta com mecanismos de calibração ......, que teria necessidade então de trocar pelo mecanismo legitimidade/ilegitimidade fazendo com que então houvesse essa regulação dessa temperatura da própria organização social. Essa é ume teoria bastante sofisticada, mas é apenas uma teoria. O importante é entendê-las como metáfora, é uma forma de ver a realidade, mas não é a forma melhor, é uma forma possível e que naturalmente é contaminada pela própria ideologia daquele que formula a teoria. Para a gente entender o referencial de neutralidade científica seria complicado. As principais críticas que se fazem a Luhmann hoje é que ele trabalha com uma lógica que não é uma lógica humana, não é uma lógica que trabalha com o sim/não, não há espaço para a razoabilidade, não há espaço para o ‘talvez’, é sim ou não! Essa seria a principal critica a se fazer a Luhmann no contexto das suas limitações no sentido de contemplar a própria natureza humana. Mas é interessante porque trabalha a sociedade como comunicação, é interessante por evidenciar determinados processos que aconteceram com a modernidade, é importante por tentar explicar como as coisas funcionam no nosso meio.
Aula do dia 15 de junho de 2007
Questionário para orientação dos estudos para a prova:1) Qual a utilidade da reflexão filosófica sobre o direito?2) Como surgiu o pensamento filosófico na Grécia Antiga?3) Qual a importância da filosofia Socrática?4) Qual a contribuição de Platão para a teoria da justiça?5) De que maneira Aristóteles enxerga a justiça?6) O que caracteriza a reflexão filosófica na Idade Média?7) Como caracterizar a distinção entre cidade dos homens e cidade de Deus em Santo Agostinho?8) Como se relacionam teologia e filosofia no pensamento de São Tomás de Aquino?9) Que fatores determinaram a ruptura com a tradição medieval?10) O que caracteriza a modernidade?11) Por quais motivos é atribuído a Descartes a condição de fundador do pensamento moderno?12) Qual a importância da noção da “verdade” para o pensamento moderno?13) Como caracterizar o debate segurança versus justiça no pensamento jurídico moderno?14) O que representa o Estado para a caracterização do projeto da modernidade?15) Caracterize as diversas manifestações político-institucionais experimentados pelo Estado da Modernidade?16) Em que sentido se afirma que a modernidade é um conceito em crise?17) Em que medida é possível considerar superado o projeto da modernidade?18) Qual a contribuição das escolas críticas do direito à superação da crise do pensamento jurídico moderno?
124

19) Como compreender o papel da ideologia do pensamento jurídico contemporâneo?20) Caracterize a contribuição de Luhman para a compreensão do direito moderno?
Aula do dia 20 de junho de 2007
Assunto da segunda prova. Não foi gravada. Nem fez falta na seqüência.
Aula do dia 22 de junho de 2007
Análise dos textos enviados pela internet
Universalidade = segurança;Particularidade = justiça.
Na verdade, a gente pensa, quase sempre, que uma reflexão filosófica é uma reflexão estéril. Tal idéia enfatiza a desnecessidade de pensar ou de refletir, em contraste com a necessidade de fazer, de realizar; quem faz, não tem tempo de pensar e, por via oposta, quem pensa muito não faz. Por isso, a idéia de refletir sobre as diferentes formas de pensar a realidade fica colocada no canto. Talvez isso seja fruto da nossa própria história de país que é uma jovem democracia; talvez isso seja uma tentativa de queimar etapas, de realizar aquilo que está por fazer, em comparação com os países mais antigos.
Na verdade, a filosofia não tem o seu valor pelas respostas que ela dá; a filosofia mostra caminhos, se legitima enquanto reflexão, enquanto parada para um olhar crítico. Se isso trouxer uma resposta, tanto melhor, mas a própria reflexão já permite uma tomada de consciência com relação às nuances daquilo que se investiga. O valor da filosofia está exatamente nisso, em permitir uma reflexão, uma tomada de consciência, de percepção da realidade. Ela necessariamente não vai dar respostas, quem faz isso com mais adequação é a ciência. O pensamento científico, que não é um pensamento filosófico, o pensamento filosófico está ainda em um estágio pré-científico, porque, na verdade, a própria filosofia estuda os limites e possibilidades da ciência, com a epistemologia. A filosofia está um passo antes da ciência, a ciência autonomiza-se, ganha contornos próprios a partir do momento em que ela desenvolve um método próprio e caracteriza seu objeto com especificidade, aí ela se separa do conhecimento maior, que é o conhecimento filosófico. O texto mostra, ainda, os diferentes domínios da filosofia. A Epistemologia, que estuda o que seria a filosofia da ciência, a delimitação de objeto, a questão de métodos específicos. A axiologia, que estuda os valores. A ética ou a filosofia moral, que são domínios que trabalham as questões que estão na base do funcionamento de uma sociedade que se pretenda democrática, com a idéia do dever-ser. A filosofia moral está bem próxima do direito, seria a matriz da qual se define uma filosofia encaixada com o pacto decisor, que seria a filosofia do direito. Filosofia política. A filosofia estética estuda o que é o belo. Será que a beleza é algo que existe em si ou está nos olhos de quem vê. É algo objetivo ou passa por uma concepção subjetiva daquele que está olhando. É essa a riqueza da filosofia, é que ela permite múltiplos olhares sobre a realidade, permitindo um esclarecimento de práticas, de valores, do conhecimento, da sua função. Por isso vale a pena estudar filosofia. O início do pensamento filosófico se dá quando há uma ruptura com a explicação mítica da realidade; oposição entre o mythos e o logos que se estabelece nas colônias gregas; não havia separação entre física, direito, tudo era visto como filosofia, no sentido de que havia uma reflexão conjunta sobre as coisas tais quais como elas são. A partir do momento em que se percebe que existem diferentes objetos e por isso seriam precisos diferentes métodos, é que a gente começa a pensar na necessidade efetiva da definição epistemológica da própria cientificidade de cada um desses domínios, daí surge a matemática, a física, a geografia, o direito, surgem independentes uma das outras. Quando a gente estuda o pensamento filosófico; quando se estudam os pré-modernos se percebe que as reflexões sobre o direito quase sempre são permeada de reflexões sobre o mundo natural. A gente estuda o
125

direito, os grandes juristas também eram grandes matemáticos, grandes astrônomos, que trabalhavam sob o ponto de vista macro. Aristóteles, por exemplo, era tudo, ético, natural, tendo uma preocupação sistêmica de explicar a realidade. A autonomização é possível a partir do momento em que objeto e método vão se tornando mais claros para o saber humano. A idéia de método é uma idéia tipicamente científica; a ciência trabalha com método, a filosofia estabelece qual é o método que a ciência eventualmente pode adotar; a filosofia não tem compromisso com o método, ela tem compromisso com a especulação, com a investigação e a partir daí é que surgem os métodos.
METAFÍSICA E FILOSOFIA CRÍTICA:A metafísica é aquele tipo de conhecimento que ficou consagrado por quase todos os
filósofos; recorre a fundamentos que estariam além do mundo da física, além daquilo que os sentidos podem captar; se tem em Platão a idéia de uma metafísica a partir do mundo das idéias. Isso se manifesta também em Kant no recurso à própria idéia de razão como caminho para a descoberta da realidade, o que seriam uma estratégia metafísica para compreensão da realidade. Kant fez uma fusão entre os racionalistas e os empiristas. A partir dos racionalistas, que tinham matriz em Descartes, e os empiristas, segundo os quais todo o conhecimento decorre da experiência. Kant fez uma fusão entre racionalistas e empiristas, criando a noção da própria percepção de que a realidade pode ser conhecida a partir de instrumentos que podem usar a razão e também a experiência, o que daria origem ao imperativo categórico etc. o argumento de Kant, no final das contas, é metafísico, porque você tem que recorrer a algo que escapa à sua percepção sensorial, algo que você tem que imaginar como sendo um dever-ser, algo que você não questiona, que tem um conteúdo definitivo e que orienta sua maneira de ser.
A norma fundamental é metafísica? Kelsen nunca admitiria isso, porque a norma fundamental não tem conteúdo; a metafísica representa compromisso com conteúdo; Kelsen trabalha no plano da forma. Quando a gente orienta nossa conduta em sociedade, partindo de pressupostos nossos, que são formas nossas de perceber a realidade, que pode ser fundada numa religião, em um convencimento livre de que, por exemplo, a verdade deve ser encontrada de tal ou qual forma, e a gente começa a desenvolver uma argumentação que passe desse núcleo substancial, isso é metafísica. Toda a doutrina católica parte de uma grande metafísica. Recorrer à idéia de que a dignidade humana é a realização dos direitos individuais é metafísica. Sempre que a gente recorre a abstrações que encerram um dever-ser provido de conteúdo, se pode falar em uma perspectiva metafísica. O positivismo rompe com isso, apela muito mais àquilo que está posto por uma decisão, por um ato de vontade, o conteúdo termina sendo irrelevante.
CARTOGRAFIA DA RACIONALIDADE MODERNA:As teorias são, na verdade, formas de compreender a realidade. Qual a teoria melhor?
Quem tem a razão? Isso é uma pergunta tipicamente moderna, no sentido de investigar a quem assiste a razão. Se a modernidade é a época da razão, o momento de redenção do que seria a realidade, quem não tem razão é alguém que não merece crédito, que não deve ser ouvido. Modernidade: investigar de que lado está a racionalidade, de que lado está a verdade. Teorias são metáforas sobre o mundo, mesmo quando pretendem ser descrições. Toda e qualquer teoria é uma metáfora; quando se diz que alguém é um iceberg, não se quer descrever a pessoa como um iceberg; se está, em uma linguagem metafórica, enfatizando algum aspecto da personalidade da pessoa; metaforicamente acentuando que é uma pessoa fria, distante. As teorias da modernidade, que surgem com a pretensão de descrever a realidade, traçar um retrato fiel daquilo que é a realidade, são, quase sempre, pura e simplesmente metáforas, são formas metafóricas de perceber a realidade. Claro que existe um ponto de partida no real; mas esse real, na medida em que vai ser representado na formulação teórica, deixa de ser aquilo que ele é e passa a ser aquilo que ele é no discurso. O texto tem o compromisso de mostrar que, na verdade, o que a gente entende como descrições da realidade é um grande conjunto de explicações metafóricas sobre uma mesma realidade; são olhares diferentes sobre uma mesma realidade. O autor cria uma imagem interessante, como se a modernidade tivesse um discurso linear, de superação da verdade provisória por uma verdade mais
126

nova e outra, sempre numa estrutura linear, como se a gente tivesse um tecido que se fechasse completamente e não houvesse superposição, não houvesse críticas, antíteses, como se tudo fosse um grande retalho de teorias que se encaixassem perfeitamente. Isso foi o que defendeu o pensamento moderno e a gente percebe que não é assim que funciona, porque as diversas teorias formam muito mais um mosaico, um emaranhado teórico onde não existem muita linearidade; não existe esse encaixe perfeito de teorias, até onde vai uma teoria e onde começa a outra; na verdade, tudo se coloca como uma superposição, daí o autor ter colocado a imagem da cartografia, dos mapas, de mapas, de mapas; uma teoria é um mapa, porque é um caminho para conhecer a realidade; mas essa teoria precisa ser articulada com outras teorias ou outros domínios do conhecimento; para ela se articular você precisa ter um sobremapa, que são articulados com mais outros; por isso, essa idéia de racionalidade linear ser uma ilusão; o universo é como se fosse um mosaico, composto de várias bolas – as teorias – que teriam uma cor predominante, mas conforme a gente varie o ponto de olhar o quadro, se veriam diferentes tonalidades nestas bolas. Kelsen, por exemplo, teria uma cor predominante de um positivismo, mas se pode ver nuances que aproximam Kelsen de um sociólogo, quando, por exemplo, ele fala em eficácia. Então, as cores não são colocadas de forma absoluta; aquilo que parece ser algo inquestionável, pode ser trabalhado dentro de um contexto diferenciado. As teorias são apenas formas diferentes de explicar a realidade, tendo o poder de dar um contorno da realidade, de forma metafórica. As teorias, na verdade, têm como matéria prima aquilo que chamamos de realidade, mas partem de concepções que atendem a essa historicidade da pessoa estar no mundo.
Se a Modernidade investiu no projeto da racionalidade, na universalização da razão, e se a gente percebe que buscas por experiências místicas ganham cada vez mais espaço, isso significa que alguma coisa se perdeu no caminho; nem todas as pessoas acreditam na forma emancipatória da racionalidade, por isso mesmo buscam a pacificação do seu espírito na religiosidade, na fé; isso caracteriza que há um momento de crise no projeto da racionalidade e que, portanto, é preciso saltar os limites da racionalidade e perceber múltiplas formas de pacificação espiritual. A pós-modernidade tem o compromisso com o reconhecimento de uma fragmentação, com discussão do universalismo.
Aula do dia 27 de junho de 2007 (professor viajou)Aula do dia 29 de junho de 2007 (professor viajou)
Aula do dia 04 de julho de 2007
Revisão para a prova. Não foi gravada.
Primeira prova em 06 de julho de 2007
1) Relacione a concepção platônica de justiça com o debate jurídico contemporâneo.2) Caracterize o surgimento da modernidade, debatendo seus reflexos na construção da
ciência do direito.3) Como evidenciar a crise da modernidade a partir da reflexão luhmaniana ou
habermaniana?
Aula do dia 11 de junho de 2007
Comentários à prova. No comentário à terceira questão, o professor disse que a reflexão luhmaniana não tem relação com a crise da modernidade. Ou seja, acertou quem escolheu o caminho habermaniano.
127

Aula do dia 13 de junho de 2007
Dinâmica de grupo a partir da seguinte história: há um abrigo subterrâneo que irá salvar pessoas de uma explosão iminente, mas lá só cabem 6 pessoas, que serão escolhidas dentre as 12 que estão do lado de fora. Elas possuem as seguintes características: um violonista de 40 anos, narcótico viciado; um advogado de 25 anos; a mulher do advogado, 24 nos, que acaba de sair do manicômio, mas ambos preferem ficar juntos, ou dentro ou fora do abrigo; um sacerdote de 75 anos; uma prostituta de 34 anos; um ateu de 20 anos, autor de vários assassinatos; uma universitária que fez voto de castidade; um físico de 28 anos, que só aceita entrar no abrigo se puder levar consigo a arma; um declamador fanático, de 21 anos; uma menina de 12 anos de baixo QI; um homossexual de 47 anos; um débil mental de 32 anos, que sofre de ataques epilépticos.
Cada aluno escolhe seus seis, e depois, em grupo, procuram convencer os demais, para que o grupo apresente apenas seis, conforme o consenso obtido. O objetivo é evidenciar a dificuldade de se obter o consenso onde há pluralidade ideológica, em uma pequena amostra que é a sala de aula.
Anotações do caderno de Marcelo Galvão:
- pluralismo- dificuldade de encontrar espaços consensuais, elementos moralmente institucionalizados.- neste contexto, desempenha papel importante a interpretação da constituição.- convergência entre filosofia do direito e o direito constitucional- não é possível pensar o direito sem discutir o papel do direito constitucional e de seus princípios na construção da democracia e da justiça- o juiz constrói e ancora sua decisão em valores socialmente aceitos- decide baseado nas suas convicções, na sua forma de estar no mundo, de ver o mundo.- não consegue se livrar de suas preconcepções- é impossível haver objetividade/neutralidade completas- a supremacia de uma técnica, de uma forma decisória, não afasta a influência da ideologia.- a escolha pela maioria também é problemática- tem que se assegurar espaço para a minoria- a maioria nem sempre é sábia (vide Alemanha nazista)- o direito é permeado por ideologias e por formas de ver o mundo
Aula do dia 20 de julho de 2007
Iremos discutir alguns modelos que têm sido discutidos nos EUA e Europa, com reflexos aqui no Brasil, não sendo ainda capitaneados por nós brasileiros, a partir da contribuição de estudos de alguns autores. Como fazer com que o Estado possa ser construído a partir de um referencial de justiça, diante da fragmentação que marca as sociedades contemporâneas? Ou seja, se as sociedades contemporâneas são marcadas pelas diferenças, sobretudo, pelo dissenso, pelo desacordo, como fazer com que a gente tenha de um lado, a unidade que se espera do Estado, a coesão social, mas, de outro lado, também, o respeito a essas diferenças?
Aliás, vale a pergunta: como devem ser entendidas as diferenças? Será que as diferenças são individuais ou são diferenças grupais, em que existem grupos diferentes e, portanto, esses grupos possuiriam valores partilhados, ou será que todas as pessoas devem ser entendidas como unidades diferenciadas dentro desse universo que a gente chama de universo fragmentário marcado pela diferença. Iremos discutir, basicamente, quais são as propostas que têm sido apresentadas no sentido de explicar a construção da sociedade marcada por pessoas que sejam livres e iguais,
128

portanto, pessoas que sejam livres para ter suas convicções e crenças, as suas posturas ético-morais, ao mesmo tempo em que estão inseridas num grupo maior, portanto, um grupo social.
O tema que, talvez, seja o grande ponto: o liberalismo na sua concepção, vejam bem, não estou me referindo ao liberalismo econômico, já estudado. Estou me referindo ao liberalismo na sua vertente política, tal como formulada, contemporaneamente, no debate norte-americano. Portanto, seriam a expressão desse liberalismo os dois grandes autores Rawls e Dworkin. Faz-se necessário também lembrar que o que se tem por liberal nos EUA não é o mesmo o que se tem como liberal aqui no Brasil. O liberal norte-americano está muito mais próximo de um social-democrata, do que, aqui, no Brasil, em que está o liberal mais próximo de um conservador, no contexto norte-americano. O liberal é de, um modo geral, uma pessoa que está preocupada com a produção de uma esfera individual, com a proteção do seu âmbito individual de atuação e de todos os direitos que daí decorrem.
O marco fundamental do debate está na publicação, em 1971, da Obra ‘’Uma Teoria de Justiça’’, do autor Rawls, em um ambiente conturbado, em plena Guerra do Vietnã. E a preocupação da época era a de que existem padrões diferentes de posicionamentos ético-morais e, nesse contexto, era preciso definir o que o Estado vai, diante disso, qual é o projeto, o que vai implementar como projeto de uma sociedade justa. O autor Rawls, então, vai elaborar a teoria de justiça recorrendo a imagens que são interessantes e amplamente conhecidas: falar em sociedade justa é, sobretudo, falar em uma sociedade que foi projetada, ou que seria supostamente projetada, sob um véu de ignorância, que é, naturalmente, uma metáfora, uma imagem criada por Rawls, para explicar o momento inicial em que aqueles padrões que seriam orientadores dessa sociedade, seriam criados. A partir desse momento, as pessoas estariam agindo sob o véu da ignorância de uma forma tal que, ninguém saberia, a princípio, o que seriam nessa sociedade. Então as pessoas não saberiam se eram homens ou mulheres, portanto, seria um momento pré-social, daí a retomada da tradição eminente contratualista, que essa é uma forma de ver a sociedade a partir de uma situação, num momento hipotético, bem típico do contrato social do próprio Rousseau, por exemplo. Então, as pessoas, nessa sociedade, não saberiam se eram homens ou mulheres, se seriam altos ou baixos, se seriam brancos ou negros, enfim, não saberiam quais seriam as diferenças, qual seria o jogo que faria com que as pessoas fossem diferenciadas nessa sociedade, por eles próprios. Então, sob o véu da ignorância, ninguém saberia, a princípio, o que seria nessa sociedade.
Rawls acredita que, a pessoa sem saber o que representa nessa sociedade, ela deve ser cautelosa ou comedida no momento em que for estabelecer as diferenças. Então, para Rawls, o véu de ignorância seria uma condição necessária para que essa sociedade, marcada pela justiça, pudesse ser, em algum momento, construída. Diz Rawls que, sob o véu da ignorância, dois princípios emergiriam naturalmente: todas as pessoas que ali estivessem escolheriam, naturalmente, como padrões para a construção da sociedade dois princípios, que seriam, na realidade, dois grandes pilares sobre os quais se assentaria essa sociedade. O primeiro seria o princípio da igual liberdade: para Rawls, todas as pessoas têm o direito de possuir o seu próprio projeto de vida, com a ressalva de que compartilhem com todos os demais. As pessoas podem ter as suas convicções, suas formas de ver o mundo, do espaço, inseridas no contexto social, cultural etc, desde que esse projeto de vida não seja contrário a nenhum outro. Isso significa que o projeto de uma verdade incontestável, fundamentalista, radical é afastada e excluída, por acreditar ser melhor ou superior do que outra. Essa proposta de Rawls, traz, em seu bojo, uma idéia de tolerância. Daí surge o questionamento: devemos ser tolerantes com quem é intolerante? Diante dessa pergunta, Rawls responde que não. A tolerância encontra o seu limite na própria manutenção da tolerância em si, na tolerância enquanto projeto empírico fundamentador de uma sociedade justa e igual. Qualquer perspectiva que busque radicalizar projetos que tendam a eliminar os demais, é absolutamente incompatível com a idéia de justiça como eqüidade, tal como defendido por Rawls.
Em segundo lugar, a questão das diferenças que existem nas sociedades, como devem ser toleradas ou como devem ser fundamentadas ou admitidas? Como se deve explicar a diferença em uma sociedade marcada pela idéia de justiça como eqüidade, tal como Rawls defendeu? Rawls, então, cria duas idéias a partir da idéia de diferença: as diferenças devem ser admitidas, em primeiro
129

lugar, sempre que elas estiverem acessíveis a todas as pessoas em igualdade de condições (isso explica, por exemplo, por que existem pessoas mais ricas, pessoas menos ricas, bem ou mal sucedidas). Para Rawls, se forem dadas oportunidades a todos, ‘’está tudo certo’’, isso fica dentro da perspectiva da escolha ou do livre arbítrio, que aqui preside, enfim, a própria condução individual das pessoas, sendo tipicamente do pragmatismo norte-americano: EUA: país da liberdade, em que são dadas oportunidades a todos, lugar em que você pode ser bem sucedido, desde que você o queira. Tal afirmação, entretanto, tem sua viabilidade prática diminuída, tendo em vista o terrorismo, os acontecimentos como os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. O país da liberdade, que tem seu símbolo a estátua da liberdade, na entrada de Nova Iorque, teve, após os atentados, sua concepção de liberdade bastante restrita, até, inclusive, para os próprios nacionais norte-americanos. Em nome da segurança coletiva, há uma grande desconfiança e aumento da vigilância. Bin Laden, para o professor, já é um vencedor, por ter modificado o conceito, outrora peculiar, de liberdade para os EUA, devido ao aumento das restrições à liberdade individual.
Em primeiro lugar, essa diferença seria medida quando estivessem abertas, diante da existência, de possibilidades abertas a todas, a todos, e ainda em uma segunda situação, quando essa diferença representar um maior benefício para os mais necessitados. Ora, então, o que pode legitimar diferenças em uma sociedade marcada por essa idéia é exatamente possibilitar, em primeiro lugar, a abertura de possibilidades a todos e, em segundo lugar, o fato de trazer um benefício maior para aqueles que mais necessitam.
Essa segunda dimensão da idéia de diferença para a teoria de Rawls, ela traz também uma imagem bastante curiosa e também bastante conhecida nossa, apesar de, à primeira vista não estar tão clara, que é a própria idéia de ação afirmativa, de políticas afirmativas, tais como as cotas universitárias. Daí, falaram-se aqui no Brasil de cotas para negros e do velho problema da identidade racial brasileira: o que é ser negro no Brasil, país de grande miscigenação. No plano universitário, há a consagração do programa do PRÓ-UNI, uma ação afirmativa fundamentada em outros critérios, mais de ordem econômica e social do que propriamente racial.
Mas, de certo modo, isso está exatamente de acordo com a proposta que foi trazida no projeto do autor RAWLS, de uma sociedade justa fundada nas diferenças com a distribuição dos maiores benefícios para aqueles que mais necessitam. Então, para Rawls, essas seriam as linhas gerais de uma sociedade marcada pela justiça como eqüidade. Para Rawls, essas seriam as bases fundamentais de uma sociedade livre e justa, marcada por pessoas que teriam a sua individualidade preservada, ao mesmo tempo em que teriam preservados os elementos que cimentariam a coesão social.
Comentário inaudível !!(...)As próprias diferenças que existem ideológicas em uma sociedade que fazem com que as
eleições, por exemplo, legitimassem determinado governo, elas seriam algo que seriam admitidas, desde que pudesse haver alternância no poder. Então não há um fechamento absoluto, esse é o melhor preceito.
Comentário inaudível 2!!! (...)Platão, nesse sentido, ele é elitista mesmo, ele acredita que só os sábios poderiam
governar a cidade. Em Rawls, isso não existe esse fechamento: os sábios podem estar governando, mas também pessoas do povo, tais como artesãos, poderiam estar administrando bem a cidade, desde que estivesse dentro de um jogo político em que houvesse a possibilidade de discussão e abertura. Pergunta: como seriam aferidos os mais necessitados?
Esse modelo é bom? Rawls ele tem uma formulação, cujo grande defeito é partir de pressupostos que são absolutamente compatíveis com aquilo que a gente teria que é fruto do projeto da modernidade. Isso aqui é uma população tipicamente universalista. Olhem o problema: Rawls acredita que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, estando sob o véu da ignorância e perguntado o que é uma sociedade justa, se ele raciocinar com correção, ele vai chegar a essa fórmula aqui. Qual é o problema que existe aqui? 1) a pretensão do universalismo e 2) a desconexão com a realidade social, cultural em determinado país: ele pretende que isso valha para os EUA, para o Brasil, para o Afeganistão, para qualquer lugar do mundo.
130

Rawls desconecta essa reflexão daqueles elementos trazidos pela própria realidade histórica, esse talvez tenha sido o mote daqueles que teriam sido os mais ácidos críticos dessa formulação de Rawls, desse imperialismo de Rawls, também conhecidos como os comunitaristas. Os comunitaristas são aqueles que apregoam que não pode haver a primazia da de justiça sobre o bem comum, tal como Rawls pretende. Tem-se que inverter a fórmula: primeiro o bem comum para depois discutir-se o que é justo. Quem vem primeiro, a justiça ou o bem comum? Para Rawls, sobre isso não há dúvidas: a justiça antecede qualquer discussão sobre o que é bom ou ruim para a sociedade.
Para os comunitaristas, em atenção à perspectiva histórica, cultural, eles propõem uma inversão da idéia daquele autor, já que não é possível falar em uma sociedade justa, em uma sociedade marcada por pessoas livres e iguais, sem que seja dada a devida atenção àqueles elementos que formam a própria realidade na qual as pessoas estão inseridas. Então são nomes que ficaram conhecidos por tal corrente: M.Walzea, A. Mctyre e C. Tayon. Todos ainda estão vivos: os dois primeiros são americanos e o terceiro, canadense. Eles tentam mostrar os limites do liberalismo e os limites da perspectiva de justiça trazida por Rawls.
O C. Tayon, hoje, é um dos maiores expoentes do multiculturalismo, do multiculturalismo existente hoje no mundo inteiro, por razões óbvias, por exemplo, por fazer entender que pessoas oriundas de uma determinada etnia com outras... No Brasil, isso é mais simples: a gente, apesar de encontrar um desacordo, um dissenso, há uma idéia e imagem sedutora, de certo modo, sobre a miscigenação brasileira. Mas, em outros países a questão é bem mais crítica. Por exemplo, no Canadá, há uma população expressiva que fala inglês e uma pequena comunidade, residente em Quebec, em que se fala a língua francesa e possui outra cultura.
Como podemos, a partir da análise, compreender a contribuição dos comunitaristas? Quando se fala em projeto de sociedade livre e justa, a partir do que propõe Rawls, é desconsiderar a importância dos aspectos culturais e históricos que não podem ser deixados de lado: existem, para as pessoas, padrões e fórmulas distintos de justiça, conforme seja a sua própria inserção cultural e social. Não há como se pensar abstratamente num modelo racional, universal que possa ser aplicado em todo o tempo e em todo lugar.
Os comunitaristas exemplificam, de forma provocativa, inclusive o autor Tayon, uma obra chamada, na tradução, de ‘’Depois da virtude’’ ou, para outros, é traduzida ‘’Em busca da virtude’’, algo como se fosse, enfim, uma idéia a ser perseguida. Quando se fala em virtude, remete-se ao estudo e experiência dos gregos. Os comunitaristas propõem exatamente isso: a virtude, ou seja, a idéia de justiça, não pode ser desconectada da idéia de uma experiência coletiva, tal como os gregos pensavam. Os gregos pensavam que a virtude, a felicidade, era algo que era alcançado a partir de uma atuação junto com seus pais. O próprio Aristóteles dizia que o homem é um animal político. Quando a gente defende isso, então, ao contrário dos liberais, é criada ma grande diferença: enquanto para Rawls o importante é a defesa de uma esfera privada, para os comunitaristas, o que emerge, com grande força, é na esfera pública. A discussão do bem público precede qualquer formulação sobre o conceito de justiça.
Para essa corrente, o professor cita o exemplo da impossibilidade de uma amizade entre um jovem judeu e outro alemão, do perigo que isso representa, tendo em vista que o comportamento e tratamento entre esses indivíduos, necessariamente, terá influências históricas sobre cada um deles, ou seja, o elemento historicidade está presente na construção dessas relações. Não há uma neutralidade quanto aos fatos históricos tal como pretende o Rawls. Muito pelo contrário, haveria uma clara interferência dessa trajetória de sua cultura no momento em que se entra em contato com o outro. A idéia, portanto, de que a justiça é algo que pode ser racionalmente encontrada, pôs, definitivamente, em xeque: vieram os comunitaristas.
Diante desse debate, como é possível se posicionar? Os liberais defendem que ser tolerante é respeitar as diferentes concepções individuais: cada pessoa tem sua pauta de orientação ético-moral e ela deve ser respeitada. Para o comunitário, ser tolerante é respeitar aqueles valores partilhados por um grupo, por exemplo, os valores partilhados por estudantes, os valores partilhados por trabalhadores, por empresários, entre outros. Uma sociedade democrática, para um liberal, tem
131

em vista o aspecto, sobretudo, individual; enquanto, para os comunitaristas, respeita-se a esfera composta por valores partilhados. Como se posicionar?
Pergunta: o comunitarismo não estaria taxando pessoas?Os valores e interesses que fundamentam a ação dos estudantes, também trabalhadores,
enquanto estudantes, teriam que ser respeitados, tolerados. O conceito de grupo não é estanque. Ao contrário da percepção liberal que entende, sobretudo, que o indivíduo deve ser respeitado, independente do reconhecimento de grupos e seus respectivos valores.
Pergunta: como harmonizar interesses conflitantes de distintos grupos? A partir de uma ação estatal compatível com essa pluralidade de valores que estão na
sociedade. Alguns dados: o estudado até agora foi na perspectiva do debate norte- americano. A partir da experiência européia, podemos adentrar na da brasileira.
Troca de lado da fita, iniciou-se a discussão sobre a evolução da jurisprudência dos conceitos, dos interesses e a atual, a dos valores. Depois da 2ª Guerra Mundial foi criado, o Tribunal Constitucional Alemão, com a finalidade de interpretação da Constituição, verificando os valores subjacentes naquelas normas. Há, de um lado, uma perspectiva de resgate de uma experiência romana, grega, e, de certo modo, uma consideração de que esse comunitarismo foi reeditado durante a experiência renascentista com o humanismo renascentista de Florença, principalmente. Há dois caminhos:
No caminho alemão, a gente teve a preocupação de construir o Tribunal Constitucional por um motivo muito simples: o que se viu na 2ª Guerra Mundial foi tão doloroso que a Alemanha, até então, não tinha feito ainda o giro de relativizar a tempo a supremacia do Parlamento. Até então, vigiam padrões interpretativos, hermenêuticos que tinham, sobretudo, como sacrossanta a palavra contida no texto da lei. Daí a vinculação muito próxima do ideal exegeta francês. Por conta da impossibilidade que tinha o Juiz de criar, de inovar, de identificar valores na interpretação da Constituição, da Lei, foi por isso exatamente que Hitler ganhou espaço e subiu ao Poder, dentro da lei, pela própria maioria do Parlamento, pela própria lei. A maioria do Parlamento, representante da maioria do povo alemão, deixou-se seduzir pelo seu discurso. Depois da 2ª Guerra Mundial, os juízes, então, passaram a ter maior poder de relativização da literalidade da lei, consagrando-se a Jurisprudência dos Valores. Agora, identificam-se os valores que são consagrados como importantes pela sociedade. Isso deu origem, então, à criação do Tribunal Constitucional Alemão, a uma prática judicial de interpretação de valores na lei pelos juízes.
Daí surge a discussão sobre a contenção no ato de interpretar dos magistrados: como fazer com que esses valores sejam identificados das normas de forma segura, de forma que não haja um risco de existência de um decisionismo judicial? O autor Robert Alexy discute um critério, a partir de uma idéia de valores, a possibilidade de um critério de orientação objetiva de decisão envolvendo conflitos entre princípios que expressariam valores. Toda a teoria da argumentação de Robert Alexy sobre essa idéia, especificamente sobre a teoria dos princípios fundamentais, é de buscar formas para a ponderação, para a proporcionalidade, uma otimização e uma racionalização daquilo que, a princípio, seriam irracionalizáveis. São princípios que expressam valores, que, por sua vez, expressam preferências.
Isso significa que, por diferentes caminhos, o debate contemporâneo foi construído a partir de problemas que já se haviam percebido historicamente, há algum tempo. As diferentes soluções apontadas, elas têm, por conseqüência, modelado a sociedade. E uma sociedade que pretende ser justa, ele tem que, de certo modo, adotar um referencial. Para onde vai? No Brasil, isso ganha força, primeiramente, pela experiência alemã. Entra no Brasil essa discussão, e o perfil comunitarista, essencialmente comunitarista, tanto do ponto de vista da jurisdição constitucional, da interpretação da constituição ou institucional, quanto do ponto de vista doutrinário, isso ganha força a partir: 1) da discussão dessas idéias pelos ibéricos, Portugal e Espanha, por exemplo, com Canotilho e outros autores, cuja influência comunitarista integra obras dos autores Paulo Bonavides, José Afonso da Silva, que são, talvez, os grandes comunitaristas brasileiros.
Quanto à obra de José Afonso da Silva, há a classificação das normas constitucionais, quanto à sua aplicabilidade, em normas de eficácia plena, limitada, contida, ela representa
132

exatamente uma busca de fazer com que a Constituição tenha uma efetividade que, portanto, esses princípios constitucionais e a Constituição tenha uma força normativa e, portanto, deva ser aplicada.
Giovana, 2007: ‘’a questão do comunitarismo parece interessante, agora, de certo modo, atomiza demais a sociedade. Por exemplo, vejo muito isso no Judiciário, com a ampliação de leis e de órgãos judiciais específicos, por exemplo, vara do idoso, vara da mulher.’’ A tendência do direito constitucional brasileiro é o comunitarismo. Tudo que se fala em termos de interpretação da CF termina desembocando na aplicação em torno do valor. Este, só é valioso, justificando-se socialmente, se for partilhado; dificilmente terá sustentabilidade se for valor individual. Toda a argumentação vista nos Tribunais, hoje, no sentido de inovar na jurisprudência, parte da argumentação em torno dos valores. Do ponto de vista político, tal atitude é louvável, porém, será que, do ponto de vista jurídico, há uma efetiva contribuição para a realização da sociedade justa? Essa é que é a questão.
Tal tendência dá margem ao arbítrio que é difícil de ser controlado: é difícil controlar o arbítrio judicial quando a gente trabalha com argumentação a partir de valores. O professor cita os discursos realizados nos Plenários da Casas Legislativas, onde são ovacionados os discursos de argumentação fervorosa, emocional e de cunho, principalmente, político. O professor cita, no ensejo, a importância do controle da atividade judicial, para que não seja também eivada, em sua grande parte, de caráter também político.
É trazida, ao Brasil, de um lado, a perspectiva substancialista, preocupada com o conteúdo das decisões, portanto, mais próxima do comunitarismo, concordando, de certo modo, com a perspectiva liberal; de outro lado há uma proposta procedimentalista do autor Habermas. Nesta, tem como pressuposto, uma cooriginalidade. Este autor defende uma abertura procedimental, permanente das Instituições no Estado Democrático de Direito, ou seja: 1) a construção dos procedimentos judiciais, administrativos, legislativo, eleitoral; 2) a constante abertura desses procedimentos para que as diferentes tendências sociais possam ocupar em algum momento um desses postos-chave na condução do Estado. Isso significa que nada estaria fechado, de uma vez por todas, para os grupos sociais terem a sua representação. Prestem atenção no detalhe: para Habermas, uma perspectiva procedimental teria, como conseqüência, o abandono dessa idéia paternalista que se tem, por exemplo, no Brasil.
Daí, com a existência de instituições fragilizadas brasileiras como o Parlamento e o Poder Executivo, ‘’coube’’ ao Poder Judiciário brasileiro uma atuação majorada, eivada, por vezes, de cunho político, supostamente ‘’mais adequada’’ na solução dos conflitos sociais, ante a apatia e inércia da sociedade. Daí o risco de autoritarismo e de paternalismo judicial, com o risco de nos deparamos com uma nova ditadura, só que do Poder Judiciário, ante o incremento desse poder ‘’legitimado’’, muitas vezes tomado de forma arbitrária e valorativa pelos magistrados.
Aula do dia 25 de julho de 2007
Na aula passada, eu conversei sobre articulação entre liberalismo e comunitarismo e discuti alguma coisa sobre a configuração de duas sociedades marcadas pela liberdade e igualdade a partir desses dois referenciais e comecei a trabalhar como isso se reflete no contexto da jurisdição constitucional. Eu queria tentar caracterizar com vocês alguma forma de compreensão da noção de cada um desses modelos dentro do contexto da sociedade brasileira. Você sabe que a sociedade brasileira é marcada por uma grande diferença que talvez, um dos grandes problemas do Brasil não seja propriamente de geração de recurso, mas, sobretudo de distribuição. Portanto, é um problema de justiça distributiva, de adoção de critérios para que haja a distribuição daquilo que é efetivamente produzido na nossa sociedade. E dentro deste contexto, precisamos compreender qual é o papel, qual é a função do direito e mais que isso, qual o papel dos juízes e tribunais na interpretação desse direito que é construído de acordo com a teoria clássica por essa sociedade através dos representantes que são eleitos. E essa é uma outra discussão que podemos estabelecer do ponto de vista da legitimidade, se há legitimidade ou não, o que a gente vive se é uma democracia real.
133

O que a gente tem são diversas formas de organizar a sociedade. Enquanto o liberalismo defende a idéia de igualdade construída a partir do respeito da diferença de concepções individuais que implicaria numa defesa de uma esfera privada, o comunitarismo parte de uma perspectiva cultural que existe dentro da própria cultura de cada pessoa, está inserida dentro do horizonte de cada um, sua autonomia, sua identidade é modelada pelo próprio espaço da comunidade. Por isso mesmo não existe valores individuais, mas valores que são partilhados, daí a gente falar na supremacia de uma esfera pública, com uma defesa para o comunitarismo da precedência do bem sobre a justiça, ao contrário do que defende os liberais de que não é possível discutir o bem sem antes discutir a justiça. Este detalhe do ponto de vista do respeito constitucional, ele entra com grande força, porque o que a gente pode perceber que enquanto o liberalismo defende, sobretudo a partir da experiência americana, a importância da revisão judicial do direito, os comunitaristas defendem uma forma distinta de legitimação da atuação dos juízes nos tribunais, assim os juízes e tribunais, na perspectiva liberal ela teria um comprometimento com a esfera privada em volta da aplicação da revisão judicial do direito, seria uma cumula baseada nosso _______ constitucionalmente estabelecida para resguardar aquela esfera privada contra maiorias eventuais que buscassem todos ______ esses espaços. Então a atuação da justiça constitucional tem uma índole naturalmente contra-majoritária _____. O significado, contudo que permite distinguir, um e outra, é que enquanto no 1º modelo, no liberalismo, a gente tem uma perspectiva eminentemente focada na defesa da esfera privada, o comunitarismo trabalha com a interpretação fundada em valores; os tais valores partilhados que fazem, portanto, com que a gente tenha uma configuração de como esfera eminentemente pública mesmo, valores que são partilhados por mim, por cada um de vocês, que dando a identidade do grupo e não propriamente a identidade individual, isso pressupõe, portanto uma atuação do juiz que vai além do respeito da autonomia individual, mas, sobretudo na identificação de uma vontade de uma manifestação da comunidade que se enraíza pelos diversos aspectos sociais. Pois bem, o que resulta disso aqui, talvez justifique aquele modelo clássico adotado pelos Estados Unidos de Suprema Corte, ou seja, a gente tem na verdade uma perspectiva que seja talvez mais afeita ao modelo comunitarista, que é a atuação natural de Tribunais Constitucionais, enquanto a perspectiva liberal deságua naturalmente na perspectiva de um Suprema Corte. Qual é a diferença ente uma Suprema Corte e um Tribunal Constitucional? Para o Brasil, temos os dois ao mesmo tempo, mas a diferença fundamental é que a Suprema Corte é o órgão de cúpula do Judiciário. Portanto é a última Instância Recursal, enquanto o Tribunal Constitucional é o órgão que estaria fora da própria estrutura do Poder Judiciário e teria como competência a prerrogativa de julgar litígios que envolvessem matéria constitucional. Portanto, a função do Tribunal Constitucional é mesmo interpretar e criticar a constituição, e só. No caso da Suprema Corte, até isso é feito, só que a Suprema Corte é um órgão que está inserido, que está dentro do contexto do Poder Judiciário, portanto, é o último órgão desta estrutura, não é um órgão à parte e que tem competência específica de zelar pela constituição.
No nosso caso brasileiro, quando eu digo que o STF tem tanto a competência de Tribunal Constitucional, um controle abstrato, quanto tem da mesma forma, competência tipo ____ Recurso Extraordinário bem ilustrativo, isso que a gente está evidenciando. A diferença principal é que no modelo liberalista os juizes têm a prerrogativa de julgar, de decidir contra maiorias parlamentares que criem leis que sejam contrárias aos interesses individuais.
Onde está o fundamento para isso? O fundamento está na própria constituição, que foi criada pelo povo, aliás é bem interessante, bem forte no contexto americano, “we are people”, nós somos o povo, criamos tais e tais órgãos para que sejam nossa liberdade de _____ seja ameaçada eles tem _____.
A criação do tribunal constitucional decorreu da necessidade alemã de conter, ou fazer com que experiências típicas como a que aconteceu como nazismo não acontecesse mais, dando, portanto uma maior liberdade ao intérprete do direito, fazendo com que ele eventualmente possa criar dentro das brechas da legislação e mais que isso, ela colocasse, portanto, como uma instância cujos juízes pudessem decidir a partir da interpretação daqueles que são o seu sentido, juízes ____ sentido juízes, aqueles valores que devem ser protegidos, que devem ser tutelados pela sociedade.
134

Problemas disso aqui: existe modelo pior ou melhor? Porém, seria impossível se colocar numa balança e dizer tal modelo é melhor ou pior.
Só vale lembrar que o modelo da Suprema Corte foi um modelo que emergiu não de uma perspectiva teórica mas da própria conseqüência histórica mesmo, a própria supremacia da constituição americana foi assegurada por esse caminho, e na perspectiva alemã o Tribunal constitucional surge a partir de uma formulação teórica, portanto a Suprema Corte é produto da história, enquanto Tribunal constitucional é fruto na formulação teórica do Kelsen, experiência Austro-germânica. Na Áustria, ele foi um dos idealizadores da constituição Austríaca que tinha a previsão desse órgão que foi adotado na Alemanha e que se espalhou no mundo inteiro, pela Europa ocidental e pela América latina de modo geral. Portanto, não é um modelo melhor ou pior. Há sim, diferentes modelos.
O que quero enfatizar aqui é que a perspectiva comunitarista tende a enfatizar a necessidade de um Tribunal constitucional, aliás, essa é uma discussão que a gente vê hoje muito claramente no Brasil. Na _____, a defesa de um Tribunal constitucional pro Brasil, ou seja, a redução das competências extra-constitucionais que o Supremo Tribunal possui, tem o fortalecimento da sua própria configuração como corte eminentemente constitucional. Tira tudo aquilo que não é competência tipicamente afeto ao julgamento de questões eminentemente constitucionais para que a gente possa eventualmente resguardar a legitimidade do STF. Esse é um discurso que a gente vê hoje com grande força na rotina brasileira. Eu, pessoalmente acho que isso tudo ganha força a uns 30 a 40 anos atrás, graças a José Porto Gacilo, Paulo Bonavides, que tiveram uma grande aceitação no nosso meio jurídico e que defende em um certo sentido que um país marcado pela desigualdade como é o Brasil, é impossível a gente falar em um outro caminho para o desenvolvimento social que não passe por uma efetiva atuação dos juízes, no sentido de que, eles estariam mais habilitados a interpretar quais são as necessidades do povo, e por isso mesmo, estariam na linha de frente desse processo de comandar o crescimento do país.
Eu queria discutir isso com vocês: o que vocês acham disso? Isso é corrente no Brasil, tanto a doutrina brasileira como a própria modelagem institucional convergem decisivamente para a perspectiva que aqui está, uma perspectiva comunitarista. Não quer dizer que a gente tenha como única alternativa comunitarista ??? a perspectiva do liberalismo da Suprema Corte, mas o que a gente precisa perceber é que o controle em abstrato constitucionalidade em abstratos. È delicadíssimo. Porque a gente está trabalhando com aplicação de uma lei que ainda não produziu efeito. Como é que um juiz vai ali identificar naquela lei um determinado valor que ele acha ruim para a sociedade sem que haja a efetiva discussão e consolidação desse debate no meio social. È ele o juiz, a partir do que ele acha como justo, que vai dizer que é constitucional e inconstitucional.
No Brasil a gente tem de um lado o fortalecimento da doutrina que radicaliza o entendimento de que ora, se o Brasil é marcado pela falta de organização social etc, a única pessoa, a única instância que é capaz de fazer com que isso seja relativizado, minimizado, é o Poder Judiciário, e, última instância, a própria legislação constitucional.
Então aparece com força, por exemplo, Lenio Streck, talvez um dos grandes substancialista de índole comunitarista que a gente tem hoje no Brasil. Isso aparece com força também em autores mais antigos, tais como o próprio Bonavides, que ele fala “ah, precisamos suplantar a perspectiva de sair de um estado de direito e construir verdadeiro estado de justiça.” O que é isso afinal de contas?
Isso parece ser uma argumentação que é bastante aceitável, é clara, mas o problema é que são palavras que também dizem muita coisa se a gente não se preocupar e determinar como e que essa justiça e o que é, afinal de contas justiça?
Se por um lado a doutrina aponta neste sentido, por outro lado a gente percebe que a própria modelagem institucional do Brasil vem caminhando no sentido do fortalecimento das competências do STF desde 1988, talvez nem tanto, talvez 1965 quando foi criado o controle abstrato no Brasil, e a partir de 88 isso tenha ganho alguma força porque quando foi criado o controle de constitucionalidade no Brasil ele foi criado como forma de _____ graças a influência de Rui Barbosa, um verdadeiro entusiasta da experiência norte-americana. Ele procurou transplantar
135

para o Brasil a estrutura federalista, a estrutura de separação de poderes e do controle de constitucionalidade à imagem e semelhança do que ocorria na experiência norte-americana. Em 65, a gente tem a introdução de vários mecanismos atrás de que atribui competência ao STF, mas que vão paulatinamente solapando, arrancando a sua raiz originária da Suprema Corte e vão criando um novo referencial. Que referencial é esse? O referencial da Suprema Corte que fica comprovado a partir de 65 com a introdução da ADIN, quando até então não existia. E a partir de 88, com a criação da previsão da ADPF, que depois viria a ser regulamentado e a ADC que entrou em 93 e com a própria interpretação que os tribunais e a doutrina dessa atuação do STF.
Como conseqüência disso o que a gente tem? A gente tem uma aproximação decisiva do STF ao modelo de tribunal constitucional. E uma disseminação profunda no nosso país daquela idéia de que a interpretação no Brasil deve se orientar pela contribuição do que tem proporcionado a doutrina alemã. Talvez aqui seja decisiva a presença do Robert Alexy no nosso debate jurídico.
A gente fala hoje em proporcionalidade, aliás, como se fosse razoabilidade e como se fosse tudo a mesma coisa. A proporcionalidade é no fim das contas uma palavra que é utilizada pelo nosso STF para justificar qualquer decisão. Faça uma pesquisa no site do STF, procurem olhar em como os ministros se referem à palavra proporcionalidade. Eles utilizam a palavra, claro, sabendo talvez de orelhada que existe uma teoria que embasa isto, a do Robert Alexy, mas eles usam a idéia de proporcionalidade muitas vezes como sinônimo de razoabilidade, como uma forma simplesmente de justificar preferências pessoais.
Primeira crítica que a gente pode fazer é que não é essa a idéia do Alexy. A primeira coisa que a gente pode dizer então é que o Alexy tenta criar uma teoria que procura objetivamente controlar exatamente essa subjetividade jurídica a partir da aplicação de princípios que expressariam na sua opinião valores. E se é assim, os princípios precisariam ser otimizados. Eles não são descartados, eles são apenas otimizados dentro de situações concretas. Então Alexy, partindo disso aqui, partindo da idéia de que a CF é uma só, o princípio da unicidade, partindo da idéia de que CF é dotada de efetividade, os princípios deverão ser todos aplicados de uma forma que eles sejam otimizáveis concretamente.
A idéia do Alexy então é criar aqueles TX1O teste do princípio da adequação da necessidade da proporcionalidade no sentido
estrito, vendo se é uma lesão grave, média ou leve, etc. A partir daí fazer a ponderação. Essa era a idéia do Alexy. Pode criticar também o sentido de que ele apesar de criar uma maior objetividade na criação do direito, ele na verdade, continua trabalhando com uma perspectiva eminentemente valorativa se norma é valor, tal como diz Alexy aqui.
Fica num dilema sério a crítica do Habermas é bem interessante a Alexy. Ele diz: olha se norma é valor. Valor eu prefiro aplicar _____valor é preferência.
Norma é dever-ser, ela deve ser aplicada e ponto final. Não essa de aplicar mais ou aplicar menos. Norma é dever-ser e acabou. A crítica de Habermas é que trabalhar com ____ de princípio enquanto valor é problemático porque isso diminui a força normativa do direito. Diminui a carga normativa do direito. Mas eu não quero especificamente trabalhar com isso porque o nosso STF parece ainda muito timidamente ter chegado perto deste debate. No STF fala-se em proporcionalidade para justificar a aplicação de qualquer princípio ou de qualquer decisão sem que haja uma utilização, uma apropriação daquilo que aparece na sua potencialidade. Então essa é que é a questão: a gente trabalha com o controle no Brasil, veja só, com a perspectiva de fortalecimento do controle concentrado de constitucionalidade que de um lado é fortalecido pela doutrina e por outro lado é fortalecido pelo próprio parlamento ao criar as diversas normas que dão a configuração das competências do STF. Isso é um dado da realidade. Qual é a discussão aqui? A discussão é saber em que medida esse modelo adotado pelo Brasil, que é o que eu constato que, portanto seria o _______ ou a retomada desta tradição comunitarista ou aplicação desta teoria comunitarista, em que medida este modelo é um modelo de fato capaz de proporcionar uma democracia. Será que isso não enseja experiências autoritárias, decisões judiciais que sejam ilegítimas ou autoritárias mesmo? Será que os juízes são mesmo os grandes salvadores, os únicos capazes de entender o que o povo precisa e, portanto eles é que devem então identificar com a sua sensibilidade o que é o que o povo precisa?
136

Essa é que é a questão. A gente defende esse modelo _____ e hoje que o Brasil faz, mas isso traz o risco ____ para que a gente tenha um déficit crescente de legitimidade nas decisões judiciais especificamente no contexto da jurisdição constitucional brasileira, ok?
Essa é a idéia principal que eu queria trazer e debater com vocês. Contra isso, surge como alternativa procedimentalista, abertura destes procedimentos especificamente de controle abstrato fazendo com que existam canais de comunicação da sociedade, enfim, canais sociais de comunicação para que então o exercício dessa jurisdição possa ser ao menos legitimado por pronunciamentos que sejam oriundos do nosso meio social.
Isso, sem dúvida nenhuma, diminui o déficit de legitimidade. Não sei se elimina, mas diminui sem dúvida nenhuma já que a possibilidade de efetiva participação social desse debate, eliminando aquela perspectiva de que há uma subjetividade presidindo, uma subjetividade judicial ______ presidindo todo o processo. Então no final das contas o que a gente pode dizer é que eu pessoalmente olho com muita ressalva, com muito temor essa onda que a gente vê hoje no Brasil de princípios de proporcionalidade, de razoabilidade, ponderação, porque hoje isso virou um remédio para todos os males. Isso virou um remédio para salvar qualquer tipo de problemas _____ . Justifica-se qualquer decisão a partir disso aqui.
Como complicador de todo este processo a gente tem uma redução crescente na importância da própria lei, que é oriunda do parlamento. Não vamos esquecer que o parlamento tem a sua legitimidade, a despeito da experiência brasileira que tem ultimamente cada vez mais solapado a dignidade da legislação. Talvez convencionada a um texto como o de geremy ____, mas cada vez mais nós temos no Brasil motivos para não confiarmos no parlamento. Mas a verdade é que o parlamento é o grande fórum de debate nacional e de criação de legislação. E o juiz de um certo modo ao trabalhar com a interpretação da CF _ princípios, ele está a princípio, se desvinculando da legislação, interpreta como quer. Por que precisa de uma legislação, me digam, quem precisa de lei nessa era do pós-positivismo? Vocês podem explicar tudo a partir da dignidade humana, justificar tudo a partir da idéia de liberdade, igualdade, qualquer princípio nosso. Então isso é algo que eu vejo aqui como um grande problema para ser administrado, pensado, refletido, cuidado, sobretudo por aqueles que estão inseridos no universo jurídico. Cada vez mais duvido dessa idéia de proporcionalidade, que é preciso colocar um certo destaque, deixar de lado, duvidar e ver um pouco como a casa funciona. Não existe deuses ____ no direito, e a proporcionalidade não é certamente esse deus.
O que vocês pensam sobre isso? Giovana – O problema é encontrar uma alternativa que deveria ficar a cabo dos
movimentos sociais. Professor: sem dúvida, concordo com tudo isso, todo este controle deveria partir da
própria sociedade civil organizada.Giovana- o problema é que até os movimentos sociais tem aquela cúpula de controle e a
população em se envolvida. È aquela minoria de intelectuais...
Aula do dia 27 de julho de 2007
Breve comentário do texto de Gisele Cittadino
(....) a função dos Tribunais, principalmente na jurisdição constitucional é mais a de garantir a abertura procedimental, portanto, garantir os procedimentos vistos na Constituição, a possibilidade decorrida da comunicação dos diversos grupos para com o Estado, do que realizar valores supostamente identificados na Constituição.
Então o texto não utiliza expressamente essas palavras, até comenta de forma tímida, mas não é específica. Mas o debate aqui é o debate substancialismo X procedimentalismo. Então o que a Gisele faz, ela reconstrói as bases daquilo que ela identifica como sendo constitucionalismo comunitário no Brasil, uma clara perspectiva substancialista que defende que a função do juiz
137

constitucional é de revelar valores partilhados pela comunidade, reconstrói isso desde a doutrina clássica, o próprio José Afonso da Silva é aqui mencionado como um dos pais dessa idéia.
Uma outra referência aqui, que não está presente nominalmente é Canotilho, ao fazer uma referencia à Constituição dirigente, a idéia de que existe uma constituição que impõe deveres ao legislador, mais especificamente nos chamados direitos sociais, isso aliás já trouxe muita celeuma quanto a uma suposta revisão do próprio pensamento de Canotilho, ele teria voltado atrás, ou teria tirado a força de seu argumento, mas o fato é que é uma referencia importante, que existe uma constituição dirigente, uma constituição social, uma constituição que impõe uma obrigação de fazer por parte do Estado. Isso é típico do constitucionalismo social e que no caso do José Afonso da Silva no Brasil, talvez influenciado por essa orientação lusitana, ele trabalha essa perspectiva de que a Constituição tem uma normatividade específica. É claro que existe diferença entre as diversas normas (de eficácia plena, contida e limitada) mas todas elas são normas e portanto, elas precisam ser realizadas e integradas em um projeto maior da Constituição.
É a partir dessa concepção de que a Constituição tem uma força normativa própria, que é possível defender uma interpretação da Constituição como uma verdadeira ordem de valores. A constituição portanto integraria um conjunto de valores, que por fazerem parte desse pacto fundamental da sociedade, são valores que se pode admitir como valores que são partilhados, que são valores aceitos por essa comunidade que a Constituição busca reger.
É, portanto, também decorrente dessa noção, que a gente pode entender a idéia de que a Constituição enraíza-se por toda a ordem jurídica (discurso também comunitarista) e por isso os princípios constitucionais dão um outro sentido a toda e qualquer norma Constitucional. A gente quando pensa na idéia de recepção normativa, a gente tem normas anteriores a Constituição e a teoria clássica da Constituição defende que se não há incompatibilidade nem formal e nem material com a Constituição, a Constituição as recepciona inserindo-as um novo fundamento de validade. Apesar de ser a mesma norma, a gente teria um novo CP, uma nova CLT, um novo CPC, isso porque esses textos precisam ser aplicados e interpretados de acordo com o que informa a Constituição, a partir dos princípios constitucionais a partir desse enraizamento que os princípios promovem por toda a ordem jurídica.
Isso tudo faz a gente olhar para a Constituição, para o Direito, como ordem axiológica, ordem de valores. A crítica aqui é que isso traz um risco de a gente depositar como grande autoridade moral o próprio Poder Judiciário e com isso eximimo-nos de nossa responsabilidade. E por isso simplesmente confiamos no Judiciário, por que ele tecnicamente é mais habilitado, porque o juiz está mais habilitado a desempenhar essa tarefa e a própria mobilização social, a própria forma de controle dessas decisões, elas terminam por morder a língua, porque praticamente não existem nosso país.
A crítica a essa perspectiva (que defende que a função dos juízes e tribunais é realizar valores substantivos), é vista pela visão procedimental que entende que, essa realização de valores substantivos, a princípio seria bom, unicamente naquela situação em que seria valores unicamente democráticos. Como não podemos ter certeza disso, já que o juiz decide de acordo com a sua sensibilidade, é preferível (na perspectiva procedimental), que o juiz então pratique uma auto-contenção no sentido de que o papel do judiciário deixe de ser a realização de valores substantivos, para ser a garantia dos procedimentos inscritos na Constituição. Mas isso só pode ser realizado se tivermos uma sociedade organizada, ou seja, se tivermos grupos que possam permanentemente manifestar/viabilizar os seus interesses através de um canal de comunicação Estado/Sociedade junto ao Poder Judiciário. Esse debate tem ocupado a teoria política no Brasil, o direito constitucional sob sua fundamentação filosófica, sobre quais são os limites e a possibilidade de uma jurisdição constitucional adequada a uma realidade brasileira.
Vejam que aqui tem outra questão interessante, porque a gente trabalhar com a realidade norte-americana e a alemã é bem complicado, porque eles têm uma historia diferente. Nos EUA é fácil a gente creditar essa ação judicial e depender uma idéia de condensão judicial, porque na verdade a atuação do juiz de criar um direito nos EUA é quase sempre a identificar direitos individuais, daí a idéia de que existe um certo consenso na sociedade americana que não falta em
138

outras sociedades. Ora a divergência que ocorre no contexto social norte-americano são mínimas comparadas com a que existe no Brasil, ou na própria Alemanha. Nos EUA, existem dois grandes partidos (Republicano e Democrático), mas nenhum deles discute uma grande revolução no modelo de produção capitalista, na garantia dos direitos fundamentais porque lá existe um certo consenso sobre valores que não permite a existência de partidos socialistas de forma tão acentuada como existe na Europa por exemplo. Então nos EUA há uma maior homogeneidade de valores. É por isso que Habermas diz: “e quando faltar esse consenso de valores, no que devemos confiar?” É aí que ele defende a idéia de patriotismo constitucional, que é no limite, a crença nos procedimentos que estabelece a própria Constituição, ou seja, a Constituição como fruto de um procedimento democrático que foi elaborado para dizer então esses grupos sociais. A discussão aqui é saber quais os dois modelos seria adequado para o Brasil.
Bom, contra o substancialismo, a gente tem uma idéia de que o substancialista abre espaço para uma perspectiva autoritária naquela sociedade onde não exista uma homogeneidade.
Quanto ao procedimentalismo, existe um problema de fazer com que a sociedade funcione como grupo de pressão, como atividade política. Numa sociedade como a brasileira, apática, que não se envolve, que não participa em questões ético-morais, alguém tem que fazer isso, e no final das contas a gente acaba transferindo essa função para o juiz. Essa é a melhor alternativa? Isso é o que se discute mas não há uma resposta fechada sobre isso.
Aula do dia 01 de agosto de 2007.
QUESTÕES (roteiro para estudar pra prova)1) caracterize a complexidade e o pluralismo que marcam as sociedades contemporâneas.2) Qual a importância da perspectiva liberal para a compreensão das sociedades
contemporâneas?3) A partir de que pressupostos é elaborada a teoria da justiça de John Rawls?4) Caracterize a crítica comunitarista ao liberalismo.5) Como situar a perspectiva procedimental no debate liberalismo X comunitarismo?6) Quais as repercussões da questão do pluralismo e complexidade sociais para a compreensão
do ato jurídico decisório?7) Em que medida é possível verificar a perspectiva comunitarista no constitucionalismo
brasileiro?8) Caracterize o que seja ativismo judicial, discutindo as repercussões dessa prática.
Aula do dia 03 de agosto de 2007.
RESPONDER A SEGUINTE QUESTÃO, NA SALA.A princípio, o professor queria que fosse sem consulta.Sob pressão da turma, permitiu consulta de caderno e dos textos.
1) No contexto da jurisdição constitucional brasileira, caracterize a contribuição da perspectiva de John Rawls e Ronald Dworkin.
Aula do dia 08 de agosto de 2007
Não foi dado assunto novo. Só pra tirar dúvidas.
(em itálico os trechos que não entendi direito, portanto, fiz aproximação com minhas palavras)
... sobre o procedimentalismo de Habermas ...
139

Giovana: o que eu vejo na democracia de Habermas, se seguisse procedimento e a maioria elegesse certo ponto de vista, isso seria válido, desde que seja através de um procedimento adequado, independentemente da minoria vencida ser de certa forma afastada.
Professor: o que importa é ter a abertura procedimental de forma que quem ta hoje no poder, que tenha a maioria hoje, não fique para sempre, que tenha a possibilidade de alternância, não há um fechamento para que as diversas correntes sociais, nesse excesso de pluralismo, possam chegar ao poder (...) os direitos fundamentais talvez sejam o ponto de partida de qualquer discussão. Talvez seja esse o problema. Habermas pressupõe que existe já uma situação de igualdade e liberdade estabelecida.
Giovana: por isso que é complicado aplicar a teoria dele para países como o Brasil.Professor: ou seja, os direitos fundamentais (para Habermas) são condições de possibilidade da
democracia. E não o contrário. A gente aqui inverte a ordem das coisas. A gente pensa a partir da ____ democrática, implementar os direitos fundamentais. A crítica a Habermas é que sua teoria não poderia ser aplicada a países de modernidade tardia, com problemas sociais que não foram resolvidos ainda, portanto plenamente justificável a intervenção do Estado.
Giovana: Já em Rawls eu sinto uma defesa maior do procedimento das minorias. Mas em Habermas não consigo.
Professor: Habermas é absolutamente procedimentalista. É curioso porque os críticos mais ásperos de Habermas dizem que ele é um liberal. Porque sua teoria, que não tem compromisso com o conteúdo, serviria mais aos interesses do capital. O que é curiosíssimo, porque Habermas (trecho ruim, parece que o professor rebate as críticas) de perspectiva crítica mesmo, de herança altamente marxista.
Giovana: no Brasil seria interessante juntar o procedimentalismo com o ativismo para que um limite o outro.
Professor: é importante um referencial que (... foda pra entender ...) é difícil. Isso é um debate muito rico. Escola da exegese
Giovana: de certa forma, o procedimentalismo fica parecido com o normativismo kelseniano.Professor: a diferença é que Kelsen não tece nenhuma consideração de ordem moral. Direito é só a
norma. Habermas não (...) se a gente não tem mais pautas universalizáveis, onde estariam os eventos (...) em consonância com a aceitabilidade (...). Ele faz a teoria da ação comunicativa, ele sai a partir daí construindo um referencial do que poderia servir de pauta de consenso. O consenso termina sendo a regra do discurso: a relação de autoridade, a possibilidade de questionamento. Isso é visto como algo que forma uma sociedade justa (...) a diferença é que ele vai além da forma, ele vem lá da base dos direitos fundamentais, princípios fundamentais. Então há uma base, em Kelsen não existe isso.
André: é ele quem fala no patriotismo constitucional?Professor: É ele mesmo. Isso é uma crítica. Tem até um livro de Marcelo Cardoso sobre isso:
patriotismo constitucional. André: seria uma forma de solucionar o pluralismo?Professor: Na verdade, Habermas desenvolve essa idéia a partir da análise do pensamento norte-
americano. Diz que nos EUA existe um consenso material, consenso de conteúdo acerca de determinados valores que não são negociáveis. Todo debate do liberalismo é construído a partir da defesa dos interesses individuais. A Alemanha, e a Europa de um modo geral, é mais complicada do ponto de vista do consenso material. Existem momentos socialistas importantes, e a Alemanha passou pelo nacional socialismo, o nazismo. O que ele diz: naqueles países em que não há uma tradição material de defesa de determinados direitos (realidade européia), a única coisa em que a gente pode se apegar é a própria constituição. (...) Daí a importância (...). Defesa da constituição como
140

pacto procedimental pra viabilizar a democracia. Aí ele faz, olhando exatamente para o perigo do nazismo.
André: sobre o comunitarismo no Brasil. Taylor usa o exemplo canadense porque lá existem duas comunidades, uma francesa encravada numa comunidade de língua inglies, que é maior. No Brasil não existe essa diferença de etnia, até pela miscigenação. Então o que justificaria o comunitarismo no Brasil seria a diferença social?
Professor: qual é a perspectiva do comunitarismo? Ela mostra que a democracia só pode ser construída a partir da identificação de determinados valores compartilhados por determinados grupos sociais. Isso é comunitarismo. Falei em comunitarismo norte-americano e falei em jurisprudência de valores aqui. Tudo que apela para valor, (...) é uma escola que a gente pode colocar de baixo de um guarda-chuva e dizer que tudo é comunitarismo. Comunitarismo é apenas uma designação utilizada para aqueles que se notabilizaram como grandes críticos do pensamento de Rawls (liberalismo). Mostrando a importância da historicidade da formação social, e, sobretudo dos valores que são partilhados por esse grupo. A partir disso a gente tem o comunitarismo norte-americano que de certa forma corresponde ao ideal da jurisprudência dos valores, já que a função do juiz seria de interpretar o direito a partir dos valores que são partilhados por determinado grupo. Então como funcionaria isso no Brasil? No Brasil isso funcionaria a partir compreensão da Constituição enquanto uma obra objetiva de valores. Toda discussão pós-positivista sobre a compreensão da Constituição como normas de princípios que encerram valores, elas trazem com base na compreensão comunitarista do direito.
Segunda prova no dia 10 de agosto de 2007
1) Em que perspectiva pode-se entender a jurisdição constitucional brasileira no modelo liberal e no comunitário? 2) Em que medida pode-se falar de uma aplicabilidade do procedimentalismo ao Poder Judiciário nos países de modernidade tardia? (O que eu [Antônio Henrique] acho importante, é no final concluir que o procedimentalismo só tem espaço em sociedades cujos componentes participem política e socialmente de modo a realizar pressões. Como no Brasil a sociedade é "apática" (segundo palavras do professor), inerte e não participativa, a garantia do procedimento pelo Poder Judiciário não seria suficiente para se atingir a legitimidade desse modelo) [Antônio Henrique tirou dez nessa prova]
141