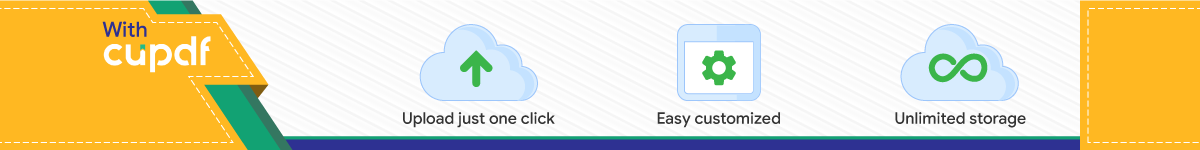

1
Edição do Centro de Estudos Adriano Xavier Cordeiro | n.º 8 Junho de 2016
Nesta edição
A Segunda Monarquia | p 2
Ponte do Mouro Medieval | p 20
Deve Portugal ter um REI? | p 27
D. Duarte em Ponte do Mouro | p 31
Ser monárquico representa, hoje
como ontem, com efeito, a adesão a
um conjunto de valores, essenciais à
defesa da estrutura identitária de
um Estado moderno…
Entrevista a José Luís Nogueira de Brito | p 10
630 Anos do Tratado de
Ponte do Mouro | p 14

2
Portugal não começou há 105 anos, isso foi a república portuguesa!
Dois meses, imediatamente, à proclamação da república portuguesa,
o jornal O Sindicalista num artigo de sugestivo título, ‘Quem Tem
Ganho? Quem tem ganho com a República?´ faz eco das queixas dos
operários e dos sindicatos relativamente às limitações impostas pelo
governo ao direito à greve.
Antes, durante 771
anos existiu o
Reino de Portugal e
dos A lgarves .
Portuga l , Pa ís
forjado à espadada
e valentia por Reis
e h e r ó i s
extraordinários. O
Reino de Portugal e
depois, também,
dos Algarves, e
depois, também,
d'Aquém e d'Além-
Mar, com o seu
desejo oceânico fruiu o Mundo e esses tempos de Glória de
Portugal, não podem ser encarados como meras recordações,
ecos ensurdecidos, pois em Monarquia ultrapassamos sempre as
crises: granjeamos a Nação Portucalense, expulsamos os sarracenos,
sobrevivemos à ocupação castelhana, às Invasões Napoleónicas com
a sua política de delapidação e terra-queimada, sobrevivemos a
Ultimatos e guerrilhas.
Já a república teve origem revolucionária, antagónica à da Monarquia
Portuguesa, pois no Reino de Portugal, o Rei era Aclamado e nunca
imposto, pois sempre reinou por delegação da comunidade
portuguesa.
Ao contrário da Monarquia Portuguesa, o regime republicano não
resultou de uma vontade comum nem de uma emanação popular.
Na 46ª eleição geral, 37ª eleição da 3ª vigência da Carta que se
realizou a 28 de Agosto de 1910 – portanto, as últimas eleições do
A Revolução e o falhanço republicano
| Protestos
| Janela do Rei

3
constitucionalismo monárquico -, estavam recenseados 695 471
eleitores, e a ida às urnas traduziu-se numa vitória com 58% dos
votos (89 deputados) para os Governamentais do chamado bloco
liberal Monárquico de Teixeira de Sousa, mas sobretudo numa
vitória dos partidos monárquicos expressa nuns retumbantes
91% (33% - 51 Deputados p/ o bloco conservador das oposições
monárquicas; 15% - 20 deputados regeneradores apoiantes de
Campos Henriques; 13% - 23 deputados progressistas; 3% - 5 dep.
franquistas; 2% - 3 dep. nacionalistas ), contra uns meros 9% (14
deputados) do Partido Republicano Português.
Assim sendo, antes sim, este Estado das Coisas republicano foi
implantado a 5 de Outubro de 1910 em sequência de um golpe
revolucionário apoiado nas milícias revolucionárias da Carbonária e
da ralé que se lhe juntou, nas bombas dos anarquistas e nas
obscuras jogadas políticas da maçonaria, salteado com cumplicidade
de alguns traidores monárquicos e a omissão cobarde de outros, o
que destroçou a Nação.
Ora este regime republicano nunca foi referendado, pois nunca foi
dado aos Portugueses a liberdade de escolher sobre que regime
pretendem ou preferem: república ou Monarquia?
Não podem dizer que o Povo não sabia o que queria e portanto
escolheram por Ele!
Porque recusam a democracia directa?!
‘Ser republicano por 1890, 1900 ou 1910, queria dizer ser contra a
monarquia, contra a Igreja e os jesuítas, contra a corrupção política e os
partidos monárquicos, contra os grupos oligárquicos. Mas a favor de quê?’
Seria errado encará-lo como um movimento puramente ideológico,
pois a esta rebelião não foram alheios os interesses dos
protagonistas revolucionários. Não ficou no anonimato o desabafo
de um dos implantados para outro enquanto na varanda era
comunicada a instauração do novo regime: ‘Eles já comeram muito,
agora é a nossa vez!’
Desde o início a República Velha mostrou-se inadequada às
idiossincrasias do “Ser Português”, pois quiseram moldar o cidadão à
imagem do positivismo que nada tem a ver com a maneira de ser e
estar portucalense. Para começar não foi o resultado de uma
vontade popular, pois no início do terceiro quartel do século XIX,
não havia magotes de republicanos, mas uns grupinhos atrevidos. Foi
graças a uma ampla, metódica e obstinada propaganda que
maldosamente aproveitou os contratempos da época – como o
Ultimatum britânico de 1890 - que começaram a evidenciar-se, mas,
não obstante, nas últimas eleições realizadas em Portugal, em 1910,
durante a Monarquia, recorde-se os partidos monárquicos
obtiveram 91% dos votos expressos e os republicanos 9%. Pode
constatar-se pelos resultados das Eleições Gerais realizadas no
Reino de Portugal entre 1878 e 1910 que o Partido Republicano
Português não passava da insipiência, e que a sua pequena franja de
admiradores se concentrava sobretudo nas zonas urbanas de Lisboa
e Porto:
Afonso Costa, Ministro da Justiça do governo provisório não eleito
de 5 de Outubro de 1910, anula as derradeiras eleições do
constitucionalismo Monárquico, e no novo programa político de 29
de Agosto de 1911, anuncia o partido republicano como o partido
único da República. Alia-se no governo à família Rodrigues, com
Rodrigo a ministro e Daniel como governador civil de Lisboa, a
dupla que fomenta a formiga branca. Segundo João Chagas, a sua
obra política é sempre dirigida contra alguma coisa ou contra alguém.
Para Machado Santos, o líder militar da revolução: ‘o mais audaz, o
mais inepto e o mais imoral de todos os tiranos.’
Data Deputados Deputados
13 de Outubro 1878 148 1
19 de Outubro 1879 137 1
21 de agosto1881 148 1
29 de Junho 1884 167 2
6 de Março de 1887 157 3
20 de Outubro 1889 157 2
30 de Março 1890 148 3
23 de Outubro 1892 119 2
15 e 30 de Abril 1894 167 2
17 de novembro1895 141 0
02 de Maio 1897 141 0
26 de Novembro 1899 142 3
25 de Novembro 1900 142 0
6 de Outubro 1901 157 0
26 de Junho 1904 157 0
29 de Abril 1906 157 0
5 de Abril 1908 148 7
28 de Agosto 1910 139 14

4
Viveram-se tempos em que a política interna era caracterizada pela
deliquescência e desagregação do sistema do partido único, o que
em último grau comprovou a dissolução do regímen republicano
desprestigiado e enfraquecido por incompetência e impreparação
técnica e política, escândalos de corrupção, nepotismo,
favorecimento, privilégio, despesismo, sem que se assumissem as
responsabilidades pelos próprios erros.
Assim, passou a existir um Estado que se regia sobre o princípio da
benevolência para com o seu Povo, à maneira de um pai
relativamente aos seus filhos, com um regime republicano paternal,
esse sim, que entende os cidadãos como súbditos, crianças menores
que ainda não podem distinguir o que lhes é verdadeiramente útil
ou prejudicial, e por isso os obriga a comportar-se de maneira
passiva e como tal não passou de um regime de Imperium paternale,
que via os cidadãos como crianças menores que não podiam
discernir o que lhes era realmente vantajoso ou nocivo,
submetendo-os a comportar-se de modo paciente, aguardando da
classe dirigente um alvitre sobre a melhor maneira de que deveriam
ser felizes, se e no grau que essa classe o quisesse. De facto, o
regímen republicano começou muito mal e, não sendo resultado do
ensejo e determinação populares, logo surgiu a repressão; depois
empurrou o País para uma Guerra (Iª Guerra Mundial) de ambíguas
razões. Consecutivamente à implantação da república, Afonso Costa
nomeado Ministro da justiça do governo provisório (sem eleições)
de 5 de Outubro de 1910 a 4 de Setembro de 1911, ao anunciar o
novo programa político do partido republicano, aponta para a
Guerra contra quase todo o resto da sociedade portuguesa dividida
entre ‘guerristas’ e ‘antiguerristas’ (a maioria), com propósitos de
afirmação e legitimação do novel regímen republicano. Também, em
território nacional, a guerra, provocara um agravamento das
condições de vida, com aumento galopante dos preços dos bens
essenciais, gerando uma escalada de violência que se traduziu em
ataques bombistas, greves e motins quase diários, e como tal para
evitar um derrube do regime houve a necessidade de meter o País
na Grande Guerra para desta forma afastar os possíveis ‘golpistas’.
Para o Teatro de Operações da Europa seguiram 55.165 militares
portugueses para combater um inimigo técnica e tacticamente
superior.
Desde 1814 que Portugal não actuava operacionalmente naquele
território europeu nem num ambiente de guerra intensa. Mas em
Março de 1916 a República portuguesa, deliberadamente, requisitou
os navios alemães detidos no Tejo, criando o ‘casus belli’ com o qual
o Império Alemão declarou guerra a Portugal entrando assim o País
na Guerra de duvidosas causas, mas como veremos de perniciosos
efeitos. A guerra das trincheiras era uma novidade para os militares
portugueses. Assim, em La Lys, no dia 9 de Abril de 1919, os
alemães elegeram propositadamente o sector português sabendo
que este seria o ponto mais frágil. Os alemães atacaram justamente
no dia em que o contingente português se preparava para a
rendição. Na Batalha, embora, existissem extraordinários actos de
bravura – como o de Milhões – o saldo de mortandade foi enorme
com cerca de seis centenas de mortos e bem mais de seis mil
prisioneiros. Ao meio dia, os últimos esforços de resistência
terminavam e com eles a Divisão Portuguesa deixava de contar
como unidade militar. Ao todo na Grande Guerra morreram 1.643
militares portugueses e os que não foram mortos ou feitos
prisioneiros retiraram desorganizadamente para a retaguarda.
200 mil Portugueses foram mobilizados e combateram em África e
na Europa, mais de 55.000 no Corpo Expedicionário Português na
Flandres. 7.500 soldados portugueses perderam a sua vida e 14.062
foram de alguma forma vítimas da Iª Guerra Mundial, seja como
mortos, feridos ou prisioneiros. Além destas baixas foram
imensuráveis os custos sociais e económicos que tiveram
consequências superlativas para a capacidade nacional, e, os
objectivos que levaram os responsáveis políticos da 1ª República a
empurrar os jovens para a guerra saíram gorados em toda a linha.
Ao invés da unidade nacional pretendida pelo novel regime saído do
golpe revolucionário do 5 de Outubro gerou-se ainda mais
instabilidade política que levaria, em 1926, à queda da nova República
Velha.
Os ‘donos’ da República Velha, fartos em questiúnculas, mas com
pouco bom senso para amenizar e irmanar as diversas energias
político-sociais, – embora se dissessem irmãos e primos - não
tiveram, também, engenho para melhorar a gestão financeira e
reformar a administração do Estado; antes sim mergulharam o País
na guerrilha, na bancarrota e na censura. Foi este, então, claro, o
resultado necessário e esperado de uma espécie de remexida de
ideias.
Ora, como numa viagem, um mínimo desvio inicial torna-se cada vez
maior à medida que vai aumentando a distância. Só anda meio
caminho, quem começou bem, mas como começaram mal, para o
País não alcançaram nada do que prometeram, outrossim, foi o que
se viu; deram nova existência ao pensamento de Miguel Delibes:
‘Para aqueles que não têm nada, a política é uma tentação
compreensível, porque é uma forma de viver com grande facilidade’.
| Povo durante a República
| Republicanos de 1911

5
Cedo o regímen republicano foi ultrapassado pelos defeitos
originários, pois logo desde a sua implantação o republicanismo
português mostrou não estar à altura das exigências do País. Não
houve qualquer progresso histórico, as instituições não adquiriram
qualquer vigor democrático que já não existisse na Era da
Monarquia, o progresso social é mínimo, pois substituiu-se uma
estrutura de classes por uma outra: a burguesa.
Ora assim sendo, as influências da revolução republicana portuguesa
são fáceis de descobrir: o fervor maçónico e o jacobinismo da
revolução francesa. Nada de socialismo, pois, os próprios socialistas,
(que hoje representariam todo o universo que abrange a social-
democracia, passando pelo centro-esquerda e pelo socialismo) já
haviam rompido, a sua breve ligação, com os republicanos em 1907,
e logo em 1910, dois meses volvidos sobre a proclamação da
república, se queixavam das limitações ao direito de greve.
Mas esse ateísmo oficial e insistência no aperfeiçoamento apenas
material do indivíduo considerando, erradamente, tudo o resto
misticismo de baixa condição, mostrou um desconhecimento pobre
da história da Nação Portuguesa e ignorou o temperamento do
Povo. Ignoraram o principal: o conhecimento prático do homem!
‘A República já aparecia inquinada, ao nascer, do mal tremendo que a
está afligindo. Na sua constituição haviam intervindo elementos mórbidos.
Cuja acção deletéria difícil será eliminar do seu organismo. Longe de se
ter procurado aniquila-los, alimentaram-nos. Fizeram-lhe o terreno
propício à devastação infalível.’, foi esta a «Opinião de um Monárquico»,
Carlos Malheiro Dias, escrita in «Zona dos Tufões».
O mundo que os implantadores republicanos tão frequentemente
puseram em causa, e utilizaram como justificação para a sua
revolução verde-rubra, vingou-se justamente dos seus
prosseguidores, pois os novos senhores do Estado cedo
abandonaram a defesa das razões activas com que justificaram a
implementação do novo regime.
A Monarquia Portuguesa
A Monarquia é um regímen no qual um monarca hereditário é o
Chefe de Estado. O Rei, isto é, o Monarca é a função definidora e
necessária da Monarquia.
A Monarquia Portuguesa que existiu nos 771 anos do Reino de
Portugal e depois, também, dos Algarves foi sempre um modelo
único até 1834, mesmo face às monarquias contemporâneas.
Certo é que conheceu diversas nuances, consequência dos diversos
estágios que a Nação atravessou, mas também é certo que foi
sempre a mais democrática de todas as europeias.
No caso particular de Portugal, e sempre tal aconteceu desde o
próprio Rei Fundador Dom Afonso Henriques, o Rei é Aclamado e
nunca imposto! O poder do Rei sempre adveio de um pacto com as
Cortes - que no fundo era um Congresso de Chefes. Ou seja, o
Alçamento do Rei esteve sempre de acordo com o hábito e
costumes portugueses no qual o poder do Rei sempre resultou de
um pacto firmado com a Comunidade portuguesa reunida em
Cortes e, por isso, o Rei de Portugal era Aclamado e não Coroado.
Firmado esse pacto, o Rei seria assim o primus inter pares entre os
barões do reino, ou seja, apesar do Príncipe herdeiro suceder ao
Rei falecido ascendendo ao trono vacante existe depois uma
participação dos Três Estados – Clero, Nobreza e Povo - que
ratifica essa sucessão sendo que a Aclamação era o acto jurídico que
verdadeiramente fazia o Novo Rei.
Assim, nos 771 anos da Monarquia Portuguesa o Rei sempre reinou
por delegação da Comunidade portuguesa reunida em Cortes que o
Aclamava e fazia Rei e que aos primeiros Monarcas até ‘alevantava’
mesmo o Rei entronizado conferindo-lhe dessa forma a dignidade
régia por Alçamento ou Aclamação.
Assim, apesar de haver uma imposição formal da coroa nos
primeiros Reis, o Rei de Portugal não era Coroado, pois não era a
Coroa que o fazia Rei, mas a Aclamação. Aliás, depois de Dom João
IV, não havia lugar à colocação da Coroa na cabeça do novo Rei,
pois coube ao Restaurador a derradeira vez em que a Coroa dos
Reis de Portugal foi cingida, uma vez que esse Monarca ofereceu a
Coroa de Portugal a Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa,
pela protecção concedida durante a Restauração, coroando-a
Rainha de Portugal – nas coroações de outros monarcas que
haveriam de se seguir, durante a Cerimónia de Aclamação a Coroa
Real seria sempre acomodada numa almofada vermelho-púrpura
(cor real) ao lado do novo Rei, como símbolo real, e não na cabeça
do monarca.
Já mesmo desde o princípio do tempo português que as liberdades
municipais eram uma regra essencial de governação. O papel
democrático dos municípios tornava-o em real representante de
toda a comunidade local diante do Rei que valorizava o apoio
popular. Esses conselhos municipais compostos por ‘vizinhos’ tinham
capacidade política e um enorme conjunto de liberdades
fundamentais, regalias e seguranças, normalmente consignadas em
carta de Foral - que elencava as matérias relativas à liberdade das
pessoas, ao direito de asilo, à defesa dos direitos em juízo, à
tributação, à inviolabilidade do domicílio – tudo isto em plena Idade
Média. A importância destes concelhos era tal que eram enviados
representantes às cúrias extraordinárias, as Cortes, tendo assim
participação na governação. Recorde-se a Monarquia democrática
da Dinastia de Aviz, esse tempo Real, mas igualmente popular no
qual, a qualquer hora do dia ou da noite o Juiz do Povo se poderia
apresentar no Paço à Presença do Rei e reclamar de injustiças ou
peticionar graças - que diria hoje, Sua Excelência O Senhor Protocolo de
Estado sobre isto?!
Com excepção do Reinado de Dom João II em que se tendeu para o
regime absoluto, sem órgãos restritivos, ou durante o governo
despótico de Pombal, nunca houve propriamente outros períodos
de Monarquia Absoluta em Portugal, pois apesar do conceito de
poder real como autoridade suprema indiscutível, este encontrava
algumas restrições, como por exemplo os privilégios de clero e
nobreza, a autonomia dos concelhos e os deveres do Rei. O Rei era
um Chefe de Estado que tinha que visar a prossecução do interesse
público, do bem da coisa comum e do bem-estar comum, da
verdadeira res publica, que jurou valer e garantir na Aclamação.

6
Assim, o Rei tinha de pôr em primeiríssimo lugar os interesses do
próprio Povo e da Nação que tem por dever fundamental defender:
’em prol do comum e aproveitança da terra’. Essa noção de serviço
público enraíza-se na História, que o Rei como ninguém assume e
encarna.
Na verdade, o Rei é um servidor da Nação e, por isso pode ser
destronado em Cortes extraordinárias, se ele não cumprir qualquer
das obrigações inerentes ao seu cargo. O Rei tem de governar
rectamente. Rex eris, si recte facias, si non facias, non eris. A Nação
não é obrigada a sofrer um Rei injusto. Ora nas repúblicas é bem
diferente – para pior -, gozando os presidentes e a generalidade dos
representantes dos órgãos de soberania de imunidade perante a Lei,
não tendo o Povo outra alternativa que não aguentá-los, mesmo que
sejam indignos.
Na obra de 1496, ‘Do Governo da República pelo Rei’, Diogo Lopes
Rebelo elenca, já, quais os deveres do Rei:
‘É dever do Rei cumprir o que diz. Lembre-se que não é supremo Rei, a
fim de nada fazer de indigno de tão grande nome. Acostume-se a nada
dizer de indecoroso e de impróprio de si. Não ouça nem profira palavras
desonestas pois que as más falas corrompem os costumes. (…)
É ainda dever do Rei levantar a república na adversidade, conservá-la na
prosperidade, e de pequena torná-la grande. Deve, também, considerar
que foi colocado à frente dela, não tanto para governar, como para
proveito dos cidadãos. (…)
Compete, finalmente, ao Rei pensar na utilidade de seus cidadãos e da
república, a ele confiada e entregue. (…) A todos os seus protegerá:
nobres, plebeus, incultos, sábios, ricos e pobres, porque o Senhor o fez
tutor e pai de muitas gentes.’
No Portugal de Dom João V ‘El-Rei não ignora nada do que se passa,
porque cada um tem a liberdade de se dirigir a informá-lo de tudo o que
interesse ao bem do Estado ou interesse particularmente aos súbditos’,
constatou o francês Marveilleux in «Memórias instrutivas sobre
Portugal (1723/26)». Assim, apesar da concentração do poder régio,
a Monarquia Portuguesa foi quase sempre oposta à tirania que é um
poder de forma, também, talássica, mas não fundamentado no
direito, uma vez que a soberania do monarca é sempre limitada por
um conjunto normativo que a distingue da ditadura despótica: seja -
como no antigo Regime - pelas leis de Deus ou pelas regras de
justiça natural, seja hodiernamente nas Monarquias constitucionais
pelas leis fundamentais do Estado. Desta forma a Monarquia sempre
foi garantia de liberdade, pois não é, nem foi nunca, o governo de
um só; antes sim, supõe o respeito de normas superiores que têm
que ter em conta o interesse geral, o bem comum - dentro do qual
se enquadra a liberdade.
Com Monarquia Constitucional, a partir de 1820, ou melhor 1834 –
finda a Guerra Civil –, com o Monarca constitucional o ‘rei reina,
mas não governa’, limitando-se a actos não-partidárias e a funções
cerimoniais, embora a autoridade executiva máxima sobre o
governo fosse realizada pela prerrogativa real do monarca; mas na
prática, esses poderes só são utilizados de acordo com leis
aprovadas no parlamento ou dentro dos limites da Constituição,
porém ‘o Poder Moderador é a chave de toda a organização política e
compete privativamente ao Rei, como Chefe supremo da Nação, para
que incessantemente vele sobre a manutenção da independência,
equilíbrio e harmonia dos mais Poderes Políticos.’, como estipulava o
Artigo 71.º da Carta Constitucional de 1826.
O Monarca jurava, perante os Pares do Reino e os deputados da
Nação, como Soberano, a seguinte Fórmula do juramento na Sessão
Real da ratificação do juramento e Aclamação com Rei pela Graça
de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, d'Aquém e d'Além-Mar em
África, Senhor da Guiné e da Conquista, Navegação e Comércio da
Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia, etc.:
‘Juro manter a religião Católica Apostólica Romana, a integridade do
Reino, observar e fazer observar a constituição política da Nação
portuguesa, e mais leis do Reino, e prover ao bem geral da Nação,
quanto em mim couber.’
Durante a Cerimónia de Coroação a Coroa Real estava acomodada
numa almofada vermelha ao lado do novo Rei, como símbolo real, e
não na cabeça do
m o n a r c a , e
d e p o i s d o
Juramento o Rei
recebia o ceptro
– símbolo da
Justiça - das mãos
do camareiro-
mor e proferia o
D iscu r so do
T r o n o . D e
seguida havia o
b e i j a - m ã o .
Embora Dom
Manuel II fosse o
pr imeiro Rei
p or t u gu ê s a
p r e s c i n d i r ,
mostrando o
e n s e j o d e
renovação. E
f ina lmente, a
Bandeira Real
t r a n s p o r t a d a
recolhida pelo
conde Alferes-mor, e era desfraldada na varanda do Palácio de São
Bento e o mesmo Alferes-mor soltava diante do Povo o pregão
conhecido como Brado de Aclamação: ’Real! Real! Real! Pelo Muito
Alto e Muito Poderoso e Fidelíssimo Rei
de Portugal, Dom....’ E o Povo
aclamava entusiasticamente o novo
Rei. Só assim ficava completa a
cerimónia, com a aquiescência do
Povo de Portugal!
Um Rei é livre e não preside a um
conclave de elites, não é um político
que coloca à frente os seus
proveitos pessoais, conveniências
partidárias, os interesses económico
-sociais, ou mesmo pertinácias | D. Manuel II—O Rei Constitucional
| Rei nas Cortes

7
estrangeiras. Esse sectarismo não acontece com um Monarca, pois o
Rei representa a Comunidade como um todo: é o Chefe da Nação!
A II.ª Monarquia
Portuguesa
Existem vários modelos de Monarquia, a orgânica ou popular, e,
pelo menos dois tipos diferentes de Monarquias Constitucionais no
mundo contemporâneo: Executiva e Cerimonial e dentro desta
última o Monarca pode ter funções estritamente cerimoniais ou
possuir poderes de reserva, o chamado Poder Moderador.
Na Monarquia contemporânea, Constitucional, o Monarca exerce
sempre a função de Chefe de Estado de uma entidade política
nacional, comummente com carácter vitalício e/ou hereditário, e no
caso de uma Monarquia Constitucional Executiva acumula com o
Poder Executivo. A Monarquia Constitucional é, assim, um sistema
político que reconhece um monarca eleito ou hereditário como
Chefe do Estado, mas em que há uma série de leis fundamentais,
conhecidas como Constituição, que limitam os poderes do Monarca.
Nas Monarquias executivas, o monarca exerce o poder executivo
de forma significativa, embora não absoluta. Por outro lado, nas
Monarquias cerimoniais, o monarca tem pouco poder real ou
influência política directa. Mas as Monarquias constitucionais com
Poder Moderador obedecem a um sistema de separação de
poderes, e o Monarca é o chefe, apenas simbólico, do Poder
Executivo. A Chefia do Estado é exercida por um Rei; a Chefia do
Governo por um Primeiro-Ministro ou o presidente do Conselho
de Ministros, a ele cabendo o verdadeiro encargo do Poder
Executivo e a direcção das políticas interna e externa do país, além
da administração civil como a gerência das contas e dos recursos do
País, a implantação das políticas, e a administração militar, de acordo
com as leis e Constituição nacionais. Assim, o primeiro-ministro
deterá o poder executivo, pois o Monarca adjudica o poder e
permanece apenas com a posição de titular. Com o Poder
Moderador que competirá privativamente ao Rei, o Monarca será a
chave de toda a estrutura política, como Chefe de Estado e Chefe
Supremo da Nação, e incansavelmente guardará a manutenção da
independência e estabilidade dos mais Poderes Políticos. O primeiro
-ministro deterá os poderes do dia-a-dia do governo, enquanto o
Monarca continua a ser o chefe-executivo nominal - mas é obrigado
pela Constituição a actuar no conselho do Gabinete - e salvaguarda
contra um primeiro-ministro que exceda as suas competências e
governe contra o bem comum.
Assim, o Rei ou Rainha, pois defendemos a primogenitura igualitária,
será o Primeiro Cidadão e o Primeiro Magistrado da Nação.
O Monarca é um de diferentes órgãos do Estado e exerce
exclusivamente os poderes que lhe estão consagrados na
Constituição, a Lei Suprema e Fundamental de um País.
Cabe ao Parlamento e ao Governo - principalmente ao primeiro-
ministro – exercer, respectivamente os poderes legislativo e
executivo sob Prerrogativa Real, isto é, em nome do Rei e com os
poderes ainda formalmente havidos pelo Monarca, porque a
Monarquia Constitucional será sobre a forma de governo de uma
Monarquia Parlamentar, que assenta na legitimidade democrática,
pois os órgãos que efectivamente exercem o poder político
conquistam a sua legalidade e/ou legitimidade das eleições por
sufrágio directo e universal. Assim sendo, originariamente, o poder
reside no Povo, contudo exerce-se sob a forma de governo
monárquico.
Uma Proposta do legislador será apresentada no Parlamento, depois
debatida na comissão parlamentar, que depois a remeterá
novamente ao Parlamento que a enviará ao Monarca que dará o seu
Assentimento Real e todas as leis serão aprovadas em nome do Rei.
O Soberano poderá, conceder o Assentimento Real (fazer a
proposta tornar-se Lei) ou recusar (vetar a proposta).
A Prerrogativa Real incluirá, ainda, poderes, tais como os de demitir
o Governo, dissolver o Parlamento, fazer tratados ou enviar
embaixadores e conceder distinções; e obrigações, tais como o
dever de defender a Soberania Nacional e manter a Paz. Da mesma
forma, nenhuma pessoa poderá aceitar um cargo público
importante, sem prestar um juramento de fidelidade ao Rei.
Assim, teremos uma Monarquia em que o Rei será o principal
defensor da Coisa Comum e que promoverá o Bem Geral da Nação
e que com o seu exemplo de virtude, honestidade e suprapartidário
fará reflectir no Parlamento, nas estruturas do poder local - os
Municípios – e na sociedade em geral essa probidade inatacável.
É imprescindível um sistema eleitoral que permita a eleição dos
deputados pelos eleitores, e não exclusivamente pelos partidos,
como sucede com o actual modelo. A eleição dos deputados para o
Parlamento deve assentar num sistema de eleição individual, por
método maioritário. Só este sistema ampliará o papel democrático
do deputado eleito tornando-o em real representante de toda a
comunidade do seu círculo eleitoral, imputando-lhe uma
responsabilidade individual perante os seus eleitores
correspondentes através da criação de vagas para candidaturas
autónomas, imprescindíveis para voltar a despertar o interesse e
associar-se os cidadãos à política, longe das conveniências salinadas
dos partidos políticos do arco do poder. Reforçaria, tal-qualmente, a
fiscalização dos que seriam, verdadeiramente, legítimos
representantes do Povo que teriam de receber e ouvir os seus
eleitores e de corresponder às suas legítimas expectativas.
Na Monarquia Constitucional que prevaleceu de 1820 a 1910,
existiam duas Câmaras - uma Câmara Baixa para os Deputados e
uma Câmara Alta para os Pares -, mas hoje não nos parece
adequado que na Câmara Alta estejam representados apenas os
Pares da Nobreza, mas, tal-qualmente, as forças vivas da sociedade,
uma vez que, hoje, o nascimento, não pode ser motivo
diferenciador, e que conceda privilégios apenas a uns quantos. O
Parlamento deve ainda constituir-se em Cortes Gerais sempre que
necessário, uma vez que deverá representar toda a sociedade
portuguesa. É essa que parece ser a solução mais adequada e
representativa.
Esgotado que está o actual modelo de chefia de Estado, assim
como o actual sistema político, o exercício da chefia do Estado

8
Miguel Villas-Boas
por um Rei traduzir-se-á num enormíssimo conjunto de benefícios
para o cidadão que hoje se encontra quase na posição de um
elementar número face ao poder central sem que do processo
somatório resulte a genuína representação da vontade dos
indivíduos. Também, nesse processo de aumento da expressão dos
anseios dos cidadãos e da sua vontade o reforço do poder dos
municípios aparece como uma solução para a falta de representação
actual. Os municípios encontram-se hoje praticamente esvaziados
de poderes e numa dependência gritante face à vontade do poder
central. Ora com municípios com maior autonomia e competências,
o cidadão pode exercer a sua escolha em função de figuras que
reconhece e que pode responsabilizar, se for esse o caso.
Este sistema que vigora actualmente, preserva a primazia do Estado
central, distinto é um sistema que amplie o papel democrático dos
municípios tornando-o em real representante de toda a comunidade
local.
E à cabeça do Estado um REI!
Está, pois, na Hora da II.ª MONARQUIA!
A Real Gazeta do Alto Minho, referida no Twitter em
língua alemã
Corona-Nachricten, página do Twitter com textos e mensagens para monárquicos, que incluem temas relacionados com a
monarquia, realeza, republicanismo e seus excessos, citou e partilhou o último número (n.º 7) da Real Gazeta do Alto Minho,
com o comentário que ora se reproduz
após tradução de alemão para português:
"Isso é algo: uma Revi sta
m o n á r q u i c a e m e P a p e r -
infelizmente apenas em Português".
Bem que a Real Gazeta do Alto Minho
gostaria de ter os seus números
traduzidos em várias línguas, mas de
momento não é possível, pois não temos
tradutores.
Alguém se oferece?

9
9
José Aníbal Marinho Gomes Presidente da Direcção da Real Associação de
Viana do Castelo
Foi no Reinado de D. Luís que no dia 10 de
Junho de 1880, se oficializaram as
comemorações do terceiro centenário da morte
de Luís Vaz de Camões, sob a designação de
“Dia de Festa Nacional e de Grande Gala”.
Após a queda da Monarquia, o dia 10 de Junho
deixou de ser feriado nacional e só em 1929 é
que efectivamente passou a ser considerado
como tal. Mas contrariamente ao que se
verificou na monarquia, a figura de Luís de
Camões é relegada para segundo plano e
identificada como um símbolo nacionalista e de
propaganda do regime, uma vez que o Estado
Novo exalta os valores tradicionais e dos
grandes feitos de Portugal, passando a chamar-se
“Dia de Portugal e da Raça”.
Por Decreto de 4 de Janeiro de 1952 começa o
dia 10 de Junho a ser designado “Dia de
Portugal”.
Em 1975, após a revolução de Abril, o Dia de
Portugal passou a ser comemorado no dia 25 de
Abril, considerado feriado nacional obrigatório.
Apenas em 1978, o primeiro-ministro Mário
Soares e o presidente da República, determinam
que o dia 10 de Junho passe a ser declarado “Dia
de Portugal, de Camões e das Comunidades”.
Onde se encontra cada português, estão as
fronteiras de Portugal, por isso, no “Dia de
Portugal, de Camões e das Comunidades
Portuguesas”, exaltamos a nossa Cultura, a nossa
Língua, a nossa História, o nosso Povo… enfim,
a nossa Pátria…, independentemente do local
onde se realizem as comemorações.
Pátria que como Antero de Quental referiu: “É
uma reunião de amizades, simpatias, amores,
recordações, felicidades, penas; tudo isto
constitui o laço que encadeia o coração do
Homem ao cantinho da terra onde nasceu, onde
vive e onde espera morrer”.
Mas deixando de lado esta data de exaltação
nacional, convém não esquecer que o nosso país
atravessa um período de crise, já que assistimos
passivamente à derrocada das estruturas
políticas, sociais e religiosas do nosso amado
Portugal, construídas ao longo de oito séculos
de civilização cristã.
Urge repensar e restaurar Portugal,
designadamente o regime que nos foi imposto
por uma revolução liderada pela maçonaria, que
ainda nos dias de hoje continua activa e que para
além de indicar quem são os nossos
governantes, faz lóbis no Parlamento, sugerindo
também quem comanda as restantes
organizações do poder.
Nada tenho contra a república, pois como refere
o Doutor Vaz de Gouveia na “Justa Aclamação”,
o “poder dos reis está originariamente nos
povos e nas repúblicas, que delas o recebem por
forma imediata.” A república existia dentro da
Monarquia, pelo que estes dois conceitos não
têm significados opostos e incompatíveis. Por
isso defendo e acredito na res pública − coisa do
povo − enquanto sinónimo de administração do
bem público ou dos interesses públicos,
vocábulo que foi usado frequentemente em
Portugal ao longo dos séculos.
Só o Rei dos Portugueses, preparado desde o
berço para desempenhar o cargo de Chefe de
Estado, precisamente por não ser eleito, não
está sujeito aos caprichos de quem contribui
para a sua eleição e não privilegia determinados
grupos em detrimento de outros. É isento e é o
fiel depositário das liberdades e garantias do
Povo, uma vez que põe os interesses do bem
comum acima de todos os outros, inclusive os
de carácter pessoal.
A restauração da instituição real, porque é o
único regime que melhor interpreta o passado e
leva à construção de um verdadeiro futuro à
altura do nosso país, é um dever que compete à
nossa geração, permitindo enfrentar, de igual
para igual, os gigantes europeus.
Editorial «Se algum dia mandarem embora os reis vão ter de voltar a chamá-los»
Alexandre Herculano
Sobre o dia de Portugal

10
“Ser monárquico representa,
hoje como ontem, com efeito, a adesão a um conjunto de valores, essenciais à defesa da estrutura identitária de um Estado moderno” Entrevista da Real Gazeta do Alto Minho ao Dr. José Luís Nogueira de Brito

11
RGAM. – Neste estado das coisas com um sistema de governo
republicano, constitucionalmente petrificado, e volvidos 105 anos
sobre a revolução que implantou este regime, por que é que ainda
faz sentido ‘Ser Monárquico’?
N.B. - Ser ou não monárquico tem a ver com a convicção, com a
coerência consigo próprio e com o pensamento de quem formula
a resposta à pergunta que lhe é dirigida.
Não se trata de avaliar a convicção monárquica à luz de qualquer
critério de oportunidade como resulta dos considerandos que
precedem tal pergunta e do modo como a mesma é formulada:
saber se, neste momento, faz sentido ser monárquico.
Para quem é monárquico por convicção, faz sentido sê-lo em
todos os momentos, independentemente das circunstâncias
próprias de cada um.
Dir-se-ia mesmo que, neste momento, faz mais sentido ser
monárquico, em Portugal, precisamente porque o Estado
Português se define a si próprio como uma república: “Portugal é
uma república soberana “, diz-se logo no artigo 1º da Constituição
de 1976. Por isso mesmo, faz sentido, ou melhor, faz mais sentido
ser monárquico aqui e agora, tanto mais quanto é certo que o
José Luís Nogueira de Brito, nasceu a 13 de Janeiro de 1938 em Barcelos, e é um jurista e político português. Casado desde 1969, é pai de
uma filha e três filhos e com 11 netos.
Frequentou o Liceu Nacional de Braga e, em 1961, licenciou-se com distinção em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra. Iniciou a sua carreira como técnico no Centro de Estudos do Ministério das Corporações e foi assistente universitário no
Instituto de Estudos Sociais e no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras.
Foi Subsecretário de Estado do Trabalho e da Previdência entre 1969 e 1972 e Secretário de Estado do Urbanismo e da Habitação entre
1972 e 1974 no Governo do Professor Marcello Caetano. Participou nos processos legislativos respeitantes à revisão do regime jurídico do
contrato de trabalho, da duração do trabalho, das relações colectivas de trabalho, dos organismos representativos de patrões e
trabalhadores, bem como do lançamento da previdência rural.
Após o 25 de Abril dedicou-se à Advocacia e à Docência Universitária, e regressou à política em 1980 como militante do Centro
Democrático Social. Em 1981 pertenceu ao Conselho de Administração do Banco de Portugal. Pelo CDS, foi deputado à Assembleia da
República, pelo Círculo de Braga, por um largo período de 1983 a 1995. Foi ainda vice-presidente da Comissão Política, presidente do
Conselho Nacional e do Grupo Parlamentar do CDS. No sector Social, desempenhou, entre 2003 e 2005, o cargo de Presidente da Cruz
Vermelha Portuguesa.
Monárquico, é filiado da Real Associação de Viana do Castelo, tendo mesmo desempenhado o cargo de Presidente da Mesa do Congresso
da Causa Real de 2002 a 2004.

12
Estado Português se define como república apenas a partir de
1910, sendo que a Nação Portuguesa está plasmada em estado há
cerca de um milénio.
E que muito embora a mesma Constituição de 1976 defina a
república como um estado de direito democrático, não está nela
consagrada a possibilidade de alterar a forma republicana do
governo. Antes pelo contrário, o que nela se consagra é a
impossibilidade de tal acontecer.
Quer isso dizer que os portugueses vivem numa república nascida
em 1910 de uma revolução e estão condenados a tal forma de
governo por força do disposto na Lei Fundamental do país,
vigente desde 1976. Isto apesar de tal revolução não ter
correspondido a um movimento popular galvanizador das suas
vontades e da sua consciência, e no decurso da sua existência
como país independente ter vivido cerca de 900 anos como
monarquia e apenas 100 anos como república e de, nos anos que
precederam a ”revolução” republicana (05/10/1910), a monarquia
ser já constitucional, assente num regime parlamentar de
representações partidárias desde 1820.
Quer dizer que a revolução não teve como objectivo derrubar
uma monarquia absoluta, como aconteceu em França, sendo certo
que o partido republicano, entretanto criado, tinha assento no
parlamento monárquico (as Cortes).
Dir-se-á finalmente que a república emergente da revolução de
1910 viveu, durante a sua curta existência, em constantes
sobressaltos, tendo-se tornado, na sequência de outra revolução,
numa república autoritária e corporativa que durou até Abril de
1974, em consequência de outra revolução e com o regresso a
uma democracia representativa de estrutura parlamentar.
Tudo ponderado, resulta que não está em causa o sentido de ser
monárquico, mas o saber se as razões que levaram à República
foram alguma vez válidas e se o foram, o de saber se continuam a
sê-lo, nos tempos que correm.
Não esquecendo que não são apenas os argumentos ligados à
organização e ao funcionamento do Estado que devem ser
questionados quando se trata de conhecer o sentido de ser
monárquico, na actualidade.
Ser monárquico representa, hoje como ontem, com efeito, a
adesão a um conjunto de valores, essenciais à defesa da estrutura
identitária de um Estado moderno.
E no fundo, em última análise, é isso que conta!
Mas cabe perguntar se o Estado Nacional está, hoje, em crise, em
Portugal. Ora, não restam dúvidas de que está em crise, em
Portugal, e não só.
A crise é europeia e porventura, planetária. Crise que é, antes de
mais, uma crise de valores, como revelam as notícias que
diariamente nos chegam sobre o funcionamento dos Estados
nacionais, e que se arriscam a deixarem de se constituírem como
referências.
Em suma, faz também sentido ser monárquico nos tempos em
que vivemos para assegurar que os valores referidos resistem
aos ataques contra eles desencadeados.
RGAM. – O senhor doutor foi deputado à Assembleia da
República, pelo Círculo de Braga, por um largo período de 1983 a
1995; vice-presidente da Comissão Política, presidente do
Conselho Nacional e do Grupo Parlamentar do CDS; e é filiado
da Real Associação de Viana do Castelo há muito tempo, tendo
mesmo já desempenhado o cargo de Presidente da Mesa do
Congresso da Causa Real de 2002 a 2004. Ou seja, apesar das
funções públicas que desempenhou na República, nunca teve
qualquer problema em se assumir de forma convicta e pública
como Monárquico! Por que será que tantos políticos, que se diz
serem Monárquicos, não dão o exemplo como V. Exa. e têm a
mesma franqueza e frontalidade?
N.B. - Não cabe fazer juízos de consciência em relação aos meus
colegas do tempo em que exerci funções de deputado à
Assembleia da República quero no entanto sublinhar que não
estive isolado nas apreciações e discussões das medidas destinadas
a remover democraticamente os obstáculos a um eventual
processo de regresso à monarquia.
RGAM. - Existem vários modelos de Monarquia, a orgânica e pelo
menos dois tipos diferentes de Monarquias Constitucionais no
mundo contemporâneo: Executiva e Cerimonial e dentro desta
última o Monarca pode ter funções estritamente cerimoniais ou
possuir poderes de reserva, o chamado Poder Moderador. Qual o
modelo de Monarquia que defende para Portugal?
N.B. - Portugal terá sempre que ser um estado de direito
democrático assente na soberania popular e numa estrutura
monárquica em que ao rei caberão poderes próprios de natureza
sobretudo moderadora e simbólica.
RGAM. – Na hipótese – que desejamos breve - de um Rei que
substituir um presidente como Chefe de Estado em Portugal, que
papel e funções constitucionais deveria ter?
N.B. - Seria conferido ao rei um conjunto de poderes, moldados
por aqueles que cabem ao Presidente da República na constituição
de 1976. O rei seria, também identificado como Chefe de Estado.
RGAM. – Na obra de 1496, ‘Do Governo da República pelo Rei’,
Diogo Lopes Rebelo escreveu: ‘É dever do Rei cumprir o que diz.
Lembre-se que não é supremo Rei, a fim de nada fazer de indigno
de tão grande nome. Acostume-se a nada dizer de indecoroso e
de impróprio de si. Não ouça nem profira palavras desonestas
pois que as más falas corrompem os costumes.’
Será que um Rei ao dar o exemplo de virtude moral e ética e
interessado no bem da coisa comum, isso se reflectiria, também,
nos demais agentes do Estado que não raras vezes estão muito
afastados dos princípios da transparência que se exigem na gestão
da coisa pública (res publica)?
N.B. - É claro que o carácter simbólico dos poderes reais e o

13
enquadramento ético de tais poderes teriam naturalmente reflexos
em todo o estatuto dos órgãos de soberania e na própria estrutura
dos mesmos, bem como na estrutura dos órgãos a que cabe o
exercício das funções públicas.
RGAM. – O actual modelo que elege os deputados ao Parlamento
parece estar ultrapassado, pois é necessário que o eleitor faça a
sua escolha em função de pessoas que conhece e que poderá
responsabilizar - se for o caso -, diferente do actual sistema
eleitoral que não permite aos eleitores elegerem os seus
deputados, pois estes são escolhidos pelos partidos. O actual
sistema proporcional, de círculos plurinominais e do domínio de
listas partidárias, é um sistema representativo em que não existe
uma relação entre o deputado e o eleitor, e, consequentemente,
onde as ânsias verdadeiras das gentes são relegadas para um plano
secundário, diferente de um sistema que permita a escolha dos
deputados pelos eleitores, e não exclusivamente pelos partidos,
como actualmente. Assim sendo, como deveria, também, ser um
Parlamento num regímen de Monarquia?
N.B. - O tema continua a ser objecto de debate, mas a verdade é
que, em monarquia seria naturalmente acentuada a necessidade de
moldar o esquema das relações entre deputados e os seus
eleitores, na base de uma maior clareza e responsabilidade. São
várias as medidas que podem ser tomadas com o objectivo
apontado, desde a diminuição de número de deputados até ao
estabelecimento da natureza uninominal das listas de candidatos,
sem esquecer a função representativa que cabe aos parlamentares.
É claro que o estabelecimento de tais normas terá influência sobre
as relações acima referidas, no sentido de aumentar a
independência dos deputados face aos partidos.
RGAM. – Portugal não começou há 105 anos, assim como o
regime republicano não resultou de uma emanação popular e este
regímen nunca foi referendado! Por que será que nunca foi dado
aos Portugueses a liberdade de escolher sobre que sistema de
governo pretendem ou preferem: República ou Monarquia?
N.B. - Naturalmente porque os políticos actuais têm uma
perspectiva conservadora face a uma inovação de grande alcance,
como sem dúvida seria a resultante da passagem da república a
monarquia e porque o aparecimento de um órgão constituído na
base da representação directa, sempre afectaria a sua importância.
Como afectaria a legitimidade do Chefe do Estado assente na
herança e na existência de laços familiares, em vez da legitimidade
assente na simples eleição.
Muito Obrigado!
Entrevista realizada por Miguel Villas-Boas para a Real Gazeta
do Alto Minho da Real Associação de Viana do Castelo

14
630 Anos do Tratado
de Ponte do Mouro 1386-2016 *
Celebra-se este ano, nos dias 1, 2 e 3 de Novembro, 630 anos do Tratado de
Amizade estabelecido entre D. João I de Portugal e o Duque de Lancastre, John
of Gaunt (João de Gand)1
Enquadramento
Com a morte d’el-rei D. Fernando I, ocorrida a 22 de Outubro de 1383,
Portugal corria o risco de perder a independência face a Castela, uma vez que a
sucessão ao trono português recaía em D. Beatriz, única filha de D. Fernando e
de D. Leonor Teles, que estava casada com o rei de Castela, D. Juan I,
casamento este que pôs termo a uma série de guerras entre os dois reinos, que
debilitaram Portugal.
O simples facto de o rei de Castela poder reinar em Portugal levou ao
descontentamento popular, que logo se faz sentir, pois se D. Beatriz falecesse
antes do seu marido e não tivesse filhos, a união dinástica de Portugal e Castela
e a consequente perda da independência portuguesa seriam uma realidade.
Depressa, a burguesia e parte da nobreza se juntam ao povo nos seus protestos
contra a hipótese de o rei de Castela poder vir a ser rei de Portugal.
Surgem dois pretendentes para competir com D. Juan I de Castela e D. Beatriz
pelo trono de Portugal. Um era D. João, príncipe de Portugal, filho de D. Pedro
I e D. Inês de Castro, apoiado por muitos portugueses como o legítimo
herdeiro, uma vez que aceitavam o suposto casamento dos seus pais, o outro
era D. João, Mestre de Avis, que nasceu no dia 11 de Abril de 1357 em Lisboa e
era filho ilegítimo do rei
D. Pedro I e de D. Teresa
Lourenço.
O Mestre de Avis,
incentivado por alguns
nobres e burgueses, entre
os quais se destacam D.
Nuno Álvares Pereira e
Álvaro Pais, assassina, no
dia 6 de Dezembro de
1383, no Paço Real do
Limoeiro em Lisboa, o
Conde de Andeiro, fidalgo
galego natural da vila da
Corunha, que começara a
c o n q u i s t a r g r a n d e
influência no Paço e
mantinha uma ligação
amorosa com a rainha
viúva, D. Leonor Teles,
facto que motivou a fuga de D. Leonor Teles e a precipitação dos
acontecimentos.
No dia 16 de Dezembro de 1383, o povo de Lisboa aclama o Mestre de
Avis como regedor e defensor do Reino, cargos que aceita exercer em
nome do seu meio-irmão o príncipe D. João, que, encontrando-se na altura
em Toledo, é feito prisioneiro por D. Juan I de Castela, começando assim a
desenhar-se a possibilidade de o Mestre de Avis poder vir a ser rei.
No imediato deste acontecimento, o Mestre envia a Inglaterra os
embaixadores Lourenço Martins e Tomás Daniel para pedirem ajuda
contra os castelhanos. Em Julho de 1384, o rei Richard II de Inglaterra
autoriza que o Mestre de Santiago, D. Fernando Afonso de Albuquerque e
o antigo chanceler-mor Lourenço Eanes Fogaça, recrutem soldados e
adquiram armas para a defesa do reino, invocando-se desta forma a aliança
anteriormente celebrada, em 1373, entre os dois reinos.
O auxílio inglês chegou a Lisboa no dia 2 de Abril de 1385, dois antes da
eleição de D. João I como rei de Portugal.
Inicia-se deste modo na história pátria um período de grande instabilidade
política, que ficou conhecido como a “Crise de 1383–1385”, no decurso da
qual algumas vilas e cidades do reino se declararam a favor de Castela e
outras a favor do Mestre de Avis, situação que leva a uma guerra civil que
durou mais de um ano.
As Cortes Portuguesas, reunidas em Coimbra, a 6 de Abril de 1385, onde
ficou célebre a intervenção do Dr. João das Regras na defesa dos direitos
ao trono do Mestre de Avis, elegem D. João rei de Portugal. Esta eleição
faz aumentar a tensão com Castela, uma vez que D. Beatriz de Portugal,
rainha consorte de Castela, deixava de ser considerada a herdeira de D.
Fernando.
| D. João I, pintor anónimo, Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa
| Assinatura de D. João I

15
De seguida, o novo rei D. João I mandou participar a sua eleição aos
embaixadores em Londres, enviando-lhes cartas com plenos poderes para ser
negociado um novo tratado de paz e aliança com Richard II.
Em Junho de 1384, D. Juan I de Castela invade Portugal e tenta conquistar
Lisboa, cercando a cidade durante 4 meses e 27 dias, de 29 de Maio a 3 de
Setembro. Ao fim deste tempo o cerco foi levantado, uma vez que o exército
castelhano estava desmoralizado, em virtude do elevado número de baixas
sofridas pela Peste Negra e por alguns ataques cometidos pelas forças do
exército de D. João, Mestre de Avis, comandadas por D. Nuno Álvares Pereira.
As hostes castelhanas, compostas de um elevado número de mercenários,
tinham um grande contingente de cavalaria francesa, uma vez que a França,
devido à Guerra dos Cem Anos, era aliada de Castela, mas D. João I de Portugal
consegue a ajuda dos ingleses.
D. Juan I de Castela não desiste de ocupar o trono português, nesse sentido, na
segunda semana de Junho de 1385 invade de novo Portugal. Entra pelo norte e
dirige-se para o Sul em direcção a Lisboa, cidade que não chega a alcançar, pois
a 14 de Agosto de 1385 chega a batalha decisiva e os dois exércitos
encontram-se em Aljubarrota, perto de Alcobaça.
D. Nuno Álvares Pereira, nomeado Condestável do Reino nas Cortes de
Coimbra, comanda as hostes portuguesas que se encontravam na
desvantagem numérica de 1 para 4, uma vez que Castela contava com
32.000 homens e Portugal apenas 6.500. Mesmo assim, o exército
castelhano foi estrondosamente derrotado e a debandada foi grande, não
restando outra alternativa a D. Juan I de Castela, senão uma humilhante
fuga.
A 9 de Maio de 1386, é assinado um novo Tratado de Paz e Aliança entre
Portugal e Inglaterra, o «Tratado de Windsor», onde se estipulava que
qualquer um dos países era obrigado a prestar auxílio ao outro, em caso
de agressão externa.
O Duque de Lancastre, tio do rei Richard II de Inglaterra, casado com D.
Constanza, filha de D. Pedro I de Castela, rei legítimo, destronado por
Enrique de Trastámara, entusiasmado com a vitória portuguesa sobre os
castelhanos, vem à Península reivindicar os seus direitos como rei de
Castela.
João de Gand, 1º Duque de Lancastre, nasceu a 6 de Março de 1340 em
Ghent, na Flandres e faleceu a 3 de Fevereiro de 1399 no Castelo de
Leicester, Leicestershire, Inglaterra.
Era membro da Casa de Plantagenet, e o terceiro dos quatro filhos
sobreviventes do rei Edward III de Inglaterra e Philippa of Hainault (ficou
conhecido como “John of Gaunt”, por ter nascido em Ghent, nome que
traduzido para inglês ficou Gaunt).
Depois da morte da sua primeira mulher, Blanche of Lancaster, Gaunt
casou, no dia 21 de Setembro de 1371 em Roquefort (Landes), Guyenne,
França, com a Infanta D. Constanza, segunda filha de Pedro I ”o Cruel”, rei
de Castela e de Maria de Padilla, filha de Juan García de Padilla, 1.º Senhor
de Villagera, a qual, por morte do seu irmão, o príncipe herdeiro D.
Afonso em 1362, havia sido jurada em Cortes herdeira de seu pai, assim
como as suas irmãs, a primogénita D. Beatriz e a mais nova D. Isabel. D.
Pedro I “o Cruel” foi assassinado em 1369 pelo seu meio-irmão Enrique
(Enrique II), que subiu ao trono de Castela, afastando as legítimas herdeiras
daquele.
A partir do dia 29 de
Janeiro de 1372, João
de Gand assumiu
oficialmente o título
de Rei de Castela e
Leão, uma vez que
pelas leis do reino de
Castela, o marido de
uma herdeira ao
trono era o rei
legítimo. Assim, no
seu brasão, ao lado
das suas armas,
acrescenta as armas
do reino de Castela e
Leão.
D. João I de Portugal
forneceu ao duque
inglês seis galés e doze
naus que serviram para
desembarque de alguns milhares de soldados na Corunha, iniciando desta
forma a invasão da Galiza, a qual se pode enquadrar na Guerra dos Cem
Anos e do Grande Cisma do Ocidente.
Após o desembarque das suas forças, o duque avança para o sul da
Galiza e, ocupa, a parte ocidental e central da região, preparando-se
para entrar em Leão. De Agosto a Outubro, estabelece uma pequena | Batalha de Aljubarrota, British Library, Royal 14 E IV f. 204 recto
| Cerco de Lisboa nas Crónicas de Jean Froissart
| Brasão de Armas do Duque de Lencastre, com acrescentamento
das armas de Castela

16
corte em Orense, onde recebe a fidelidade da nobreza e da maioria das cidades
da Galiza. Aqui, cria uma chancelaria que prepara documentos em seu nome, de
acordo com o estilo e costume de Pedro de Castela, datados pela era
castelhana, apondo o duque a sua assinatura com a fórmula castelhana “Yo El
Rey” (“Eu, o Rei”).
Por intermédio do seu tio, o rei Richard II, obteve o duque de Lancastre, uma
bula do Papa romano, Urbano VI, que o reconhecia como rei de Castela e de
Leão, ao invés de D. Juan de Trastámara, partidário do rei de França e fiel aos
papas de Avinhão.
D. João I, tendo tido conhecimento
de que o Duque de Lancastre
desembarcara na Corunha no dia
25 de Julho de 1836, envia ao seu
encontro, os embaixadores Vasco
Martins de Melo e Lourenço Anes
Fogaça, com a missiva de
informarem o duque da satisfação
que tinha pela sua vinda, bem como
dos motivos da mesma e da
necessidade da realização de um
encontro entre os dois, para
debaterem a continuação da guerra
com Castela.
O local acordado para o encontro
foi o lugar de Ponte do Mouro,
entre Monção e Melgaço.
D. João I e a sua comitiva,
constituída por cerca de cerca de
2000 homens, 40 cavalos e bestas, avançam, numa manhã de quinta-feira do
dia 1 de Novembro de 1386, para Ponte do Mouro, em cuja ponte el-rei e
o Duque de Lancastre se encontram pela primeira vez.
D. João I apresentava-se com vestes brancas forradas de vermelho e
ostentava uma cruz vermelha de São Jorge. Na comitiva do duque inglês,
para além dos cavaleiros ingleses, vinham alguns galegos e alcaides que o
reconheciam como legítimo rei de Castela. Quando se encontraram,
manifestaram alegria por este facto e cumprimentaram-se com delicadeza e
cortesia, conversando durante alguns momentos, após o que atravessaram
o rio em direcção ao local onde el-rei D. João tinha um pavilhão. Sentaram
-se, comeram e, segundo reza a tradição, beberam o maravilhoso néctar,
fruto das vinhas casta alvarinho, plantadas em magníficos anfiteatros, a meia
encosta, num microclima muito próprio, protegido pelas montanhas de
Portugal e Espanha.
Na mesa, com o rei e o Duque, estavam sentados o bispo de Coimbra, o
bispo do Porto e o Arcebispo de Braga e, um pouco abaixo, o condestável
e genro do próprio duque, Sir John Holland, 1.º duque de Exeter, e outro
cavaleiro do duque de apelido Beaumont. No local, encontravam-se muitos
menestréis que animaram o almoço que durou até a noite.
Terminado o repasto, despediram-se uns dos outros e acordaram
encontrar-se de novo no dia seguinte, após o que se retirou o Duque e a
sua comitiva para o seu acampamento, na outra margem do rio, onde
pernoitaram.
Do Tratado2
Sexta-feira, dia 2 de Novembro de 1386, após a missa, as comitivas dirigem
-se para um pavilhão que se encontrava no lado do acampamento de D.
João I, que havia sido tomado ao rei de Castela, em batalha pelo rei
português, e foi sob este que se realizou um banquete e se acordaram os
termos do tratado de amizade e aliança entre os reinos de Portugal e
Castela, ratificado pelo Duque de Lancastre e sua mulher em Celanova, no
dia 11 do mesmo mês. O Pavilhão estava primorosamente decorado, como
se o rei estivesse em Lisboa ou o Duque em Londres.
Sábado, dia 3 de Novembro, após a missa, há um novo encontro das duas
comitivas. Desta vez no pavilhão do duque, que se encontrava decorado
com ricas tapeçarias, ornamentadas como se fosse em Hertford, Leicester
ou em qualquer dos seus castelos ingleses, o que muito surpreendeu o rei
Português. Três bispos e um arcebispo estavam sentados na mesa superior,
os Bispos de Lisboa, Porto, Coimbra e o Arcebispo de Braga. O rei de
Portugal ficou sentado no meio e o duque ao lado dele; abaixo do duque
estavam o conde d'Acunha e o Conde de Neiva3. À cabeceira da segunda
mesa, estava o grão-mestre adjunto da ordem de Avis, seguido do Grão-
Mestre de Santiago, em Portugal, e o grão-mestre de São João de
Jerusalém, ocupando os lugares a seguir Diogo Lopes Pacheco e seu filho
| Duque de Lencastre, pintura atribuída a Lucas Cornelisz de Kock (1495-1552), pertence ao Duque de
Beaufort e encontra-se em Badminton House, Gloucestershire
| John of Gaunt, Duque de Lancastre, chega à Galiza, e recebe uma
missiva do Rei de Portugal, D. João I_-_Chronique_d'_Angleterre_
(Volume_III)_(late_15th_C),_f.236r_-_BL_Royal_MS_14_E_IV
| Jantar do Duque de Lencastre com D. João I - Chronique d'Angle-
terre (Vol. III) (séc. XV C.), f.244v - BL Royal MS 14

17
João Fernandes Pacheco, Lopo Vasquez da Cunha, Vasco Martins da Cunha,
Lopo Dias de Azevedo, Vasco Martins de Melo, Gonçalo de Melo, todos os
grandes barões. O Abade de Aljubarrota, o abade de Santa Maria na
Estremadura, D. Nuno Alvares Pereira, Condestável de Portugal, João
Rodrigues Pereira, João Gomes de Silva, João Rodrigues de Sá e muitos outros
cavaleiros portugueses, também estavam sentados.
Quando terminou o encontro despediram-se amigavelmente e manifestando o
desejo de um novo encontro. O rei voltou para o Porto e o duque para
Melgaço, donde viajou para Santiago, escoltado pelo Conde de Neiva e cem
lanças portuguesas.
Por este acordo de Ponte do Mouro, os outorgantes e os seus sucessores
ficaram vinculados a ajudarem-se mutuamente e com a maior brevidade
possível, contra quaisquer pessoas que colocassem em causa os seus reinos ou
parte deles.
D. João I devia ajudar o duque na conquista de Castela, fazendo guerra contra
D. Juan I de Castela, mantendo as hostilidades e comprometendo-se a não
celebrar qualquer acordo de paz com Castela, até que o Duque e os seus
sucessores estivessem na posse desse reino.
Por seu lado, o Duque e os seus sucessores deviam também fazer a guerra
contra quem pretendesse ocupar os reinos de Portugal a D. João I e aos
descendentes.
El-rei D. João I comprometia-se a auxiliar o Duque de Lencastre na conquista
de Castela, comandando uma hoste de 2000 homens de armas, 1000 besteiros e
2000 peões, cedidos pelo rei, que também arcaria com as despesas da sua
manutenção e que deveria estar pronta a combater desde o final desse ano, ou
seja, desde o primeiro dia das oitavas de Natal até ao último dia de Agosto do
ano seguinte, o que perfazia oito meses, devendo cada um dos exércitos partir
do local que achasse mais conveniente e encontrarem-se à entrada de Castela,
num sítio previamente acordado, donde avançariam juntos ou separados,
conforme assim o entendessem.
Se, antes de terem
terminado os oito meses,
o detentor dos reinos de
Castela entrasse nalguma
vila ou cidade desses
reinos, devia D. João I
estar ao lado do duque
nesse cerco até que ele
fosse tomado morto ou
fugisse. E se durante os
oito meses houvesse
notícia de que D. Juan I
de Castela pretendia
fazer guerra ao duque e,
no caso desta se
prolongar para além do
prazo estabelecido, el-Rei
de Portuga l ser ia
obrigado a ajudar o
duque na guerra a
expensas suas, durante o
mês de Setembro.
Se a Batalha decorresse
durante os oito meses,
D. João I podia regressar
ao reino de Portugal ou
para onde entendesse,
mas, no caso de voltar a
ser chamado pelo duque,
desta vez seria a
expensas do duque.
Estando D. João I já em Portugal e aparecendo notícias que o detentor dos
reinos de Castela queria fazer guerra ao duque, D. João I seria obrigado a
auxiliar o duque a estar presente em pessoa o mais rápido possível. Quer
tivesse existido ou não a batalha e o rei de Portugal fosse requerido outra
vez para auxiliar o Duque, desta feita não seria obrigado a prestar auxilio.
Do Tratado constava também o casamento de Philipa de Lancastre, filha
mais velha do duque inglês e neta de Edward III de Inglaterra, com D. João
I de Portugal. No entanto, D. João I, para que o casamento fosse
considerado válido, deveria obter dispensa canónica, já que, ao abrigo da
regra beneditina que a Ordem de Avis seguia, os seus membros
professavam voto de castidade.
Casamento que teve lugar no Porto, no dia 2 de Fevereiro de 1387,
fortalecendo-se desta forma, por laços familiares, os acordos do Tratado
de Aliança Luso-Britânica, que perdura até aos dias de hoje.
O duque e a sua mulher, na qualidade de reis de Castela, davam e
outorgavam ao Rei de Portugal, para sempre, uma parte de Castela e de
Leão, que compreendia a vila de Ledesma, Plasença, Cáceres, Mérida e
Zafra, etc., ou seja, uma faixa de território que teria aproximadamente 80
Km de largura e 350 Km de comprimento. E se por qualquer motivo não
fosse possível a concessão destas terras, seriam dadas a el-Rei de Portugal
em recompensa outras terras semelhantes em rendas.
Considerações finais
Apesar da sua vontade, John of Gaunt não conseguiu manter o seu
exército unido, atentos os conflitos ingleses em França e com a Escócia e
teve dificuldade em pagar aos seus soldados, pois enquanto apostava que a
contenda se iria resolver rapidamente, numa batalha decisiva, os
castelhanos não tinham pressa para o confronto directo e foram-no
sempre adiando, limitando-se o exército anglo-luso (cujo contingente
português era superior em número ao inglês, entretanto devastado em
cerca de dois terços por uma epidemia no inverno de 1386) a fazer o
cerco a algumas cidades, sem
qualquer resultado prático a não
ser o da exaustão das suas hostes.
Após o falhanço desta campanha e
do regresso do exército a Portugal,
João de Gand aceita uma proposta
de Juan de Trastâmara (D. Juan I de
Castela), para o casamento da sua
filha Catherine com o seu filho
primogênito, o futuro D. Enrique III
de Castela. Deste tratado secreto
| D. Filipa de Lancastre in Genealogia dos Reis de Portugal (António
de Holanda; 1530-1534)
| Casamento entre D. João e D. Filipa de Lencastre _Miniatura atribuída ao Mestre da Tosão de
Ouro de Viena e Copenhaga na “Chronique d'Angleterre”, vol. iii, fl. 284, de Jean de Wavrin, Br
| Bandeira do Duque de Lancastre

18
constava o pagamento de uma significativa quantia e pensões vitalícias, tendo
sido ratificada a versão final do tratado no dia 8 de Julho de 1388, em Bayonne,
na Gasconha.
A paz separada que o duque celebrou com D. Juan I, deixou em situação difícil o
aliado português, que ficou isolado na guerra com Castela.
Em 1400 termina a guerra e a 31 de Outubro de 1411, no reinado de D. Juan II
de Castela, na regência de D. Catalina de Lancáster, rainha consorte de Castela,
por estar casada com Enrique III de Castela, é assinado um tratado de aliança e
de paz entre os dois países, o Tratado de Ayllón-Segovia, que reconhacia a
realeza de D. João I de Portugal.
Com o reino em paz, em 1415 D. João I conquistou Ceuta, praça estratégica
para a navegação no norte de África, onde foram armados cavaleiros os seus
filhos D. Duarte, D. Pedro e D. Henrique, iniciando-se desta forma o fenómeno
conhecido como “globalização”.
Em 1418 e 1419 foram descobertas, respectivamente as ilhas de Porto Santo e
da Madeira e em 1427 os Açores, realizam-se ainda no reinado de D. João I
expedições às Canárias e dá-se início ao povoamento dos Açores e da Madeira.
É o primeiro monarca a usar o título de Rei de Portugal e do Algarve e Senhor
de Ceuta.
D. João I, foi um rei muito culto para a época, uma vez que enquanto Grão-
Mestre da Ordem de Avis, recebeu uma educação e formação de alto nível.
Protegeu a universidade e escreveu o “Livro da Montaria” e por lei de 22 de
Agosto de 1422, decreta a adopção da era de Cristo em substituição da era de
César.
Como era D. João I4: «affabel, magnanimo, favorecedor dos pobres, e grande
venerador do culto Divino. De corpo meaõ enxuto, e mui bem
acomplesionado. Teve o rosto comprido, mais magro, que gordo, a testa
pequena, o cabello preto, e não muito basto, trouxe-o sempre comprido, e mui
concertado, os olhos teve pretos pequenos, e de muita viveza» (Brito, p. 64).
«Sua converçassaõ era de bramdos e homrrosos custumes e prazivens
mamdados de comprir, husamdo sempre de mesuradas palavras e cortezes e
nenhuma torpeza nem vilaõ ffalar nunca foy ouvido de sua boca. Não hera
sanhudo nem cruel!, mas rança e byninamente castigava [..] Foi de gramde
emtemdimento e muy nobre por custumes» (Lopes, II, pp. 2-3).
Faleceu a 14 de Agosto de 1433 em Lisboa e os seus restos mortais
repousam na Capela do Fundador, no Mosteiro de Santa Maria da Vitória,
na Batalha, mandado construir por si, como agradecimento à Virgem Maria
pela vitória na Batalha de Aljubarrota.
Foi cognominado “O de Boa Memória”, pela lembrança positiva do seu
reinado na memória dos portugueses.
Sua Alteza Real o Senhor Dom Duarte Pio, Duque de Bragança, legítimo
sucessor dos Reis de Portugal e Chefe da Casa Real Portuguesa, é, pelo
lado paterno e materno, descendente directo de el-rei D. João I e do
Duque de Lancastre.
O actual Duque de Lancastre é Rainha de Inglaterra, Elisabeth II, que é
apelidada de “Sua Majestade, o Duque de Lancastre” e não duquesa.
__________________________
Notas:
1 Entre os dias 10 e 12 de Junho decorreu em Ponte do Mouro (Barbeita-
Ceivães) e na vila de Monção a Comemoração do 630.º aniversário do
encontro entre D. João I e o Duque de Lancastre, que contou com a
presença do Rei dos Portugueses, Sua Alteza Real o Senhor D. Duarte,
| Bandeira de D. João I
| Cap. XVI da Crónica de D. João I, II parte, de Fernão Lopes

19
José Aníbal Marinho Gomes
Duque de Bragança e de D. Jaime d’Almeida, Marquês de Lavradio, chefe do
nome e armas dos Lancastres em Portugal, evento este que contou com a
colaboração da Real Associação de Viana do Castelo e está na origem da
publicação deste texto.
2 Os excertos do Tratado de Ponte do Mouro foram retirados da II parte da
Crónica de D. João I, capítulo XCII e estão devidamente adaptados do
português do séc. XIV.
3 Sir Jean Froissart refere dois titulares, um o Conde da Cunha, que poderá
tratar-se de D. Martinho da Cunha e outro o “Count de Novaire”, que julgamos
tratar-se do Conde de Neiva.
4 in “A Monarquia Portuguesa”, ed. Selecções do Reader’s Digest, Lisboa, 1999,
pág. 236.
Bibliografia:
Em língua Portuguesa:
COELHO, Maria Helena da Cruz. D. João I, vol. X, Reis de Portugal, ed. Círculo
de Leitores, 2005.
LOPES, Fernão Lopes. Crónica de D. João I, II Volume, Livraria Civilização
Editora, Porto, 1983.
RUAS, Henrique Barrilaro; Amaral, Augusto Ferreira; Aguiar, João. Cronologia e
Breve História dos Reis de Portugal, in “A Monarquia Portuguesa”, ed.
Selecções do Reader’s Digest, Lisboa, 1999.
RUSSELL, Peter E. A Intervenção Inglesa na Península Ibérica durante a Guerra
dos Cem Anos, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Lisboa, 2000 (ed. original
inglesa de 1955).
SILVA, Manuela Santos. A Rainha Inglesa de Portugal – Filipa de Lencastre,
vol. VI, Rainhas de Portugal, ed. Círculo de Leitores, 2012.
SERRÃO, Joel. Dicionário de História de Portugal, vol. III, Livraria
Figueirinhas, Porto, 1981.
Em Língua Inglesa:
ARMITAGE-SMITH, Sydney. John of Gaunt, King of Castile and Leon, Duke
of Aquitaine and Lancaster, Earl of Derby, Lincoln, and Leicester, Seneschal
of England. London: Constable. 1904.
GOODMAN, Anthony. John of Gaunt: the Exercise of Princely Power in
Fourteenth-Century Europe. Harlow: Longman. 1992.
GREEN, V.H.H. The Later Plantagenets: a Survey of English History 1307–
1485. London: Edward Arnold. 1955.
Tappan, Eva March. Ed., The World's Story: A History of the World in
Story, Song and Art, 14 Vols., Vol. V: Italy, France, Spain, and Portugal, pp.
570-582. Boston: Houghton Mifflin, 1914.
Duchy of Lancaster
http://www.duchyoflancaster.co.uk/about-the-duchy/history/
Origins of Duchy of Lancaster
http://www.duchyoflancaster.co.uk/about-the-duchy/history/origins-1265-
1389/
*Por decisão pessoal, o autor do texto não escreve segundo o novo
Acordo Ortográfico.
Francisco de Sousa Tavares:
Se o homem de hoje busca
ansiosamente a trincheira que o defende
contra a prepotência e a imensidão do
Estado moderno - eis que a Monarquia
surge como barreira natural contra todas
as violências, contra todos os totalitarismos
das direitas e das esquerdas, porque o Rei é
o limite da ambição, a simples oposição do
SEMPRE ao desvario momentâneo da
embriaguez do mando, que cega os homens
e desnorteia as multidões”.
“

20
Encontro. Amizade. Respeito. Cooperação Assim foi o Ponte do Mouro Medieval
De 10 a 12 de junho o lugar da Ponte do Mouro, Barbeita recuou ao
ano de 1386 revivendo o encontro de D. João I com o Duque de
Lencastre, encontro esse que iria mudar para sempre os destinos da
nossa nação.
Mudou para sempre, também, os destinos de Monção, esta iniciativa
que promoveu a cultura, o património e o conhecimento de uma
terra.
Contando com a presença de ilustres especialistas em história da
época medieval, o primeiro dia deste evento foi uma verdadeira
lição de história. No Cine Teatro João Verde e com moderação de
Dr. José Emílio Moreira, o Professor Doutor Luís Adão da Fonseca,
falou-nos da “Génese e contexto histórico da aliança anglo-
portuguesa de 1386”, nomeadamente dos problemas das relações
marítimas e comerciais
de Portugal com o Norte
da Europa no século XIV,
dos problemas da política
diplomática portuguesa
na segunda metade do
século XIV, da política
diplomática portuguesa
na Crise de 1383-1385 e
do quão decisivo foi o
ano de 1386, e o tratado
de W in ds or , em
Março, ao acordo de
Ponte do Mouro, em
Novembro.
Já o Dr. Alberto Antunes
de Abreu explicou à
plateia o encontro de D.
João I com o duque de
Lencastre.
A cargo da Dr.ª Odete
Barra, arqueóloga do
município de Monção
esteve a apresentação
do Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização de Ponte do
Mouro que foi elaborado ao longo de dois anos e publicado em
Diário da República em 25 de Junho de 2008 (Edital nº 638/2008). E
como foi explicando, com este Plano de Pormenor de Salvaguarda e
Valorização da Ponte do Mouro, pretende-se dar seguimento a uma
estratégia concelhia de promoção de áreas limítrofes do município,
da qual Ponte do Mouro faz parte (parte da freguesia de Barbeita e
parte da freguesia de Ceivães), encetando a recuperação e
reabilitação deste lugar, com história e memória para a comunidade
local mas também nacional. Ao dar a conhecer este trabalho, a Dr.ª
Odete deixou bem claro que o Plano de Pormenor e Salvaguarda
criado por uma equipa multidisciplinar tem como objetivo criar um
instrumento regulador e estratégico para a reabilitação e valorização
de Ponte do Mouro.
Aproveitando a visita de
D. Duarte Pio, Duque de
B r a g a n ç a e d o s
Marqueses de Lavradio
ao evento, realizou-se no
dia 10 de Junho um jantar
solidário, no Convento
dos Capuchos, cuja
receita reverteu para o
Centro Paroquial e Social
de Barbeita, instituição
de cariz social do
concelho. Este jantar
contou com a edição
especial de um selo para
o v inho alvar inho
oferecido pela Provam,
Produtores de Vinho
Alvarinho de Monção.
Na passagem por
Monção, D. Duarte Pio e
os Marqueses do
L a v r a d i o t i v e r a m
oportunidade de visitar o

21
Museu Alvarinho, de homenagear os Combatentes do Ultramar e
visitar uma conceituada empresa produtora de vinhos da casta
alvarinho, Provam, que este ano comemora o seu 25.º aniversário
com o lançamento de uma edição limitada de vinhos “Contradição”.
No dia 11 de junho, acompanhado pelo Marquês do Lavradio, D.
Jaime d’Almeida, presidindo à abertura do evento Ponte do Mouro
Medieval, D. Duarte enalteceu este evento dizendo “que estas
iniciativas relembram o papel de Portugal no mundo, trazendo à
memória de todos os grandes feitos da nação”.
Acolhendo milhares de pessoas, o lugar da Ponte do Mouro, recuou
à época medieval. Os visitantes que por lá passaram tiveram
oportunidade de experienciar o verdadeiro mundo medieval. O
recinto decorado a rigor e envolvendo diferentes contextos da
época contou com decoração e ambientação medieval, exposição de
armas de guerra e instrumentos de tortura, acampamento militar,
animação, música e artes circenses, parque infantil e um mercado
medieval com produtos da época, ceia, cortejo e recriação do
encontro de D. João I com o Duque de Lencastre.
Conta-se que a única vez que, João de Gand (John of Gaunt), Duque
de Lencastre ceou em Portugal foi aquando do encontro em 1386.
Recriando uma verdadeira ceia da altura e com a participação de
120 comensais, o espaço foi enfeitado de acordo com a época,
contando com animadores, contadores de histórias, momos e
músicos.
Durante estes dias os visitantes puderam participar e apreciar
diferentes representações históricas, sendo o ponto mais alto deste
evento a recriação do encontro de D. João I com o Duque de
Lencastre, no domingo, dia 12. Aqui todos os que por ali passaram,
tiveram a oportunidade de reviver, in loco, um momento tão
importante na história de Portugal.
Além das recriações históricas, a música, os torneios de época, os
espetáculos de fogo, a falcoaria, as demonstrações de ofício, o
mercado medieval, os comes e os bebes da época animaram o fim-
de-semana tornando-o, num momento inesquecível, para aqueles
que por lá passaram.
Augusto Domingues, presidente do Município exaltou a iniciativa
dos elementos associação Buraca da Moura, bem como do grupo de
barbeitenses que fazem parte da Organização do Ponte do Mouro
Medieval, em promover um episódio ímpar da nossa história num
local emblemático que tem tanto de antigo como de extraordinário
e belo.
“Colocaram bem alto a fasquia e agora há que a manter naquela
posição. Para isso estamos aqui. Ao vosso lado”.
Termino este artigo como comecei e em nome de uma grande
equipa “Ponte do Mouro Medieval”, espero que connosco
colaborem numa próximo edição que se pautou e pautará pela
“cooperação, amizade, respeito e encontro”, valores assumidos à
época por D. João I e o Duque de Lencastre.
Sandra Raquel Vieites Rodrigues
Pel´Organização do Ponte do Mouro Medieval
(*) A Real Gazeta do Alto Minho agradece a colaboração da Dr.ª Sandra
Raquel Vieites Rodrigues, da Buraca da Moura - Associação Cultural,
Desportiva e Recreativa de Barbeita, entidade responsável pela realização do
evento Ponte do Mouro Medieval.

22
- Constituição de 1822
“O Rei não pode, sem consentimento das Cortes, sair do
reino de Portugal e Algarve; e se o fizer, se entenderá que a
abdica; bem como se, havendo saído com licença das Cortes,
a exceder quanto ao tempo ou lugar, e não regressar ao Reino
sendo chamado”, o mesmo se aplicando “ao sucessor da
Coroa, o qual contravindo-a, se entenderá que renuncia o
direito de suceder na mesma Coroa” (art. 125º); .
- Carta Constitucional de 1826
“O Rei não poderá sair do Reino de Portugal sem o
consentimento das Cortes Gerais; e, se o fizer, se entenderá
que Abdicou a Coroa” (art. 77º)
- Constituição de 1838
“O Rei não pode, sem consentimento das Cortes, sair do
Reino de Portugal e Algarves: e se o fizer, entende-se que
abdica” (art. 84º) .
- Constituição de 1911
“O Presidente não pode ausentar-se do território nacional
sem permissão do Congresso, sob pena de perder o
cargo” (art. 84º).
- Constituição de 1933
“O Presidente da República só pode ausentar-se para país
estrangeiro, com o assentimento da Assembleia Nacional e
do Governo” e a inobservância desta disposição “envolve, de
pleno direito, a perda do cargo” (art. 76º).
- Constituição de 1976
O Presidente da República não pode ausentar-se do território
nacional sem o assentimento da Assembleia da
República ou da sua Comissão Permanente, se aquela não
estiver em funcionamento. O assentimento é dispensado nos
casos de passagem em trânsito ou de viagem sem carácter
oficial de duração não superior a cinco dias, devendo, porém,
o Presidente da República dar prévio conhecimento delas à
Assembleia da República. A inobservância do disposto no n.º 1
envolve, de pleno direito, a perda do cargo” (art. 129º).
As seis constituições portuguesas (três monárquicas e três republicanas) contém normas que se referem às
AUSÊNCIA DO TERRITÓRIO NACIONAL do Chefe do Estado:
As Constituições Portuguesas
e o Chefe de Estado O Chefe de Estado pode ausentar-se do território nacional? Em que termos/
condições? Quem substitui o Chefe de Estado quando ele está ausente do territó-
rio nacional?
| D. Manuel de visita Inglaterra em 1909

23
Paula Leite Marinho
«Nas Repúblicas, ao contrário das Monarquias,
não há o respeito pela coisa pública. Suas
autoridades “agem segundo a concepção de que,
se o erário é do público, e eles são formalmente os
representantes do público, podem dispor desse
erário como se fosse seu, enquanto forem
representantes desse público. Disso resulta,
paradoxalmente, que na república a coisa pública
não é pública, não é do público, mas de quem o
representa”»
Paulo Napoleão Nogueira da Silva
Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Professor e constitucionalista
brasileiro.

24
… … todas as constituições portuguesas (três monárquicas e três republicanas) se referem à
CORRESPONDÊNCIA estabelecendo que…
- “o segredo das Cartas é inviolável. A Administração do Correio fica rigorosamente
responsável por qualquer infracção deste artigo” (art. 18º da Const. de 1822);
- “o segredo das Cartas é inviolável. A Administração do Correio fica rigorosamente
responsável por qualquer infracção deste artigo” (art. 145º § 25º da Carta Constitucional de
1826);
- “o segredo das cartas é inviolável” (art. 27º da Const. de 1838);
- “o sigilo da correspondência é inviolável” (art. 28º da Const. de 1911);
- “constituem direitos e garantias individuais dos cidadãos portugueses… o sigilo da
correspondência, nos termos que a lei determinar” (art. 8º, nº 6º da Const. de 1933);
- “o sigilo da correspondência é inviolável. “É proibida toda a ingerência das autoridades
públicas na correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de
comunicação, salvos os casos previstos na lei em matéria de processo criminal” (art. 34º nºs 1 e 4 da Const. de 1976).
Sabia que…
Paula Leite Marinho
Nota:
A Direcção da Real Associação de Viana do
Castelo, com mandato para o triénio 2014-
2016, cumprimenta V. Exas, desejando desde já
a continuação de um bom ano de 2016.
A Real Associação de Viana do Castelo tem um
plano de actividades e orçamento para 2016,
aprovado em Assembleia Geral, que inclui
diversas iniciativas relacionadas com o 1.º de
Dezembro (concursos escolares, etc.) e que se
pretende sejam executadas com a participação
de todos os associados, simpatizantes e
entidades que entendam colaborar, com o
intuito de contribuir e ajudar a dinamizar o
ideal Monárquico que todos nós abraçamos
convictamente.
Atendendo à necessidade imperiosa que temos
em angariar recursos financeiros necessários ao
normal funcionamento da Real Associação, e
tendo em conta que uma das competências da
Direcção é a cobrança de quotas, eu, em nome
da Direcção e na qualidade de Tesoureiro,
venho por este meio solicitar a V. Exas. a
regularização da QUOTA DE ASSOCIADO
REFERENTE ao ano de 2016, no valor de
20,00 € (vinte euros), preferencialmente por
transferência bancária, para:
Titular da Conta: Real Associação de Viana do
Castelo
Entidade bancária: Caixa de Crédito Agrícola
Agência: Ponte de Lima
IBAN: PT 50 0045 1427 40026139242 47
Número de conta: 1427 40026139242
SWIFT: CCCMPTPL
Caso seja possível, pede-se o favor de enviarem
por e-mail ([email protected] e
[email protected]) informação da
regularização da quota (ex: comprovativo), após
o que procederemos de imediato à emissão do
recibo de liquidação.
Cordiais cumprimentos e saudações
monárquicas,
Pedro Giestal
Tesoureiro da RAVC
O Integralismo Lusitano e a
contribuição de Xavier Cordeiro
A Real Associação de Viana do Castelo, em
colaboração com a Livraria Ler Com Gosto,
editou o livro "O Integralismo Lusitano e a
contribuição de Xavier Cordeiro", da autoria
do Prof. Dr. Armando Malheiro da Silva, Prof.
da Faculdade de Letras da Universidade do
Porto e do Dr. José Aníbal Marinho Gomes,
Presidente da Direcção da Real Associação de
Viana do Castelo.
O preço de venda ao público, é de € 10, 00 e
inclui os portes de envio para Portugal.
Para encomendar devem efectuar uma
transferência bancária para o NIB 0045 1427
40026139242 47 da Caixa de Crédito Agrícola,
enviando o comprovativo para o e-mail

25
Um presidente é sempre um «deputado» e a legitimidade do seu
mandato há-de fatalmente aferir-se pela fidelidade aos votos que
o elegeram.
No decreto da destituição de Bernardino Machado post o «5 de
Dezembro», um dos primeiros argumentos invocados era do
seguinte teor: —«considerando que a Nação perdeu a confiança
no eleito, desde que reconheceu que no seu espírito prevaleciam
razões de gratidão ao partido político que o elegera sobre
altíssimas e supremas razões de interesse público...». Assinava
este decreto (datado de 11 de Dezembro de 1917) Sidónio Pais,
chefe da «Junta Revolucionária» que, pelo acto de revolta e pelas
palavras exprobratórias, mostrava ter uma visão contrária à do
presidente Bernardino Machado. Mas, rigorosamente, não tinha
razão na censura que lhe fazia.
O mal do facciosismo presidencial de Bernardino Machado, que
indignava Sidónio Pais, como aliás a generalidade dos
portugueses, não podia, com inteira justiça, atribuir-se
propriamente à pessoa do presidente, pois que este procedia
com autêntico democratismo. O mal estava no regime
partidarista, que condicionava e determinava o comportamento
verberado, e tal circunstância é que os republicanos sempre
pareceram apostados em não quererem perceber.
Sem a clara visão do problema fundamental, Sidónio Pais queria
como que endireitar a sombra de uma vara torta. Sem dúvida
guiava-o uma orientação salutar, profundamente nacional na
intenção, mas o caminho que se desdobrava à sua frente era o
de um beco sem saída. Teve ele a sorte, trágica e gloriosa, de
morrer a tempo de não provar o fel das desilusões.
Um presidente somente pode considerar-se representativo de
todo o país se for mandatado por todo o eleitorado isto é, se
for eleito por unanimidade. Mas as vicissitudes da eleição nunca,
na prática, o permitem. A generosidade de Sidónio, nesta sua
aspiração, ultrapassava os imites marcados pelo regime. Queria
o paradoxal — ser um «Presidente-Rei». E assim mesmo o
cognominou Fernando Pessoa. Esqueceu-se o malogrado
cônsul, e com ele o entusiasmado séquito que lhe seguia o
carro triunfal, que a identidade dos contrários é impossível.
Ontem, como hoje, e como será sempre, o dilema é irredutível:
ou presidente, ou rei. Delir as diferenças intrínsecas entre a
Presidência e a Realeza é uma tentativa falaz de ilusória
conciliação de formas; não consegue mais do que falsificar uma
e outra.
Não há meios termos e tentá-los, ou faz cair no ridículo, ou
conduz à catástrofe.
É na integridade doutrinária dos dois sistemas que melhor
ressalta o confronto e que mais fácil e seguramente se formula a
opção. Opção esta que se encontra na base e no fecho da
construção política
A representatividade
presidencial
Mário Saraiva in Consciência Nacional, n.º 53,
Janeiro 1980 – pág. 1 e 4

26

27
A chamada revolução de 5 de Outubro de 1910, que à força de
alguns republicanos de Lisboa e com a demissão cobarde da
maioria dos defensores do Rei D. Manuel II, impôs um regime
pela força e pelo terror. Nunca foi referendado.
Democraticamente (quem diria?) proíbe-se que o povo
português se pronunciasse e se pronuncie sobre a questão da
Chefia do Estado. O regime em que vivemos é, por isso, uma
forma de tirania, que impede que a voz seja dada a quem deve
pronunciar-se: o povo, isto é, os portugueses.
Em Portugal, uma meia dúzia de carbonários e afins com as
armas que promoveram o regicídio (nunca julgado, apesar de se
ter tratado de um duplo crime de morte: um Chefe de Estado e do
Seu filho) fizeram uma escaramuça e implantaram um regime cuja
bandeira, a deles, vigora desde então, como um bom exemplo de
falta de democraticidade original e que se perpetua, da república
portuguesa. Esta nasceu com as mãos tingidas de sangue daquele
crime e com cobardia dos chamados defensores do anterior
regime que formou Portugal.
Portugal, em 106 anos, já vai com três repúblicas, diferentes
entre si, e que padecem do mesmo mal: nunca terem ousado
perguntar ao povo português se concorda ou não com esta
forma de chefia do Estado, do nosso Estado, como se os
portugueses fossem uns mentecaptos incapazes de escolher e
optar pela forma de regime que preferem.
Portugal precisa de um Rei e tal é uma evidência que resulta de
uma simples observação dos inquilinos de Belém, do modo como
ocuparam e ocupam tal função, do custo da sua pseudo-escolha,
do custo da sua manutenção e mordomias correlactivas e do
facto de nunca ter sido escolhido “o“
melhor cidadão se ele não tiver dinheiro
próprio ou de partidos que o vão
catapultar. É uma grande treta, mais uma
mentira da república, que nesta todos
podem ocupar a chefia do Estado! Depois,
que esses “eleitos” são imparciais e são
presidentes de todos os portugueses,
mentira que os últimos ocupantes se têm
encarregado de desmentir. Só o Rei é
imparcial face aos partidos que governam
ou são candidatos a governar o nosso país.
NÃO DEPENDE DE NENHUM. O Rei, num
país moderno, não governa.
O Rei prefigura a Pátria, desde a sua origem. É
a sua memória viva. O seu rosto que não perde
a memória colectiva e a recorda a todos só com
a sua presença.
O Rei é a continuidade na mudança.
O Rei é a estabilidade no respeito absoluto das
decisões do Governo.
… Por isso, e para nosso bem, Portugal precisa
de um Rei.
Portugal deve ter um Rei!
Na imagem: Dom Carlos fazendo o Discurso do Trono
Deve Portugal ter um REI?
Carlos Aguiar Gomes

28
Reis de Portugal
D. Fernando I
Nascimento
31 de Outubro de 1345, Coimbra
Morte
22 de Outubro de 1383 (37 anos), Lisboa. Foi sepultado no Convento de São Francisco, em Santarém. Desde o ano de 1875 que o túmulo de
D. Fernando I se encontra no Museu Arqueológico do Carmo em Lisboa
Reinado
18 de Janeiro de 1367 - 22 de Outubro de 1383
Consorte
D. Leonor Teles
Dinastia
Borgonha
Cognome
O Formoso
Filhos
D. Beatriz (1373- após 1412), casada com o rei D. João I de Castela
D. Pedro de Portugal (1375-1380), morreu jovem
D. Afonso (1382), morreu quatro dias após o nascimento
Filha natural
D. Isabel (1364-1435), senhora de Viseu, casada com D. Afonso, conde de Noreña, com geração nos Noronha.
Pai
D. Pedro I
Mãe
D. Constança Manuel

29
POETAS MONÁRQUICOS PORTUGUESES1
ANTÓNIO DE CARDIELOS António de Cardiellos é natural de Viana do Castelo, onde nasceu
em 1875, e, como eu, na nobre Praça da Rainha (da República, anos
depois, já no meu tempo, menos feliz). Também como Pedro
Homem de Melo (este, vianense por adopção), cantou a paisagem
minhota o povo dos seus campos, sobretudo “a meio do caminho
da sua vida” como diria Dante. Começando por celebrar o Lima
brando que lhe margina o berço, em retirando para a aldeia de Vilar
de Mouros (ultimamente, muito divulgada na imprensa, por via de
dois ousados e controversos festivais de música ligeira), elegeu o rio
Coura e os seus bucólicos arredores para musas de alguns sonetos
espatulados em tons fortes, vigorosos, retratando, igualmente, um
poeta de belo rigor parnasiano, distante já daqueloutro que, em
1900, assinara um volume intitulado Agonias, bem merecedor do
respeito que lhe dispensa o mais atento e perspicaz historiador da
nossa poesia simbolista, José Carlos Seabra Pereira, ao estudá-lo no
seu ensaio Decadentismo e Simbolismo na Poesia Portuguesa.
Do seu apreciável passado simbolista, dou este exemplo, em que a
voz delicada, em surdina, de Camilo Pessanha, encontra eco
admirativo e admirável:
“Céus azuis! céus de gala! céus de flores!
Turíbulos de aromas embriagantes!
Órgãos de notas doces, embalantes!
Dias sublimes! dias d' esplendores!
Calmas virgens de Sóis e de calores!
Cristalizadores primas enervantes!
Mares reais em trenos murmurantes!
Flêmulas-brisas de cetins de cores!
Promessas não mentidas, d' esperanças
A bailarem em olhos de crianças!
Lábios sorvendo o gosto a rósea calma!
Caudais de luz, de cor, de sons, d’odores!
Dias sublimes! dias d' esplendores!
Como vós contrastais com a minh'almo!”
António de Cardiellos, que começou por usar o nome literário de
Cardiellos Júnior, com que deu à estampa a sua primeira obra lírica,
o poemeto Pardal Morto, quiçá inspirado na Elegia Panteista a uma
Mosca Morta, do pré-simbolista Manuel Duarte de Almeida, era
amigo do Toy (António Homem de Mello, pai do Pedro), quase
vizinho da afifense quinta-convento de Cabanas, e de Alberto
d'Oliveira (outro monárquico poeta!) que ali vinha frequentemente
passar os Estios, retemperar a lira na admiração da velha magnólia
que ensombra e aromatiza a entrada, bebendo o levíssimo vinho
branco verde (“água doirada” chamou-lhe, num sonetilho) que a
extensa propriedade do antigo companheiro da Coimbra doutora
produz (ou produzia…não sei!). Foram estes dois escritores que lhe
conseguiram, até, graças à amizade (e aos laços familiares, no caso
do Toy) que os unia ao Conde d'Águeda, director de Soberania do
Povo, uma ass ídua
c o l a b o r a ç ã o n e s t e
periódico, subescrevendo
umas crónicas políticas,
onde manifestava a sua
simpatia pelos regimes
autoritários da Direita.
Em 1907, Cardiellos
embarca para Angola,
c o m o d e s p a c h a n t e
alfandegário, regressando
à metrópole logo no ano
seguinte, devido ao seu
estado de saúde físico e,
muito provavelmente,
psíquico, pois a poesia que
trouxe dessas paragens,
recolhida no livro Vida Negra, revela bem a sua incompatibilidade
sentimental com o meio ambiente, o seu horror ao solo e às gentes
que contactara. Todavia, Vida Negra permanece uma obra
curiosíssima, até por ser a primeira, em poesia, a denunciar a
oculta e vil escravatura, praticada pelo boçal e bárbaro roceiro,

30
como aquele cujo perfil o poeta desenha num mordaz soneto,
aproveitando para condenar a república que, três anos após,
avassalaria Portugal, com a sua ficção de liberdade, igualdade e
fraternidade:
“Um dos roceiros é republicano:
Ameaça a gente com a liberdade,
Afiançando para o fim deste ano
O grande advento da bernarnidade.
E, comprovando a fraternal bondade,
Fala da força necessária ao plano,
Da execução dum reaccionário abade,
De tal ministro ou tal palaciano.
Como a igualdade é dos programas novos
E a liberdade faz irmãos os povos,
Eu perguntei-lhe pelos seus escravos.
Ao bom do gajo aborreceu-lhe a história,
Que aos escarumbas não dá ele a glória
Dos imortais princípios dos seus bravos.”
Em 1896, Portugal responde virilmente, heroicamente, em África,
ao Ultimato inglês de 1890. Andam na boca e nos corações de
todos os bons patriotas os nomes de combates e combatentes
vitoriosos que consolidavam e apaziguavam o vasto império
ultramarino. Os poetas que tinham escrito versos violentos contra a
Inglaterra (e alguns contra D. Carlos I, injustamente acusado de
responsável pela atitude prepotente dá velha aliada) exultavam,
agora, com as Campanhas em Angola e Moçambique, colaborando
intensamente em revistas e jornais que se apressavam a dedicar
números e suplementos (“brindes aos leitores”, se chamavam
então) à acção dos nossos militares coloniais.
Também Cardiellos escreveu um soneto aos actores da gesta
africana: “Por isso eu vos saúdo, ó bélicos soldados,/Com a alegria
franca dos heróis antigos,/Quando lhes voltavam os filhos bem
amados///Das guerras acabadas para os lares amigos/Em busca de
aconchego aos peitos regelados,/Depois de derrotarem valentes
inimigos”.
Em 7 de Outubro de 1901, deve ter tido, mesmo, ocasião de ver de
perto um desses “bélicos soldados” (e um dos maiores!): Mousinho
de Albuquerque que, nomeado aio do Príncipe D. Luís Filipe”; ao
visitar Viana, se hospedaria, com o seu real pupilo, no Hotel Europa,
cujo dono era o pai do poeta. Foi, aliás, tal visita, muito nefasta para
o prestígio do herói de Chaimite, que se portou, diante das
deferências oficiais e populares, de forma arrogante e insolente,
provocando escândalo com a boémia nocturna a que se entregou na
minha cidade pacatamente provinciana, desprezando convenções e
regras palacianas de civilidade.
Sim, grandes são os militares no combate (sua função a sua glória),
mas pequenos no governo: eis o que Cardiellos conclui, cm 1908,
em contacto com as realidades angolanas, como é prova o soneto
Militarite:
“O mor dos cancros, desta pobre Angola/São, comcerteza, são os
militares/Que o reino exporta de contínuo, à cola/Das comissões e
dos melhores lugares.//(...)E como sempre se sucedem guerras/
Comandam eles todas estas terras,/Tudo dirigem e eis o mal, o
ardil.//Era já tempo d'acabar a história,/De separar a administração
da glória,/Dar à província um carácter civil.”
Em 1918, Viana do Castelo edita o seu órgão do Integralismo
Lusitano; Gazeta do Lima, dirigida pelo Dr. João da Rocha Páris. Ai,
António de Cardiellos publica alguns versos (inclusivamente, a sua
experiência de poesia modernista recém nascida no Orpheu de
1915, mas que não ganhou continuidade na lira do poeta), onde
sobressai o soneto Tradicionalistas, que melhor o afirma cantor
monárquico (um ano depois, na Monarquia do Norte, o escritor
sofreria os fenos da prisão):
“Feliz quem, como nós, pouco se importa
D'ideias novas, rancorosos pleitos:
Ó meu Amor, marchemos para a morte
Mas numa vido, isenta de defeitos!
Nós conservamos nos vaivens da sorte,
Os imutáveis corações d' eleitos:
Em almas d'hoje, o sentimento, o porte,
Dos velhos-tempos dos heróicos feitos.
Nós temos fé e caridade, esp'rança:
Também o afecto...essa loucura mansa.
E as ilusões que hão-de outra vez reinar.
Cremos em tudo quanto é grande e puro:
Na antiga Honra e no Talento obscuro.
No Rei, na Pátria, em Deus, no Amor, no Lar.”
Cardiellos morre em Vilar de Mouros, em 1953, deixando uma
extensíssima obra poética inédita em livro, mas dispersa por revistas
e jornais. Também cultivou o conto regional, deixando excelentes
exemplos in Civilização, dirigida por Campos Monteiro (outro
monárquico poeta) e Ferreira de Castro. A esmagadora maioria
desses versos dispersos trazem a característica dos títulos serem
substituídos por números. O que causava desagradável impressão
aos escritores bota-de-elástico seus conterrâneos. Num voluminho
farçola de sátiras às senhorias da minha pátria-pequena, dado à luz
em 1906 lá se assinala o facto, num estilo que se pretende de charge
ao Simbolismo perfilhado pelo poeta: “Este (Cardiellos) em voz
mefistofélica/Diz: que o Astral faz banzé./E receita aos dois
(interlocutores), pasmados,/Boreais medianímicos,/E outros mais
psico-químicos/Com sonetos numerados.”
António de Cardiellos precisava bem que se lhe reunisse a opera
omnia em tomos. Não basta que, de quando em vez, alguém lhe
lembre a poesia e, sobre ela e sobre o seu autor, alinhe, como estas
umas “mal notadas regras”.
Nota de Redacção: no original deste artigo para além de uma caricatura de
António de Cardiellos, há também uma fotografia sua, que de igual modo se
reproduz, apesar de a qualidade não ser a ideal, não obstante as nossas
tentativas para conseguir uma fotografia de qualidade.
António Manuel Couto Viana
1 Publicado no Jornal “Monarquia Portuguesa”, n.º 13, pág. 9, 1983.
Sendo um dos objectivos da Real Gazeta do Alto Minho a divulgação da Cu l tu ra Por tu gu esa ,
publicamos agora o 9.º artigo dedicado aos Poetas Monárquicos Portugueses.

31
Rei dos Portugueses presente no 630.º aniversário do encontro entre D. João I e o Duque de Lencastre
Ponte do Mouro Medieval, foi o nome escolhido pela
“Buraca da Moura – Associação Cultural, Desportiva e
Recreativa de Barbeita”, para o evento que comemorou o
630.º Aniversário do encontro entre D. João I e o Duque de
Lancastre, que decorreu na vila de Monção e no lugar de
Ponte do Mouro, freguesias de Barbeita e Ceivães e que
contou com a colaboração da Real Associação de Viana do
Castelo.
Monção, Ponte do Mouro, 10 a 12 de Junho

32
Sua Alteza Real o Senhor
D. Duarte Pio, na
qualidade de Chefe da
Casa Real Portuguesa e o
Marquês de Lavradio, o
S e n h o r D . J a i m e
d’Almeida, na qualidade de
Chefe do nome e armas
dos Lancastres em
Portuga l , e s t i verem
presentes no evento,
respondendo ao convite
que lhes foi endereçado
pelas três entidades
envolvidas na organização:
Buraca da Moura –
Associação Cultural ,
Desportiva e Recreativa
de Barbeita, Município de
Monção e Real Associação
de Viana do Castelo.
A sessão de abertura
ocorreu no dia 10 de Junho, dia de Portugal, no Cine-Teatro
João Verde em Monção, com uma conferência cujo tema era o
encontro destas duas figuras do século XIV, e teve como
palestrantes o Prof. Dr. Luís Adão da Fonseca, que abordou a
“Génese e contexto histórico da aliança anglo-portuguesa de
1386” e o Dr. Alberto Antunes Abreu que falou sobre “O
encontro de D. João I e o duque de Lencastre – Ponte do
Mouro”. Intervieram também como moderador o Dr. José
Emílio Moreira e a Dr.ª Odete Barra que explicou o “Plano de
pormenor de salvaguarda e valorização da Ponte do
Mouro”.
Sua Alteza Real o Senhor D. Duarte Pio, duque de Bragança,
em v i r tude de
c o m p r o m i s s o s
a n t e r i o r m e n t e
assumidos, não esteve
presente nesta parte
do evento, pois, como
vem sendo hábito,
p a r t i c i p o u n a
c e r i m ó n i a d e
homenagem a todos
os Portugueses que
tombaram em defesa
da Pátria, realizada

33
junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar, em
Belém, Lisboa.
Ao início da noite, do dia 10 de Junho, no Convento dos
Capuchos - Hotel Rural em Monção teve lugar a
recepção e as boas-vindas a Sua Alteza Real, o
Senhor D. Duarte, Duque de Bragança e aos
Marqueses de Lavradio, pelo Eng.º Augusto de
Oliveira Domingues, Presidente da Câmara
Municipal de Monção e outras personalidades, a que se
seguiu um Jantar Solidário, com vinhos oferecidos pela
“Provam, empresa monçanense, sediada em Barbeita, que
promoveu a edição de um selo especial para a garrafas de
vinho do Jantar.
A receita desta iniciativa solidária reverteu para o Centro
Paroquial e Social de Barbeita.
No início do jantar, os participantes foram brindados com uma
excelente actuação do Grupo de Cavaquinhos “Os Teimosos”,
de Monção, que ofereceram a Sua Alteza Real o Senhor D.
Duarte, o primeiro CD do grupo, que ia ser lançado no dia
seguinte.
Sábado, dia 11 de Junho, teve lugar a recepção a Sua Alteza Real
o Senhor D. Duarte, Duque de Bragança e aos Marqueses de
Lavradio, no Museu do Alvarinho em Monção, pelo Presidente
da Câmara Municipal de Monção, Eng.º Augusto de Oliveira
Domingues, acompanhado de outros elementos da vereação,
estando também presentes diversas individualidades, locais e
nacionais, como o Presidente da Assembleia Municipal de
Monção, Sr. António Manuel Gonçalves Simões, o presidente da
Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL), Eng.º Luís
Ceia, o presidente da Direcção da Real Associação de Viana do
Castelo, Dr. José Aníbal Marinho Gomes, o presidente da
Direcção da Causa Real, Dr. António de Souza-Cardoso, o
presidente da Direcção da Real Associação de Braga, Dr.
Gonçalo Pimenta de Castro, o presidente da direcção da Real
Associação da Beira Litoral, Eng.º Fábio Fernandes. De referir
ainda a presença do Dr. Pedro Giestal, D. José de Almada e de
Paulo da Cunha, membros da direcção da Real Associação de
Viana do Castelo, e do Sr. Rui Evangelista, associado da Real
Associação de Viana do Castelo, que reside em Ponte de Mouro
e foi primeiro interlocutor nesta iniciativa, para além de outros
associados de diversas Reais Associações. Estiveram também
presentes vários membros da “Buraca da Moura”
designadamente o seu presidente, Eng.º David Costa e a Dr. ª
Sandra Vieites, responsável pelo projecto Ponte de Mouro
Medieval.
Aqui, foram explicadas aos presentes algumas questões
relacionadas com o vinho alvarinho, desde a plantação das
videiras, até às vindimas, seguindo-se uma prova de vinhos,
aproveitando o Senhor Dom Duarte, para destacar a paixão e
coragem dos agricultores/viticultores monçanenses: “Nas últimas
décadas, a agricultura tem sido muito maltratada. Contudo, em
Monção, tem havia uma enorme vontade em promover os seus
recursos endógenos, entre os quais, o vinho Alvarinho. Um acto de

34
paixão e de grande coragem”.
Sua Alteza Real, o Senhor D. Duarte Pio e D. Jaime d’Almeida,
Marquês de Lavradio, receberam, respectivamente das mãos do
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monção e da Dr.ª
Conceição Soares, Vice-Presidente da autarquia, um dos
símbolos de Monção - a Coca!, feita pela delegação de Monção
da APPCDM, oferta reservada pela autarquia para os visitantes
ilustres.
Concluída a recepção, os ilustres convidados assistiram à
apresentação do Plano de Pormenor de Salvaguarda e
Valorização da Ponte do Mouro, pela Dr.ª Odete Barra,
arqueóloga do Município de Monção, tendo o Duque de
Bragança endereçado os parabéns à autarquia “pelo excelente
trabalho na valorização do património construído existente no
concelho, promovendo a requalificação dos seus espaços culturais e
turísticos de uma forma sustentada e sem adulterar a arquitetura
original”.
Após o que teve lugar na Praça Deu-la-Deu Martins, uma
saudação a S.A.R. o Duque de Bragança, efectuada por ex-
combatentes do Ultramar, seguida de deposição de coroa de
flores no monumento “À Memória dos Combatentes do
Concelho de Monção mortos pela Pátria na guerra do
Ultramar”, com uma guarda de honra constituída por um clarim

35
e uma secção do Regimento de Cavalaria n.º 6 de Braga.
Finda esta cerimónia a comitiva dirigiu-se para o Restaurante
Ponte Velha, em Ponte do Mouro, Barbeita onde decorreu um
almoço restrito aos convidados.
No cumprimento do programa, teve lugar às 15h00 a abertura
oficial do Mercado Medieval de Ponte do Mouro, por Sua Alteza
Real o Senhor Dom Duarte de Bragança, que aproveitou para
referir que “este evento, ao trazer até aos nossos dias um passado
glorioso, como o nosso, é
importante para que todos os
portugueses tenham orgulho no
seu país”, concluindo que “estas
iniciativas relembram o papel de
Portugal no mundo, trazendo á
memória de todos os grandes
feitos da nossa Nação”. Por sua
vez o Eng . º Augu s to
Domingues referiu que “Depois
disto, a Ponte do Mouro, será
mais do que uma ponte sobre um
belo rio, o rio Mouro. Depois
disto, a Ponte do Mouro ficará
eternamente ligada ao nosso
passado. Um passado que enche
d e o r g u l h o t o d o s o s
Monçanenses”.
Seguiu-se o descerramento, no local, de uma Placa
comemorativa do evento, por S.A.R. o Senhor Dom Duarte Pio,
Duque de Bragança, D. Jaime d’Almeida, Marquês de Lavradio e
pelo Eng.º Augusto de Oliveira Domingues, Presidente da
Câmara Municipal de Monção, onde estiveram também
presentes o Presidente da Assembleia Municipal, Sr. António
Manuel Gonçalves Simões e a Dr.ª Sandra Vieites, em
representação da organização Ponte do Mouro Medieval, a

q u e a s s i s t i r a m
milhares de pessoas.
S. A. R. o Senhor D.
Duarte, andou pelo
recinto do mercado
onde contactou e
cumprimentou muita
gente e foi muito
acarinhado por todos
com quem se cruzava,
sendo visível no rosto
das pessoas a alegria
de estarem perante o
Rei dos Portugueses,
não faltando “Vivas ao
Rei”!
Ainda na freguesia de
Barbeita, teve lugar uma
v i s i t a à P r o v a m -
Produtores de Vinho
Alvarinho de Monção,
sociedade constituída por
1 0 v i t i c u l t o r e s ,
representada, nesta visita,
pelo associado Manuel
Baptista, com degustação
de produtos regionais,
onde foram explicadas,
pelo enólogo da empresa,
Eng.º Abel Codesso, as
várias etapas da produção
do vinho e do espumante
e do seu armazenamento
e colocação nos mercados
nacional e internacional.
Realizou-se ainda uma visita ao Centro Paroquial
e Social de Barbeita, após convite efectuado pelo
Sr. Padre Américo da Rocha Alves, que embora
não estivesse no programa, foi aceite pelos
presentes. No local, S. A. R., o Duque de
Bragança e os Marqueses de Lavradio, puderam
observar as diversas valências que a instituição
oferece à população.
À noite, no Convento dos Capuchos-Hotel
Rural, decorreu um jantar de carácter restrito
com as Reais Associações do Minho, onde
estiveram presentes o Duque de Bragança, os
Marqueses de Lavradio, D. Jaime d’Almeida e D.
Teresa Lavradio, o Dr. José Aníbal Marinho
Gomes, Presidente da Direcção da Real
Associação de Viana do Castelo e sua mulher a
Dr.ª Paula Leite Marinho. Por convite do Dr.
José Aníbal Marinho, estiveram presentes o
Presidente da Direcção da Real Associação de
Braga, o Dr. Gonçalo Pimenta de Castro, a Vice-
Presidente da Direcção, a Dr. ª Gabriela
Sequeira e o Arq.º Luís Sequeira.
S. A. R. D. Duarte de Bragança e os Marqueses
de Lavradio pernoitaram no hotel, tendo
regressado a Lisboa no domingo de manhã, mas
em Ponte do Mouro a comemoração do
aniversário do encontro entre D. João I e o
duque inglês continuou.
Ficha Técnica
TÍTULO: Real Gazeta do Alto Minho
PROPRIEDADE: Real Associação de Viana do Castelo
PERIODICIDADE: Trimestral
DIRECTOR: José Aníbal Marinho Gomes REDACTOR: Porfírio Silva WEB: www.realvcastelo.pt
E-MAIL: [email protected]
REAL ASSOCIAÇÃO DE VIANA DO CASTELO Casa de Santiago Barrosa – Arcozelo 4990-253 PONTE DE LIMA (morada para correspondência)
Top Related