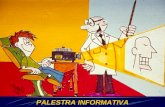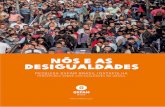· LA PORTESA 3 Para ler e entender um texto é preciso atingir dois níveis de leitura:...
Transcript of · LA PORTESA 3 Para ler e entender um texto é preciso atingir dois níveis de leitura:...

LÍNGUA PORTUGUESA
3
Para ler e entender um texto é preciso atingir dois níveis de leitura: informativa e de reconhecimento. A primeira deve ser feita cuidadosamente por ser o primeiro contato com o texto, extraindo-se informações e se preparando para a leitura interpretativa. Durante a interpretação grife palavras-chave, passagens importantes; tente ligar uma palavra à ideia central de cada parágrafo.
A última fase de interpretação concentra-se nas perguntas e opções de respostas. Marque palavras como não, exceto, respectivamente, etc., pois fazem diferença na escolha adequada. Retorne ao texto mesmo que pareça ser perda de tempo. Leia a frase anterior e posterior para ter ideia do sentido global proposto pelo autor.
Um texto para ser compreendido deve apresentar ideias seletas e organizadas, através dos parágrafos que é composto pela ideia central, argumentação e/ou desenvolvimento e a conclusão do texto. A alusão histórica serve para dividir o texto em pontos menores, tendo em vista os diversos enfoques. Convencionalmente, o parágrafo é indicado através da mudança de linha e um espaçamento da margem esquerda. Uma das partes bem distintas do parágrafo é o tópico frasal, ou seja, a ideia central extraída de maneira clara e resumida. Atentando-se para a ideia principal de cada parágrafo, asseguramos um caminho que nos levará à compreensão do texto.
Produzir um texto é semelhante à arte de produzir um tecido. O fio deve ser trabalhado com muito cuidado para que o trabalho não se perca. O mesmo acontece com o texto. O ato de escrever toma de empréstimo uma série de palavras e expressões amarrando, conectando uma palavra, uma oração, uma ideia à outra. O texto precisa ser coeso e coerente.
Coesão: é a amarração entre as várias partes do texto. Os principais elementos de coesão são os conectivos, vocábulos gramaticais, que estabelecem conexão entre palavras ou partes de uma frase. O texto deve ser organizado por nexos adequados, com sequência de ideias encadeadas logicamente, evitando frases e períodos desconexos. Para perceber a falta de coesão, a melhor atitude é ler atentamente o seu texto, procurando estabelecer as possíveis relações entre palavras que formam a oração e as orações que formam o período e, finalmente, entre os vários períodos que formam o texto. Um texto bem trabalhado sintática e semanticamente resultam num texto coeso.
Coerência: está diretamente ligada à possibilidade de estabelecer um sentido para o texto, ou seja, ela é o que faz com que o texto faça sentido para quem lê, devendo, portanto, ser entendida, interpretada. Na avaliação da coerência será levado em conta o tipo de texto. Em um texto dissertativo, será avaliada a capacidade de relacionar os argumentos e de organizá-los de forma a extrair deles conclusões apropriadas; num texto narrativo, será avaliada sua capacidade de construir personagens e de relacionar ações e motivações.
Textos Ficcionais e Não Ficcionais
Os textos não ficcionais baseiam-se na realidade, e os ficcionais inventam um mundo, onde os acontecimentos ocorrem coerentemente com o que se passa no enredo da história.
Ficcionais: Conto; Crônica; Romance; Poemas; História em Quadrinhos.
Não Ficcionais: notícia, editorial, artigos, cartas e textos de divulgação científica, listas, receitas, bulas, folhetos, carta (familiar ou comercial), bilhetes, manual de instrução.
FICCIONAIS
CONTO
É uma obra de ficção que cria um universo de seres e acontecimentos, de fantasia ou imaginação. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e enredo. Em Angola e Moçambique é comum o termo estória para se referir a conto. Classicamente, diz-se que o conto se define pela sua pequena extensão. Mais curto que a novela ou o romance, o conto tem uma estrutura fechada, desenvolve uma história e tem apenas um clímax. Num romance, a trama desdobra-se em conflitos secundários, o que não acontece com o conto. O conto é conciso. Exemplo:
As mãos dos pretos Já não sei a que propósito é que isso vinha, mas o Senhor
Professor disse um dia que as palmas das mãos dos pretos são mais claras do que o resto do corpo porque ainda há poucos séculos os avós deles andavam com elas apoiadas ao chão, como os bichos do mato, sem as exporem ao sol, que lhes ia escurecendo o corpo. Lembrei-me disso quando o Senhor Padre, depois de dizer na catequese que nós não prestávamos mesmo para nada e que até os pretos eram melhores do que nós, voltou a falar nisso de as mãos deles serem mais claras, dizendo que isso era assim porque eles, às escondidas, andavam sempre de mãos postas, a rezar.
Eu achei um piadão tal a essa coisa de as mãos dos pretos serem mais claras que agora é ver-me a não largar seja quem for enquanto não me disser por que é que eles têm as palmas das mãos assim mais claras. A Dona Dores, por exemplo, disse-me que Deus fez-lhes as mãos assim mais claras para não sujarem a comida que fazem para os seus patrões ou qualquer outra coisa que lhes mandem fazer e que não deva ficar senão limpa.
O Senhor Antunes da Coca-Cola, que só aparece na vila de vez em quando, quando as coca-colas das cantinas já tenham sid0 todas vendidas, disse que tudo o que me tinham contado era aldrabice. Claro que não sei realmente se era, mas ele garantiu-me que era. Depois de eu lhe dizer que sim, que era aldrabice, ele contou então o que sabia desta coisa das mãos dos pretos. Assim:
“Antigamente, há muitos anos, Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, Virgem Maria, São Pedro, muitos outros santos, todos os anjos que nessa altura estavam no céu e algumas pessoas que tinham morrido e ido para o céu, fizeram uma reunião e resolveram fazer pretos. Sabes como? Pegaram em barro, enfiaram-no em moldes usados para cozer o barro das criaturas, levaram-nas para os fornos celestes; como tinham pressa e não houvesse lugar nenhum ao pé do brasido, penduraram-nas nas chaminés. Fumo, fumo, fumo e aí os tens escurinhos como carvões. E tu agora queres saber por que é que as mãos deles ficaram brancas? Pois então se eles tiveram de se agarrar enquanto o barro deles cozia?!”
Depois de contar isto o Senhor Antunes e os outros Senhores que estavam à minha volta desataram a rir, todos satisfeitos. Nesse mesmo dia, o Senhor Frias chamou-me, depois de o Senhor Antunes de ter ido embora e disse-me que tudo o que eu tinha estado para ali a ouvir de boca aberta era uma grandessíssima peta. Coisa certa e certinha sobre isso das mãos dos pretos era o que ele sabia: que Deus acabava de fazer os homens e mandava-os tomar banho num lago do céu. Depois do banho as pessoas estavam branquinhas. Os pretos, como foram feitos de madrugada e a essa hora a água do lago estivesse muito fria, só tinham molhado as palmas das mãos e as plantas dos pés, antes de se vestirem e virem para o mundo.

LÍNGUA PORTUGUESA
4
Mas eu li num livro, que por acaso falava nisso, que os pretos têm as mãos assim mais claras por viverem encurvados, sempre a apanhar o algodão branco de Virgínia e de mais não sei onde. Já se vê que a Dona Estefânia não concordou quando eu lhe disse isso. Para ela é só por as mãos desbotarem à força de tão lavadas. Bem, eu não sei o que vá pensar disso tudo, mas a verdade é que ainda que calosas e gretadas, as mãos dum preto são sempre mais claras do que todo o resto dele.
A minha mãe é a única que deve ter razão sobre essa questão de as mãos de um preto serem mais claras do que o resto do corpo. No dia em que falamos nisso, eu e ela, estava-lhe eu ainda a contar o que já sabia dessa questão e ela já estava farta de se rir. O que eu achei esquisito foi que ela não me dissesse logo o que pensava disso tudo, quando eu quis saber, e só tivesse respondido depois de se fartar de ver que eu não me cansava de insistir sobre a coisa, e mesmo assim a chorar, agarrada à barriga como quem não pode mais de tanto rir. O que ela disse foi mais ou menos isto:
“Deus fez os pretos porque os tinha de haver. Tinha de os haver, meu filho, Ele pensou que realmente tinha de o haver… Depois arrependeu-se de os ter feito porque os outros homens se riam deles e levavam-nos para as casas deles para os pôr a servir como escravos ou pouco mais. Mas como Ele já os não pudesse fazer ficar todos brancos porque os que já se tinham habituado a vê-los pretos reclamariam, fez com que as palmas das mãos deles ficassem exatamente como as palmas das mãos dos outros homens. E sabes porque é que foi? Claro que não sabes e não admira porque muitos e muitos não sabem. Pois olha: foi para mostrar que o que os homens fazem é apenas obra dos homens. Deve ter sido a pensar assim que ele fez com que as mãos dos pretos fossem iguais às mãos dos homens que dão graças a Deus por não serem pretos”.
Depois de dizer isso tudo, a minha mãe beijou-me as mãos. Quando fugi para o quintal, para jogar à bola, ia a pensar que nunca tinha visto uma pessoa a chorar tanto sem que ninguém lhe tivesse batido.
HONWANA, Luís Bernardo, Moçambique: 2008.
CRÔNICA
Na literatura e no jornalismo, uma crônica é uma narração curta, produzida essencialmente para ser veiculada na imprensa, seja nas páginas de uma revista, seja nas páginas de um jornal. Possui assim uma finalidade utilitária e pré-determinada: agradar aos leitores dentro de um espaço sempre igual e com a mesma localização, criando-se assim, no transcurso dos dias ou das semanas, uma familiaridade entre o escritor e aqueles que o leem. Geralmente, as crônicas apresentam linguagem simples, espontânea, situada entre a linguagem oral e a literária. Isso contribui também para que o leitor se identifique com o cronista, que acaba se tornando o porta-voz daquele que lê.
Em resumo, podemos determinar cinco pontos:- Narração histórica pela ordem do tempo em que se deram os
fatos.- Seção ou artigo especial sobre literatura, assuntos científicos,
esporte etc., em jornal ou outro periódico.- Pequeno conto baseado em algo do cotidiano.- Normalmente possui uma crítica indireta.- Muitas vezes a crônica vem escrita em tom humorístico.
O piquenique das tartarugas
Uma família de tartarugas decidiu sair para um piquenique. As tartarugas, sendo naturalmente lentas, levaram 7 anos preparando-se para o passeio. Passados 6 meses, após acharem o lugar ideal, ao desembalarem a cesta de piquenique descobriram que estavam sem sal.
Então, designaram a tartaruga mais nova para voltar para casa e pegar o sal, por ser a mais rápida. A pequena tartaruga lamentou, chorou e esperneou, mas concordou em ir com uma condição: que ninguém comeria até que ela retornasse.
Três anos se passaram... Seis anos... E a pequenina não tinha retornado. Ao sétimo ano de sua ausência, a tartaruga mais velha já não suportando mais a fome, decidiu desembalar um sanduíche.
Nesta hora, a pequena tartaruga saiu de trás de uma árvore e gritou:
- Viu! Eu sabia que vocês não iam me esperar. Agora que eu não vou mesmo buscar o sal.
Millôr Fernandes
Pense bem! Algumas vezes em nossa vida as coisas acontecem da mesma forma. Desperdiçamos nosso tempo esperando que as pessoas vivam à altura de nossas expectativas. Ficamos tão preocupados com o que os outros estão fazendo que deixamos de fazer o que nos compete.
ROMANCE
É a narração mais conhecida, além de ser a preferida entre os leitores. A estrutura desse tipo de narrativa é complexa, já que não acomoda apenas um núcleo, mas várias tramas se desencadeiam durante a narração da história principal. Chama-se romance porque se tornou conhecido a partir do Romantismo, apesar de a sua raiz é de antes, do Realismo. Os romances realistas são mais fiéis a esse tipo de texto, tanto na sua estrutura quanto no tipo de abordagem, na crítica social, na descrição minuciosa, etc.
Organiza-se a partir de uma trama, ou seja, em torno dos acontecimentos que são organizados em uma sequência temporal. A linguagem utilizada em um Romance é muito variável, vai depender de quem escreve, de uma boa diferenciação entre linguagem escrita e linguagem oral e principalmente do tipo de Romance.
POEMA
Poema é um gênero textual em versos e, mais raramente, em prosa em que a poesia, forma de expressão estética através da língua, geralmente se manifesta. Além dos versos, não obrigatoriamente, fazem parte da estrutura do poema as estrofes, a rima e a métrica. Conforme a disposição dos versos e dos outros elementos estruturais, os poemas podem receber classificações ou nomes específicos (ou ser considerados gêneros literários próprios) tais como rapanha, haicai, poema-colagem, soneto, poema dramático, poema figurado, epopeia, etc.
Fortemente relacionado com a música, beleza e arte, o poema tem as suas raízes históricas nas letras de acompanhamento de peças musicais. Até a Idade Média, os poemas eram cantados. Só depois o texto foi separado do acompanhamento musical. Tal como na música, o ritmo tem uma grande importância. Exemplo:

LÍNGUA PORTUGUESA
5
Rondó Rondó dos CavalinhosOs cavalinhos correndo,E nós, cavalões, comendo...Tua beleza, Esmeralda,Acabou me enlouquecendo. Os cavalinhos correndo,E nós, cavalões, comendo...O sol tão claro lá foraE em minhalma - anoitecendo! Os cavalinhos correndo,E nós, cavalões, comendo...Alfonso Reys partindo,E tanta gente ficando... Os cavalinhos correndo,E nós, cavalões, comendo...A Itália falando grosso,A Europa se avacalhando... Os cavalinhos correndo,E nós, cavalões, comendo...O Brasil politicando,Nossa! A poesia morrendo...O sol tão claro lá fora,O sol tão claro, Esmeralda,E em minhalma - anoitecendo!
Manuel Bandeira
HISTÓRIA EM QUADRINHOS
As primeiras manifestações das Histórias em Quadrinhos surgiram no começo do século XX, na busca de novos meios de comunicação e expressão gráfica e visual. Entre os primeiros autores das histórias em quadrinhos estão o suíço Rudolph Töpffer, o alemão Wilhelm Bush, o francês Georges, e o brasileiro Ângelo Agostini. A origem dos balões presentes nas histórias em quadrinhos pode ser atribuída a personagens, observadas em ilustrações europeias desde o século XIV.
As histórias em quadrinhos começaram no Brasil no século XIX, adotando um estilo satírico conhecido como cartuns, charges ou caricaturas e que depois se estabeleceria com as populares tiras. A publicação de revistas próprias de histórias em quadrinhos no Brasil começou no início do século XX também. Atualmente, o estilo cômicos dos super-heróis americanos é o predominante, mas vem perdendo espaço para uma expansão muito rápida dos quadrinhos japoneses (conhecidos como Mangá).
A leitura interpretativa de Histórias em Quadrinhos, assim como de charges, requer uma construção de sentidos que, para que ocorra, é necessário mobilizar alguns processos de significação, como a percepção da atualidade, a representação do mundo, a observação dos detalhes visuais e/ou linguísticos, a transformação de linguagem conotativa (sentido mais usual) em denotativa (sentido amplificado pelo contexto, pelos aspetos socioculturais etc). Em suma, usa-se o conhecimento da realidade e de processos linguísticos para “inverter” ou “subverter” produzindo, assim, sentidos alternativos a partir de situações extremas. Exemplo:
Observe a tirinha em quadrinhos do Calvin:
NÃO FICCIONAIS
NOTÍCIA
O principal objetivo da notícia é levar informação atual a um público específico. A notícia conta o que ocorreu, quando, onde, como e por quê. Para verificar se ela está bem elaborada, o emissor deve responder às perguntas: O quê? (fato ou fatos); Quando? (tempo); Onde? (local); Como? (de que forma) e Por quê? (causas). A notícia apresenta três partes:
- Manchete (ou título principal) – resume, com objetividade, o assunto da notícia. Essa frase curta e de impacto, em geral, aparece em letras grandes e destacadas.
- Lide (ou lead) – complementa o título principal, fornecendo as principais informações da notícia. Como a manchete, sua função é despertar a atenção do leitor para o texto.
- Corpo – contém o desenvolvimento mais amplo e detalhado dos fatos.
A notícia usa uma linguagem formal, que segue a norma culta da língua. A ordem direta, a voz ativa, os verbos de ação e as frases curtas permitem fluir as ideias. É preferível a linguagem acessível e simples. Evite gírias, termos coloquiais e frases intercaladas.
Os fatos, em geral, são apresentados de forma impessoal e escritos em 3ª pessoa, com o predomínio da função referencial, já que esse texto visa à informação.
A falta de tempo do leitor exige a seleção das informações mais relevantes, vocabulário preciso e termos específicos que o ajudem a compreender melhor os fatos. Em jornais ou revistas impressos ou on-line, e em programas de rádio ou televisão, a informação transmitida pela notícia precisa ser verídica, atual e despertar o interesse do leitor.
EDITORIAL
Os editoriais são textos de um jornal em que o conteúdo expressa a opinião da empresa, da direção ou da equipe de redação, sem a obrigação de ter alguma imparcialidade ou objetividade. Geralmente, grandes jornais reservam um espaço predeterminado para os editoriais em duas ou mais colunas logo nas primeiras páginas internas. Os boxes (quadros) dos editoriais são normalmente demarcados com uma borda ou tipografia diferente para marcar claramente que aquele texto é opinativo, e não informativo. Exemplo:
Estação Espacial Internacional faz 15 anos
A Estação Espacial Internacional (EEI), a plataforma para a colonização humana de outros planetas, cumpre 15 anos em perfeito estado e com planos de prolongar a sua existência pelo menos por mais uma década. “Os planos iniciais eram que a estação funcionaria entre 10 a 15 anos, mas agora temos a certeza que poderemos prolongar a sua vida, pelo menos, durante outra década”, assegurou à agência espanhola Efe Serguéi Gorbunov, porta-voz da agência espacial russa, Roscosmos.

LÍNGUA PORTUGUESA
6
Roscomos, a NASA, a Agência Espacial Europeia, que também estão a sofrer os impactos da crise econômica global, e os restantes países envolvidos no projeto acordaram que a EEI funcione até 2020. A construção da plataforma arrancou a 20 de novembro de 1998, 25 anos após do acordo alcançado por Moscovo e Washington, com o lançamento do módulo russo “Zaryá” (Aurora), a que se seguiu o norte-americano “Unity”.
Os seus primeiros inquilinos foram os russos Yuri Gidzenko y Serguéi Krikaliov e o norte-americano William Shepherd, a primeira das 39 tripulações que ocuparam a estação nestes 13 anos. Desde então, as condições de vida têm melhorado e atualmente os astronautas contam com todo o tipo de comodidades, desde ginásio a biblioteca.
Fonte: DN-Ciências - por Lusa, publicado por Luís Manuel Cabral
ARTIGOS
É comum encontrar circulando no rádio, na TV, nas revistas, nos jornais, temas polêmicos que exigem uma posição por parte dos ouvintes, espectadores e leitores, por isso, o autor geralmente apresenta seu ponto de vista sobre o tema em questão através do artigo (texto jornalístico).
Nos gêneros argumentativos, o autor geralmente tem a intenção de convencer seus interlocutores e, para isso, precisa apresentar bons argumentos, que consistem em verdades e opiniões. O artigo de opinião é fundamentado em impressões pessoais do autor do texto e, por isso, são fáceis de contestar.
O artigo deve começar com uma breve introdução, que descreva sucintamente o tema e refira os pontos mais importantes. Um leitor deve conseguir formar uma ideia clara sobre o assunto e o conteúdo do artigo ao ler apenas a introdução. Por favor tenha em mente que embora esteja familiarizado com o tema sobre o qual está a escrever, outros leitores da podem não o estar. Assim, é importante clarificar cedo o contexto do artigo. Por exemplo, em vez de escrever:
Guano é um personagem que faz o papel de mascote do grupo Lily Mu. Seria mais informativo escrever:
Guano é um personagem da série de desenho animado Kappa Mikey que faz o papel de mascote do grupo Lily Mu.
Caracterize o assunto, especialmente se existirem opiniões diferentes sobre o tema. Seja objetivo. Evite o uso de eufemismos e de calão ou gíria, e explique o jargão. No final do artigo deve listar as referências utilizadas, e ao longo do artigo deve citar a fonte das afirmações feitas, especialmente se estas forem controversas ou suscitarem dúvidas.
CARTAS
Na maioria dos jornais e revistas, há uma seção destinada a cartas do leitor. Ela oferece um espaço para o leitor elogiar ou criticar uma matéria publicada, ou fazer sugestões. Os comentários podem referir-se às ideias de um texto, com as quais o leitor concorda ou não; à maneira como o assunto foi abordado; ou à qualidade do texto em si. É possível também fazer alusão a outras cartas de leitores, para concordar ou não com o ponto de vista expresso nelas. A linguagem da carta costuma variar conforme o perfil dos leitores da publicação. Pode ser mais descontraída, se o público é jovem, ou ter um aspecto mais formal. Esse tipo de carta apresenta formato parecido com o das cartas pessoais: data, vocativo (a quem ela é dirigida), corpo do texto, despedida e assinatura.
TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
Sua finalidade discursiva pauta-se pela divulgação de conhecimentos acerca do saber científico, assemelhando-se, portanto, com os demais gêneros circundantes no meio educacional como um todo, entre eles, textos didáticos e verbetes de enciclopédias. Mediante tal pressuposto, já temos a ideia do caráter condizente à linguagem, uma vez que esta se perfaz de características marcantes - a objetividade, isentando-se de traços pessoais por parte do emissor, como também por obedecer ao padrão formal da língua. Outro aspecto passível de destaque é o fato de que no texto científico, às vezes, temos a oportunidade de nos deparar com determinadas terminologias e conceitos próprios da área científica a que eles se referem.
Veiculados por diversos meios de comunicação, seja em jornais, revistas, livros ou meio eletrônico, compartilham-se com uma gama de interlocutores. Razão esta que incide na forma como se estruturam, não seguindo um padrão rígido, uma vez que este se interliga a vários fatores, tais como: assunto, público-alvo, emissor, momento histórico, dentre outros. Mas, geralmente, no primeiro e segundo parágrafos, o autor expõe a ideia principal, sendo representada por uma ideia ou conceito. Nos parágrafos que seguem, ocorre o desenvolvimento propriamente dito da ideia, lembrando que tais argumentos são subsidiados em fontes verdadeiramente passíveis de comprovação - comparações, dados estatísticos, relações de causa e efeito, dentre outras.
LISTAS
Enumeração de elementos selecionados do texto, tais como datas, ilustrações, exemplo, tabelas etc., na ordem de sua ocorrência.
RECEITAS
A receita tem como objetivo informar a fórmula de um produto seja ele industrial ou caseiro, contando detalhadamente sobre seu preparo. É uma sequência de passos para a preparação de alimentos. As receitas geralmente vêm com seus verbos no modo imperativo, para dar ordens de como preparar seu prato seja ele qual for. Elas são encontradas em diversas fontes como: livros, sites, programas (TV/Rádio), revistas ou até mesmo em jornais e panfletos. A receita também ajuda a fazer vários tipos de pratos típicos e saudáveis e até sobremesas deliciosas.
BULAS
Bula pode referir-se a:
Bula Pontifícia - documento expedido pela Santa Sé. Refere-se não ao conteúdo e à solenidade de um documento pontifício, como tal, mas à apresentação, à forma externa do documento, a saber, lacrado com pequena bola (em latim, “bulla”) de cera ou metal, em geral, chumbo. Assim, existem Litterae Apostolicae (carta apostólica) em forma ou não de bula e também Constituição Apostólica em forma de bula. Por exemplo, a carta apostólica “Munificentissimus Deus”, bem como as Constituições Apostólicas de criação de dioceses. A bula mais antiga que se conhece é do Papa Agapito I (535), conservada apenas em desenho. O mais antigo original conservado é do Papa Adeodato I (615-618).

LÍNGUA PORTUGUESA
7
Bula (medicamento) - folha com informações sobre medicamentos. Nome que se dá ao conjunto de informações sobre um medicamento que obrigatoriamente os laboratórios farmacêuticos devem acrescentar à embalagem de seus produtos vendidos no varejo. As informações podem ser direcionadas aos usuários dos medicamentos, aos profissionais de saúde ou a ambos.
FOLHETOS
Um folheto, ou panfleto é um meio de divulgação de uma ideia ou marca, feito de papel e de fácil maneabilidade. Por seu baixo custo é muito utilizado para atingir grandes públicos em pouco tempo. Os folhetos visam apresentar, numa circulação rápida, de mão em mão, mimeografados ou fotocopiados, ideias, opiniões ou informações sobre diversos assuntos, como por exemplo publicidade de um produto, orientação ou ajuda num determinado local, ou ainda a exposição de qualquer tipo de produção artística ou política, entre outros.
CARTAS FAMILIARES E CARTAS FORMAIS
A carta é um dos instrumentos mais úteis em situações diversas. É um dos mais antigos meios de comunicação. Em uma carta formal é preciso ter cuidado na coerência do tratamento, por exemplo, se começamos a carta no tratamento em terceira pessoa devemos ir até o fim em terceira pessoa, seguindo também os pronomes e formas verbais na terceira pessoa. Há vários tipos de cartas, o formato da carta depende do seu conteúdo:
- Carta Pessoal é a carta que escrevemos para amigos, parentes, namorado(a), o remetente é a própria pessoa que assina a carta, estas cartas não têm um modelo pronto, são escritas de uma maneira particular.
- Carta Comercial se torna o meio mais efetivo e seguro de comunicação dentro de uma organização. A linguagem deve ser clara, simples, correta e objetiva.
A carta ao ser escrita deve ser primeiramente bem analisada em termos de língua portuguesa, ou seja, deve-se observar a concordância, a pontuação e a maneira de escrever com início, meio e então o fim, contendo também um cabeçalho e se for uma carta formal, deve conter pronomes de tratamento (Senhor, Senhora, V. Ex.ª etc.) e por fim a finalização da carta que deve conter somente um cumprimento formal ou não (grato, beijos, abraços, adeus etc.). Depois de todos esses itens terem sido colocados na carta, a mesma deverá ser colocada em um envelope para ser enviado ao destinatário. Na parte de trás e superior do envelope deve-se conter alguns dados muito importantes tais como: nome do destinatário, endereço (rua, bairro e cidade) e por fim o CEP. Já o remetente (quem vai enviar a carta), também deve inserir na carta os mesmos dados que o do destinatário, que devem ser escritos na parte da frente do envelope. E por fim deve ser colocado no envelope um selo que serve para que a carta seja levada à pessoa mencionada.
BILHETES
O bilhete é uma mensagem curta, trocada entre as pessoas, para pedir, agradecer, oferecer, informar, desculpar ou perguntar. O bilhete é composto normalmente de: data, nome do destinatário antecedido de um cumprimento, mensagem, despedida e nome do remetente. Exemplo:
Belinha,Passei na sua casa para contar o que aconteceu comigo ontem
à noite.Telefone para mim hoje à tarde, que eu vou contar tudinho
para você!Um beijinho da amiga Juliana. 14/03/2013
MANUAL DE INSTRUÇÃO
É um livro, folheto ou arquivo informático que ensina a operar um equipamento, um objeto, um software ou uma ferramenta. Muitas vezes o manual vem com imagens, para não só ilustrá-lo, como ajudar na compreensão. Às vezes o manual pode vir organizado em itens, ou passos; que geralmente são curtos e com poucos números. Como por exemplo:
Passo 1 - Coloque a peça sobre o orifício colocado
anteriormente. Ou então, o manual explica detalhadamente cada passo com
muito cuidado. Quando o objeto a ser construído é muito complexo, os manuais vêm com imagens ou então com vários detalhes sobre como criá-lo.
2.1. Leitura/Interpretação: nos diversos textos faz-se necessário observar, identificar, comparar e compreender.
Interessa a todos saber que procedimento se deve adotar para tirar o maior rendimento possível da leitura de um texto. Mas não se pode responder a essa pergunta sem antes destacar que não existe para ela uma solução mágica, o que não quer dizer que não exista solução alguma. Genericamente, pode-se afirmar que uma leitura proveitosa pressupõe, além do conhecimento linguístico propriamente dito, um repertório de informações exteriores ao texto, o que se costuma chamar de conhecimento de mundo.

LÍNGUA PORTUGUESA
8
A compreensão do texto depende também do conhecimento de mundo, o que nos leva à conclusão de que o aprendizado da leitura depende muito das aulas de Português, mas também de todas as outras disciplinas sem exceção. Uma boa medida para avaliar se o texto foi bem compreendido é a resposta a três questões básicas:
- Qual é a questão de que o texto está tratando? Ao tentar responder a essa pergunta, o leitor será obrigado a distinguir as questões secundárias da principal, isto é, aquela em torno da qual gira o texto inteiro. Quando o leitor não sabe dizer do que o texto está tratando, ou sabe apenas de maneira genérica e confusa, é sinal de que ele precisa ser lido com mais atenção ou de que o leitor não tem repertório suficiente para compreender o que está diante de seus olhos.
- Qual é a opinião do autor sobre a questão posta em discussão? Disseminados pelo texto, aparecem vários indicadores da opinião de quem escreve. Por isso, uma leitura competente não terá dificuldade em identificá-la. Não saber dar resposta a essa questão é um sintoma de leitura desatenta e dispersiva.
- Quais são os argumentos utilizados pelo autor para fundamentar a opinião dada? Deve-se entender por argumento todo tipo de recurso usado pelo autor para convencer o leitor de que ele está falando a verdade. Saber reconhecer os argumentos do autor é também um sintoma de leitura bem feita, um sinal claro de que o leitor acompanhou o desenvolvimento das ideias. Na verdade, entender um texto significa acompanhar com atenção o seu percurso argumentativo.
2.2. A Função Social do Texto
O texto caracteriza-se por exercer uma função social, esta função é pressentida e vivenciada pelos leitores. Isso equivale dizer que, intuitivamente, sabemos que gênero usar em momentos específicos de interação, de acordo com a função social dele. Quando vamos escrever um e-mail, sabemos que ele pode apresentar características que farão com que ele “funcione” de maneira diferente. Assim, escrever um e-mail para um amigo não é o mesmo que escrever um e-mail para uma universidade, pedindo informações sobre um concurso público, por exemplo.
O objetivo de qualquer ato comunicativo está vinculado à intenção de quem o envia, no caso, o emissor. Dessa forma, de acordo com a natureza do texto presente na relação emissor X interlocutor, o texto assume diferentes funções, todas elas portando-se de características específicas.
Função Referencial – referente é o objeto ou situação de que a mensagem trata. A função referencial privilegia justamente o referente da mensagem, buscando transmitir informações objetivas sobre ele. Essa função predomina nos textos de caráter científico e é privilegiado nos textos jornalísticos.
Função Emotiva – através dessa função, o emissor imprime no texto as marcas de sua atitude pessoal: emoções, avaliações, opiniões. O leitor sente no texto a presença do emissor.
Função Conativa – essa função procura organizar o texto de forma que se imponha sobre o receptor da mensagem, persuadindo-o. Nas mensagens em que predomina essa função, busca-se envolver o leitor com o conteúdo transmitido, levando-o a adotar este ou aquele comportamento.
Função Fática – a palavra fático significa “ruído, rumor”. Foi utilizada inicialmente para designar certas formas usadas para chamar a atenção (ruídos como psiu, ahn, ei). Essa função ocorre quando a mensagem se orienta sobre o canal de comunicação ou contato, buscando verificar e fortalecer sua eficiência.
Função Metalinguística – quando a linguagem se volta sobre si mesma, transformando-se em seu próprio referente, ocorre a função metalinguística.
Função Poética – quando a mensagem é elaborada de forma inovadora e imprevista, utilizando combinações sonoras ou rítmicas, jogos de imagem ou de ideias, temos a manifestação da função poética da linguagem. Essa função é capaz de despertar no leitor prazer estético e surpresa. É explorado na poesia e em textos publicitários.
2.3. As informações localizadas no texto
É muito comum, mais do que se imagina, a ocorrência de erros de interpretação. Os mais frequentes são:
- Extrapolação (viagem). Ocorre quando se sai do contexto, acrescentado ideias que não estão no texto, quer por conhecimento prévio do tema quer pela imaginação.
- Redução. É o oposto da extrapolação. Dá-se atenção apenas a um aspecto, esquecendo que um texto é um conjunto de ideias, o que pode ser insuficiente para o total do entendimento do tema desenvolvido.
- Contradição. Não raro, o texto apresenta ideias contrárias às do candidato, fazendo-o tirar conclusões equivocadas e, consequentemente, errando a questão.
Observação: Muitos pensam que há a ótica do escritor e a ótica do leitor. Pode ser que existam, mas numa prova de concurso qualquer, o que deve ser levado em consideração é o que o autor diz e nada mais.
Coesão - é o emprego de mecanismo de sintaxe que relacionam palavras, orações, frases e/ou parágrafos entre si. Em outras palavras, a coesão dá-se quando, através de um pronome relativo, uma conjunção (nexos), ou um pronome oblíquo átono, há uma relação correta entre o que se vai dizer e o que já foi dito. São muitos os erros de coesão no dia a dia e, entre eles, está o mau uso do pronome relativo e do pronome oblíquo átono. Este depende da regência do verbo; aquele do seu antecedente. Não se pode esquecer também de que os pronomes relativos têm cada um, valor semântico, por isso a necessidade de adequação ao antecedente. Os pronomes relativos são muito importantes na interpretação de texto, pois seu uso incorreto traz erros de coesão. Assim sendo, deve-se levar em consideração que existe um pronome relativo adequado a cada circunstância, a saber:
Que (neutro) - relaciona-se com qualquer antecedente. Mas depende das condições da frase.
Qual (neutro) idem ao anterior.Quem (pessoa).Cujo (posse) - antes dele, aparece o possuidor e depois, o
objeto possuído. Como (modo).

LÍNGUA PORTUGUESA
9
Onde (lugar).Quando (tempo).Quanto (montante).
Exemplo:
Falou tudo quanto queria (correto).Falou tudo que queria (errado - antes do que, deveria aparecer
o demonstrativo o).
Vícios de Linguagem – há os vícios de linguagem clássicos (barbarismo, solecismo, cacofonia...); no dia a dia, porém, existem expressões que são mal empregadas, e por força desse hábito cometem-se erros graves como:
- “Ele correu risco de vida”, quando a verdade o risco era de morte.
- “Senhor professor, eu lhe vi ontem”. Neste caso, o pronome oblíquo átono correto é “o”.
- “No bar: Me vê um café”. Além do erro de posição do pronome, há o mau uso.
2.4. O tópico central num texto
Um texto para ser compreendido deve apresentar ideias seletas e organizadas, através dos parágrafos que é composto pela ideia central, argumentação e/ou desenvolvimento e a conclusão do texto. Podemos desenvolver um parágrafo de várias formas:
- Declaração inicial;- Definição;- Divisão;- Alusão histórica.
Parágrafo - Serve para dividir o texto em pontos menores, tendo em vista os diversos enfoques. Convencionalmente, o parágrafo é indicado através da mudança de linha e um espaçamento da margem esquerda. Uma das partes bem distintas do parágrafo é o tópico frasal, ou seja, a ideia central extraída de maneira clara e resumida.
Atentando-se para a ideia principal de cada parágrafo, asseguramos um caminho que nos levará à compreensão do texto. É necessário estruturar bem um texto a partir do parágrafo, conforme o tipo e tema, o parágrafo pode ser extenso, curto ou médio. O parágrafo é iniciado pelo tópico frasal.
Tópico frasal é a ideia central do parágrafo exposta num período, também conhecido como período tópico ou frase síntese. O tópico frasal determina o prosseguimento do parágrafo gerando períodos secundários ou periféricos. O tópico frasal é a “célula” da ideia de um parágrafo, é como se o escritor “puxasse assunto” através de uma afirmação ou questão exposta na primeira frase do parágrafo. Leia os conceitos de tipo de parágrafos:
- Parágrafo: feitos para informações sintetizadas e público leitor de pouca formação cultural;
- Parágrafo médio: destinando ao leitor de nível médio, construído com cerca de 100 ou 150 palavras;
- Parágrafo longo: Presentes em obras científicas e acadêmicas, destinadas para explicações complexas e ideias intercaladas.
Num parágrafo, assim como em todo texto, a ideia pode ser
enfatizada, mas não repetitiva, pode-se enumerar no caso de uma introdução, os assuntos que serão tratados no desenvolvimento. Em geral, é necessário ter a noção de que a conclusão, além de encerrar bem o texto inteiro, deve ter uma relação de concisão direta com o que foi escrito na introdução.
2. 5. As diferentes possibilidades de interpretar o texto
Ao ler realizamos as seguintes operações:
- Captamos o estímulo, ou seja, por meio da visão, encaminhamos o material a ser lido para nosso cérebro.
- Passamos, então, a perceber e a interpretar o dado sensorial (palavras, números, etc.) e a organizá-lo segundo nossa bagagem de conhecimentos anteriores. Para essa etapa, precisamos de motivação, de forma a tornar o processo mais otimizado possível.
- Assimilamos o conteúdo lido integrando-o ao nosso “arquivo mental” e aplicando o conhecimento ao nosso cotidiano.
A leitura é um processo muito mais amplo do que podemos imaginar. Ler não é unicamente interpretar os símbolos gráficos, mas interpretar o mundo em que vivemos. Na verdade, passamos todo o nosso tempo lendo. Ler está tão relacionado com o fato de existirmos que nem nos preocupamos em aprimorar este processo. É lendo que vamos construindo nossos valores e estes são os responsáveis pela transformação dos fatos em objetos de nosso sentimento.
Leitura é um dos grandes, senão o maior, ingrediente da civilização. Ela é uma atividade ampla e livre, fato comprovado pela frustração de algumas pessoas ao assistirem a um filme, cuja história já foi lida em um livro. Quando lemos, associamos as informações lidas à imensa bagagem de conhecimentos que temos armazenados em nosso cérebro e então somos capazes de criar, imaginar e sonhar.
É por meio da leitura que podemos entrar em contato com pessoas distantes ou do passado, observando suas crenças, convicções e descobertas que foram imortalizadas por meio da escrita. Esta possibilita o avanço tecnológico e científico, registrando os conhecimentos, levando-os a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, desde que saibam decodificar a mensagem, interpretando os símbolos usados como registro da informação. A leitura é o verdadeiro elo integrador do ser humano e a sociedade em que ele vive.
O mundo de hoje é marcado pelo enorme fluxo de informações oferecidas a todo instante. É preciso também tornarmo-nos mais receptivos e atentos, para nos mantermos atualizados e competitivos. Para isso, é imprescindível leitura que nos estimule cada vez mais em vista dos resultados que ela oferece. Se você pretende acompanhar a evolução do mundo, manter-se em dia, atualizado e bem informado, precisa preocupar-se com a qualidade da sua leitura. No caso da leitura, não existe livro interessante, mas leitores interessados.
Podemos, tranquilamente, ser bem-sucedidos numa interpretação de texto. Para isso, devemos observar o seguinte:
- Ler todo o texto, procurando ter uma visão geral do assunto;- Se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a
leitura, vá até o fim, ininterruptamente;- Ler, ler bem, ler profundamente, ou seja, ler o texto pelo
menos umas três vezes;- Ler com perspicácia, sutileza, malícia nas entrelinhas;- Voltar ao texto tantas quantas vezes precisar;- Não permitir que prevaleçam suas ideias sobre as do autor;- Partir o texto em pedaços (parágrafos, partes) para melhor
compreensão;- Centralizar cada questão ao pedaço (parágrafo, parte) do
texto correspondente;- Verificar, com atenção e cuidado, o enunciado de cada
questão;

LÍNGUA PORTUGUESA
10
- Cuidado com os vocábulos: destoa (=diferente de...), não, correta, incorreta, certa, errada, falsa, verdadeira, exceto, e outras; palavras que aparecem nas perguntas e que, às vezes, dificultam a entender o que se perguntou e o que se pediu;
- Quando duas alternativas lhe parecem corretas, procurar a mais exata ou a mais completa;
- Quando o autor apenas sugerir ideia, procurar um fundamento de lógica objetiva;
- Cuidado com as questões voltadas para dados superficiais;- Não se deve procurar a verdade exata dentro daquela resposta,
mas a opção que melhor se enquadre no sentido do texto;- Às vezes a etimologia ou a semelhança das palavras denuncia
a resposta;- Procure estabelecer quais foram as opiniões expostas pelo
autor, definindo o tema e a mensagem;- O autor defende ideias e você deve percebê-las;- Os adjuntos adverbiais e os predicativos do sujeito são
importantíssimos na interpretação do texto. Exemplos:
Ele morreu de fome. de fome: adjunto adverbial de causa, determina a causa na
realização do fato (= morte de “ele”).Ele morreu faminto. faminto: predicativo do sujeito, é o estado em que “ele” se
encontrava quando morreu.
- As orações coordenadas não têm oração principal, apenas as ideias estão coordenadas entre si;
- Os adjetivos ligados a um substantivo vão dar a ele maior clareza de expressão, aumentando-lhe ou determinando-lhe o significado;
- Esclarecer o vocabulário;- Entender o vocabulário;- Viver a história;- Ative sua leitura;- Ver, perceber, sentir, apalpar o que se pergunta e o que se
pede;- Não se deve preocupar com a arrumação das letras nas
alternativas; - As perguntas são fáceis, dependendo de quem lê o texto ou
como o leu;- Cuidado com as opiniões pessoais, elas não existem;- Sentir, perceber a mensagem do autor;- Cuidado com a exatidão das questões em relação ao texto;- Descobrir o assunto e procurar pensar sobre ele;- Todos os termos da análise sintática, cada termo tem seu
valor, sua importância;- Todas as orações subordinadas têm oração principal e as
ideias se completam.
2. 6. Ponto de vista do autor
É comum encontrar no rádio, na TV, nas revistas, nos jornais, temas polêmicos que exigem uma posição por parte dos ouvintes, espectadores e leitores, por isso, o autor geralmente apresenta seu ponto de vista sobre o tema. Nos gêneros argumentativos, o autor geralmente tem intenção de convencer seus interlocutores e, para isso precisa apresentar bons argumentos, que consistem em verdades e opiniões.
2. 7. Tema e modo de relacionar o episódio / fatos que compõe o texto
Tecer um bom texto é uma tarefa que requer competência por parte de quem a pratica, pois o mesmo não pode ser visto como um emaranhado de frases soltas e ideias desconexas. Pelo contrário, elas devem estar organizadas e justapostas entre si, denotando clareza de sentido quanto à mensagem que ora se deseja transmitir.
Geralmente, a proposta é acompanhada de uma coletânea de textos, a qual devemos fazer uma leitura atenta de modo a percebermos qual é o tema abordado em questão.
Diante disso, é essencial que entendamos a diferença existente entre estes dois elementos: Tema e Título.
Tema: O crescente dinamismo que permeia a sociedade, aliado à inovação tecnológica, requer um aperfeiçoamento profissional constante.
Título: A importância da capacitação profissional no mundo contemporâneo.
Como podemos perceber, o tema é algo mais abrangente e consiste na tese a ser defendida no próprio texto.
Já o título é algo mais sintético, é como se fosse afunilando o assunto que será posteriormente discutido.
O importante é sabermos que: do tema é que se extrai o título, haja vista que o mesmo é um elemento-base, fonte norteadora para os demais passos.
Existem certos temas que não revelam uma nítida objetividade, como, o exposto anteriormente. É o caso de fragmentos literários, trechos musicais, frases de efeito, entre outros.
Nesse caso, exige-se mais do leitor quanto à questão da interpretação, para daí chegar à ideia central. Como podemos identificar através deste excerto:
“As ideias são apenas pedras postas a atravessar a corrente de um rio, se estão ali é para que possamos chegar à outra margem, a outra margem é o que importa”.
(José Saramago)
Essa linguagem, quando analisada, leva-nos a inferir sobre o seguinte, e que este poderia ser o título:
A importância da coerência e da coesão para o sentido do texto. Fazendo parte também desta composição estão os temas apoiados em imagens, como é o caso de gráficos, histórias em quadrinhos, charges e pinturas.
Tal ocorrência requer o mesmo procedimento por parte do leitor, ou seja, que ele desenvolva seu conhecimento de mundo e sua capacidade de interpretação para desenvolver um bom texto.
Comumente surgem questionamentos sobre a semelhança entre o título e o tema em uma produção textual. Mas será que são palavras sinônimas?
A boa qualidade de um texto depende de uma série de fatores que colaboram para a clareza das ideias transmitidas. Todos os elementos precisam estar em sintonia entre si, principalmente o tema e o título, pois ambos mantêm uma relação de dependência, representando o assunto abordado. É preciso tomar muito cuidado para não confundir título com tema. Um é a extensão do outro, mas para que fique clara esta distinção, os conheceremos passo a passo:
O Tema é o assunto proposto para a discussão, possui uma característica mais abrangente, pois é visto de uma maneira global. Para melhor exemplificarmos, tomemos como exemplo a questão da violência. Este tema engloba vários tipos de violência, como a física, verbal, violência racial, infantil e outras.
Ao delimitarmos este assunto, falando da violência em um bairro específico da cidade, estamos nos restringindo somente àquele lugar. Este, portanto, caracteriza o Título.
A seguir, veremos um texto no qual fica evidente a marca dos itens acima relacionados: Bomba na meia-idade.

LÍNGUA PORTUGUESA
11
“Em julho, a bomba atômica fez cinquenta anos. A primeira arma nuclear da história foi testada às 5h29min45s do dia 16 de julho de 1945, em Alamogordo, Novo México, Estados Unidos.
Libertou energia equivalente a 18 toneladas de TNT e encheu de alegria cientistas e engenheiros que haviam trabalhado duro durante três anos para construir a bomba.
Menos de um mês depois, quando uma explosão semelhante dizimou as cidades de Hiroshima e Nagasaki no Japão, a alegria deu lugar à vergonha.”
Superinteressante, São Paulo, fev.2003.
Destacamos como título, Bomba na meia-idade. Tema, Os cinquenta anos de criação da bomba atômica.
2. 8. Modo de ordenar o tempo: presente, pretérito perfeito/imperfeito, futuro
Espaço é o local onde se passa a história. Ex: uma padaria, no Rio de Janeiro, etc.
Tempo: determina o momento em que se passa a história. Ex: há dois anos atrás; hoje; ontem; no dia 17 de abril de 1999, etc.
Em um texto, há dois modos básicos de ordenar os tempos: em relação ao momento da fala e em relação a um marco temporal localizado no texto.
Momento da fala
O acontecimento pode ser concomitante, anterior ou posterior. A cada uma dessas possibilidades correspondem, em princípio, um tempo verbal, respectivamente, presente, pretérito perfeito e futuro do presente (modo indicativo). A expressão da posterioridade pode se realizar, também, pela forma do presente, para dar maior expressividade à narração.
Tipo de relação Exemploconcomitânciatempo: presente
“Mas hoje você está aí com seus amigos, não quero incomodar. Volto outra hora” (Fernando Sabino, conto Jimmy Jones, em O Homem Nu)
anterioridadetempo: pretérito
perfeito
“Não tive coragem de voltar. Telefonei um dia, ele estava de viagem ... E nunca mais em minha vida tornei a ver Jimmy Jones” (idem)
posterioridadetempo: futuro do
presente
Dentro em breve darei esta missão por encerrada.
Com relação a um marco temporal instaurado no texto, a ordenação dos tempos e modos é mais detalhada:
Marco temporal no passado - os fatos podem ser concomitantes, anteriores, ou posteriores a ele.
Tipo de relação Exemploconcomitância
tempo pretérito perfeito - para narrar um fato acabado dentro
de um limite temporaltempo pretérito imperfeito
- para narrar um fato em sua duração, não limitado no
tempo
“Quando regressou, tarde da noite, encontrou como por encanto o apartamento restituído à arrumação original ...” (F.Sabino, conto Dona Custódia, O Homem Nu)
“Só então reconheceu entre elas Dona Custódia, que antes proseava muito à vontade mas ao vê-lo se calou, estatelada.” (idem) [a ação de prosear é concomitante ao marco temporal antes e é vista em sua duração com relação a ele]
anterioridadetempo: pretérito
mais-que-perfeito
“Que ela mesma fizera ele sabia - não haveria também de pretender que ele é que cozinhava. Que diabo ela fizera do seu quadro? “ (idem)
posterioridadetempo: futuro do pretérito
“De tanta categoria que no dia do aniversário do pai, em que almoçaria fora, ele aproveitou-se para dispensar também o jantar, só para lhe proporcionar o dia inteiro de folga.” (idem)
Marco temporal no futuro - os fatos podem ser concomitantes, anteriores ou posteriores a esse marco.
Tipo de relação Exemploconcomitantestempo: presente concomitante
(estar + gerúndio)
Quando você voltar, estarei saindo para o trabalho. [você voltar e eu estar saindo são fatos concomitantes]
anteriorestempo: futuro anterior (verbo ter + particípio)
Quando você chegar, já terei saído para o trabalho.
posteriorestempo: futuro do presente
Depois que receber meu salário, pagarei o aluguel e a o plano de saúde.
Portanto, fica claro que cada tempo verbal utilizado em um texto de base narrativa tem uma função, uma finalidade coesiva, sendo responsável pela progressão da ação.
2. 9. Personagens: caracterização, modo de introdução na história
Personagem é qualquer ser vivo de uma história ou obra. Pode ser um humano, um animal, um ser fictício, um objeto ou qualquer coisa que o autor inventar. Também podem ter nomes ou não, e ter qualquer tipo de personalidade. Personagens são encontradas em obras de literatura, cinema, teatro, televisão, desenho, videogames, marketing e etc. No caso de cinema, teatro e televisão são representados por Atores.

LÍNGUA PORTUGUESA
12
Quanto à existência:
Real ou Histórico: são personagens que realmente existem ou existiram. Geralmente são citados em obras históricas ou jornalísticas.
Fictício ou Ficcional: são personagens que não existem e são criados pela imaginação do autor, embora em alguns casos eles sejam inspirados em pessoas reais.
Real-Ficcional: são personagens reais, mas com personalidade fictícia.
Ficcional-Ficcional: são personagens ficcionais dentro de obras ficcionais.
Ficcional-Real: são personagens inicialmente ficcionais, os quais passam a existir no mundo real. Personagens colocados em prática por encenação no convívio com pessoas reais, as quais não sabem que se trata de um personagem. Conceito muito utilizado em “pegadinhas” da TV.
2. 10. Recursos gráfico-visuais pertinentes ao tipo de texto lido
Os recursos visuais, que não só abrangem, mas também conferem grande importância aos aspectos gráficos, como o negrito, o sublinhado, o itálico, os tamanhos e tipos diferentes de fontes, assim como a inclusão de outros aspectos visuais a uma página impressa, como uma fotografia, diagramas, gráficos, barras, linhas, caixas, ilustrações, tabelas, elementos gráficos e cores, passam a ser cada vez mais utilizados nos meios de comunicação, entretenimento e ensino, fruto de uma necessidade que a sociedade moderna tem de absorver a informação com mais agilidade e rapidez. Consequentemente, os recursos visuais não são mais entendidos meramente como ilustrações de apoio ao texto escrito, mas como uma mensagem independente, organizada e estruturada e que, segundo Buratini, possui, muitas vezes, o mesmo nível de importância das informações verbais.
3.1. Variação linguística: marcas típicas da modalidade oral; níveis de registros formal e informal; dialetos.
Todas as pessoas que falam uma determinada língua conhecem as estruturas gerais, básicas, de funcionamento que podem sofrer variações devido à influência de inúmeros fatores. Tais variações, que às vezes são pouco perceptíveis e outras vezes bastantes evidentes, recebem o nome genérico de variedades ou variações linguísticas.
Nenhuma língua é usada de maneira uniforme por todos os seus falantes em todos os lugares e em qualquer situação. Sabe-se que, numa mesma língua, há formas distintas para traduzir o mesmo significado dentro de um mesmo contexto. Suponham-se, por exemplo, os dois enunciados a seguir:
Veio me visitar um amigo que eu morei na casa dele faz tempo.Veio visitar-me um amigo em cuja casa eu morei há anos.
Qualquer falante do português reconhecerá que os dois enunciados pertencem ao seu idioma e têm o mesmo sentido, mas também que há diferenças. Pode dizer, por exemplo, que o segundo é de gente mais “estudada”. Isso é prova de que, ainda que intuitivamente e sem saber dar grandes explicações, as pessoas têm noção de que existem muitas maneiras de falar a mesma língua. É o que os teóricos chamam de variações linguísticas.
As variações que distinguem uma variante de outra se manifestam em quatro planos distintos, a saber: fônico, morfológico, sintático e lexical.
Variações Fônicas: são as que ocorrem no modo de pronunciar os sons constituintes da palavra. Os exemplos de variação fônica são abundantes e, ao lado do vocabulário, constituem os domínios em que se percebe com mais nitidez a diferença entre uma variante e outra. Entre esses casos, podemos citar:
- a queda do “r” final dos verbos, muito comum na linguagem oral no português: falá, vendê, curti (em vez de curtir), compô.
- o acréscimo de vogal no início de certas palavras: eu me alembro, o pássaro avoa, formas comuns na linguagem clássica, hoje frequentes na fala caipira.
- a queda de sons no início de palavras: ocê, cê, ta, tava, marelo (amarelo), margoso (amargoso), características na linguagem oral coloquial.
- a redução de proparoxítonas a paroxítonas: Petrópis (Petrópolis), fórfi (fósforo), porva (pólvora), todas elas formam típicas de pessoas de baixa extração social.
- A pronúncia do “l” final de sílaba como “u” (na maioria das regiões do Brasil) ou como “l” (em certas regiões do Rio Grande do Sul e Santa Catarina) ou ainda como “r” (na linguagem caipira): quintau, quintar, quintal; pastéu, paster, pastel; faróu, farór, farol.
- deslocamento do “r” no interior da sílaba: largato, preguntar, estrupo, cardeneta, típicos de pessoas de baixa extração social.
Variações Morfológicas: são as que ocorrem nas formas constituintes da palavra. Nesse domínio, as diferenças entre as variantes não são tão numerosas quanto às de natureza fônica, mas não são desprezíveis. Como exemplos, podemos citar:
- o uso do prefixo hiper- em vez do sufixo -íssimo para criar o superlativo de adjetivos, recurso muito característico da linguagem jovem urbana: um cara hiper-humano (em vez de humaníssimo), uma prova hiperdifícil (em vez de dificílima), um carro hiperpossante (em vez de possantíssimo).
- a conjugação de verbos irregulares pelo modelo dos regulares: ele interviu (interveio), se ele manter (mantiver), se ele ver (vir) o recado, quando ele repor (repuser).
- a conjugação de verbos regulares pelo modelo de irregulares: vareia (varia), negoceia (negocia).
- uso de substantivos masculinos como femininos ou vice-versa: duzentas gramas de presunto (duzentos), a champanha (o champanha), tive muita dó dela (muito dó), mistura do cal (da cal).
- a omissão do “s” como marca de plural de substantivos e adjetivos (típicos do falar paulistano): os amigo e as amiga, os livro indicado, as noite fria, os caso mais comum.
- o enfraquecimento do uso do modo subjuntivo: Espero que o Brasil reflete (reflita) sobre o que aconteceu nas últimas eleições; Se eu estava (estivesse) lá, não deixava acontecer; Não é possível que ele esforçou (tenha se esforçado) mais que eu.

LÍNGUA PORTUGUESA
13
Variações Sintáticas: dizem respeito às correlações entre as palavras da frase. No domínio da sintaxe, como no da morfologia, não são tantas as diferenças entre uma variante e outra. Como exemplo, podemos citar:
- o uso de pronomes do caso reto com outra função que não a de sujeito: encontrei ele (em vez de encontrei-o) na rua; não irão sem você e eu (em vez de mim); nada houve entre tu (em vez de ti) e ele.
- o uso do pronome lhe como objeto direto: não lhe (em vez de “o”) convidei; eu lhe (em vez de “o”) vi ontem.
- a ausência da preposição adequada antes do pronome relativo em função de complemento verbal: são pessoas que (em vez de: de que) eu gosto muito; este é o melhor filme que (em vez de a que) eu assisti; você é a pessoa que (em vez de em que) eu mais confio.
- a substituição do pronome relativo “cujo” pelo pronome “que” no início da frase mais a combinação da preposição “de” com o pronome “ele” (=dele): É um amigo que eu já conhecia a família dele (em vez de ...cuja família eu já conhecia).
- a mistura de tratamento entre tu e você, sobretudo quando se trata de verbos no imperativo: Entra, que eu quero falar com você (em vez de contigo); Fala baixo que a sua (em vez de tua) voz me irrita.
- ausência de concordância do verbo com o sujeito: Eles chegou tarde (em grupos de baixa extração social); Faltou naquela semana muitos alunos; Comentou-se os episódios.
Variações Léxicas: é o conjunto de palavras de uma língua. As variantes do plano do léxico, como as do plano fônico, são muito numerosas e caracterizam com nitidez uma variante em confronto com outra. Eis alguns, entre múltiplos exemplos possíveis de citar:
- a escolha do adjetivo maior em vez do advérbio muito para formar o grau superlativo dos adjetivos, características da linguagem jovem de alguns centros urbanos: maior legal; maior difícil; Esse amigo é um carinha maior esforçado.
- as diferenças lexicais entre Brasil e Portugal são tantas e, às vezes, tão surpreendentes, que têm sido objeto de piada de lado a lado do Oceano. Em Portugal chamam de cueca aquilo que no Brasil chamamos de calcinha; o que chamamos de fila no Brasil, em Portugal chamam de bicha; café da manhã em Portugal se diz pequeno almoço; camisola em Portugal traduz o mesmo que chamamos de suéter, malha, camiseta.
Designações das Variantes Lexicais:
- Arcaísmo: diz-se de palavras que já caíram de uso e, por isso, denunciam uma linguagem já ultrapassada e envelhecida. É o caso de reclame, em vez de anúncio publicitário; na década de 60, o rapaz chamava a namorada de broto (hoje se diz gatinha ou forma semelhante), e um homem bonito era um pão; na linguagem antiga, médico era designado pelo nome físico; um bobalhão era chamado de coió ou bocó; em vez de refrigerante usava-se gasosa; algo muito bom, de qualidade excelente, era supimpa.
- Neologismo: é o contrário do arcaísmo. Trata-se de palavras recém-criadas, muitas das quais mal ou nem estraram para os dicionários. A moderna linguagem da computação tem vários exemplos, como escanear, deletar, printar; outros exemplos extraídos da tecnologia moderna são mixar (fazer a combinação de sons), robotizar, robotização.
- Estrangeirismo: trata-se do emprego de palavras emprestadas de outra língua, que ainda não foram aportuguesadas, preservando a forma de origem. Nesse caso, há muitas expressões latinas, sobretudo da linguagem jurídica, tais como: habeas-corpus
(literalmente, “tenhas o corpo” ou, mais livremente, “estejas em liberdade”), ipso facto (“pelo próprio fato de”, “por isso mesmo”), ipsis litteris (textualmente, “com as mesmas letras”), grosso modo (“de modo grosseiro”, “impreciso”), sic (“assim, como está escrito”), data venia (“com sua permissão”).
As palavras de origem inglesas são inúmeras: insight (compreensão repentina de algo, uma percepção súbita), feeling (“sensibilidade”, capacidade de percepção), briefing (conjunto de informações básicas), jingle (mensagem publicitária em forma de música).
Do francês, hoje são poucos os estrangeirismos que ainda não se aportuguesaram, mas há ocorrências: hors-concours (“fora de concurso”, sem concorrer a prêmios), tête-à-tête (palestra particular entre duas pessoas), esprit de corps (“espírito de corpo”, corporativismo), menu (cardápio), à la carte (cardápio “à escolha do freguês”), physique du rôle (aparência adequada à caracterização de um personagem).
- Jargão: é o lexo típico de um campo profissional como a medicina, a engenharia, a publicidade, o jornalismo. No jargão médico temos uso tópico (para remédios que não devem ser ingeridos), apneia (interrupção da respiração), AVC ou acidente vascular cerebral (derrame cerebral). No jargão jornalístico chama-se de gralha, pastel ou caco o erro tipográfico como a troca ou inversão de uma letra. A palavra lide é o nome que se dá à abertura de uma notícia ou reportagem, onde se apresenta sucintamente o assunto ou se destaca o fato essencial. Quando o lide é muito prolixo, é chamado de nariz-de-cera. Furo é notícia dada em primeira mão. Quando o furo se revela falso, foi uma barriga. Entre os jornalistas é comum o uso do verbo repercutir como transitivo direto: __ Vá lá repercutir a nptícia de renúncia! (esse uso é considerado errado pela gramática normativa).
- Gíria: é o lexo especial de um grupo (originariamente de marginais) que não deseja ser entendido por outros grupos ou que pretende marcar sua identidade por meio da linguagem. Existe a gíria de grupos marginalizados, de grupos jovens e de segmentos sociais de contestação, sobretudo quando falam de atividades proibidas. A lista de gírias é numerosíssima em qualquer língua: ralado (no sentido de afetado por algum prejuízo ou má-sorte), ir pro brejo (ser malsucedido, fracassar, prejudicar-se irremediavelmente), cara ou cabra (indivíduo, pessoa), bicha (homossexual masculino), levar um lero (conversar).
- Preciosismo: diz-se que é preciosista um léxico excessivamente erudito, muito raro, afetado: Escoimar (em vez de corrigir); procrastinar (em vez de adiar); discrepar (em vez de discordar); cinesíforo (em vez de motorista); obnubilar (em vez de obscurecer ou embaçar); conúbio (em vez de casamento); chufa (em vez de caçoada, troça).
- Vulgarismo: é o contrário do preciosismo, ou seja, o uso de um léxico vulgar, rasteiro, obsceno, grosseiro. É o caso de quem diz, por exemplo, de saco cheio (em vez de aborrecido), se ferrou (em vez de se deu mal, arruinou-se), feder (em vez de cheirar mal), ranho (em vez de muco, secreção do nariz).
3.2. Relação entre recursos expressivos e efeitos de sentido: pontuação expressiva.
Todas as pessoas que falam uma determinada língua conhecem as estruturas gerais, básicas, de funcionamento que podem sofrer variações devido à influência de inúmeros fatores. Tais variações, que às vezes são pouco perceptíveis e outras vezes bastantes evidentes, recebem o nome genérico de variedades ou variações linguísticas.

LÍNGUA PORTUGUESA
14
Os sinais de pontuação são sinais gráficos empregados na língua escrita para tentar recuperar recursos específicos da língua falada, tais como: entonação, jogo de silêncio, pausas, etc.
Ponto ( . )
- indicar o final de uma frase declarativa: Lembro-me muito bem dele.
- separar períodos entre si: Fica comigo. Não vá embora.- nas abreviaturas: Av.; V. Ex.ª
Vírgula ( , )
É usada para marcar uma pausa do enunciado com a finalidade de nos indicar que os termos por ela separados, apesar de participarem da mesma frase ou oração, não formam uma unidade sintática: Lúcia, esposa de João, foi a ganhadora única da Sena.
Podemos concluir que, quando há uma relação sintática entre termos da oração, não se pode separá-los por meio de vírgula. Não se separam por vírgula:
- predicado de sujeito;- objeto de verbo;- adjunto adnominal de nome;- complemento nominal de nome;- predicativo do objeto do objeto;- oração principal da subordinada substantiva (desde que esta
não seja apositiva nem apareça na ordem inversa).
A vírgula no interior da oração
É utilizada nas seguintes situações:- separar o vocativo: Maria, traga-me uma xícara de café; A
educação, meus amigos, é fundamental para o progresso do país.- separar alguns apostos: Valdete, minha antiga empregada,
esteve aqui ontem.- separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado:
Chegando de viagem, procurarei por você; As pessoas, muitas vezes, são falsas.
- separar elementos de uma enumeração: Precisa-se de pedreiros, serventes, mestre-de-obras.
- isolar expressões de caráter explicativo ou corretivo: Amanhã, ou melhor, depois de amanhã podemos nos encontrar para acertar a viagem.
- separar conjunções intercaladas: Não havia, porém, motivo para tanta raiva.
- separar o complemento pleonástico antecipado: A mim, nada me importa.
- isolar o nome de lugar na indicação de datas: Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2011.
- separar termos coordenados assindéticos: “Lua, lua, lua, lua, por um momento meu canto contigo compactua...” (Caetano Veloso)
- marcar a omissão de um termo (normalmente o verbo): Ela prefere ler jornais e eu, revistas. (omissão do verbo preferir)
Termos coordenados ligados pelas conjunções e, ou, nem dispensam o uso da vírgula: Conversaram sobre futebol, religião e política. Não se falavam nem se olhavam; Ainda não me decidi se viajarei para Bahia ou Ceará. Entretanto, se essas conjunções aparecerem repetidas, com a finalidade de dar ênfase, o uso da vírgula passa a ser obrigatório: Não fui nem ao velório, nem ao enterro, nem à missa de sétimo dia.
A vírgula entre orações
É utilizada nas seguintes situações:- separar as orações subordinadas adjetivas explicativas: Meu
pai, de quem guardo amargas lembranças, mora no Rio de Janeiro.- separar as orações coordenadas sindéticas e assindéticas
(exceto as iniciadas pela conjunção “e”: Acordei, tomei meu banho, comi algo e saí para o trabalho; Estudou muito, mas não foi aprovado no exame.
Há três casos em que se usa a vírgula antes da conjunção:
- quando as orações coordenadas tiverem sujeitos diferentes: Os ricos estão cada vez mais ricos, e os pobres, cada vez mais pobres.
- quando a conjunção e vier repetida com a finalidade de dar ênfase (polissíndeto): E chora, e ri, e grita, e pula de alegria.
- quando a conjunção e assumir valores distintos que não seja da adição (adversidade, consequência, por exemplo): Coitada! Estudou muito, e ainda assim não foi aprovada.
- separar orações subordinadas adverbiais (desenvolvidas ou reduzidas), principalmente se estiverem antepostas à oração principal: “No momento em que o tigre se lançava, curvou-se ainda mais; e fugindo com o corpo apresentou o gancho.” (O selvagem - José de Alencar)
- separar as orações intercaladas: “- Senhor, disse o velho, tenho grandes contentamentos em a estar plantando...”. Essas orações poderão ter suas vírgulas substituídas por duplo travessão: “Senhor - disse o velho - tenho grandes contentamentos em a estar plantando...”
- separar as orações substantivas antepostas à principal: Quanto custa viver, realmente não sei.
Ponto-e-Vírgula ( ; )
- separar os itens de uma lei, de um decreto, de uma petição, de uma sequência, etc:
Art. 127 – São penalidades disciplinares:I- advertência;II- suspensão;III- demissão;IV- cassação de aposentadoria ou disponibilidade;V- destituição de cargo em comissão;VI- destituição de função comissionada. (cap. V das
penalidades Direito Administrativo)
- separar orações coordenadas muito extensas ou orações coordenadas nas quais já tenham tido utilizado a vírgula: “O rosto de tez amarelenta e feições inexpressivas, numa quietude apática, era pronunciadamente vultuoso, o que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica de que sofria desde moço se foi transformando em opressora asma cardíaca; os lábios grossos, o inferior um tanto tenso (...)” (Visconde de Taunay)
Dois-Pontos ( : )
- iniciar a fala dos personagens: Então o padre respondeu: __Parta agora.
- antes de apostos ou orações apositivas, enumerações ou sequência de palavras que explicam, resumem ideias anteriores: Meus amigos são poucos: Fátima, Rodrigo e Gilberto.
- antes de citação: Como já dizia Vinícius de Morais: “Que o amor não seja eterno posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure.”

LÍNGUA PORTUGUESA
15
Ponto de Interrogação ( ? )
- Em perguntas diretas: Como você se chama?- Às vezes, juntamente com o ponto de exclamação: Quem
ganhou na loteria? Você. Eu?!
Ponto de Exclamação ( ! )
- Após vocativo: “Parte, Heliel!” (As violetas de Nossa Sra.- Humberto de Campos).
- Após imperativo: Cale-se!- Após interjeição: Ufa! Ai!- Após palavras ou frases que denotem caráter emocional: Que
pena!
Reticências ( ... )
- indicar dúvidas ou hesitação do falante: Sabe...eu queria te dizer que...esquece.
- interrupção de uma frase deixada gramaticalmente incompleta: Alô! João está? Agora não se encontra. Quem sabe se ligar mais tarde...
- ao fim de uma frase gramaticalmente completa com a intenção de sugerir prolongamento de ideia: “Sua tez, alva e pura como um foco de algodão, tingia-se nas faces duns longes cor-de-rosa...” (Cecília- José de Alencar)
- indicar supressão de palavra (s) numa frase transcrita: “Quando penso em você (...) menos a felicidade.” (Canteiros - Raimundo Fagner)
Aspas ( “ ” )
- isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares: Maria ganhou um apaixonado “ósculo” do seu admirador; A festa na casa de Lúcio estava “chocante”; Conversando com meu superior, dei a ele um “feedback” do serviço a mim requerido.
- indicar uma citação textual: “Ia viajar! Viajei. Trinta e quatro vezes, às pressas, bufando, com todo o sangue na face, desfiz e refiz a mala”. (O prazer de viajar - Eça de Queirós)
Se, dentro de um trecho já destacado por aspas, se fizer necessário a utilização de novas aspas, estas serão simples. ( ‘ ‘ )
Parênteses ( () )
- isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo e datas: Na 2ª Guerra Mundial (1939-1945), ocorreu inúmeras perdas humanas; “Uma manhã lá no Cajapió (Joca lembrava-se como se fora na véspera), acordara depois duma grande tormenta no fim do verão”. (O milagre das chuvas no nordeste- Graça Aranha)
Os parênteses também podem substituir a vírgula ou o travessão.
Travessão ( __ )
- dar início à fala de um personagem: O filho perguntou: __Pai, quando começarão as aulas?
- indicar mudança do interlocutor nos diálogos. __Doutor, o que tenho é grave? __Não se preocupe, é uma simples infecção. É só tomar um antibiótico e estará bom.
- unir grupos de palavras que indicam itinerário: A rodovia Belém-Brasília está em péssimo estado.
Também pode ser usado em substituição à virgula em expressões ou frases explicativas: Xuxa – a rainha dos baixinhos – é loira.
Parágrafo
Constitui cada uma das secções de frases de um escritor; começa por letra maiúscula, um pouco além do ponto em que começam as outras linhas.
Colchetes ( [] )
Utilizados na linguagem científica.
Asterisco ( * )
Empregado para chamar a atenção do leitor para alguma nota (observação).
Barra ( / )
Aplicada nas abreviações das datas e em algumas abreviaturas.
Hífen (−)
Usado para ligar elementos de palavras compostas e para unir pronomes átonos a verbos. Exemplo: guarda-roupa.
3.3. Recursos gráficos (organização de parágrafos); linguagem figurada.
Embora um parágrafo seja definido pela extensão de uma margem em branco até um ponto final, devemos salientar que o mais importante é a garantia de uma unidade de sentido para cada parágrafo de um texto, o que não pode delimitar uma forma padrão.
Primeiramente, ao se elaborar um texto, é preciso um planejamento, um roteiro que norteará a organização dele em parágrafos, de forma que haja um encadeamento lógico-semântico. Para tanto, faz-se necessário investigar o conhecimento prévio que se tem sobre o assunto, pois esse conhecimento permitirá um plano de organização do texto.
Em seguida, deve-se fazer um esboço da estrutura do texto a ser produzido, partindo-se da ideia central, isto é, do tema escolhido. A partir dele, podem-se relacionar tópicos que possam ser desenvolvidos em núcleos temáticos no interior do texto, de modo a se organizarem orações, períodos e parágrafos. Para o planejamento dos parágrafos há sugestões da seguinte forma:
Tempo - Histórico sobre o assunto, datas, origens, narrativa histórica. Quando?
Espaço - Locais, situações no espaço. Onde?Definição - O que é? Definir, conceituar, explicar o significado
de um conceito.Enumeração - Lista de características, funções, princípios,
fatores, fases, etapas etc.Comparação - Estabelecer relações de semelhança e de
diferença, contrastar.Causas / Efeitos - Resultados, consequências, fatores causais.Exemplificação - Fatos concretos, provas factuais.Conclusão / Dedução - Dedução geral sintetizando os dados
e informações contidas nos parágrafos anteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
16
A seleção de uma dessas formas direcionará a construção do texto, orientando a sequência dos parágrafos de acordo com a ênfase dada no início. É ela que estabelecerá as relações intratextuais e a segmentação dos parágrafos. É importante salientar, ainda, que não há uma fórmula mágica para a organização dos parágrafos em um texto. O importante é estabelecer uma sequência lógica que o torne claro. Para que se inicie bem um texto, e que haja uma sequência coerente, sugere-se as seguintes recomendações:
- Iniciar o texto familiarizando o leitor com o assunto que será tratado, de modo que a introdução do texto situe com clareza as coordenadas do texto (assunto, intenção, aspecto que se pretende abordar);
- evitar o início do texto com uma frase avulsa, a não ser que o tipo de texto o exija (como a linguagem publicitária, por exemplo), pois esse procedimento denota má estruturação;
- utilizar períodos mais curtos, uma vez que os períodos longos tornam o texto prolixo e podem desinteressar o leitor.
Linguagem Figurada
Também chamadas Figuras de Estilo, são recursos especiais de que se vale quem fala ou escreve, para comunicar à expressão mais força e colorido, intensidade e beleza.
Podemos classificá-las em três tipos:- Figuras de Palavras (ou tropos);- Figuras de Construção (ou de sintaxe);- Figuras de Pensamento.
Figuras de Palavras
Compare estes exemplos:O tigre é uma fera. (fera = animal feroz: sentido próprio,
literal, usual)Pedro era uma fera. (fera = pessoa muito brava: sentido
figurado, ocasional)
No segundo exemplo, a palavra fera sofreu um desvio na sua significação própria e diz muito mais do que a expressão vulgar “pessoa brava”. Semelhantes desvios de significação a que são submetidas as palavras, quando se deseja atingir um efeito expressivo, denominam-se figuras de palavras ou tropos (do grego trópos, giro, desvio).
São as seguintes as figuras de palavras:
Metáfora: consiste em atribuir a uma palavra características de outra, em função de uma analogia estabelecida de forma bem subjetiva.
“Meu verso é sangue” (Manuel Bandeira)Observe que, ao associar verso a sangue, o poeta estabeleceu
uma analogia entre essas duas palavras, vendo nelas uma relação de semelhança. Todos os significados que a palavra sangue sugere ao leitor passam também para a palavra verso.
Os poetas são mestres na citação de metáforas surpreendentes, ricas em significados. Exemplo:
“Ó minha amadaQue olhos os teusSão cais noturnosCheios de adeus.”
Vinícius de Moraes
A metáfora é uma espécie de comparação sem a presença de conectivos do tipo como, tal como, assim como etc. Quando esses conectivos aparecem na frase, temos uma comparação e não uma metáfora. Exemplo:
“A felicidade é como a gota de orvalhonuma pétala de flor.Brilha tranquila, depois de leve oscilae cai como uma lágrima de amor.”
Vinícius de Moraes
Comparação: é a comparação entre dois elementos comuns; semelhantes. Normalmente se emprega uma conjunção comparativa: como, tal qual, assim como.
“Sejamos simples e calmosComo os regatos e as árvores” (Fernando Pessoa)Metonímia: consiste no emprego de uma palavra por outra com
a qual ela se relaciona. Ocorre a metonímia quando empregamos:
- o autor ou criador pela obra. Exemplo: Gosto de ler Jorge Amado (observe que o nome do autor está sendo usado no lugar de suas obras).
- o efeito pela causa e vice-versa. Exemplos: Ganho a vida com o suor do meu rosto. (o suor é o efeito ou resultado e está sendo usado no lugar da causa, ou seja, o “trabalho”); Vivo do meu trabalho. (o trabalho é causa e está no lugar do efeito ou resultado, ou seja, o “lucro”).
- o continente pelo conteúdo. Exemplo: Ela comeu uma caixa de doces. (a palavra caixa, que designa o continente ou aquilo que contém, está sendo usada no lugar da palavra doces, que designaria o conteúdo).
- o abstrato pelo concreto e vice-versa. Exemplos: A velhice deve ser respeitada. (o abstrato velhice está no lugar do concreto, ou seja, pessoas velhas).Ele tem um grande coração. (o concreto coração está no lugar do abstrato, ou seja, bondade).
- o instrumento pela pessoa que o utiliza. Exemplo: Ele é bom volante. (o termo volante está sendo usado no lugar do termo piloto ou motorista).
- o lugar pelo produto. Exemplo: Gosto muito de tomar um Porto. (o produto vinho foi substituído pelo nome do lugar em que é feito, ou seja, a cidade do Porto).
- o símbolo ou sinal pela coisa significada. Exemplo: Os revolucionários queriam o trono. (a palavra trono, nesse caso, simboliza o império, o poder).
- a parte pelo todo. Exemplo: Não há teto para os necessitados. (a parte teto está no lugar do todo, “a casa”).
- o indivíduo pela classe ou espécie. Exemplo: Ele foi o judas do grupo. (o nome próprio Judas está sendo usado como substantivo comum, designando a espécie dos homens traidores).
- o singular pelo plural. Exemplo: O homem é um animal racional. (o singular homem está sendo usado no lugar do plural homens).
- o gênero ou a qualidade pela espécie. Exemplo: Os mortais somos imperfeitos. (a palavra mortais está no lugar de “seres humanos”).
- a matéria pelo objeto. Exemplo: Ele não tem um níquel. (a matéria níquel é usada no lugar da coisa fabricada, que é “moeda”).

LÍNGUA PORTUGUESA
17
Observação: Os últimos 5 casos recebem também o nome de Sinédoque.
Perífrase: é a substituição de um nome por uma expressão que facilita a sua identificação. Exemplo: O país do futebol acredita no seu povo. (país do futebol = Brasil)
Sinestesia: é a mistura de sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido.
“O vento frio e cortante balança os trigais dourados e macios que se estendiam pelo campo.” (frio e cortante = tato / dourados e macios = visão + tato)
Catacrese: consiste em transferir a uma palavra o sentido próprio de outra, utilizando-se formas já incorporadas aos usos da língua. Se a metáfora surpreende pela originalidade da associação de ideias, o mesmo não ocorre com a catacrese, que já não chama a atenção por ser tão repetidamente usada. Exemplo: Ele embarcou no trem das onze. (originariamente, a palavra embarcar pressupõe barco e não trem).
Antonomásia: ocorre quando substituímos um nome próprio pela qualidade ou característica que o distingue. Exemplo: O Poeta dos Escravos é baiano. (Poeta dos Escravos está no lugar do nome próprio Castro Alves, poeta baiano que se distinguiu por escrever poemas em defesa dos escravos).
Figuras de Construção
Compare as duas maneiras de construir esta frase:Os homens pararam, o medo no coração.Os homens pararam, com o medo no coração.Nota-se que a primeira construção é mais concisa e elegante.
Desvia-se da norma estritamente gramatical para atingir um fim expressivo ou estilístico. Foi com esse intuito que assim a redigiu Jorge Amado.
A essas construções que se afastam das estruturas regulares ou comuns e que visam transmitir à frase mais concisão, expressividade ou elegância dá-se o nome de figuras de construção ou de sintaxe.
São as mais importantes figuras de construção:
Elipse: consiste na omissão de um termo da frase, o qual, no entanto, pode ser facilmente identificado. Exemplo: No fim da festa, sobre as mesas, copos e garrafas vazias. (ocorre a omissão do verbo haver: No fim da festa havia, sobre as mesas, copos e garrafas vazias).
Pleonasmo: consiste no emprego de palavras redundantes para reforçar uma ideia. Exemplo: Ele vive uma vida feliz.
Observação: Devem ser evitados os pleonasmos viciosos, que não têm valor de reforço, sendo antes fruto do desconhecimento do sentido das palavras, como por exemplo, as construções “subir para cima”, “protagonista principal”, “entrar para dentro”, etc.
Polissíndeto: consiste na repetição enfática do conectivo, geralmente o “e”. Exemplo: Felizes, eles riam, e cantavam, e pulavam de alegria, e dançavam pelas ruas...
Inversão ou Hipérbato: consiste em alterar a ordem normal dos termos ou orações com o fim de lhes dar destaque:
“Passarinho, desisti de ter.” (Rubem Braga)“Justo ela diz que é, mas eu não acho não.” (Carlos Drummond
de Andrade)
“Por que brigavam no meu interior esses entes de sonho não sei.” (Graciliano Ramos)
“Tão leve estou que já nem sombra tenho.” (Mário Quintana)Observação: o termo que desejamos realçar é colocado, em
geral, no início da frase.
Anacoluto: consiste na quebra da estrutura sintática da oração. O tipo de anacoluto mais comum é aquele em que um termo parece que vai ser o sujeito da oração mas a construção se modifica e ele acaba sem função sintática. Essa figura é usada geralmente para pôr em relevo a ideia que consideramos mais importante, destacando-a do resto. Exemplo: “Eu, que era branca e linda, eis-me medonha e escura.” (Manuel Bandeira) (o pronome eu, enunciado no início, não se liga sintaticamente à oração eis-me medonha e escura.)
Silepse: ocorre quando a concordância de gênero, número ou pessoa é feita com ideias ou termos subentendidos na frase e não claramente expressos. A silepse pode ser:
- de gênero. Exemplo: Vossa Majestade parece cansado. (o adjetivo cansado concorda não com o pronome de tratamento Vossa Majestade, de forma feminina, mas com a pessoa a quem esse pronome se refere – pessoa do sexo masculino).
- de número. Exemplo: O pessoal ficou apavorado e saíram correndo. (o verbo sair concordou com a ideia de plural que a palavra pessoal sugere).
- de pessoa. Exemplo: Os brasileiros gostamos de futebol. (o sujeito os brasileiros levaria o verbo usualmente para a 3ª pessoa do plural, mas a concordância foi feita com a 1ª pessoa do plural, indicando que a pessoa que fala está incluída em os brasileiros).
Onomatopeia: consiste no aproveitamento de palavras cuja pronúncia imita o som ou a voz natural dos seres. É um recurso fonêmico ou melódico que a língua proporciona ao escritor.
“Pedrinho, sem mais palavras, deu rédea e, lept! lept! arrancou estrada afora.” (Monteiro Lobato)
“O som, mais longe, retumba, morre.” (Goncalves Dias)“O longo vestido longo da velhíssima senhora frufrulha no alto
da escada.” (Carlos Drummond de Andrade)“Tíbios flautins finíssimos gritavam.” (Olavo Bilac)“Troe e retroe a trompa.” (Raimundo Correia)“Vozes veladas, veludosas vozes,volúpias dos violões, vozes veladas,vagam nos velhos vórtices velozesdos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas.” (Cruz e Sousa)
As onomatopeias, como nos três últimos exemplos, podem resultar da Aliteração (repetição de fonemas nas palavras de uma frase ou de um verso).
Repetição: consiste em reiterar (repetir) palavras ou orações para enfatizar a afirmação ou sugerir insistência, progressão:
“O surdo pede que repitam, que repitam a última frase.” (Cecília Meireles)
“Tudo, tudo parado: parado e morto.” (Mário Palmério)“Ia-se pelos perfumistas, escolhia, escolhia, saía toda
perfumada.” (José Geraldo Vieira)“E o ronco das águas crescia, crescia, vinha pra dentro da
casona.” (Bernardo Élis)“O mar foi ficando escuro, escuro, até que a última lâmpada se
apagou.” (Inácio de Loyola Brandão)

LÍNGUA PORTUGUESA
18
Zeugma: consiste na omissão de um ou mais termos anteriormente enunciados. Exemplo: A manhã estava ensolarada; a praia, cheia de gente. (há omissão do verbo estar na segunda oração (...a praia estava cheia de gente).
Assíndeto: ocorre quando certas orações ou palavras, que poderiam se ligar por um conectivo, vêm apenas justapostas. Exemplo: Vim, vi, venci.
Anáfora: consiste na repetição de uma palavra ou de um segmento do texto com o objetivo de enfatizar uma ideia. É uma figura de construção muito usada em poesia. Exemplo:
“Tende piedade, Senhor, de todas as mulheresQue ninguém mais merece tanto amor e amizadeQue ninguém mais deseja tanto poesia e sinceridadeQue ninguém mais precisa tanto de alegria e serenidade.”
Paranomásia: palavras com sons semelhantes, mas de significados diferentes, vulgarmente chamada de trocadilho. Exemplo: Era iminente o fim do eminente político.
Neologismo: criação de palavras novas. Exemplo: O projeto foi considerado imexível.
Figuras de Pensamento
São processos estilísticos que se realizam na esfera do pensamento, no âmbito da frase. Nelas intervém fortemente a emoção, o sentimento, a paixão. Eis as principais figuras de pensamento:
Antítese: consiste em realçar uma ideia pela aproximação de palavras de sentidos opostos. Exemplo: “Morre! Tu viverás nas estradas que abriste!” (Olavo Bilac)
Apóstrofe: consiste na interrupção do texto para se chamar a atenção de alguém ou de coisas personificadas. Sintaticamente, a apóstrofe corresponde ao vocativo. Exemplo:
“Tende piedade, Senhor, de todas as mulheresQue ninguém mais merece tanto amor e amizade” (Vinícius de
Moraes)
Eufemismo: ocorre quando, no lugar das palavras próprias, são empregadas outras com a finalidade de atenuar ou evitar a expressão direta de uma ideia desagradável ou grosseira. Exemplo: Depois de muito sofrimento, ele entregou a alma a Deus.
Gradação: ocorre quando se organiza uma sequência de palavras ou frases que exprimem a intensificação progressiva de uma ideia. Exemplo: “Eu era pobre. Era subalterno. Era nada.” (Monteiro Lobato)
Hipérbole: ocorre quando, para realçar uma ideia, exageramos na sua representação. Exemplo: Está muito calor. Os jogadores estão morrendo de sede no campo.
Ironia: é o emprego de palavras que, na frase, têm o sentido oposto ao que querem dizer. É usada geralmente com sentido sarcástico. Exemplo: Quem foi o inteligente que usou o computador e apagou o que estava gravado?
Paradoxo: é o encontro de ideias que se opõem; ideias opostas. Exemplo:
“É tão difícil olhar o mundoe ver o que ainda existepois sem vocêmeu mundo é diferenteminha alegria é triste.” (Roberto Carlos e Erasmo) (a alegria e a tristeza se opõem, se a alegria é triste, ela tem
uma qualidade que é antagônica).
Personificação ou Prosopopeia ou Animismo: consiste em atribuir características humanas a outros seres. Exemplo:
“Ah! cidade maliciosade olhos de ressacaque das índias guardou a vontade de andar nua.” (Ferreira
Gullar)
Reticência: consiste em suspender o pensamento, deixando-o meio velado. Exemplo:
“De todas, porém, a que me cativou logo foi uma... uma... não sei se digo.” (Machado de Assis)
“Quem sabe se o gigante Piaimã, comedor de gente...” (Mário de Andrade)
Retificação: como a palavra diz, consiste em retificar uma afirmação anterior. Exemplos:
É uma joia, ou melhor, uma preciosidade, esse quadro.O síndico, aliás uma síndica muito gentil não sabia como
resolver o caso.“O país andava numa situação política tão complicada quanto a
de agora. Não, minto. Tanto não.” (Raquel de Queiroz)“Tirou, ou antes, foi-lhe tirado o lenço da mão.” (Machado de
Assis)“Ronaldo tem as maiores notas da classe. Da classe? Do
ginásio!” (Geraldo França de Lima)
3.4. Diálogos: Discurso Direto e Indireto.
Discurso Direto
É aquele que reproduz exatamente o que escutou ou leu de outra pessoa. Podemos enumerar algumas características do discurso direto:
- Emprego de verbos do tipo: afirmar, negar, perguntar, responder, entre outros;
- Usam-se os seguintes sinais de pontuação: dois-pontos, travessão e vírgula.
Exemplo:
O juiz disse:__ O réu é inocente.
O discurso é direto quando são as personagens que falam. O narrador, interrompendo a narrativa, põe-nas em cena e cede-lhes a palavra. Exemplos:
“__ Por que veio tão tarde? perguntou-lhe Sofia, logo que apareceu à porta do jardim, em Santa Teresa.
__ Depois do almoço, que acabou às duas horas, estive arranjando uns papéis. Mas não é tão tarde assim, continuou Rubião, vendo o relógio; são quatro horas e meia.
__ Sempre é tarde para os amigos, replicou Sofia, em ar de censura.”
(Machado de Assis, Quincas Borba, cap. XXXIV)

LÍNGUA PORTUGUESA
19
Coisas incríveis no céu e na terra
De uma feita, estava eu sentado sozinho num banco da Praça da Alfândega quando começaram a acontecer coisas incríveis no céu, lá para as bandas da Casa de Correção: havia uns tons de chá, que se foram avinhando e se transformaram nuns roxos de insuportável beleza. Insuportável, porque o sentimento de beleza tem de ser compartilhado. Quando me levantei, depois de findo o espetáculo, havia umas moças conhecidas, paradas à esquina da Rua da Ladeira.
__ Que crepúsculo fez hoje! - disse-lhes eu, ansioso de comunicação.
__ Não, não reparamos em nada - respondeu uma delas. __ Nós estávamos aqui esperando Cezimbra.E depois ainda dizem que as mulheres não têm senso de
abstração...
(Mário Quintana)
As falas do personagem-narrador e de uma das moças, reproduzidas integralmente e introduzidas por travessão, são exemplos do Discurso Direto. Nele, a fala do personagem é, via de regra, acompanhada por um verbo de elocução, seguido de dois-pontos. Verbo de elocução é o verbo que indica a fala do personagem: dizer, falar, responder, indagar, perguntar, retrucar, afirmar, etc.
No exemplo apresentado, o autor utiliza verbos de elocução (“disse-lhes eu”, “respondeu uma delas”), mas abre mão dos dois-pontos.
Numa estrutura mais tradicional teríamos:
“... havia umas moças conhecidas, paradas à esquina da Rua da Ladeira. Ansioso de comunicação, disse-lhes eu:
__ Que crepúsculo fez hoje! Respondeu-me uma delas:__ Não, não reparamos em nada.”
As características do Discurso Direto são:
- No plano formal, um enunciado em Discurso Direto é marcado, geralmente, pela presença de verbos do tipo dizer, afirmar, ponderar, sugerir, perguntar, indagar ou expressões sinônimas, que podem introduzi-lo, arrematá-lo ou nele se inserir:
“E Alexandre abriu a torneira:- Meu pai, homem de boa família, possuía fortuna grossa,
como não ignoram.”
(Graciliano Ramos)
“Felizmente, ninguém tinha morrido - diziam em redor.” (Cecília Meirelles)
“Os que não têm filhos são órfãos às avessas”, escreveu
Machado de Assis, creio que no Memorial de Aires. (A.F. Schmidt)
Quando falta um desses verbos, cabe ao contexto e a recursos gráficos, tais como os dois pontos, as aspas, o travessão e a mudança de linha, a função de indicar a fala do personagem. É o que observamos neste passo:
“Ao aviso da criada, a família tinha chegado à janela. Não avistaram o menino:
__ Joãozinho! Nada. Será que ele voou mesmo?”
- No plano expressivo, a força da narração em Discurso Direto provém essencialmente de sua capacidade de atualizar o episódio, fazendo emergir da situação o personagem, tornando-o vivo para o ouvinte, à maneira de uma cena teatral, em que o narrador desempenha a mera função de indicador das falas.
Daí ser esta forma de relatar preferencialmente adotada nos atos diários de comunicação e nos estilos literários narrativos em que os autores pretendem representar diante dos que os leem “a comédia humana, com a maior naturalidade possível”. (E. Zola)
Discurso Indireto
É aquele reproduzido pelo narrador com suas próprias palavras, aquilo que escutou ou leu de outra pessoa. No discurso indireto eliminamos os sinais de pontuação e usamos conjunções: que, se, como, etc. Exemplo:
O juiz disse que o réu era inocente.
No Discurso Indireto não há diálogo, o narrador não põe as personagens a falar diretamente, mas faz-se o intérprete delas, transmitindo ao leitor o que disseram ou pensaram. Exemplo:
“A certo ponto da conversação, Glória me disse que desejava muito conhecer Carlota e perguntou por que não a levei comigo.”
Para você ver como fica fácil vou passar o exemplo acima para o Discurso Direto:
__ Desejo muito conhecer Carlota - disse-me Glória, a certo ponto da conversação. Por que não a trouxe consigo?
O Discurso Indireto ocorre quando o narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir a fala de um personagem. Também temos a presença de verbo de elocução (núcleo do predicado da oração principal), seguido de oração subordinada (fala do personagem). É o que ocorre na seguinte passagem.
“Dona Abigail sentou-se na cama, sobressaltada, acordou o
marido e disse que havia sonhado que iria faltar feijão. Não era a primeira vez que esta cena ocorria. Dona Abigail consciente de seus afazeres de dona-de-casa vivia constantemente atormentada por pesadelos desse gênero. E de outros gêneros, quase todos alimentícios. Ainda bêbado de sono o marido esticou o braço e apanhou a carteira sobre a mesinha de cabeceira: Quanto é que você quer?”
(NOVAES, Carlos Eduardo. O sonho do feijão.)
Nesse trecho, temos a fala (discurso) de dois personagens: a do marido (“Quanto é que você quer”) e a de Dona Abigail que disse ao marido “que havia sonhado que iria faltar feijão”. Ao contrário da fala do marido, em que o narrador reproduz fielmente as palavras do personagem, a fala de Dona Abigail não é reproduzida como as palavras que ela teria utilizado naquele momento. O narrador é quem reproduz com suas próprias palavras aquilo que Dona Abigail teria dito. Temos aí um exemplo de Discurso Indireto.

LÍNGUA PORTUGUESA
20
Veja como ficaria o trecho acima se fosse utilizado o Discurso Direto:
“Dona Abigail sentou-se na cama, sobressaltada, acordou o
marido e disse-lhe: __ Sonhei que vai faltar feijão.”
Verifique que, ao transformar o Discurso Indireto em Discurso Direto, o verbo de elocução (disse) se manteve, o conectivo (que) desapareceu e a fala da personagem passou a ser marcada por sinal de pontuação.
Veja, ainda, que o verbo sonhar, que no Discurso Indireto se encontrava no pretérito mais-que-perfeito composto (havia sonhado), no Discurso Direto passa para o pretérito perfeito simples (sonhei), e o verbo ir, que no Discurso Indireto estava no pretérito (iria), no Discurso Direto aparece no presente do indicativo (vai).
Repare que o tempo verbal, no Discurso Indireto, será sempre passado em relação ao tempo verbal do Discurso Direto. Reproduzimos, a seguir, um quadro com as respectivas relações:
Verbo no presente do indicativo: - Não bebo dessa água - afirmou a menina.
Verbo no pretérito imperfeito do indicativo: - A menina afirmou que não bebia daquela água.
Verbo no pretérito perfeito: - Perdi meu guarda-chuva - disse ele.
Verbo no pretérito mais-que-perfeito: Ele disse que tinha perdido seu guarda-chuva.
Verbo no futuro do indicativo: - Irei ao jogo.Verbo no futuro do pretérito: Ele confessou que iria ao jogo.Verbo no imperativo: - Aplaudam! - ordenou o diretor.Verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo: O diretor ordenou
que aplaudíssemos.
Tomemos como exemplo esta frase de Machado de Assis: “Elisiário confessou que estava com sono.”
Ao contrário do que observamos nos enunciados em Discurso Direto, o narrador incorpora aqui, ao seu próprio falar, uma informação do personagem (Elisiário), contentando-se em transmitir ao leitor o seu conteúdo, sem nenhum respeito à forma linguística que teria sido realmente empregada. Este processo de reproduzir enunciados chama-se Discurso Indireto.
Também, neste caso, narrador e personagem podem confundir-se num só: “Engrosso a voz e afirmo que sou estudante.” (Graciliano Ramos)
As características do Discurso Indireto são:
- No plano formal verifica-se que, introduzidas também por um verbo declarativo (dizer, afirmar, ponderar, confessar, responder, etc), as falas dos personagens se contêm, no entanto, numa oração subordinada substantiva, de regra desenvolvida:
“O padre Lopes confessou que não imaginara a existência de tantos doidos no mundo e menos ainda o inexplicável de alguns casos.”
Nestas orações, pode ocorrer a elipse da conjunção integrante:
“Fora preso pela manhã, logo ao erguer-se da cama, e, pelo cálculo aproximado do tempo, pois estava sem relógio e mesmo se o tivesse não poderia consultá-la à fraca luz da masmorra, imaginava podiam ser onze horas.” (Lima Barreto)
A conjunção integrante falta, naturalmente, quando, numa construção em Discurso Indireto, a subordinada substantiva assume a forma reduzida:
“Um dos vizinhos disse-lhe serem as autoridades do Cachoeiro.” (Graça Aranha)
- No plano expressivo assinala-se, em primeiro lugar, que o emprego do Discurso Indireto pressupõe um tipo de relato de caráter predominantemente informativo e intelectivo, sem a feição teatral e atualizadora do Discurso Direto. O narrador passa a subordinar a si o personagem, como retirar-lhe a forma própria da expressão. Mas não se conclua daí que o Discurso Indireto seja uma construção estilística pobre. É, na verdade, do emprego sabiamente dosado de um e de outro tipo de discurso que os bons escritores extraem da narrativa os mais variados efeitos artísticos, em consonância com intenções expressivas que só a análise em profundidade de uma dada obra pode revelar.
3.5. Aspectos gráficos: ortografia; acentuação (regras-padrão).
ORTOGRAFIA
A palavra ortografia é formada pelos elementos gregos orto “correto” e grafia “escrita” sendo a escrita correta das palavras da língua portuguesa, obedecendo a uma combinação de critérios etimológicos (ligados à origem das palavras) e fonológicos (ligados aos fonemas representados). Somente a intimidade com a palavra escrita, é que acaba trazendo a memorização da grafia correta. Deve-se também criar o hábito de consultar constantemente um dicionário.
Emprego da letra H
Esta letra, em início ou fim de palavras, não tem valor fonético; conservou-se apenas como símbolo, por força da etimologia e da tradição escrita. Grafa-se, por exemplo, hoje, porque esta palavra vem do latim hodie.
Emprega-se o H:
- Inicial, quando etimológico: hábito, hélice, herói, hérnia, hesitar, haurir, etc.
- Medial, como integrante dos dígrafos ch, lh e nh: chave, boliche, telha, flecha companhia, etc.
- Final e inicial, em certas interjeições: ah!, ih!, hem?, hum!, etc.
- Algumas palavras iniciadas com a letra H: hálito, harmonia, hangar, hábil, hemorragia, hemisfério, heliporto, hematoma, hífen, hilaridade, hipocondria, hipótese, hipocrisia, homenagear, hera, húmus;
- Sem h, porém, os derivados baiano, baianinha, baião, baianada, etc.
Não se usa H:
- No início de alguns vocábulos em que o h, embora etimológico, foi eliminado por se tratar de palavras que entraram na língua por via popular, como é o caso de erva, inverno, e Espanha, respectivamente do latim, herba, hibernus e Hispania. Os derivados eruditos, entretanto, grafam-se com h: herbívoro, herbicida, hispânico, hibernal, hibernar, etc.

LÍNGUA PORTUGUESA
21
Emprego das letras E, I, O e U
Na língua falada, a distinção entre as vogais átonas /e/ e /i/, /o/ e /u/ nem sempre é nítida. É principalmente desse fato que nascem as dúvidas quando se escrevem palavras como quase, intitular, mágoa, bulir, etc., em que ocorrem aquelas vogais.
Escrevem-se com a letra E:
- A sílaba final de formas dos verbos terminados em –uar: continue, habitue, pontue, etc.
- A sílaba final de formas dos verbos terminados em –oar: abençoe, magoe, perdoe, etc.
- As palavras formadas com o prefixo ante– (antes, anterior): antebraço, antecipar, antedatar, antediluviano, antevéspera, etc.
- Os seguintes vocábulos: Arrepiar, Cadeado, Candeeiro, Cemitério, Confete, Creolina, Cumeeira, Desperdício, Destilar, Disenteria, Empecilho, Encarnar, Indígena, Irrequieto, Lacrimogêneo, Mexerico, Mimeógrafo, Orquídea, Peru, Quase, Quepe, Senão, Sequer, Seriema, Seringa, Umedecer.
Emprega-se a letra I:
- Na sílaba final de formas dos verbos terminados em –air/–oer /–uir: cai, corrói, diminuir, influi, possui, retribui, sai, etc.
- Em palavras formadas com o prefixo anti- (contra): antiaéreo, Anticristo, antitetânico, antiestético, etc.
- Nos seguintes vocábulos: aborígine, açoriano, artifício, artimanha, camoniano, Casimiro, chefiar, cimento, crânio, criar, criador, criação, crioulo, digladiar, displicente, erisipela, escárnio, feminino, Filipe, frontispício, Ifigênia, inclinar, incinerar, inigualável, invólucro, lajiano, lampião, pátio, penicilina, pontiagudo, privilégio, requisito, Sicília (ilha), silvícola, siri, terebintina, Tibiriçá, Virgílio.
Grafam-se com a letra O: abolir, banto, boate, bolacha,
boletim, botequim, bússola, chover, cobiça, concorrência, costume, engolir, goela, mágoa, mocambo, moela, moleque, mosquito, névoa, nódoa, óbolo, ocorrência, rebotalho, Romênia, tribo.
Grafam-se com a letra U: bulir, burburinho, camundongo,
chuviscar, cumbuca, cúpula, curtume, cutucar, entupir, íngua, jabuti, jabuticaba, lóbulo, Manuel, mutuca, rebuliço, tábua, tabuada, tonitruante, trégua, urtiga.
Parônimos: Registramos alguns parônimos que se diferenciam
pela oposição das vogais /e/ e /i/, /o/ e /u/. Fixemos a grafia e o significado dos seguintes:
área = superfícieária = melodia, cantigaarrear = pôr arreios, enfeitararriar = abaixar, pôr no chão, caircomprido = longocumprido = particípio de cumprircomprimento = extensãocumprimento = saudação, ato de cumprircostear = navegar ou passar junto à costacustear = pagar as custas, financiardeferir = conceder, atenderdiferir = ser diferente, divergirdelatar = denunciar
dilatar = distender, aumentardescrição = ato de descreverdiscrição = qualidade de quem é discretoemergir = vir à tonaimergir = mergulharemigrar = sair do paísimigrar = entrar num país estranhoemigrante = que ou quem emigraimigrante = que ou quem imigraeminente = elevado, ilustreiminente = que ameaça acontecerrecrear = divertirrecriar = criar novamentesoar = emitir som, ecoar, repercutirsuar = expelir suor pelos poros, transpirarsortir = abastecersurtir = produzir (efeito ou resultado)sortido = abastecido, bem provido, variadosurtido = produzido, causadovadear = atravessar (rio) por onde dá pé, passar a vauvadiar = viver na vadiagem, vagabundear, levar vida de vadio
Emprego das letras G e J
Para representar o fonema /j/ existem duas letras; g e j. Grafa-se este ou aquele signo não de modo arbitrário, mas de acordo com a origem da palavra. Exemplos: gesso (do grego gypsos), jeito (do latim jactu) e jipe (do inglês jeep).
Escrevem-se com G:
- Os substantivos terminados em –agem, -igem, -ugem: garagem, massagem, viagem, origem, vertigem, ferrugem, lanugem. Exceção: pajem
- As palavras terminadas em –ágio, -égio, -ígio, -ógio, -úgio: contágio, estágio, egrégio, prodígio, relógio, refúgio.
- Palavras derivadas de outras que se grafam com g: massagista (de massagem), vertiginoso (de vertigem), ferruginoso (de ferrugem), engessar (de gesso), faringite (de faringe), selvageria (de selvagem), etc.
- Os seguintes vocábulos: algema, angico, apogeu, auge, estrangeiro, gengiva, gesto, gibi, gilete, ginete, gíria, giz, hegemonia, herege, megera, monge, rabugento, sugestão, tangerina, tigela.
Escrevem-se com J:
- Palavras derivadas de outras terminadas em –já: laranja (laranjeira), loja (lojista, lojeca), granja (granjeiro, granjense), gorja (gorjeta, gorjeio), lisonja (lisonjear, lisonjeiro), sarja (sarjeta), cereja (cerejeira).
- Todas as formas da conjugação dos verbos terminados em –jar ou –jear: arranjar (arranje), despejar (despejei), gorjear (gorjeia), viajar (viajei, viajem) – (viagem é substantivo).
- Vocábulos cognatos ou derivados de outros que têm j: laje (lajedo), nojo (nojento), jeito (jeitoso, enjeitar, projeção, rejeitar, sujeito, trajeto, trejeito).
- Palavras de origem ameríndia (principalmente tupi-guarani) ou africana: canjerê, canjica, jenipapo, jequitibá, jerimum, jiboia, jiló, jirau, pajé, etc.
- As seguintes palavras: alfanje, alforje, berinjela, cafajeste, cerejeira, intrujice, jeca, jegue, Jeremias, Jericó, Jerônimo, jérsei, jiu-jítsu, majestade, majestoso, manjedoura, manjericão, ojeriza, pegajento, rijeza, sabujice, sujeira, traje, ultraje, varejista.

LÍNGUA PORTUGUESA
22
- Atenção: Moji palavra de origem indígena, deve ser escrita com J. Por tradição algumas cidades de São Paulo adotam a grafia com G, como as cidades de Mogi das Cruzes e Mogi-Mirim.
Representação do fonema /S/
O fonema /s/, conforme o caso, representa-se por:
- C, Ç: acetinado, açafrão, almaço, anoitecer, censura, cimento, dança, dançar, contorção, exceção, endereço, Iguaçu, maçarico, maçaroca, maço, maciço, miçanga, muçulmano, muçurana, paçoca, pança, pinça, Suíça, suíço, vicissitude.
- S: ânsia, ansiar, ansioso, ansiedade, cansar, cansado, descansar, descanso, diversão, excursão, farsa, ganso, hortênsia, pretensão, pretensioso, propensão, remorso, sebo, tenso, utensílio.
- SS: acesso, acessório, acessível, assar, asseio, assinar, carrossel, cassino, concessão, discussão, escassez, escasso, essencial, expressão, fracasso, impressão, massa, massagista, missão, necessário, obsessão, opressão, pêssego, procissão, profissão, profissional, ressurreição, sessenta, sossegar, sossego, submissão, sucessivo.
- SC, SÇ: acréscimo, adolescente, ascensão, consciência, consciente, crescer, cresço, descer, desço, desça, disciplina, discípulo, discernir, fascinar, florescer, imprescindível, néscio, oscilar, piscina, ressuscitar, seiscentos, suscetível, suscetibilidade, suscitar, víscera.
- X: aproximar, auxiliar, auxílio, máximo, próximo, proximidade, trouxe, trouxer, trouxeram, etc.
- XC: exceção, excedente, exceder, excelência, excelente, excelso, excêntrico, excepcional, excesso, excessivo, exceto, excitar, etc.
Homônimos
acento = inflexão da voz, sinal gráficoassento = lugar para sentar-seacético = referente ao ácido acético (vinagre)ascético = referente ao ascetismo, místicocesta = utensílio de vime ou outro materialsexta = ordinal referente a seiscírio = grande vela de cerasírio = natural da Síriacismo = pensãosismo = terremotoempoçar = formar poçaempossar = dar posse aincipiente = principianteinsipiente = ignoranteintercessão = ato de intercederinterseção = ponto em que duas linhas se cruzamruço = pardacentorusso = natural da Rússia
Emprego de S com valor de Z
- Adjetivos com os sufixos –oso, -osa: gostoso, gostosa, gracioso, graciosa, teimoso, teimosa, etc.
- Adjetivos pátrios com os sufixos –ês, -esa: português, portuguesa, inglês, inglesa, milanês, milanesa, etc.
- Substantivos e adjetivos terminados em –ês, feminino –esa: burguês, burguesa, burgueses, camponês, camponesa, camponeses, freguês, freguesa, fregueses, etc.
- Verbos derivados de palavras cujo radical termina em –s: analisar (de análise), apresar (de presa), atrasar (de atrás), extasiar (de êxtase), extravasar (de vaso), alisar (de liso), etc.
- Formas dos verbos pôr e querer e de seus derivados: pus, pusemos, compôs, impuser, quis, quiseram, etc.
- Os seguintes nomes próprios de pessoas: Avis, Baltasar, Brás, Eliseu, Garcês, Heloísa, Inês, Isabel, Isaura, Luís, Luísa, Queirós, Resende, Sousa, Teresa, Teresinha, Tomás, Valdês.
- Os seguintes vocábulos e seus cognatos: aliás, anis, arnês, ás, ases, através, avisar, besouro, colisão, convés, cortês, cortesia, defesa, despesa, empresa, esplêndido, espontâneo, evasiva, fase, frase, freguesia, fusível, gás, Goiás, groselha, heresia, hesitar, manganês, mês, mesada, obséquio, obus, paisagem, país, paraíso, pêsames, pesquisa, presa, presépio, presídio, querosene, raposa, represa, requisito, rês, reses, retrós, revés, surpresa, tesoura, tesouro, três, usina, vasilha, vaselina, vigésimo, visita.
Emprego da letra Z
- Os derivados em –zal, -zeiro, -zinho, -zinha, -zito, -zita: cafezal, cafezeiro, cafezinho, avezinha, cãozito, avezita, etc.
- Os derivados de palavras cujo radical termina em –z: cruzeiro (de cruz), enraizar (de raiz), esvaziar (de vazio), etc.
- Os verbos formados com o sufixo –izar e palavras cognatas: fertilizar, fertilizante, civilizar, civilização, etc.
- Substantivos abstratos em –eza, derivados de adjetivos e denotando qualidade física ou moral: pobreza (de pobre), limpeza (de limpo), frieza (de frio), etc.
- As seguintes palavras: azar, azeite, azáfama, azedo, amizade, aprazível, baliza, buzinar, bazar, chafariz, cicatriz, ojeriza, prezar, prezado, proeza, vazar, vizinho, xadrez.
Sufixo –ÊS e –EZ
- O sufixo –ês (latim –ense) forma adjetivos (às vezes substantivos) derivados de substantivos concretos: montês (de monte), cortês (de corte), burguês (de burgo), montanhês (de montanha), francês (de França), chinês (de China), etc.
- O sufixo –ez forma substantivos abstratos femininos derivados de adjetivos: aridez (de árido), acidez (de ácido), rapidez (de rápido), estupidez (de estúpido), mudez (de mudo) avidez (de ávido) palidez (de pálido) lucidez (de lúcido), etc.
Sufixo –ESA e –EZA
Usa-se –esa (com s):
- Nos seguintes substantivos cognatos de verbos terminados em –ender: defesa (defender), presa (prender), despesa (despender), represa (prender), empresa (empreender), surpresa (surpreender), etc.
- Nos substantivos femininos designativos de títulos nobiliárquicos: baronesa, dogesa, duquesa, marquesa, princesa, consulesa, prioresa, etc.
- Nas formas femininas dos adjetivos terminados em –ês: burguesa (de burguês), francesa (de francês), camponesa (de camponês), milanesa (de milanês), holandesa (de holandês), etc.
- Nas seguintes palavras femininas: framboesa, indefesa, lesa, mesa, sobremesa, obesa, Teresa, tesa, toesa, turquesa, etc.

LÍNGUA PORTUGUESA
23
Usa-se –eza (com z):
- Nos substantivos femininos abstratos derivados de adjetivos e denotado qualidades, estado, condição: beleza (de belo), franqueza (de franco), pobreza (de pobre), leveza (de leve), etc.
Verbos terminados em –ISAR e –IZAR
Escreve-se –isar (com s) quando o radical dos nomes correspondentes termina em –s. Se o radical não terminar em –s, grafa-se –izar (com z): avisar (aviso + ar), analisar (análise + ar), alisar (a + liso + ar), bisar (bis + ar), catalisar (catálise + ar), improvisar (improviso + ar), paralisar (paralisia + ar), pesquisar (pesquisa + ar), pisar, repisar (piso + ar), frisar (friso + ar), grisar (gris + ar), anarquizar (anarquia + izar), civilizar (civil + izar), canalizar (canal + izar), amenizar (ameno + izar), colonizar (colono + izar), vulgarizar (vulgar + izar), motorizar (motor + izar), escravizar (escravo + izar), cicatrizar (cicatriz + izar), deslizar (deslize + izar), matizar (matiz + izar).
Emprego do X
- Esta letra representa os seguintes fonemas:
Ch – xarope, enxofre, vexame, etc.CS – sexo, látex, léxico, tóxico, etc.Z – exame, exílio, êxodo, etc.SS – auxílio, máximo, próximo, etc.S – sexto, texto, expectativa, extensão, etc.
- Não soa nos grupos internos –xce- e –xci-: exceção, exceder, excelente, excelso, excêntrico, excessivo, excitar, inexcedível, etc.
- Grafam-se com x e não com s: expectativa, experiente, expiar, expirar, expoente, êxtase, extasiado, extrair, fênix, texto, etc.
- Escreve-se x e não ch: Em geral, depois de ditongo: caixa, baixo, faixa, feixe, frouxo, ameixa, rouxinol, seixo, etc. Excetuam-se caucho e os derivados cauchal, recauchutar e recauchutagem. Geralmente, depois da sílaba inicial en-: enxada, enxame, enxamear, enxagar, enxaqueca, enxergar, enxerto, enxoval, enxugar, enxurrada, enxuto, etc. Excepcionalmente, grafam-se com ch: encharcar (de charco), encher e seus derivados (enchente, preencher), enchova, enchumaçar (de chumaço), enfim, toda vez que se trata do prefixo en- + palavra iniciada por ch. Em vocábulos de origem indígena ou africana: abacaxi, xavante, caxambu, caxinguelê, orixá, maxixe, etc. Nas seguintes palavras: bexiga, bruxa, coaxar, faxina, graxa, lagartixa, lixa, lixo, mexer, mexerico, puxar, rixa, oxalá, praxe, vexame, xarope, xaxim, xícara, xale, xingar, xampu.
Emprego do dígrafo CH
Escreve-se com ch, entre outros os seguintes vocábulos: bucha, charque, charrua, chávena, chimarrão, chuchu, cochilo, fachada, ficha, flecha, mecha, mochila, pechincha, tocha.
Homônimos
Bucho = estômagoBuxo = espécie de arbustoCocha = recipiente de madeiraCoxa = capenga, mancoTacha = mancha, defeito; pequeno prego; prego de cabeça
larga e chata, caldeira.
Taxa = imposto, preço de serviço público, conta, tarifaChá = planta da família das teáceas; infusão de folhas do chá
ou de outras plantasXá = título do soberano da Pérsia (atual Irã)Cheque = ordem de pagamentoXeque = no jogo de xadrez, lance em que o rei é atacado por
uma peça adversária
Consoantes dobradas
- Nas palavras portuguesas só se duplicam as consoantes C, R, S.
- Escreve-se com CC ou CÇ quando as duas consoantes soam distintamente: convicção, occipital, cocção, fricção, friccionar, facção, sucção, etc.
- Duplicam-se o R e o S em dois casos: Quando, intervocálicos, representam os fonemas /r/ forte e /s/ sibilante, respectivamente: carro, ferro, pêssego, missão, etc. Quando a um elemento de composição terminado em vogal seguir, sem interposição do hífen, palavra começada com /r/ ou /s/: arroxeado, correlação, pressupor, bissemanal, girassol, minissaia, etc.
ACENTUAÇÃO GRÁFICA
Tonicidade
Num vocábulo de duas ou mais sílabas, há, em geral, uma que se destaca por ser proferida com mais intensidade que as outras: é a sílaba tônica. Nela recai o acento tônico, também chamado acento de intensidade ou prosódico. Exemplos: café, janela, médico, estômago, colecionador.
O acento tônico é um fato fonético e não deve ser confundido com o acento gráfico (agudo ou circunflexo) que às vezes o assinala. A sílaba tônica nem sempre é acentuada graficamente. Exemplo: cedo, flores, bote, pessoa, senhor, caju, tatus, siri, abacaxis.
As sílabas que não são tônicas chamam-se átonas (=fracas), e podem ser pretônicas ou postônicas, conforme estejam antes ou depois da sílaba tônica. Exemplo: montanha, facilmente, heroizinho.
De acordo com a posição da sílaba tônica, os vocábulos com mais de uma sílaba classificam-se em:
Oxítonos: quando a sílaba tônica é a última: café, rapaz, escri-tor, maracujá.
Paroxítonos: quando a sílaba tônica é a penúltima: mesa, lápis, montanha, imensidade.
Proparoxítonos: quando a sílaba tônica é a antepenúltima: ár-vore, quilômetro, México.
Monossílabos são palavras de uma só sílaba, conforme a intensidade com que se proferem, podem ser tônicos ou átonos.
Monossílabos tônicos são os que têm autonomia fonética, sen-do proferidos fortemente na frase em que aparecem: é, má, si, dó, nó, eu, tu, nós, ré, pôr, etc.
Monossílabos átonos são os que não têm autonomia fonética, sendo proferidos fracamente, como se fossem sílabas átonas do vocábulo a que se apoiam. São palavras vazias de sentido como artigos, pronomes oblíquos, elementos de ligação, preposições, conjunções: o, a, os, as, um, uns, me, te, se, lhe, nos, de, em, e, que.

LÍNGUA PORTUGUESA
24
Acentuação dos Vocábulos Proparoxítonos
Todos os vocábulos proparoxítonos são acentuados na vogal tônica:
- Com acento agudo se a vogal tônica for i, u ou a, e, o abertos: xícara, úmido, queríamos, lágrima, término, déssemos, lógico, binóculo, colocássemos, inúmeros, polígono, etc.
- Com acento circunflexo se a vogal tônica for fechada ou nasal: lâmpada, pêssego, esplêndido, pêndulo, lêssemos, estômago, sôfrego, fôssemos, quilômetro, sonâmbulo etc.
Acentuação dos Vocábulos Paroxítonos
Acentuam-se com acento adequado os vocábulos paroxítonos terminados em:
- ditongo crescente, seguido, ou não, de s: sábio, róseo, planície, nódua, Márcio, régua, árdua, espontâneo, etc.
- i, is, us, um, uns: táxi, lápis, bônus, álbum, álbuns, jóquei, vôlei, fáceis, etc.
- l, n, r, x, ons, ps: fácil, hífen, dólar, látex, elétrons, fórceps, etc.
- ã, ãs, ão, ãos, guam, guem: ímã, ímãs, órgão, bênçãos, enxáguam, enxáguem, etc.
Não se acentua um paroxítono só porque sua vogal tônica é aberta ou fechada. Descabido seria o acento gráfico, por exemplo, em cedo, este, espelho, aparelho, cela, janela, socorro, pessoa, dores, flores, solo, esforços.
Acentuação dos Vocábulos Oxítonos
Acentuam-se com acento adequado os vocábulos oxítonos terminados em:
- a, e, o, seguidos ou não de s: xará, serás, pajé, freguês, vovô, avós, etc. Seguem esta regra os infinitivos seguidos de pronome: cortá-los, vendê-los, compô-lo, etc.
- em, ens: ninguém, armazéns, ele contém, tu conténs, ele convém, ele mantém, eles mantêm, ele intervém, eles intervêm, etc.
Acentuação dos Monossílabos
Acentuam-se os monossílabos tônicos: a, e, o, seguidos ou não de s: há, pá, pé, mês, nó, pôs, etc.
Acentuação dos Ditongos
Acentuam-se a vogal dos ditongos abertos éi, éu, ói, quando tônicos.
Segundo as novas regras os ditongos abertos “éi” e “ói” não são mais acentuados em palavras paroxítonas: assembléia, platéia, idéia, colméia, boléia, Coréia, bóia, paranóia, jibóia, apóio, heróico, paranóico, etc. Ficando: Assembleia, plateia, ideia, colmeia, boleia, Coreia, boia, paranoia, jiboia, apoio, heroico, paranoico, etc.
Nos ditongos abertos de palavras oxítonas terminadas em éi, éu e ói e monossílabas o acento continua: herói, constrói, dói, anéis, papéis, troféu, céu, chapéu.
Acentuação dos Hiatos
A razão do acento gráfico é indicar hiato, impedir a ditongação. Compare: caí e cai, doído e doido, fluído e fluido.
- Acentuam-se em regra, o /i/ e o /u/ tônicos em hiato com vogal ou ditongo anterior, formando sílabas sozinhos ou com s: saída (sa-í-da), saúde (sa-ú-de), faísca, caíra, saíra, egoísta, heroína, caí, Xuí, Luís, uísque, balaústre, juízo, país, cafeína, baú, baús, Grajaú, saímos, eletroímã, reúne, construía, proíbem, influí, destruí-lo, instruí-la, etc.
- Não se acentua o /i/ e o /u/ seguidos de nh: rainha, fuinha, moinho, lagoinha, etc; e quando formam sílaba com letra que não seja s: cair (ca-ir), sairmos, saindo, juiz, ainda, diurno, Raul, ruim, cauim, amendoim, saiu, contribuiu, instruiu, etc.
Segundo as novas regras da Língua Portuguesa não se acentua mais o /i/ e /u/ tônicos formando hiato quando vierem depois de ditongo: baiúca, boiúna, feiúra, feiúme, bocaiúva, etc. Ficaram: baiuca, boiuna, feiura, feiume, bocaiuva, etc.
Os hiatos “ôo” e “êe” não são mais acentuados: enjôo, vôo, perdôo, abençôo, povôo, crêem, dêem, lêem, vêem, relêem. Ficaram: enjoo, voo, perdoo, abençoo, povoo, creem, deem, leem, veem, releem.
Acento Diferencial
Emprega-se o acento diferencial como sinal distintivo de vocábulos homógrafos, nos seguintes casos:
- pôr (verbo) - para diferenciar de por (preposição).- verbo poder (pôde, quando usado no passado)- é facultativo o uso do acento circunflexo para diferenciar as
palavras forma/fôrma. Em alguns casos, o uso do acento deixa a frase mais clara. Exemplo: Qual é a forma da fôrma do bolo?
Segundo as novas regras da Língua Portuguesa não existe mais o acento diferencial em palavras homônimas (grafia igual, som e sentido diferentes) como:
- côa(s) (do verbo coar) - para diferenciar de coa, coas (com + a, com + as);
- pára (3ª pessoa do singular do presente do indicativo do verbo parar) - para diferenciar de para (preposição);
- péla (do verbo pelar) e em péla (jogo) - para diferenciar de pela (combinação da antiga preposição per com os artigos ou pronomes a, as);
- pêlo (substantivo) e pélo (v. pelar) - para diferenciar de pelo (combinação da antiga preposição per com os artigos o, os);
- péra (substantivo - pedra) - para diferenciar de pera (forma arcaica de para - preposição) e pêra (substantivo);
- pólo (substantivo) - para diferenciar de polo (combinação popular regional de por com os artigos o, os);
- pôlo (substantivo - gavião ou falcão com menos de um ano) - para diferenciar de polo (combinação popular regional de por com os artigos o, os);
Emprego do Til
O til sobrepõe-se às letras “a” e “o” para indicar vogal nasal. Pode figurar em sílaba:
- tônica: maçã, cãibra, perdão, barões, põe, etc; - pretônica: ramãzeira, balõezinhos, grã-fino, cristãmente, etc;- átona: órfãs, órgãos, bênçãos, etc.

LÍNGUA PORTUGUESA
25
Trema (o trema não é acento gráfico)
Desapareceu o trema sobre o /u/ em todas as palavras do português: Linguiça, averiguei, delinquente, tranquilo, linguístico. Exceto as de língua estrangeira: Günter, Gisele Bündchen, müleriano.
3.6. Significado da palavra no texto.
Quanto à significação, as palavras são divididas nas seguintes categorias:
Sinônimos: são palavras de sentido igual ou aproximado. Exemplo:
- Alfabeto, abecedário.- Brado, grito, clamor.- Extinguir, apagar, abolir, suprimir.- Justo, certo, exato, reto, íntegro, imparcial.
Na maioria das vezes não é indiferente usar um sinônimo pelo outro. Embora irmanados pelo sentido comum, os sinônimos diferenciam-se, entretanto, uns dos outros, por matizes de significação e certas propriedades que o escritor não pode desconhecer. Com efeito, estes têm sentido mais amplo, aqueles, mais restrito (animal e quadrúpede); uns são próprios da fala corrente, desataviada, vulgar, outros, ao invés, pertencem à esfera da linguagem culta, literária, científica ou poética (orador e tribuno, oculista e oftalmologista, cinzento e cinéreo).
A contribuição Greco-latina é responsável pela existência, em nossa língua, de numerosos pares de sinônimos. Exemplos:
- Adversário e antagonista.- Translúcido e diáfano.- Semicírculo e hemiciclo.- Contraveneno e antídoto.- Moral e ética.- Colóquio e diálogo.- Transformação e metamorfose.- Oposição e antítese.
O fato linguístico de existirem sinônimos chama-se sinonímia, palavra que também designa o emprego de sinônimos.
Antônimos: são palavras de significação oposta. Exemplos:- Ordem e anarquia.- Soberba e humildade.- Louvar e censurar.- Mal e bem.
A antonímia pode originar-se de um prefixo de sentido oposto ou negativo. Exemplos: Bendizer/maldizer, simpático/antipático, progredir/regredir, concórdia/discórdia, explícito/implícito, ativo/inativo, esperar/desesperar, comunista/anticomunista, simétrico/assimétrico, pré-nupcial/pós-nupcial.
Homônimos: são palavras que têm a mesma pronúncia, e às vezes a mesma grafia, mas significação diferente. Exemplos:
- São (sadio), são (forma do verbo ser) e são (santo).- Aço (substantivo) e asso (verbo).
Só o contexto é que determina a significação dos homônimos. A homonímia pode ser causa de ambiguidade, por isso é considerada uma deficiência dos idiomas.
O que chama a atenção nos homônimos é o seu aspecto fônico (som) e o gráfico (grafia). Daí serem divididos em:
Homógrafos Heterofônicos: iguais na escrita e diferentes no timbre ou na intensidade das vogais.
- Rego (substantivo) e rego (verbo).- Colher (verbo) e colher (substantivo).- Jogo (substantivo) e jogo (verbo).- Apoio (verbo) e apoio (substantivo).- Para (verbo parar) e para (preposição).- Providência (substantivo) e providencia (verbo).- Às (substantivo), às (contração) e as (artigo).- Pelo (substantivo), pelo (verbo) e pelo (contração de per+o).
Homófonos Heterográficos: iguais na pronúncia e diferentes na escrita.
- Acender (atear, pôr fogo) e ascender (subir).- Concertar (harmonizar) e consertar (reparar, emendar).- Concerto (harmonia, sessão musical) e conserto (ato de
consertar).- Cegar (tornar cego) e segar (cortar, ceifar).- Apreçar (determinar o preço, avaliar) e apressar (acelerar).- Cela (pequeno quarto), sela (arreio) e sela (verbo selar).- Censo (recenseamento) e senso (juízo).- Cerrar (fechar) e serrar (cortar).- Paço (palácio) e passo (andar).- Hera (trepadeira) e era (época), era (verbo).- Caça (ato de caçar), cassa (tecido) e cassa (verbo cassar =
anular).- Cessão (ato de ceder), seção (divisão, repartição) e sessão
(tempo de uma reunião ou espetáculo).
Homófonos Homográficos: iguais na escrita e na pronúncia.- Caminhada (substantivo), caminhada (verbo).- Cedo (verbo), cedo (advérbio).- Somem (verbo somar), somem (verbo sumir).- Livre (adjetivo), livre (verbo livrar).- Pomos (substantivo), pomos (verbo pôr).- Alude (avalancha), alude (verbo aludir).
Parônimos: são palavras parecidas na escrita e na pronúncia: Coro e couro, cesta e sesta, eminente e iminente, tetânico e titânico, atoar e atuar, degradar e degredar, cético e séptico, prescrever e proscrever, descrição e discrição, infligir (aplicar) e infringir (transgredir), osso e ouço, sede (vontade de beber) e cede (verbo ceder), comprimento e cumprimento, deferir (conceder, dar deferimento) e diferir (ser diferente, divergir, adiar), ratificar (confirmar) e retificar (tornar reto, corrigir), vultoso (volumoso, muito grande: soma vultosa) e vultuoso (congestionado: rosto vultuoso).
Polissemia: Uma palavra pode ter mais de uma significação. A esse fato linguístico dá-se o nome de polissemia. Exemplos:
- Mangueira: tubo de borracha ou plástico para regar as plantas ou apagar incêndios; árvore frutífera; grande curral de gado.
- Pena: pluma, peça de metal para escrever; punição; dó.- Velar: cobrir com véu, ocultar, vigiar, cuidar, relativo ao véu
do palato.Podemos citar ainda, como exemplos de palavras polissêmicas,
o verbo dar e os substantivos linha e ponto, que têm dezenas de acepções.
Sentido Próprio e Sentido Figurado: as palavras podem ser empregadas no sentido próprio ou no sentido figurado. Exemplos:
- Construí um muro de pedra. (sentido próprio).- Ênio tem um coração de pedra. (sentido figurado).- As águas pingavam da torneira, (sentido próprio).- As horas iam pingando lentamente, (sentido figurado).

LÍNGUA PORTUGUESA
26
Denotação e Conotação: Observe as palavras em destaque nos seguintes exemplos:
- Comprei uma correntinha de ouro.- Fulano nadava em ouro.
No primeiro exemplo, a palavra ouro denota ou designa simplesmente o conhecido metal precioso, tem sentido próprio, real, denotativo.
No segundo exemplo, ouro sugere ou evoca riquezas, poder, glória, luxo, ostentação; tem o sentido conotativo, possui várias conotações (ideias associadas, sentimentos, evocações que irradiam da palavra).
3.7. Categorias Morfossintáticas (substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio e preposição).
Substantivo
Substantivo é tudo o que nomeia as “coisas” em geral. Substantivo é tudo o que pode ser visto, pego ou sentido. Substantivo é tudo o que pode ser precedido de artigo .
Classificação e Formação
Substantivo Comum: Substantivo comum é aquele que designa os seres de uma espécie de forma genérica. Por exemplo: pedra, computador, cachorro, homem, caderno.
Substantivo Próprio: Substantivo próprio é aquele que designa um ser específico, determinado, individualizando-o. Por exemplo: Maxi, Londrina, Dílson, Ester. O substantivo próprio sempre deve ser escrito com letra maiúscula.
Substantivo Concreto: Substantivo concreto é aquele que designa seres que existem por si só ou apresentam-se em nossa imaginação como se existissem por si. Por exemplo: ar, som, Deus, computador, Ester.
Substantivo Abstrato: Substantivo abstrato é aquele que designa prática de ações verbais, existência de qualidades ou sentimentos humanos. Por exemplo: saída (prática de sair), beleza (existência do belo), saudade.
Formação dos substantivos
Substantivo Primitivo: É primitivo o substantivo que não se origina de outra palavra existente na língua portuguesa. Por exemplo: pedra, jornal, gato, homem.
Substantivo Derivado: É derivado o substantivo que provém de outra palavra da língua portuguesa. Por exemplo: pedreiro, jornalista, gatarrão, homúnculo.
Substantivo Simples: É simples o substantivo formado por um único radical. Por exemplo: pedra, pedreiro, jornal, jornalista.
Substantivo Composto: É composto o substantivo formado por dois ou mais radicais. Por exemplo: pedra-sabão, homem-rã, passatempo.
Substantivo Coletivo: É coletivo o substantivo no singular que indica diversos elementos de uma mesma espécie.
- abelha - enxame, cortiço, colmeia- acompanhante - comitiva, cortejo, séquito- alho - (quando entrelaçados) réstia, enfiada, cambada- aluno - classe- amigo - (quando em assembleia) tertúlia
Adjetivo
É a classe gramatical de palavras que exprimem qualidade, defeito, origem, estado do ser.
Classificação dos AdjetivosExplicativo - exprime qualidade própria do se. Por exemplo,
neve fria.Restritivo - exprime qualidade que não é própria do ser. Ex:
fruta madura.Primitivo - não vem de outra palavra portuguesa. Por exemplo,
bom e mau.Derivado - tem origem em outra palavra portuguesa. Por
exemplo, bondosoSimples - formado de um só radical. Por exemplo, brasileiro.Composto - formado de mais de um radical. Por exemplo,
franco-brasileiro.Pátrio - é o adjetivo que indica a naturalidade ou a
nacionalidade do ser. Por exemplo, brasileiro, cambuiense, etc.
Locução Adjetiva
É toda expressão formada de uma preposição mais um substantivo, equivalente a um adjetivo. Por exemplo, homens com aptidão (aptos), bandeira da Irlanda (irlandesa).
Gêneros dos Adjetivos
Biformes - têm duas formas, sendo uma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, mau e má, judeu e judia. Se o adjetivo é composto e biforme, ele flexiona no feminino somente o último elemento. Por exemplo, o motivo sócio-literário e a causa sócio-literária. Exceção = surdo-mudo e surda-muda.
Uniformes - têm uma só forma tanto para o masculino como para o feminino. Por exemplo, homem feliz ou cruel e mulher feliz ou cruel. Se o adjetivo é composto e uniforme, fica invariável no feminino. Por exemplo, conflito político-social e desavença político-social.
Número dos Adjetivos
Plural dos adjetivos simples: Os adjetivos simples flexionam-se no plural de acordo com as regras estabelecidas para a flexão numérica dos substantivos simples. Por exemplo, mau e maus, feliz e felizes, ruim e ruins, boa e boas.
Plural dos adjetivos compostos: Os adjetivos compostos flexionam-se no plural de acordo com as seguintes regras:
- os adjetivos compostos formados de adjetivo + adjetivo flexionam somente o último elemento. Por exemplo, luso-brasileiro e luso-brasileiros. Exceções: surdo-mudo e surdos-mudos. E ficam invariáveis os seguintes adjetivos compostos: azul-celeste e azul-marinho.

LÍNGUA PORTUGUESA
27
- os adjetivos compostos formados de palavra invariável + adjetivo flexionam também só o último elemento. Por exemplo, mal-educado e mal-educados.
- os adjetivos compostos formados de adjetivo + substantivo ficam invariáveis. Por exemplo, carro(s) verde-canário.
- as expressões formadas de cor + de + substantivo também ficam invariáveis. Por exemplo, cabelo(s) cor-de-ouro.
Graus dos Adjetivos
O adjetivo flexiona-se em grau para indicar a intensidade da qualidade do ser. Existem, para o adjetivo, dois graus:
Comparativo - de igualdade: tão (tanto, tal) bom como (quão, quanto).- de superioridade: analítico (mais bom do que) e sintético
(melhor que).- de inferioridade: menos bom que (do que).
Superlativo- absoluto: analítico (muito bom) e sintético (ótimo, erudito;
ou boníssimo, popular).- relativo: de superioridade (o mais bom de) e de inferioridade
(o menos bom ).
Somente seis adjetivos têm o grau comparativo de superioridade sintético. Veja-os: de bom - melhor, de mau - pior, de grande - maior, de pequeno - menor, de alto - superior, de baixo - inferior. Para estes seis adjetivos, usamos a forma analítica do grau comparativo de superioridade, quando se comparam duas qualidades do mesmo ser. Por exemplo, Ele é mais bom que inteligente. Usa-se a forma sintética do grau comparativo de superioridade, quando se comparam dois seres através da mesma qualidade. Por exemplo: Ela é melhor que você.
Pronome
A palavra que acompanha (determina) ou substitui um nome é denominada pronome. Ex.: Ana disse para sua irmã: - Eu preciso do meu livro de matemática. Você não o encontrou? Ele estava aqui em cima da mesa.
- eu substitui “Ana”- meu acompanha “o livro de matemática”- o substitui “o livro de matemática”- ele substitui “o livro de matemática”
Flexão: Quanto à forma, o pronome varia em gênero, número e pessoa:
Gênero (masculino/feminino)Ele saiu/Ela saiuMeu carro/Minha casa
Número (singular/plural)Eu saí/Nós saímosMinha casa/Minhas casas
Pessoa (1ª/2ª/3ª)Eu saí/Tu saíste/Ele saiuMeu carro/Teu carro/Seu carro
Função: O pronome tem duas funções fundamentais:
Substituir o nome: Nesse caso, classifica-se como pronome substantivo e constitui o núcleo de um grupo nominal. Ex.: Quando cheguei, ela se calou. (ela é o núcleo do sujeito da segunda oração e se trata de um pronome substantivo porque está substituindo um nome)
Referir-se ao nome: Nesse caso, classifica-se como pronome adjetivo e constitui uma palavra dependente do grupo nominal. Ex.: Nenhum aluno se calou. (o sujeito “nenhum aluno” tem como núcleo o substantivo “aluno” e como palavra dependente o pronome adjetivo “nenhum”)
Pronomes Pessoais: São aqueles que substituem os nomes e representam as pessoas do discurso:
1ª pessoa - a pessoa que fala - eu/nós2ª pessoa - a pessoa com que se fala - tu/vós3ª pessoa - a pessoa de quem se fala - ele/ela/eles/elas
Pronomes pessoais retos: são os que têm por função principal representar o sujeito ou predicativo.
Pronomes pessoais oblíquos: são os que podem exercer função de complemento.
Pronomes Oblíquos
- Associação de pronomes a verbos: Os pronomes oblíquos o, a, os, as, quando associados a verbos terminados em -r, -s, -z, assumem as formas lo, la, los, las, caindo as consoantes. Ex.: Carlos quer convencer seu amigo a fazer uma viagem; Carlos quer convencê-lo a fazer uma viagem.
- Quando associados a verbos terminados em ditongo nasal (-am, -em, -ão, -õe), assumem as formas no, na, nos, nas. Ex.: Fizeram um relatório; Fizeram-no.
- Os pronomes oblíquos podem ser reflexivos e quando isso ocorre se referem ao sujeito da oração. Ex.: Maria olhou-se no espelho; Eu não consegui controlar-me diante do público.
- Antes do infinitivo precedido de preposição, o pronome usado deverá ser o reto, pois será sujeito do verbo no infinitivo. Ex.: O professor trouxe o livro para mim. (pronome oblíquo, pois é um complemento); O professor trouxe o livro para eu ler. (pronome reto, pois é sujeito)
Pronomes de Tratamento: São aqueles que substituem a terceira pessoa gramatical. Alguns são usados em tratamento cerimonioso e outros em situações de intimidade. Conheça alguns:
- você (v.): tratamento familiar- senhor (Sr.), senhora (Srª.): tratamento de respeito

LÍNGUA PORTUGUESA
28
- senhorita (Srta.): moças solteiras- Vossa Senhoria (V.Sª.): para pessoa de cerimônia- Vossa Excelência (V.Exª.): para altas autoridades- Vossa Reverendíssima (V. Revmª.): para sacerdotes- Vossa Eminência (V.Emª.): para cardeais- Vossa Santidade (V.S.): para o Papa- Vossa Majestade (V.M.): para reis e rainhas- Vossa Majestade Imperial (V.M.I.): para imperadores- Vossa Alteza (V.A.): para príncipes, princesas e duques
1- Os pronomes e os verbos ligados aos pronomes de tratamento devem estar na 3ª pessoa. Ex.: Vossa Excelência já terminou a audiência? (nesse fragmento se está dirigindo a pergunta à autoridade)
2- Quando apenas nos referimos a essas pessoas, sem que estejamos nos dirigindo a elas, o pronome “vossa” se transforma no possessivo “sua”. Ex.: Sua Excelência já terminou a audiência? (nesse fragmento não se está dirigindo a pergunta à autoridade, mas a uma terceira pessoa do discurso)
Pronomes Possessivos: São aqueles que indicam ideia de posse. Além de indicar a coisa possuída, indicam a pessoa gramatical possuidora.
Existem palavras que eventualmente funcionam como pronomes possessivos. Ex.: Ele afagou-lhe (seus) os cabelos.
Pronomes Demonstrativos: Os pronomes demonstrativos possibilitam localizar o substantivo em relação às pessoas, ao tempo, e sua posição no interior de um discurso.
Pronomes Espaço Tempo Ao dito Enumeraçãoeste, esta, isto,
estes, estasPerto de quem fala (1ª pessoa). Presente Referente aquilo que
ainda não foi dito.Referente ao último elemento citado em uma enumeração.
Ex.: Não gostei deste livro aqui. Ex.: Neste ano, tenho realizado bons negócios.
Ex.: Esta afirmação me deixou surpresa: gostava de química.
Ex.: O homem e a mulher são massacrados pela cultura atual, mas esta é mais oprimida.
esse, essa, esses, essas
Perto de quem ouve (2ª pessoa). Passado ou futuro próximos
Referente aquilo que já foi dito.
Ex.: Não gostei desse livro que está em tuas mãos.
Ex.: Nesse último ano, realizei bons negócios
Ex.: Gostava de química. Essa afirmação me deixou surpresa
aquele, aquela, aquilo, aqueles,
aquelas
Perto da 3ª pessoa, distante dos interlocutores.
Passado ou futuro remotos
Referente ao primeiro elemento citado em uma enumeração.
Ex.: Não gostei daquele livro que a Roberta trouxe.
Ex.: Tenho boas recordações de 1960, pois naquele ano realizei bons negócios.
Ex.: O homem e a mulher são massacrados pela cultura atual, mas esta é mais oprimida que aquele.

LÍNGUA PORTUGUESA
29
Pronomes Indefinidos: São pronomes que acompanham o substantivo, mas não o determinam de forma precisa: algum, bastante, cada, certo, diferentes, diversos, demais, mais, menos, muito nenhum, outro, pouco, qual, qualquer, quanto, tanto, todo, tudo, um, vários.
Algumas locuções pronominais indefinidas: cada qual, qualquer um, tal e qual, seja qual for, sejam quem for, todo aquele, quem (que), quer uma ou outra, todo aquele (que), tais e tais, tal qual, seja qual for.
Uso de alguns pronomes indefinidos:
Algum:- quando anteposto ao substantivo da ideia de afirmação.
“Algum dinheiro terá sido deixado por ela.” - quando posposto ao substantivo dá ideia de negação.
“Dinheiro algum terá sido deixado por ela.”
O uso desse pronome indefinido antes ou depois do verbo está ligado à intenção do enunciador.
Demais: Este pronome indefinido, muitas vezes, é confundido com o advérbio “demais” ou com a locução adverbial “de mais”. Ex.:
“Maria não criou nada de mais além de uma cópia do quadro de outro artista.” (locução adverbial)
“Maria esperou os demais.” (pronome indefinido = os outros)“Maria esperou demais.” (advérbio de intensidade)
Todo: É usado como pronome indefinido e também como advérbio, no sentido de completamente, mas possuindo flexão de gênero e número, o que é raro em um advérbio. Ex.:
“Percorri todo trajeto.” (pronome indefinido)“Por causa da chuva, a roupa estava toda molhada.” (advérbio)
Cada: Possui valor distributivo e significa todo, qualquer dentre certo número de pessoas ou de coisas. Ex.: “Cada homem tem a mulher que merece”. Este pronome indefinido não pode anteceder substantivo que esteja em plural (cada férias), a não ser que o substantivo venha antecedido de numeral (cada duas férias). Pode, às vezes, ter valor intensificador: “Mário diz cada coisa idiota!”
Pronomes Relativos: São aqueles que representam nomes que já foram citados e com os quais estão relacionados. O nome citado denomina-se antecedente do pronome relativo. Ex.: “A rua onde moro é muito escura à noite.”; onde: pronome relativo que representa “a rua”; a rua: antecedente do pronome “onde”.
Alguns pronomes que podem funcionar como pronomes relativos: Masculino (o qual, os quais, quanto, quantos, cujo, cujos). Feminino (a qual, as quais, quanta, quantas, cuja, cujas). Invariável (quem, que, onde).
O pronome relativo quem sempre possui como antecedente uma pessoa ou coisas personificadas, vem sempre antecedido de preposição e possui o significado de “o qual”. Ex.: “Aquela menina de quem lhe falei viajou para Paris”. Antecedente: menina; Pronome relativo antecedido de preposição: de quem.
Os pronomes relativos cujo, cuja sempre precedem a um substantivo sem artigo e possuem o significado “do qual”, “da qual”. Ex.: “O livro cujo autor não me recordo.”
Os pronomes relativos quanto(s) e quanta(s) aparecem geralmente precedidos dos pronomes indefinidos tudo, tanto(s), tanta(s), todos, todas. Ex.: “Você é tudo quanto queria na vida.”
O pronome relativo onde tem sempre como antecedente palavra que indica lugar. Ex.: “A casa onde moro é muito espaçosa.”
O pronome relativo que admite diversos tipos de antecedentes: nome de uma coisa ou pessoa, o pronome demonstrativo ou outro pronome. Ex.: “Quero agora aquilo que ele me prometeu.”
Os pronomes relativos, na maioria das vezes, funcionam como conectivos, permitindo-nos unir duas orações em um só período. Ex.: A mulher parece interessada. A mulher comprou o livro. (A mulher que parece interessada comprou o livro.)
Pronomes Interrogativos: Os pronomes interrogativos levam o verbo à 3ª pessoa e são usados em frases interrogativas diretas ou indiretas. Não existem pronomes exclusivamente interrogativos e sim que desempenham função de pronomes interrogativos, como por exemplo: que, quantos, quem, qual, etc. Ex.: “Quantos livros teremos que comprar?”; “Ele perguntou quantos livros teriam que comprar.”; “Qual foi o motivo do seu atraso?”
Verbo
Quando se pratica uma ação, a palavra que representa essa ação e indica o momento em que ela ocorre é o verbo. Exemplos:
- Aquele pedreiro trabalhou muito. (ação – pretérito)- Venta muito na primavera. (fenômeno – presente)- Ana ficará feliz com a tua chegada. (estado - futuro)- Maria enviuvou na semana passada. (mudança de estado –
pretérito)- A serra azula o horizonte. (qualidade – presente)
Conjugação Verbal: Existem 3 conjugações verbais:- A 1ª que tem como vogal temática o ‘’a’’. Ex: cantar, pular,
sonhar etc...- A 2ª que tem como vogal temática o ‘’e’’. Ex: vender, comer,
chover, sofrer etc....- A 3ª que tem como vogal temática o ‘’i’’. Ex: partir, dividir,
sorrir, abrir etc....
1º CONJUGAÇÃO
verbos terminados em AR
2º CONJUGAÇÃO
verbos terminados em ER
3º CONJUGAÇÃO
verbos terminados em IR
cantar amar
sonhar
vender chover sofrer
partir sorrir abrir
OBS: O verbo pôr, assim como seus derivados (compor, repor, depor, etc.), pertence à 2º conjugação, porque na sua forma antiga a sua terminação era em er: poer. A vogal “e”, apesar de haver desaparecido do infinitivo, revela-se em algumas formas de verbo: põe, pões, põem etc.
Pessoas: 1ª, 2ª e 3ª pessoa são abordadas em 2 situações: singular e plural.
Primeira pessoa do singular – eu; ex: eu cantoSegunda pessoa do singular – tu; ex: tu cantasTerceira pessoa do singular – ele; ex ele: cantaPrimeira pessoa do plural – nós; ex: nós cantamosSegunda pessoa do plural – vós; ex: vós cantaisTerceira pessoa do plural – eles; ex: eles cantam

LÍNGUA PORTUGUESA
30
Tempos e Modo de Verbo
- Presente. Fato ocorrido no momento em que se fala. Ex: Faz- Pretérito. Fato ocorrido antes. Ex: Fez- Futuro. Fato ocorrido depois. Ex: FaráO pretérito subdivide-se em perfeito, imperfeito e mais-que-
perfeito.- Perfeito. Ação acabada. Ex: Eu li o ultimo romance de
Rubens Fonseca.- Imperfeito. Ação inacabada no momento a que se refere à
narração. Ex: Ele olhava o mar durante horas e horas. - Mais-que-perfeito. Ação acabada, ocorrida antes de outro
fato passado. Ex: para poder trabalhar melhor, ela dividira a turma em dois grupos.
O futuro subdivide-se em futuro do presente e futuro do pretérito.
- futuro do Presente. Refere-se a um fato imediato e certo. Ex: comprarei ingressos para o teatro.
- futuro do Pretérito. Pode indicar condição, referindo-se a uma ação futura, vinculada a um momento já passado. Ex: Aprenderia tocar violão, se tivesse ouvido para a música (aqui indica condição); Eles gostariam de convidá-la para a festa.
Modos Verbais- Indicativo. Apresenta o fato de maneira real, certa, positiva.
Ex: Eu estudo geografiaIremos ao cinema; Voltou para casa.- subjuntivo. Pode exprimir um desejo e apresenta o fato como
possível ou duvidoso, hipotético. Ex: Queria que me levasses ao teatro; Se eu tivesse dinheiro, compraria um carro; Quando o relógio despertar, acorda-me.
- Imperativo. Exprime ordem, conselho ou súplica. Ex: Limpa a cozinha, Maria; Descanse bastante nestas férias; Senhor tende piedade de nós.
As formas nominais do verbo são Três: infinitivo, gerúndio e particípio.
Infinitivo: Pessoal - cantar (eu), cantares (tu), vender (eu), venderes (tu),
partir (eu), partires (tu)Impessoal - cantar, vender, partir.Gerúndio - cantando, vendendo, partindo.Particípio - cantado,vendido,partido.Impessoal: Uma forma em que o verbo não se refere a
nenhuma pessoa gramatical: é o infinitivo impessoal quando não se refere às pessoas do discurso. Exemplos: viver é bom. (a vida é boa); É proibido fumar. (é proibido o fumo)
Pessoal: Quando se refere às pessoas do discurso. Neste caso, não é flexionado nas 1ª e 3ª pessoas do singular e flexionadas nas demais:
Falar (eu) – não flexionado Falares (tu) – flexionado Falar (ele) – não flexionado Falarmos (nós) – flexionadoFalardes (voz) – flexionadoFalarem (eles) – flexionadoEx: É conveniente estudares (é conveniente o estudo); É útil
pesquisarmos (é útil a nossa pesquisa)
Aspecto: Aspecto é a maneira de ser ação.
O Pretérito Perfeito Composto: indica um fato concluído, revela de certa forma a ideia de continuidade. Ex: Eu tenho estudado (eu estudei até o presente momento). Os verbos invocativos (terminados em “ecer” ou “escer”) indica uma continuidade gradual. Ex: embranquecer é começar a ficar grisalho e envelhecer é ir ficando velho.
O Presente do Indicativo pode:- indicar frequência. Ex: O sol nasce para todos.- ser empregado no lugar do futuro. Ex: amanhã vou ao teatro.
(irei); Se continuam as indiretas, perco a paciência. (continuarem; perderei)
- ser empregado no lugar do pretérito (presente histórico). Ex: É 1939: alemães invadem o território polonês (era; invadiram)
O Pretérito Imperfeito do Indicativo pode: - Substituir o futuro do pretérito. Ex: se eu soubesse, não dizia
aquilo. (diria)- Expressar cortesia ou timidez. Ex: o senhor podia fazer o
favor de me emprestar uma caneta? (pode)
Futuro do Presente pode:- Indicar probabilidade. Ex: Ele terá, no máximo, uns 70 quilos.- Substituir o imperativo. Ex: não matarás. (não mates)
Tempos Simples e Tempos Compostos: Os tempos são simples quando formados apenas pelo verbo principal.
Indicativo:Presente - canto, vendo, parto, etc.Pretérito perfeito - cantei, vendi, parti, etc.Pretérito imperfeito - cantava, vendia, partia, etc.Pretérito mais-que-perfeito - cantara, vendera, partira, etc.Futuro do presente - cantarei, venderei, partirei, etc.Futuro do pretérito - cantaria, venderia, partiria, etc.
Subjuntivo:Presente - cante, venda, parta, etc.Pretérito imperfeito - cantasse, vendesse, partisse, etc.Futuro - cantar, vender, partir.
Imperativo: Ao indicar ordem, conselho, pedido, o fato verbal pode expressar negação ou afirmação. São, portanto, duas as formas do imperativo:
- Imperativo Negativo: Não falem alto.- Imperativo Afirmativo: Falem mais alto.
Imperativo negativo: É formado do presente do subjuntivo.
1º CONJUGAÇAO
CANT - AR
2º CONJUGAÇÃO VEND - ER
3º CONJUGAÇÃO PART - IR
Não cantes Não cante Não cantemos Não canteis Não cantem
Não vendas Não venda Não vendamos Não vendais Não vendam
Não partas Não parta Não partamos Não partais Não partam
Imperativo afirmativo: Também é formado do presente do subjuntivo, com exceção da 2º pessoa do singular e da 2º pessoa do plural, que são retiradas do presente do indicativo sem o “s”. Ex: Canta – Cante – Cantemos – Cantai – Cantem

LÍNGUA PORTUGUESA
31
O imperativo não possui a 1º pessoa do singular, pois não se prevê a ordem, o pedido ou o conselho a si mesmo.
Tempos são compostos quando formados pelos auxiliares ter ou haver.
Indicativo:
Pretérito perfeito composto - tenho cantado, tenho vendido, tenho partido, etc.
Pretérito mais-que-perfeito composto - tinha cantado, tinha vendido, tinha partido, etc.
Futuro do presente composto - terei cantado, terei vendido, terei partido, etc.
Futuro do pretérito composto - teria cantado, teria vendido, teria partido, etc.
Subjuntivo:Pretérito perfeito composto - tenha cantado, tenha vendido,
tenha partido, etc.Pretérito mais-que-perfeito composto - tivesse cantado, tivesse
vendido, tivesse partido, etc.Futuro composto - tiver cantado, tiver vendido, tiver partido,
etc.
Infinitivo:Pretérito impessoal composto - ter cantado, ter vendido, ter
partido, etc.Pretérito pessoal composto - ter (teres) cantado, ter (teres)
vendido, ter (teres) partido.Gerúndio pretérito composto - tendo cantado, tendo vendido,
tendo partido.Regulares: Regulares são verbos que se conjugam de acordo
com o paradigma (modelo) de cada conjugação. Cantar (1ª conjugação) vender (2ª conjugação) partir (3ª conjugação) todos que se conjugarem de acordo com esses verbos serão regulares.
Advérbio
Palavra invariável que modifica essencialmente o verbo, exprimindo uma circunstância.
Advérbio modificando um verbo ou adjetivo: Ocorre quando o advérbio modifica um verbo ou um adjetivo acrescentando a eles uma circunstância. Por circunstância entende-se qualquer particularidade que determina um fato, ampliando a informação nele contida. Ex.: Antônio construiu seu arraial popular ali; Estradas tão ruins.
Advérbio modificando outro advérbio: Ocorre quando o advérbio modifica um adjetivo ou outro advérbio, geralmente intensificando o significado. Ex.: Grande parte da população adulta lê muito mal.
Advérbio modificando uma oração inteira: Ocorre quando o advérbio está modificando o grupo formado por todos os outros elementos da oração, indicando uma circunstância. Ex.: Lamentavelmente o Brasil ainda tem 19 milhões de analfabetos.
Locução Adverbial: É um conjunto de palavras que pode exercer a função de advérbio. Ex.: De modo algum irei lá.
Tipos de Advérbios
- de modo: Ex.: Sei muito bem que ninguém deve passar atestado da virtude alheia. Bem, mal, assim, adrede, melhor, pior, depressa, acinte, debalde, devagar, ás pressas, às claras, às cegas, à toa, à vontade, às escondas, aos poucos, desse jeito, desse modo, dessa maneira, em geral, frente a frente, lado a lado, a pé, de cor, em vão e a maior parte dos que terminam em -mente: calmamente, tristemente, propositadamente, pacientemente, amorosamente, docemente, escandalosamente, bondosamente, generosamente.
- de intensidade: Ex.: Acho que, por hoje, você já ouviu bastante. Muito, demais, pouco, tão, menos, em excesso, bastante, pouco, mais, menos, demasiado, quanto, quão, tanto, assaz, que (equivale a quão), tudo, nada, todo, quase, de todo, de muito, por completo,bem (quando aplicado a propriedades graduáveis).
- de tempo: Ex.: Leia e depois me diga quando pode sair na gazeta. Hoje, logo, primeiro, ontem, tarde outrora, amanhã, cedo, dantes, depois, ainda, antigamente, antes, doravante, nunca, então, ora, jamais, agora, sempre, já, enfim, afinal, amiúde, breve, constantemente, entrementes, imediatamente, primeiramente, provisoriamente, sucessivamente, às vezes, à tarde, à noite, de manhã, de repente, de vez em quando, de quando em quando, a qualquer momento, de tempos em tempos, em breve, hoje em dia.
- de lugar: Ex.: A senhora sabe aonde eu posso encontrar esse pai-de-santo? Aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, acolá, atrás, além, lá, detrás, aquém, cá, acima, onde, perto, aí, abaixo, aonde, longe, debaixo, algures, defronte, nenhures, adentro, afora, alhures, nenhures, aquém, embaixo, externamente, a distancia, à distancia de, de longe, de perto, em cima, à direita, à esquerda, ao lado, em volta.
- de negação : Ex.: De modo algum irei lá. Não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tampouco, de jeito nenhum.
- de dúvida: Ex.: Talvez ela volte hoje. Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, casualmente, por certo, quem sabe.
- de afirmação: Ex.: Realmente eles sumiram. Sim, certamente, realmente, decerto, efetivamente, certo, decididamente, realmente, deveras, indubitavelmente.
- de exclusão: Apenas, exclusivamente, salvo, senão, somente, simplesmente, só, unicamente.
- de inclusão: Ex.: Emocionalmente o indivíduo também amadurece durante a adolescência. Ainda, até, mesmo, inclusivamente, também
- de ordem: Depois, primeiramente, ultimamente
- de designação: Eis
- de interrogação: Ex.: E então? Quando é que embarca? onde? (lugar), como? (modo), quando? (tempo), porque? (causa), quanto? (preço e intensidade), para que? (finalidade).

LÍNGUA PORTUGUESA
32
Palavras Denotativas: Há, na língua portuguesa, uma série de palavras que se assemelham a advérbios. A Nomenclatura Gramatical Brasileira não faz nenhuma classificação especial para essas palavras, por isso elas são chamadas simplesmente de palavras denotativas.
- Adição: Ex.: Comeu tudo e ainda queria mais. Ainda, além disso.
- Afastamento: Ex.: Foi embora daqui. Embora.- Afetividade: Ex.: Ainda bem que passei de ano. Ainda bem,
felizmente, infelizmente.- Aproximação: quase, lá por, bem, uns, cerca de, por volta de.- Designação: Ex.: Eis nosso novo carro. Eis.- Exclusão: Ex.: Todos irão, menos ele. Apenas, salvo, menos,
exceto, só, somente, exclusive, sequer, senão.- Explicação: Ex.: Viajaremos em julho, ou seja, nas férias.
Isto é, por exemplo, a saber, ou seja.- Inclusão: Ex.: Até ele irá viajar. Até, inclusive, também,
mesmo, ademais.- Limitação: Ex.: Apenas um me respondeu. Só, somente,
unicamente, apenas.- Realce: Ex.: E você lá sabe essa questão? É que, cá, lá, não,
mas, é porque, só, ainda, sobretudo.- Retificação: Ex.: Somos três, ou melhor, quatro. Aliás, isto é,
ou melhor, ou antes.- Situação: Ex.: Afinal, quem perguntaria a ele? Então, mas,
se, agora, afinal.
Grau dos Advérbios: Os advérbios, embora pertençam à categoria das palavras invariáveis, podem apresentar variações com relação ao grau. Além do grau normal, o advérbio pode-se apresentar no grau comparativo e no superlativo.
- Grau Comparativo: quando a circunstância expressa pelo advérbio aparece em relação de comparação. O advérbio não é flexionado no grau comparativo. Para indicar esse grau utilizam as formas tão…quanto, mais…que, menos…que. Pode ser:
- comparativo de igualdade. Ex.: Chegarei tão cedo quanto você.
- comparativo de superioridade. Ex.: Chegarei mais cedo que você.
- comparativo de inferioridade. Ex.: Chegaremos menos cedo que você.
- Grau Superlativo: nesse caso, a circunstância expressa pelo advérbio aparecerá intensificada. O grau superlativo do advérbio pode ser formado tanto pelo processo sintético (acréscimo de sufixo), como pelo processo analítico (outro advérbio estará indicando o grau superlativo).
- superlativo (ou absoluto) sintético: formado com o acréscimo de sufixo. Ex.: Cheguei tardíssimo.
- superlativo (ou absoluto) analítico: expresso com o auxilio de um advérbio de intensidade. Ex.: Cheguei muito tarde.
Quando se empregam dois ou mais advérbios terminados em –mente, pode-se acrescentar o sufixo apenas no ultimo. Ex.: Nada omitiu de seu pensamento; falou clara, franca e nitidamente.
Quando se quer realçar o advérbio, pode-se antecipá-lo. Ex.: Imediatamente convoquei os alunos.
Preposição
É uma palavra invariável que serve para ligar termos ou orações. Quando esta ligação acontece, normalmente há uma subordinação do segundo termo em relação ao primeiro. As preposições são muito importantes na estrutura da língua pois estabelecem a coesão textual e possuem valores semânticos indispensáveis para a compreensão do texto.
Tipos de Preposição
- Preposições essenciais: palavras que atuam exclusivamente como preposições. A, ante, perante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, sem, sob, sobre, trás, atrás de, dentro de, para com.
- Preposições acidentais: palavras de outras classes gramaticais que podem atuar como preposições. Como, durante, exceto, fora, mediante, salvo, segundo, senão, visto.
- Locuções prepositivas: duas ou mais palavras valendo como uma preposição, sendo que a última palavra é uma delas. Abaixo de, acerca de, acima de, ao lado de, a respeito de, de acordo com, em cima de, embaixo de, em frente a, ao redor de, graças a, junto a, com, perto de, por causa de, por cima de, por trás de.
A preposição, é invariável. No entanto pode unir-se a outras palavras e assim estabelecer concordância em gênero ou em número. Ex: por + o = pelo; por + a = pela
Vale ressaltar que essa concordância não é característica da preposição e sim das palavras a que se ela se une. Esse processo de junção de uma preposição com outra palavra pode se dar a partir de dois processos:
- Combinação: A preposição não sofre alteração. preposição a + artigos definidos o, osa + o = aopreposição a + advérbio ondea + onde = aonde
- Contração: Quando a preposição sofre alteração.Preposição + ArtigosDe + o(s) = do(s)De + a(s) = da(s)De + um = dumDe + uns = dunsDe + uma = dumaDe + umas = dumasEm + o(s) = no(s)Em + a(s) = na(s)Em + um = numEm + uma = numaEm + uns = nunsEm + umas = numasA + à(s) = à(s)Por + o = pelo(s)Por + a = pela(s)
- Preposição + PronomesDe + ele(s) = dele(s)De + ela(s) = dela(s)De + este(s) = deste(s)De + esta(s) = desta(s)De + esse(s) = desse(s)De + essa(s) = dessa(s)

LÍNGUA PORTUGUESA
33
De + aquele(s) = daquele(s)De + aquela(s) = daquela(s)De + isto = distoDe + isso = dissoDe + aquilo = daquiloDe + aqui = daquiDe + aí = daíDe + ali = daliDe + outro = doutro(s)De + outra = doutra(s)Em + este(s) = neste(s)Em + esta(s) = nesta(s)Em + esse(s) = nesse(s)Em + aquele(s) = naquele(s)Em + aquela(s) = naquela(s)Em + isto = nistoEm + isso = nissoEm + aquilo = naquiloA + aquele(s) = àquele(s)A + aquela(s) = àquela(s)A + aquilo = àquilo
1. O “a” pode funcionar como preposição, pronome pessoal oblíquo e artigo. Como distingui-los?
- Caso o “a” seja um artigo, virá precedendo a um substantivo. Ele servirá para determiná-lo como um substantivo singular e feminino.
- A dona da casa não quis nos atender.- Como posso fazer a Joana concordar comigo? - Quando é preposição, além de ser invariável, liga dois termos
e estabelece relação de subordinação entre eles.- Cheguei a sua casa ontem pela manhã.- Não queria, mas vou ter que ir a outra cidade para procurar
um tratamento adequado. - Se for pronome pessoal oblíquo estará ocupando o lugar e/ou
a função de um substantivo.- Temos Maria como parte da família. / A temos como parte
da família.- Creio que conhecemos nossa mãe melhor que ninguém. /
Creio que a conhecemos melhor que ninguém.
2. Algumas relações semânticas estabelecidas por meio das preposições:
Destino: Irei para casa.Modo: Chegou em casa aos gritos.Lugar: Vou ficar em casa;Assunto: Escrevi um artigo sobre adolescência.Tempo: A prova vai começar em dois minutos.Causa: Ela faleceu de derrame cerebral.Fim ou finalidade: Vou ao médico para começar o tratamento.Instrumento: Escreveu a lápis.Posse: Não posso doar as roupas da mamãe.Autoria: Esse livro de Machado de Assis é muito bom.Companhia: Estarei com ele amanhã.Matéria: Farei um cartão de papel reciclado.Meio: Nós vamos fazer um passeio de barco.Origem: Nós somos do Nordeste, e você?Conteúdo: Quebrei dois frascos de perfume.Oposição: Esse movimento é contra o que eu penso.Preço: Essa roupa sai por R$ 50 à vista.
3.8. Estruturas Sintáticas: voz passiva, sujeito, predicado, objeto direto e indireto.
Oração: é todo enunciado linguístico dotado de sentido, porém há, necessariamente, a presença do verbo. A oração encerra uma frase (ou segmento de frase), várias frases ou um período, completando um pensamento e concluindo o enunciado através de ponto final, interrogação, exclamação e, em alguns casos, através de reticências.
Em toda oração há um verbo ou locução verbal (às vezes elípticos). Não têm estrutura sintática, portanto não são orações, não podem ser analisadas sintaticamente frases como:
Socorro!Com licença!Que rapaz impertinente!Muito riso, pouco siso.“A bênção, mãe Nácia!” (Raquel de Queirós)
Na oração as palavras estão relacionadas entre si, como partes de um conjunto harmônico: elas formam os termos ou as unidades sintáticas da oração. Cada termo da oração desempenha uma função sintática. Geralmente apresentam dois grupos de palavras: um grupo sobre o qual se declara alguma coisa (o sujeito), e um grupo que apresenta uma declaração (o predicado), e, excepcionalmente, só o predicado. Exemplo:
A menina banhou-se na cachoeira.A menina – sujeitobanhou-se na cachoeira – predicado
Choveu durante a noite. (a oração toda predicado)
O sujeito é o termo da frase que concorda com o verbo em número e pessoa. É normalmente o «ser de quem se declara algo», «o tema do que se vai comunicar».
O predicado é a parte da oração que contém “a informação nova para o ouvinte”. Normalmente, ele se refere ao sujeito, constituindo a declaração do que se atribui ao sujeito.
Observe: O amor é eterno. O tema, o ser de quem se declara algo, o sujeito, é “O amor”. A declaração referente a “o amor”, ou seja, o predicado, é “é eterno”.
Já na frase: Os rapazes jogam futebol. O sujeito é “Os rapazes”, que identificamos por ser o termo que concorda em número e pessoa com o verbo “jogam”. O predicado é “jogam futebol”.
Núcleo de um termo é a palavra principal (geralmente um substantivo, pronome ou verbo), que encerra a essência de sua significação. Nos exemplos seguintes, as palavras amigo e revestiu são o núcleo do sujeito e do predicado, respectivamente:
“O amigo retardatário do presidente prepara-se para desembarcar.” (Aníbal Machado)
A avezinha revestiu o interior do ninho com macias plumas.
Os termos da oração da língua portuguesa são classificados em três grandes níveis:
- Termos Essenciais da Oração: Sujeito e Predicado.- Termos Integrantes da Oração: Complemento Nominal e
Complementos Verbais (Objeto Direto, Objeto indireto e Agente da Passiva).

LÍNGUA PORTUGUESA
34
- Termos Acessórios da Oração: Adjunto Adnominal, Adjunto Adverbial, Aposto e Vocativo.
Termos Essenciais da Oração: São dois os termos essenciais (ou fundamentais) da oração: sujeito e predicado. Exemplos:
Sujeito PredicadoPobreza não é vileza.Os sertanistas capturavam os índios.Um vento áspero sacudia as árvores.
Sujeito: é equivocado dizer que o sujeito é aquele que pratica uma ação ou é aquele (ou aquilo) do qual se diz alguma coisa. Ao fazer tal afirmação estamos considerando o aspecto semântico do sujeito (agente de uma ação) ou o seu aspecto estilístico (o tópico da sentença). Já que o sujeito é depreendido de uma análise sintática, vamos restringir a definição apenas ao seu papel sintático na sentença: aquele que estabelece concordância com o núcleo do predicado. Quando se trata de predicado verbal, o núcleo é sempre um verbo; sendo um predicado nominal, o núcleo é sempre um nome. Então têm por características básicas:
- estabelecer concordância com o núcleo do predicado;- apresentar-se como elemento determinante em relação ao
predicado;- constituir-se de um substantivo, ou pronome substantivo ou,
ainda, qualquer palavra substantivada.
Exemplos:
A padaria está fechada hoje. está fechada hoje: predicado nominalfechada: nome adjetivo = núcleo do predicadoa padaria: sujeitopadaria: núcleo do sujeito - nome feminino singular
Nós mentimos sobre nossa idade para você. mentimos sobre nossa idade para você: predicado verbalmentimos: verbo = núcleo do predicadonós: sujeito
No interior de uma sentença, o sujeito é o termo determinante, ao passo que o predicado é o termo determinado. Essa posição de determinante do sujeito em relação ao predicado adquire sentido com o fato de ser possível, na língua portuguesa, uma sentença sem sujeito, mas nunca uma sentença sem predicado.
Exemplos: As formigas invadiram minha casa. as formigas: sujeito = termo determinanteinvadiram minha casa: predicado = termo determinado
Há formigas na minha casa. há formigas na minha casa: predicado = termo determinadosujeito: inexistente
O sujeito sempre se manifesta em termos de sintagma nominal, isto é, seu núcleo é sempre um nome. Quando esse nome se refere a objetos das primeira e segunda pessoas, o sujeito é representado por um pronome pessoal do caso reto (eu, tu, ele, etc.). Se o sujeito se refere a um objeto da terceira pessoa, sua representação pode ser feita através de um substantivo, de um pronome substantivo ou de qualquer conjunto de palavras, cujo núcleo funcione, na sentença, como um substantivo.
Exemplos: Eu acompanho você até o guichê. eu: sujeito = pronome pessoal de primeira pessoaVocês disseram alguma coisa? vocês: sujeito = pronome pessoal de segunda pessoaMarcos tem um fã-clube no seu bairro. Marcos: sujeito = substantivo próprioNinguém entra na sala agora. ninguém: sujeito = pronome substantivoO andar deve ser uma atividade diária. o andar: sujeito = núcleo: verbo substantivado nessa oração
Além dessas formas, o sujeito também pode se constituir de uma oração inteira. Nesse caso, a oração recebe o nome de oração substantiva subjetiva:
É difícil optar por esse ou aquele doce...É difícil: oração principaloptar por esse ou aquele doce: oração substantiva subjetivaO sujeito é constituído por um substantivo ou pronome, ou
por uma palavra ou expressão substantivada. Exemplos:O sino era grande.Ela tem uma educação fina.Vossa Excelência agiu como imparcialidade.Isto não me agrada.O núcleo (isto é, a palavra base) do sujeito é, pois, um
substantivo ou pronome. Em torno do núcleo podem aparecer palavras secundárias (artigos, adjetivos, locuções adjetivas, etc.) Exemplo:
“Todos os ligeiros rumores da mata tinham uma voz para a selvagem filha do sertão.” (José de Alencar)
O sujeito pode ser:
Simples: quando tem um só núcleo: As rosas têm espinhos; “Um bando de galinhas-d’angola atravessa a rua em fila indiana.”
Composto: quando tem mais de um núcleo: “O burro e o cavalo nadavam ao lado da canoa.”
Expresso: quando está explícito, enunciado: Eu viajarei amanhã.
Oculto (ou elíptico): quando está implícito, isto é, quando não está expresso, mas se deduz do contexto: Viajarei amanhã. (sujeito: eu, que se deduz da desinência do verbo); “Um soldado saltou para a calçada e aproximou-se.” (o sujeito, soldado, está expresso na primeira oração e elíptico na segunda: e (ele) aproximou-se.); Crianças, guardem os brinquedos. (sujeito: vocês)
Agente: se faz a ação expressa pelo verbo da voz ativa: O Nilo fertiliza o Egito.
Paciente: quando sofre ou recebe os efeitos da ação expressa pelo verbo passivo: O criminoso é atormentado pelo remorso; Muitos sertanistas foram mortos pelos índios; Construíram-se açudes. (= Açudes foram construídos.)
Agente e Paciente: quando o sujeito faz a ação expressa por um verbo reflexivo e ele mesmo sofre ou recebe os efeitos dessa ação: O operário feriu-se durante o trabalho; Regina trancou-se no quarto.
Indeterminado: quando não se indica o agente da ação verbal: Atropelaram uma senhora na esquina. (Quem atropelou a senhora? Não se diz, não se sabe quem a atropelou.); Come-se bem naquele restaurante.
Observações:- Não confundir sujeito indeterminado com sujeito oculto.- Sujeito formado por pronome indefinido não é indetermiado,
mas expresso: Alguém me ensinará o caminho. Ninguém lhe telefonou.

LÍNGUA PORTUGUESA
35
- Assinala-se a indeterminação do sujeito usando-se o verbo na 3ª pessoa do plural, sem referência a qualquer agente já expresso nas orações anteriores: Na rua olhavam-no com admiração; “Bateram palmas no portãozinho da frente.”; “De qualquer modo, foi uma judiação matarem a moça.”
- Assinala-se a indeterminação do sujeito com um verbo ativo na 3ª pessoa do singular, acompanhado do pronome se. O pronome se, neste caso, é índice de indeterminação do sujeito. Pode ser omitido junto de infinitivos.
Aqui vive-se bem.Devagar se vai ao longe.Quando se é jovem, a memória é mais vivaz.Trata-se de fenômenos que nem a ciência sabe explicar.
- Assinala-se a indeterminação do sujeito deixando-se o verbo no infinitivo impessoal: Era penoso carregar aqueles fardos enormes; É triste assistir a estas cenas repulsivas.
Normalmente, o sujeito antecede o predicado; todavia, a posposição do sujeito ao verbo é fato corriqueiro em nossa língua. Exemplos:
É fácil este problema!Vão-se os anéis, fiquem os dedos.“Breve desapareceram os dois guerreiros entre as árvores.”
(José de Alencar)“Foi ouvida por Deus a súplica do condenado.” (Ramalho
Ortigão)“Mas terás tu paciência por duas horas?” (Camilo Castelo
Branco)
Sem Sujeito: constituem a enunciação pura e absoluta de um fato, através do predicado; o conteúdo verbal não é atribuído a nenhum ser. São construídas com os verbos impessoais, na 3ª pessoa do singular: Havia ratos no porão; Choveu durante o jogo.
Observação: São verbos impessoais: Haver (nos sentidos de existir, acontecer, realizar-se, decorrer), Fazer, passar, ser e estar, com referência ao tempo e Chover, ventar, nevar, gear, relampejar, amanhecer, anoitecer e outros que exprimem fenômenos meteorológicos.
Predicado: assim como o sujeito, o predicado é um segmento extraído da estrutura interna das orações ou das frases, sendo, por isso, fruto de uma análise sintática. Nesse sentido, o predicado é sintaticamente o segmento linguístico que estabelece concordância com outro termo essencial da oração, o sujeito, sendo este o termo determinante (ou subordinado) e o predicado o termo determinado (ou principal). Não se trata, portanto, de definir o predicado como “aquilo que se diz do sujeito” como fazem certas gramáticas da língua portuguesa, mas sim estabelecer a importância do fenômeno da concordância entre esses dois termos essenciais da oração. Então têm por características básicas: apresentar-se como elemento determinado em relação ao sujeito; apontar um atributo ou acrescentar nova informação ao sujeito. Exemplos:
Carolina conhece os índios da Amazônia. sujeito: Carolina = termo determinante
predicado: conhece os índios da Amazônia = termo determi-nado
Todos nós fazemos parte da quadrilha de São João. sujeito: todos nós = termo determinantepredicado: fazemos parte da quadrilha de São João = termo
determinado
Nesses exemplos podemos observar que a concordância é estabelecida entre algumas poucas palavras dos dois termos essenciais. No primeiro exemplo, entre “Carolina” e “conhece”; no segundo exemplo, entre “nós” e “fazemos”. Isso se dá porque a concordância é centrada nas palavras que são núcleos, isto é, que são responsáveis pela principal informação naquele segmento. No predicado o núcleo pode ser de dois tipos: um nome, quase sempre um atributo que se refere ao sujeito da oração, ou um verbo (ou locução verbal). No primeiro caso, temos um predicado nominal (seu núcleo significativo é um nome, substantivo, adjetivo, pronome, ligado ao sujeito por um verbo de ligação) e no segundo um predicado verbal (seu núcleo é um verbo, seguido, ou não, de complemento(s) ou termos acessórios). Quando, num mesmo segmento o nome e o verbo são de igual importância, ambos constituem o núcleo do predicado e resultam no tipo de predicado verbo-nominal (tem dois núcleos significativos: um verbo e um nome). Exemplos:
Minha empregada é desastrada. predicado: é desastradanúcleo do predicado: desastrada = atributo do sujeitotipo de predicado: nominal
O núcleo do predicado nominal chama-se predicativo do sujeito, porque atribui ao sujeito uma qualidade ou característica. Os verbos de ligação (ser, estar, parecer, etc.) funcionam como um elo entre o sujeito e o predicado.
A empreiteira demoliu nosso antigo prédio. predicado: demoliu nosso antigo prédionúcleo do predicado: demoliu = nova informação sobre o
sujeitotipo de predicado: verbalOs manifestantes desciam a rua desesperados. predicado: desciam a rua desesperadosnúcleos do predicado: desciam = nova informação sobre o
sujeito; desesperados = atributo do sujeitotipo de predicado: verbo-nominal
Nos predicados verbais e verbo-nominais o verbo é responsável também por definir os tipos de elementos que aparecerão no segmento. Em alguns casos o verbo sozinho basta para compor o predicado (verbo intransitivo). Em outros casos é necessário um complemento que, juntamente com o verbo, constituem a nova informação sobre o sujeito. De qualquer forma, esses complementos do verbo não interferem na tipologia do predicado.
Entretanto, é muito comum a elipse (ou omissão) do verbo, quando este puder ser facilmente subentendido, em geral por estar expresso ou implícito na oração anterior. Exemplos:
“A fraqueza de Pilatos é enorme, a ferocidade dos algozes inexcedível.” (Machado de Assis) (Está subentendido o verbo é depois de algozes)
“Mas o sal está no Norte, o peixe, no Sul” (Paulo Moreira da Silva) (Subentende-se o verbo está depois de peixe)
“A cidade parecia mais alegre; o povo, mais contente.” (Povina Cavalcante) (isto é: o povo parecia mais contente)
Chama-se predicação verbal o modo pelo qual o verbo forma o predicado.
Há verbos que, por natureza, tem sentido completo, podendo, por si mesmos, constituir o predicado: são os verbos de predicação completa denominados intransitivos. Exemplo:
As flores murcharam.Os animais correm.As folhas caem.“Os inimigos de Moreiras rejubilaram.” (Graciliano Ramos)

LÍNGUA PORTUGUESA
36
Outros verbos há, pelo contrário, que para integrarem o predicado necessitam de outros termos: são os verbos de predicação incompleta, denominados transitivos. Exemplos:
João puxou a rede.“Não invejo os ricos, nem aspiro à riqueza.” (Oto Lara
Resende)“Não simpatizava com as pessoas investidas no poder.”
(Camilo Castelo Branco)
Observe que, sem os seus complementos, os verbos puxou, invejo, aspiro, etc., não transmitiriam informações completas: puxou o quê? Não invejo a quem? Não aspiro a que?
Os verbos de predicação completa denominam-se intransitivos e os de predicação incompleta, transitivos. Os verbos transitivos subdividem-se em: transitivos diretos, transitivos indiretos e transitivos diretos e indiretos (bitransitivos).
Além dos verbos transitivos e intransitivos, quem encerram uma noção definida, um conteúdo significativo, existem os de ligação, verbos que entram na formação do predicado nominal, relacionando o predicativo com o sujeito.
Quanto à predicação classificam-se, pois os verbos em:Intransitivos: são os que não precisam de complemento, pois
têm sentido completo.“Três contos bastavam, insistiu ele.” (Machado de Assis)“Os guerreiros Tabajaras dormem.” (José de Alencar)“A pobreza e a preguiça andam sempre em companhia.”
(Marquês de Maricá)Observações: Os verbos intransitivos podem vir acompanhados
de um adjunto adverbial e mesmo de um predicativo (qualidade, características): Fui cedo; Passeamos pela cidade; Cheguei atrasado; Entrei em casa aborrecido. As orações formadas com verbos intransitivos não podem “transitar” (= passar) para a voz passiva. Verbos intransitivos passam, ocasionalmente, a transitivos quando construídos com o objeto direto ou indireto.
- “Inutilmente a minha alma o chora!” (Cabral do Nascimento)- “Depois me deitei e dormi um sono pesado.” (Luís Jardim)- “Morrerás morte vil da mão de um forte.” (Gonçalves Dias)- “Inútil tentativa de viajar o passado, penetrar no mundo que
já morreu...” (Ciro dos Anjos)
Alguns verbos essencialmente intransitivos: anoitecer, crescer, brilhar, ir, agir, sair, nascer, latir, rir, tremer, brincar, chegar, vir, mentir, suar, adoecer, etc.
Transitivos Diretos: são os que pedem um objeto direto, isto é, um complemento sem preposição. Pertencem a esse grupo: julgar, chamar, nomear, eleger, proclamar, designar, considerar, declarar, adotar, ter, fazer, etc. Exemplos:
Comprei um terreno e construí a casa.“Trabalho honesto produz riqueza honrada.” (Marquês de
Maricá)“Então, solenemente Maria acendia a lâmpada de sábado.”
(Guedes de Amorim)
Dentre os verbos transitivos diretos merecem destaque os que formam o predicado verbo nominal e se constrói com o complemento acompanhado de predicativo. Exemplos:
Consideramos o caso extraordinário.Inês trazia as mãos sempre limpas.O povo chamava-os de anarquistas.Julgo Marcelo incapaz disso.
Observações: Os verbos transitivos diretos, em geral, podem ser usados também na voz passiva; Outra características desses verbos é a de poderem receber como objeto direto, os pronomes o, a, os, as: convido-o, encontro-os, incomodo-a, conheço-as; Os verbos transitivos diretos podem ser construídos acidentalmente, com preposição, a qual lhes acrescenta novo matiz semântico: arrancar da espada; puxar da faca; pegar de uma ferramenta; tomar do lápis; cumprir com o dever; Alguns verbos transitivos diretos: abençoar, achar, colher, avisar, abraçar, comprar, castigar, contrariar, convidar, desculpar, dizer, estimar, elogiar, entristecer, encontrar, ferir, imitar, levar, perseguir, prejudicar, receber, saldar, socorrer, ter, unir, ver, etc.
Transitivos Indiretos: são os que reclamam um complemento regido de preposição, chamado objeto indireto. Exemplos:
“Ninguém perdoa ao quarentão que se apaixona por uma adolescente.” (Ciro dos Anjos)
“Populares assistiam à cena aparentemente apáticos e neutros.” (Érico Veríssimo)
“Lúcio não atinava com essa mudança instantânea.” (José Américo)
“Do que eu mais gostava era do tempo do retiro espiritual.” (José Geraldo Vieira)
Observações: Entre os verbos transitivos indiretos importa distinguir os que se constroem com os pronomes objetivos lhe, lhes. Em geral são verbos que exigem a preposição a: agradar-lhe, agradeço-lhe, apraz-lhe, bate-lhe, desagrada-lhe, desobedecem-lhe, etc. Entre os verbos transitivos indiretos importa distinguir os que não admitem para objeto indireto as formas oblíquas lhe, lhes, construindo-se com os pronomes retos precedidos de preposição: aludir a ele, anuir a ele, assistir a ela, atentar nele, depender dele, investir contra ele, não ligar para ele, etc.
Em princípio, verbos transitivos indiretos não comportam a forma passiva. Excetuam-se pagar, perdoar, obedecer, e pouco mais, usados também como transitivos diretos: João paga (perdoa, obedece) o médico. O médico é pago (perdoado, obedecido) por João. Há verbos transitivos indiretos, como atirar, investir, contentar-se, etc., que admitem mais de uma preposição, sem mudança de sentido. Outros mudam de sentido com a troca da preposição, como nestes exemplos: Trate de sua vida. (tratar=cuidar). É desagradável tratar com gente grosseira. (tratar=lidar). Verbos como aspirar, assistir, dispor, servir, etc., variam de significação conforme sejam usados como transitivos diretos ou indiretos.
Transitivos Diretos e Indiretos: são os que se usam com dois objetos: um direto, outro indireto, concomitantemente. Exemplos:
No inverso, Dona Cléia dava roupas aos pobres.A empresa fornece comida aos trabalhadores.Oferecemos flores à noiva.Ceda o lugar aos mais velhos.
De Ligação: Os que ligam ao sujeito uma palavra ou expressão chamada predicativo. Esses verbos, entram na formação do predicado nominal. Exemplos:
A Terra é móvel.A água está fria.O moço anda (=está) triste.Mário encontra-se doente.A Lua parecia um disco.

LÍNGUA PORTUGUESA
37
Observações: Os verbos de ligação não servem apenas de anexo, mas exprimem ainda os diversos aspectos sob os quais se considera a qualidade atribuída ao sujeito. O verbo ser, por exemplo, traduz aspecto permanente e o verbo estar, aspecto transitório: Ele é doente. (aspecto permanente); Ele está doente. (aspecto transitório). Muito desses verbos passam à categoria dos intransitivos em frases como: Era =existia) uma vez uma princesa.; Eu não estava em casa.; Fiquei à sombra.; Anda com dificuldades.; Parece que vai chover.
Os verbos, relativamente à predicação, não têm classificação fixa, imutável. Conforme a regência e o sentido que apresentam na frase, podem pertencer ora a um grupo, ora a outro. Exemplo:
O homem anda. (intransitivo)O homem anda triste. (de ligação)O cego não vê. (intransitivo)O cego não vê o obstáculo. (transitivo direto)Deram 12 horas. (intransitivo)A terra dá bons frutos. (transitivo direto)Não dei com a chave do enigma. (transitivo indireto)Os pais dão conselhos aos filhos. (transitivo direto e indireto)
Termos Integrantes da Oração
Chamam-se termos integrantes da oração os que completam a significação transitiva dos verbos e nomes. Integram (inteiram, completam) o sentido da oração, sendo por isso indispensável à compreensão do enunciado. São os seguintes:
- Complemento Verbais (Objeto Direto e Objeto Indireto);- Complemento Nominal;- Agente da Passiva.
Objeto Direto: é o complemento dos verbos de predicação incompleta, não regido, normalmente, de preposição. Exemplos:
As plantas purificaram o ar.“Nunca mais ele arpoara um peixe-boi.” (Ferreira Castro)Procurei o livro, mas não o encontrei.Ninguém me visitou.O objeto direto tem as seguintes características:- Completa a significação dos verbos transitivos diretos;- Normalmente, não vem regido de preposição;- Traduz o ser sobre o qual recai a ação expressa por um verbo
ativo: Caim matou Abel.- Torna-se sujeito da oração na voz passiva: Abel foi morto
por Caim.O objeto direto pode ser constituído:- Por um substantivo ou expressão substantivada: O lavrador
cultiva a terra.; Unimos o útil ao agradável.- Pelos pronomes oblíquos o, a, os, as, me, te, se, nos, vos:
Espero-o na estação.; Estimo-os muito.; Sílvia olhou-se ao espelho.; Não me convidas?; Ela nos chama.; Avisamo-lo a tempo.; Procuram-na em toda parte.; Meu Deus, eu vos amo.; “Marchei resolutamente para a maluca e intimei-a a ficar quieta.”; “Vós haveis de crescer, perder-vos-ei de vista.”
- Por qualquer pronome substantivo: Não vi ninguém na loja.; A árvore que plantei floresceu. (que: objeto direto de plantei); Onde foi que você achou isso? Quando vira as folhas do livro, ela o faz com cuidado.; “Que teria o homem percebido nos meus escritos?”
Frequentemente transitivam-se verbos intransitivos, dando-se-lhes por objeto direto uma palavra cognata ou da mesma esfera semântica:
“Viveu José Joaquim Alves vida tranquila e patriarcal.” (Vivaldo Coaraci)
“Pela primeira vez chorou o choro da tristeza.” (Aníbal Machado)
“Nenhum de nós pelejou a batalha de Salamina.” (Machado de Assis)
Em tais construções é de rigor que o objeto venha acompanhado de um adjunto.
Objeto Indireto: É o complemento verbal regido de preposição necessária e sem valor circunstancial. Representa, ordinariamente, o ser a que se destina ou se refere a ação verbal: “Nunca desobedeci a meu pai”. O objeto indireto completa a significação dos verbos:
- Transitivos Indiretos: Assisti ao jogo; Assistimos à missa e à festa; Aludiu ao fato; Aspiro a uma vida calma.
- Transitivos Diretos e Indiretos (na voz ativa ou passiva): Dou graças a Deus; Ceda o lugar aos mais velhos; Dedicou sua vida aos doentes e aos pobres; Disse-lhe a verdade. (Disse a verdade ao moço.)
O objeto indireto pode ainda acompanhar verbos de outras categorias, os quais, no caso, são considerados acidentalmente transitivos indiretos: A bom entendedor meia palavra basta; Sobram-lhe qualidades e recursos. (lhe=a ele); Isto não lhe convém; A proposta pareceu-lhe aceitável.
Observações: Há verbos que podem construir-se com dois objetos indiretos, regidos de preposições diferentes: Rogue a Deus por nós.; Ela queixou-se de mim a seu pai.; Pedirei para ti a meu senhor um rico presente; Não confundir o objeto direto com o complemento nominal nem com o adjunto adverbial; Em frases como “Para mim tudo eram alegrias”, “Para ele nada é impossível”, os pronomes em destaque podem ser considerados adjuntos adverbiais.
O objeto indireto é sempre regido de preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (àtonos) me, te, se, lhe, nos, vos, lhes. Exemplos: Obedece-me. (=Obedece a mim.); Isto te pertence. (=Isto pertence a ti.); Rogo-lhe que fique. (=Rogo a você...); Peço-vos isto. (=Peço isto a vós.). Nos demais casos a preposição é expressa, como característica do objeto indireto: Recorro a Deus.; Dê isto a (ou para) ele.; Contenta-se com pouco.; Ele só pensa em si.; Esperei por ti.; Falou contra nós.; Conto com você.; Não preciso disto.; O filme a que assisti agradou ao público.; Assisti ao desenrolar da luta.; A coisa de que mais gosto é pescar.; A pessoa a quem me refiro você a conhece.; Os obstáculos contra os quais luto são muitos.; As pessoas com quem conto são poucas.
Como atestam os exemplos acima, o objeto indireto é representado pelos substantivos (ou expressões substantivas) ou pelos pronomes. As preposições que o ligam ao verbo são: a, com, contra, de, em, para e por.
Agente da Passiva: é o complemento de um verbo na voz passiva. Representa o ser que pratica a ação expressa pelo verbo passivo. Vem regido comumente pela preposição por, e menos frequentemente pela preposição de: Alfredo é estimado pelos colegas; A cidade estava cercada pelo exército romano; “Era conhecida de todo mundo a fama de suas riquezas.”
O agente da passiva pode ser expresso pelos substantivos ou pelos pronomes:
As flores são umedecidas pelo orvalho.A carta foi cuidadosamente corrigida por mim.Muitos já estavam dominados por ele.O agente da passiva corresponde ao sujeito da oração na voz
ativa:A rainha era chamada pela multidão. (voz passiva)A multidão aclamava a rainha. (voz ativa)Ele será acompanhado por ti. (voz passiva)Tu o acompanharás. (voz ativa)

LÍNGUA PORTUGUESA
38
Observações: Frase de forma passiva analítica sem complemento agente expresso, ao passar para a ativa, terá sujeito indeterminado e o verbo na 3ª pessoa do plural: Ele foi expulso da cidade. (Expulsaram-no da cidade.); As florestas são devastadas. (Devastam as florestas.); Na passiva pronominal não se declara o agente: Nas ruas assobiavam-se as canções dele pelos pedestres. (errado); Nas ruas eram assobiadas as canções dele pelos pedestres. (certo); Assobiavam-se as canções dele nas ruas. (certo)
3.9. Regras de concordância verbal e nominal.Concordância é o mecanismo pelo qual algumas palavras
alteram suas terminações para adequar-se à terminação de outras palavras. Em português, distinguimos dois tipos de concordância: nominal, que trata das alterações do artigo, do numeral, dos pronomes adjetivos e dos adjetivos para concordar com o nome a que se referem, e verbal, que trata das alterações do verbo, para concordar com o sujeito.
Concordância Nominal
- Regra Geral: o adjetivo e as palavras adjetivas (artigo, numeral, pronome adjetivo) concordam em gênero e número com o nome a que se referem.
Esta / observação / curta / desfaz o equívoco.
Esta (pronome adjetivo – feminino – singular)observação (substantivo – feminino – singular)curta (adjetivo – feminino – singular)
- Um só adjetivo qualificando mais de um substantivo.
Adjetivo posposto: quando um mesmo adjetivo qualifica dois ou mais substantivos e vem depois destes, há duas construções:
1- o adjetivo vai para o plural: Agia com calma e pontualidade britânicas.
2- o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo: Agia com calma e pontualidade britânica.
Sempre que se optar pelo plural, é preciso notar o seguinte: se entre os substantivos houver ao menos um no masculino, o adjetivo assumirá a terminação do masculino: Fez tudo com entusiasmo e paixão arrebatadores.
Quando o adjetivo exprime uma qualidade tal que só cabe ao último substantivo, é óbvio que a concordância obrigatoriamente se efetuará com este último: Alimentavam-se de arroz e carne bovina.
Adjetivo anteposto: quando um adjetivo qualifica dois ou mais substantivos e vem antes destes, concorda com o substantivo mais próximo: Escolhestes má ocasião e lugar.
Quando o adjetivo anteposto aos substantivos funcionar como predicativo, pode concordar com o mais próximo ou ir para o plural:
Estava quieta a casa, a vila e o campo.Estavam quietos a casa, a vila e o campo.
- Verbo ser + adjetivo: Nos predicados nominais em que ocorre o verbo ser mais um adjetivo, formando expressões do tipo é bom, é claro, é evidente, etc., há duas construções possíveis:
1- se o sujeito não vem precedido de nenhum modificador, tanto o verbo quanto o adjetivo ficam invariáveis: Pizza é bom; É proibido entrada.
2- se o sujeito vem precedido de modificador, tanto o verbo quanto o predicativo concordam regularmente: A pizza é boa; É proibida a entrada.
- Palavras adverbiais x palavras adjetivas: há palavras que ora têm função de advérbio, ora de adjetivo.
Quando funcionam como advérbio são invariáveis: Há ocasiões bastante oportunas.
Quando funcionam como adjetivo, concordam com o nome a que se referem: Há bastantes razões para confiarmos na proposta.
Estão nesta classificação palavras como pouco, muito, bastante, barato, caro, meio, longe, etc.
- Expressões anexo e obrigado: são palavras adjetivas e, como tais, devem concordar com o nome a que se referem. Exemplos:
Seguem anexas as listas de preços.Seguem anexos os planos de aula.Muito obrigado, disse ele.Muito obrigada, disse ela.Obrigadas, responderam as cantoras da banda.
Podemos colocar sob a mesma regra palavras como incluso, quite, leso, mesmo e próprio.
1- Alerta e menos são sempre invariáveis:Estamos alerta.Há situações menos complicadas.Há menos pessoas no local.
2- Em anexo é sempre invariável:Seguem, em anexo, as fotografias.- Expressões só e sós: quando equivale a somente, é advérbio e
invariável; quando equivale a sozinho, é adjetivo e variável.Só eles não concordam.Eles saíram sós.
A expressão a sós é invariável: Gostaria de ficar a sós por uns momentos.
Concordância Verbal
- Regra Geral: o verbo concorda com seu sujeito em pessoa e número.
Eu contarei convosco.Tu estavas enganado.Os alunos saíram tarde.
- Sujeito composto anteposto ao verbo: quando o sujeito composto vem anteposto ao verbo, este vai para o plural: O sol e a lua brilhavam. Há casos em que, mesmo com o sujeito composto anteposto, justifica-se o singular. Isto ocorre basicamente em três situações:
1- quando o sujeito é formado de palavras sinônimas ou que formam unidade de sentido: A coragem e o destemor fez dele um herói. É bom notar que, no mesmo caso, vale também o plural. O singular, aqui, talvez se explique pela facilidade que temos em juntar, numa só unidade, conceitos sinônimos.

LÍNGUA PORTUGUESA
39
2- quando o sujeito é formado por núcleos dispostos em gradação (ascendente ou descendente): Uma palavra, um gesto, um mínimo sinal bastava. No mesmo caso, cabe também o plural. A construção com o verbo no singular é compreensível: nas sequências gradativas, o último elemento é sempre mais enfático, o que leva o verbo a concordar com ele.
3- quando o sujeito vem resumido por palavras como alguém, ninguém, cada um, tudo, nada: Alunos, mestres, diretores, ninguém faltou. Aqui não ocorre plural. É que o valor sintetizante do pronome (ninguém) é tão marcante que só nos fica a ideia do conjunto e não das partes que o compõem.
- Sujeito composto posposto ao verbo: quando o sujeito composto vem depois do verbo, há duas construções igualmente certas.
1- o verbo vai para o plural: Brilhavam o sol e a lua.2- o verbo concorda com o núcleo mais próximo: Brilhava o
sol e a lua.
Quando, porém, o sujeito composto vem posposto e o núcleo mais próximo está no plural, o verbo só pode, obviamente, ir para o plural: Já chegaram as revistas e o jornal.
- Sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes: quando o sujeito composto é formado de pessoas gramaticais diferentes, o verbo vai para o plural, sempre na pessoa gramatical de número mais baixo. Assim, quando ocorrer:
1ª e 2ª – o verbo vai para a 1ª do plural.2ª e 3ª – o verbo vai para a 2ª do plural.1ª e 3ª – o verbo vai para a 1ª do plural.
Eu, tu e ele ficaremos aqui.
Quando o sujeito é formado pelo pronome tu mais uma 3ª pessoa, o verbo pode ir também para a 3ª pessoa do plural. Isto se deve à baixa frequência de uso da segunda pessoa do plural: Tu e ele chegaram (ou chegastes) a tempo.
- Verbo acompanhado do pronome se apassivador: quando o pronome se funciona como partícula apassivadora, o verbo concorda regularmente com o sujeito, que estará sempre presente na oração.
Vende-se apartamento.Vendem-se apartamentos.
- Verbo acompanhado do pronome se indicador de indeterminação do sujeito: quando a indeterminação do sujeito é marcada pelo pronome se, o verbo fica necessariamente no singular: Precisa-se de reforços (sujeito indeterminado).
- Verbos dar, bater, soar: na indicação de horas, concordam com a palavra horas, que é o sujeito dos respectivos verbos.
Bateram dez horas.Soou uma hora.
Pode ser que o sujeito deixe de ser o número das horas e passe a ser outro elemento da oração, o instrumento que bate as horas, por exemplo. No caso, a concordância mudará: O relógio bateu dez horas.
- Sujeito coletivo: quando o sujeito é formado por um substantivo coletivo no singular, o verbo fica no singular, concordando com a forma do substantivo e não com a ideia: A multidão aplaudiu o orador. Nesse caso, pode ocorrer também o plural em duas situações:
1- quando o coletivo vier distanciado do verbo: O povo, apesar de toda a insistência e ousadia, não conseguiram evitar a catástrofe.
2- quando o coletivo, antecipado ao verbo, vier seguido de um adjunto adnominal no plural: A multidão dos peregrinos caminhavam lentamente.
- Nomes próprios plurais: quando o sujeito é formado por nomes próprios de lugar que só têm a forma plural, há duas construções:
1- se tais nomes vierem precedidos de artigo, o verbo concordará com o artigo.
Os Estados Unidos progrediram muito.O Amazonas corre volumoso pela floresta.
2- se tais nomes não vierem precedidos de artigo, o verbo ficará sempre no singular: Ø Minas Gerais elegeu seu senador.
Quanto aos títulos de livros e nomes de obras, mesmo precedidos de artigo, são admissíveis duas construções:
Os lusíadas foi a glória das letras lusitanas.Os lusíadas foram a glória das letras lusitanas.
- Sujeito constituído pelo pronome relativo que: quando o sujeito for o pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente desse pronome.
Fui eu que prometi.Foste tu que prometeste.Foram eles que prometeram.
- Sujeito constituído pelo pronome relativo quem: quando o sujeito de um verbo for o pronome relativo quem, há duas construções possíveis:
1- o verbo fica na 3ª pessoa do singular, concordando regularmente com o sujeito (quem): Fui eu quem falou.
2- o verbo concorda com o antecedente: Fui eu quem falei.
- Pronome indefinido plural seguido de pronome pessoal preposicionado: quando o sujeito é formado de um pronome indefinido (ou interrogativo) no plural seguido de um pronome pessoal preposicionado, há possibilidade de duas construções:
1- o verbo vai para a 3ª pessoa do plural, concordando com o pronome indefinido ou interrogativo: Alguns de nós partiram.
2- o verbo concorda com o pronome pessoal que se segue ao indefinido (ou interrogativo): Alguns de nós partimos.
Quando o pronome interrogativo ou indefinido estiver no singular, o verbo ficará, necessariamente, na 3ª pessoa do singular.
Alguém de nós falhou?Qual de nós sairá?
- Expressões um dos que, uma das que: quando o sujeito de um verbo for o pronome relativo que, nas expressões um dos que, uma das que, o verbo vai para o plural (construção dominante) ou fica no singular.
Ele foi um dos que mais falaram.Ele foi um dos que mais falou.

LÍNGUA PORTUGUESA
40
Cada uma das construções corresponde a uma interpretação diferente do mesmo enunciador.
Ele é um dentre aqueles que mais falaram.Ele é um que mais falou dentre aqueles.
- Expressões mais de, menos de: quando o sujeito for constituído das expressões mais de, menos de, o verbo concorda com o numeral que se segue à expressão.
Mais de um aluno saiu.Mais de dois alunos saíram.Mais de dois casos ocorreram.
Com a expressão mais de um pode ocorrer o plural em duas situações:
1- quando o verbo dá ideia de ação recíproca: Mais de um veículo se entrechocaram.
2- quando a expressão mais de vem repetida: Mais de um padre, mais de um bispo estavam presentes.
- Expressões um e outro, nem um nem outro: quando o sujeito é formado pelas expressões um e outro, nem um nem outro, o verbo fica no singular ou plural.
Nem um nem outro concordou.Nem um nem outro concordaram.
O substantivo que segue a essas expressões deve ficar no singular: Uma e outra coisa me atrai.
Quando núcleos de pessoas diferentes vêm precedidos de nem, o mais usual é o verbo no plural, na pessoa gramatical prioritária (a de número mais baixo): Nem eu nem ele faltamos com a palavra.
- Sujeito constituído por pronome de tratamento: quando o sujeito é formado por pronomes de tratamento, o verbo vai sempre para a 3ª pessoa (singular ou plural).
Vossa Excelência se enganou.Vossas Excelências se enganaram.
- Núcleos ligados por ou: quando os núcleos do sujeito vêm ligados pela conjunção ou, há duas construções:
1- o verbo fica no singular quando o ou tem valor excludente: Pedro ou Paulo será eleito papa. (a eleição de um implica necessariamente a exclusão do outro)
2- o verbo vai para o plural, quando o ou não for excludente: Maça ou figo me agradam à sobremesa. (ambas as frutas me agradam)
- Silepse: ocorre concordância siléptica quando o verbo não concorda com o sujeito que aparece expresso na frase, mas com um elemento implícito na mente de quem fala: Os brasileiros somos improvisadores. Está implícito que o falante (eu ou nós) está incluído entre os brasileiros.
- Expressão haja vista: na expressão haja vista, a palavra vista é sempre invariável. O verbo haja pode ficar invariável ou concordar com o substantivo que se segue à expressão.
Haja vista os últimos acontecimentos.Hajam vista os últimos acontecimentos.
Admite-se ainda a construção:Haja vista aos últimos acontecimentos.
- Verbo parecer seguido de infinitivo: o verbo parecer, seguido de infinitivo, admite duas construções:
1- flexiona-se o verbo parecer e não se flexiona o infinitivo: Os montes parecem cair.
2- flexiona-se o infinitivo e não se flexiona o verbo parecer: Os montes parece caírem.
- Verbo impessoais: os verbos impessoais ficam sempre na 3ª pessoa do singular.
Haverá sóis mais brilhantes.Fará invernos rigorosos.
Também não se flexiona o verbo auxiliar que se põe junto a um verbo impessoal, formando uma locução verbal.
Deve fazer umas cinco horas que estou esperando.Costuma haver casos mais significativos.Poderá fazer invernos menos rigorosos.
O verbo haver no sentido de existir ou de tempo passado e o verbo fazer na indicação de tempo transcorrido ou fenômeno da natureza são impessoais.
O verbo existir nunca é impessoal: tem sempre sujeito, com o qual concorda normalmente: Existirão protestos; Poderão existir dúvidas.
Quando o verbo haver funciona como auxiliar de outro verbo, deve concordar normalmente com o sujeito: Os convidados já haviam saído.
- Verbo ser: a concordância do verbo ser oscila frequentemente entre o sujeito e o predicativo. Entre tantos casos, podemos ressaltar:
Quando o sujeito e o predicativo são nomes de coisas de números diferentes, o verbo concorda, de preferência, com o que está no plural.
Tua vida são essas ilusões.Essas vaidades são o teu segredo.
Nesse caso, muitas vezes, faz-se a concordância com o elemento a que se quer dar destaque.
Quando um dos dois (predicativo ou sujeito) é nome de pessoa, a concordância se faz com a pessoa.
Você é suas decisões.Suas preocupações era a filha.
O verbo concorda com o pronome pessoal, seja este sujeito, seja predicativo.
O professor sou eu.Eu sou o professor.
Nas indicações de hora, data e distância, o verbo ser, impessoal, concorda com o predicativo.
É uma hora.São duas horas.É uma légua.São duas léguas.É primeiro de maio.São quinze de maio.

LÍNGUA PORTUGUESA
41
Neste último caso (dias do mês) o verbo ser admite duas construções:
É (dia) treze de maio.São treze (dias) de maio.
O verbo ser, seguido de um quantificador, nas expressões de peso, distância ou preço, fica invariável.
Quinze quilos é bastante.Três quilômetros é muito.Cem reais é suficiente.
3.10. Processos de subordinação e coordenação (uso das conjunções).
Período Composto por Coordenação. Orações Coordenadas
Considere, por exemplo, este período composto:
Passeamos pela praia, / brincamos, / recordamos os tempos de infância.
1ª oração: Passeamos pela praia2ª oração: brincamos3ª oração: recordamos os tempos de infância
As três orações que compõem esse período têm sentido próprio e não mantêm entre si nenhuma dependência sintática: elas são independentes. Há entre elas, é claro, uma relação de sentido, mas, como já dissemos, uma não depende da outra sintaticamente.
As orações independentes de um período são chamadas de orações coordenadas (OC), e o período formado só de orações coordenadas é chamado de período composto por coordenação.
As orações coordenadas são classificadas em assindéticas e sindéticas.
- As orações coordenadas são assindéticas (OCA) quando não vêm introduzidas por conjunção. Exemplo:
Os torcedores gritaram, / sofreram, / vibraram. OCA OCA OCA
“Inclinei-me, apanhei o embrulho e segui.” (Machado de Assis)“A noite avança, há uma paz profunda na casa deserta.”
(Antônio Olavo Pereira)“O ferro mata apenas; o ouro infama, avilta, desonra.” (Coelho
Neto)
- As orações coordenadas são sindéticas (OCS) quando vêm introduzidas por conjunção coordenativa. Exemplo:
O homem saiu do carro / e entrou na casa. OCA OCS
As orações coordenadas sindéticas são classificadas de acordo com o sentido expresso pelas conjunções coordenativas que as introduzem. Pode ser:
- Orações coordenadas sindéticas aditivas: e, nem, não só... mas também, não só... mas ainda.
Saí da escola / e fui à lanchonete. OCA OCS Aditiva
Observe que a 2ª oração vem introduzida por uma conjunção que expressa idéia de acréscimo ou adição com referência à oração anterior, ou seja, por uma conjunção coordenativa aditiva.
A doença vem a cavalo e volta a pé.As pessoas não se mexiam nem falavam.“Não só findaram as queixas contra o alienista, mas até
nenhum ressentimento ficou dos atos que ele praticara.” (Machado de Assis)
- Orações coordenadas sindéticas adversativas: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto.
Estudei bastante / mas não passei no teste. OCA OCS Adversativa
Observe que a 2ª oração vem introduzida por uma conjunção que expressa idéia de oposição à oração anterior, ou seja, por uma conjunção coordenativa adversativa.
A espada vence, mas não convence.“É dura a vida, mas aceitam-na.” (Cecília Meireles)Tens razão, contudo não te exaltes.Havia muito serviço, entretanto ninguém trabalhava.
- Orações coordenadas sindéticas conclusivas: portanto, por isso, pois, logo.
Ele me ajudou muito, / portanto merece minha gratidão. OCA OCS Conclusiva
Observe que a 2ª oração vem introduzida por uma conjunção que expressa idéia de conclusão de um fato enunciado na oração anterior, ou seja, por uma conjunção coordenativa conclusiva.
Vives mentindo; logo, não mereces fé.Ele é teu pai: respeita-lhe, pois, a vontade.Raimundo é homem são, portanto deve trabalhar.- Orações coordenadas sindéticas alternativas: ou, ou... ou,
ora... ora, seja... seja, quer... quer.Seja mais educado / ou retire-se da reunião! OCA OCS Alternativa
Observe que a 2ª oração vem introduzida por uma conjunção que estabelece uma relação de alternância ou escolha com referência à oração anterior, ou seja, por uma conjunção coordenativa alternativa.
Venha agora ou perderá a vez.“Jacinta não vinha à sala, ou retirava-se logo.” (Machado de
Assis)“Em aviação, tudo precisa ser bem feito ou custará preço
muito caro.” (Renato Inácio da Silva)“A louca ora o acariciava, ora o rasgava freneticamente.”
(Luís Jardim)
- Orações coordenadas sindéticas explicativas: que, porque, pois, porquanto.
Vamos andar depressa / que estamos atrasados. OCA OCS Explicativa
Observe que a 2ª oração é introduzida por uma conjunção que expressa idéia de explicação, de justificativa em relação à oração anterior, ou seja, por uma conjunção coordenativa explicativa.
Leve-lhe uma lembrança, que ela aniversaria amanhã.“A mim ninguém engana, que não nasci ontem.” (Érico
Veríssimo)

LÍNGUA PORTUGUESA
42
“Qualquer que seja a tua infância, conquista-a, que te abençoo.” (Fernando Sabino)
O cavalo estava cansado, pois arfava muito.
Período Composto por Subordinação
Observe os termos destacados em cada uma destas orações:Vi uma cena triste. (adjunto adnominal)Todos querem sua participação. (objeto direto)Não pude sair por causa da chuva. (adjunto adverbial de
causa)
Veja, agora, como podemos transformar esses termos em orações com a mesma função sintática:
Vi uma cena / que me entristeceu. (oração subordinada com função de adjunto adnominal)
Todos querem / que você participe. (oração subordinada com função de objeto direto)
Não pude sair / porque estava chovendo. (oração subordinada com função de adjunto adverbial de causa)
Em todos esses períodos, a segunda oração exerce uma certa função sintática em relação à primeira, sendo, portanto, subordinada a ela. Quando um período é constituído de pelo menos um conjunto de duas orações em que uma delas (a subordinada) depende sintaticamente da outra (principal), ele é classificado como período composto por subordinação. As orações subordinadas são classificadas de acordo com a função que exercem: adverbiais, substantivas e adjetivas.
Orações Subordinadas Adverbiais
As orações subordinadas adverbiais (OSA) são aquelas que exercem a função de adjunto adverbial da oração principal (OP). São classificadas de acordo com a conjunção subordinativa que as introduz:
- Causais: Expressam a causa do fato enunciado na oração principal. Conjunções: porque, que, como (= porque), pois que, visto que.
Não fui à escola / porque fiquei doente. OP OSA Causal
O tambor soa porque é oco.Como não me atendessem, repreendi-os severamente.Como ele estava armado, ninguém ousou reagir.“Faltou à reunião, visto que esteve doente.” (Arlindo de
Sousa)
- Condicionais: Expressam hipóteses ou condição para a ocorrência do que foi enunciado na principal. Conjunções: se, contanto que, a menos que, a não ser que, desde que.
Irei à sua casa / se não chover. OP OSA Condicional
Deus só nos perdoará se perdoarmos aos nossos ofensores.Se o conhecesses, não o condenarias.
“Que diria o pai se soubesse disso?” (Carlos Drummond de Andrade)
A cápsula do satélite será recuperada, caso a experiência tenha êxito.
- Concessivas: Expressam ideia ou fato contrário ao da oração principal, sem, no entanto, impedir sua realização. Conjunções: embora, ainda que, apesar de, se bem que, por mais que, mesmo que.
Ela saiu à noite / embora estivesse doente. OP OSA Concessiva
Admirava-o muito, embora (ou conquanto ou posto que ou se bem que) não o conhecesse pessoalmente.
Embora não possuísse informações seguras, ainda assim arriscou uma opinião.
Cumpriremos nosso dever, ainda que (ou mesmo quando ou ainda quando ou mesmo que) todos nos critiquem.
Por mais que gritasse, não me ouviram.
- Conformativas: Expressam a conformidade de um fato com outro. Conjunções: conforme, como (=conforme), segundo.
O trabalho foi feito / conforme havíamos planejado. OP OSA Conformativa
O homem age conforme pensa.Relatei os fatos como (ou conforme) os ouvi.Como diz o povo, tristezas não pagam dívidas.O jornal, como sabemos, é um grande veículo de informação.
- Temporais: Acrescentam uma circunstância de tempo ao que foi expresso na oração principal. Conjunções: quando, assim que, logo que, enquanto, sempre que, depois que, mal (=assim que).
Ele saiu da sala / assim que eu cheguei. OP OSA TemporalFormiga, quando quer se perder, cria asas.“Lá pelas sete da noite, quando escurecia, as casas se
esvaziam.” (Carlos Povina Cavalcânti)“Quando os tiranos caem, os povos se levantam.” (Marquês
de Maricá)Enquanto foi rico, todos o procuravam.
- Finais: Expressam a finalidade ou o objetivo do que foi enunciado na oração principal. Conjunções: para que, a fim de que, porque (=para que), que.
Abri a porta do salão / para que todos pudessem entrar. OP OSA Final
“O futuro se nos oculta para que nós o imaginemos.” (Marquês de Maricá)
Aproximei-me dele a fim de que me ouvisse melhor.“Fiz-lhe sinal que se calasse.” (Machado de Assis) (que = para
que)“Instara muito comigo não deixasse de frequentar as recepções
da mulher.” (Machado de Assis) (não deixasse = para que não deixasse)
- Consecutivas: Expressam a consequência do que foi enunciado na oração principal. Conjunções: porque, que, como (= porque), pois que, visto que.
A chuva foi tão forte / que inundou a cidade. OP OSA Consecutiva

LÍNGUA PORTUGUESA
43
Fazia tanto frio que meus dedos estavam endurecidos.“A fumaça era tanta que eu mal podia abrir os olhos.” (José
J. Veiga)De tal sorte a cidade crescera que não a reconhecia mais.As notícias de casa eram boas, de maneira que pude
prolongar minha viagem.
- Comparativas: Expressam ideia de comparação com referência à oração principal. Conjunções: como, assim como, tal como, (tão)... como, tanto como, tal qual, que (combinado com menos ou mais).
Ela é bonita / como a mãe. OP OSA Comparativa
A preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro.” (Marquês de Maricá)
Ela o atraía irresistivelmente, como o imã atrai o ferro.Os retirantes deixaram a cidade tão pobres como vieram.Como a flor se abre ao Sol, assim minha alma se abriu à luz
daquele olhar.
Obs.: As orações comparativas nem sempre apresentam claramente o verbo, como no exemplo acima, em que está subentendido o verbo ser (como a mãe é).
- Proporcionais: Expressam uma ideia que se relaciona proporcionalmente ao que foi enunciado na principal. Conjunções: à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos.
Quanto mais reclamava / menos atenção recebia. OSA Proporcional OP
À medida que se vive, mais se aprende.À proporção que avançávamos, as casas iam rareando.O valor do salário, ao passo que os preços sobem, vai
diminuindo.
Orações Subordinadas Substantivas
As orações subordinadas substantivas (OSS) são aquelas que, num período, exercem funções sintáticas próprias de substantivos, geralmente são introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. Elas podem ser:
- Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta: É aquela que exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. Observe: O grupo quer a sua ajuda. (objeto direto)
O grupo quer / que você ajude. OP OSS Objetiva Direta
O mestre exigia que todos estivessem presentes. (= O mestre exigia a presença de todos.)
Mariana esperou que o marido voltasse.Ninguém pode dizer: Desta água não beberei.O fiscal verificou se tudo estava em ordem.
- Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta: É aquela que exerce a função de objeto indireto do verbo da oração principal. Observe: Necessito de sua ajuda. (objeto indireto)
Necessito / de que você me ajude. OP OSS Objetiva Inireta
Não me oponho a que você viaje. (= Não me oponho à sua viagem.)
Aconselha-o a que trabalhe mais.Daremos o prêmio a quem o merecer.Lembre-se de que a vida é breve.
- Oração Subordinada Substantiva Subjetiva: É aquela que exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. Observe: É importante sua colaboração. (sujeito)
É importante / que você colabore. OP OSS Subjetiva
A oração subjetiva geralmente vem:- depois de um verbo de ligação + predicativo, em construções
do tipo é bom, é útil, é certo, é conveniente, etc. Ex.: É certo que ele voltará amanhã.
- depois de expressões na voz passiva, como sabe-se, conta-se, diz-se, etc. Ex.: Sabe-se que ele saiu da cidade.
- depois de verbos como convir, cumprir, constar, urgir, ocorrer, quando empregados na 3ª pessoa do singular e seguidos das conjunções que ou se. Ex.: Convém que todos participem da reunião.
É necessário que você colabore. (= Sua colaboração é necessária.)
Parece que a situação melhorou.Aconteceu que não o encontrei em casa.Importa que saibas isso bem.
- Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal: É aquela que exerce a função de complemento nominal de um termo da oração principal. Observe: Estou convencido de sua inocência. (complemento nominal)
Estou convencido / de que ele é inocente. OP OSS Completiva NominalSou favorável a que o prendam. (= Sou favorável à prisão
dele.)Estava ansioso por que voltasses.Sê grato a quem te ensina.“Fabiano tinha a certeza de que não se acabaria tão cedo.”
(Graciliano Ramos)
- Oração Subordinada Substantiva Predicativa: É aquela que exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal, vindo sempre depois do verbo ser. Observe: O importante é sua felicidade. (predicativo)
O importante é / que você seja feliz. OP OSS Predicativa
Seu receio era que chovesse. (Seu receio era a chuva.)Minha esperança era que ele desistisse.Meu maior desejo agora é que me deixem em paz.Não sou quem você pensa.
- Oração Subordinada Substantiva Apositiva: É aquela que exerce a função de aposto de um termo da oração principal. Observe: Ele tinha um sonho: a união de todos em benefício do país. (aposto)
Ele tinha um sonho / que todos se unissem em benefício do país.
OP OSS Apositiva

LÍNGUA PORTUGUESA
44
Só desejo uma coisa: que vivam felizes. (Só desejo uma coisa: a sua felicidade)
Só lhe peço isto: honre o nosso nome.“Talvez o que eu houvesse sentido fosse o presságio disto: de
que virias a morrer...” (Osmã Lins)“Mas diga-me uma cousa, essa proposta traz algum motivo
oculto?” (Machado de Assis)
As orações apositivas vêm geralmente antecedidas de dois-pontos. Podem vir, também, entre vírgulas, intercaladas à oração principal. Exemplo: Seu desejo, que o filho recuperasse a saúde, tornou-se realidade.
Observação: Além das conjunções integrantes que e se, as orações substantivas podem ser introduzidas por outros conectivos, tais como quando, como, quanto, etc. Exemplos:
Não sei quando ele chegou.Diga-me como resolver esse problema.
Orações Subordinadas Adjetivas
As orações subordinadas Adjetivas (OSA) exercem a função de adjunto adnominal de algum termo da oração principal. Observe como podemos transformar um adjunto adnominal em oração subordinada adjetiva:
Desejamos uma paz duradoura. (adjunto adnominal)Desejamos uma paz / que dure. (oração subordinada adjetiva)
As orações subordinadas adjetivas são sempre introduzidas por um pronome relativo (que , qual, cujo, quem, etc.) e podem ser classificadas em:
- Subordinadas Adjetivas Restritivas: São restritivas quando restringem ou especificam o sentido da palavra a que se referem. Exemplo:
O público aplaudiu o cantor / que ganhou o 1º lugar. OP OSA Restritiva
Nesse exemplo, a oração que ganhou o 1º lugar especifica o sentido do substantivo cantor, indicando que o público não aplaudiu qualquer cantor mas sim aquele que ganhou o 1º lugar.
Pedra que rola não cria limo.Os animais que se alimentam de carne chamam-se carnívoros.Rubem Braga é um dos cronistas que mais belas páginas
escreveram.“Há saudades que a gente nunca esquece.” (Olegário
Mariano)
- Subordinadas Adjetivas Explicativas: São explicativas quando apenas acrescentam uma qualidade à palavra a que se referem, esclarecendo um pouco mais seu sentido, mas sem restringi-lo ou especificá-lo. Exemplo:
O escritor Jorge Amado, / que mora na Bahia, / lançou um novo livro.
OP OSA Explicativa OP
Deus, que é nosso pai, nos salvará.Valério, que nasceu rico, acabou na miséria.Ele tem amor às plantas, que cultiva com carinho.Alguém, que passe por ali à noite, poderá ser assaltado.
Orações ReduzidasObserve que as orações subordinadas eram sempre introduzidas
por uma conjunção ou pronome relativo e apresentavam o verbo numa forma do indicativo ou do subjuntivo. Além desse tipo de orações subordinadas há outras que se apresentam com o verbo numa das formas nominais (infinitivo, gerúndio e particípio). Exemplos:
- Ao entrar nas escola, encontrei o professor de inglês. (infinitivo)
- Precisando de ajuda, telefone-me. (gerúndio)- Acabado o treino, os jogadores foram para o vestiário.
(particípio)As orações subordinadas que apresentam o verbo numa das
formas nominais são chamadas de reduzidas.Para classificar a oração que está sob a forma reduzida,
devemos procurar desenvolvê-la do seguinte modo: colocamos a conjunção ou o pronome relativo adequado ao sentido e passamos o verbo para uma forma do indicativo ou subjuntivo, conforme o caso. A oração reduzida terá a mesma classificação da oração desenvolvida.
Ao entrar na escola, encontrei o professor de inglês.Quando entrei na escola, / encontrei o professor de inglês. OSA TemporalAo entrar na escola: oração subordinada adverbial temporal,
reduzida de infinitivo.Precisando de ajuda, telefone-me.Se precisar de ajuda, / telefone-me. OSA CondicionalPrecisando de ajuda: oração subordinada adverbial condicional,
reduzida de gerúndio.
Acabado o treino, os jogadores foram para o vestiário.Assim que acabou o treino, / os jogadores foram para o
vestiário. OSA TemporalAcabado o treino: oração subordinada adverbial temporal,
reduzida de particípio.
Observações:
- Há orações reduzidas que permitem mais de um tipo de desenvolvimento. Há casos também de orações reduzidas fixas, isto é, orações reduzidas que não são passíveis de desenvolvimento. Exemplo: Tenho vontade de visitar essa cidade.
- O infinitivo, o gerúndio e o particípio não constituem orações reduzidas quando fazem parte de uma locução verbal. Exemplos:
Preciso terminar este exercício.Ele está jantando na sala.Essa casa foi construída por meu pai.- Uma oração coordenada também pode vir sob a forma
reduzida. Exemplo:O homem fechou a porta, saindo depressa de casa.O homem fechou a porta e saiu depressa de casa. (oração
coordenada sindética aditiva)Saindo depressa de casa: oração coordenada reduzida de
gerúndio.
Qual é a diferença entre as orações coordenadas explicativas e as orações subordinadas causais, já que ambas podem ser iniciadas por que e porque? Às vezes não é fácil estabelecer a diferença entre explicativas e causais, mas como o próprio nome indica, as causais sempre trazem a causa de algo que se revela na oração principal, que traz o efeito.

LÍNGUA PORTUGUESA
45
Note-se também que há pausa (vírgula, na escrita) entre a oração explicativa e a precedente e que esta é, muitas vezes, imperativa, o que não acontece com a oração adverbial causal. Essa noção de causa e efeito não existe no período composto por coordenação. Exemplo: Rosa chorou porque levou uma surra. Está claro que a oração iniciada pela conjunção é causal, visto que a surra foi sem dúvida a causa do choro, que é efeito. Rosa chorou, porque seus olhos estão vermelhos.
O período agora é composto por coordenação, pois a oração iniciada pela conjunção traz a explicação daquilo que se revelou na coordena anterior. Não existe aí relação de causa e efeito: o fato de os olhos de Elisa estarem vermelhos não é causa de ela ter chorado.
Ela fala / como falaria / se entendesse do assunto.OP OSA Comparativa OSA Condicional
Narração
A Narração é um tipo de texto que relata uma história real, fictícia ou mescla dados reais e imaginários. O texto narrativo apresenta personagens que atuam em um tempo e em um espaço, organizados por uma narração feita por um narrador. É uma série de fatos situados em um espaço e no tempo, tendo mudança de um estado para outro, segundo relações de sequencialidade e causalidade, e não simultâneos como na descrição. Expressa as relações entre os indivíduos, os conflitos e as ligações afetivas entre esses indivíduos e o mundo, utilizando situações que contêm essa vivência.
Todas as vezes que uma história é contada (é narrada), o narrador acaba sempre contando onde, quando, como e com quem ocorreu o episódio. É por isso que numa narração predomina a ação: o texto narrativo é um conjunto de ações; assim sendo, a maioria dos verbos que compõem esse tipo de texto são os verbos de ação. O conjunto de ações que compõem o texto narrativo, ou seja, a história que é contada nesse tipo de texto recebe o nome de enredo.
As ações contidas no texto narrativo são praticadas pelas personagens, que são justamente as pessoas envolvidas no episódio que está sendo contado. As personagens são identificadas (nomeadas) no texto narrativo pelos substantivos próprios.
Quando o narrador conta um episódio, às vezes (mesmo sem querer) ele acaba contando “onde” (em que lugar) as ações do enredo foram realizadas pelas personagens. O lugar onde ocorre uma ação ou ações é chamado de espaço, representado no texto pelos advérbios de lugar.
Além de contar onde, o narrador também pode esclarecer “quando” ocorreram as ações da história. Esse elemento da narrativa é o tempo, representado no texto narrativo através dos tempos verbais, mas principalmente pelos advérbios de tempo. É o tempo que ordena as ações no texto narrativo: é ele que indica ao leitor “como” o fato narrado aconteceu.
A história contada, por isso, passa por uma introdução (parte inicial da história, também chamada de prólogo), pelo desenvolvimento do enredo (é a história propriamente dita, o meio, o “miolo” da narrativa, também chamada de trama) e termina com a conclusão da história (é o final ou epílogo). Aquele que conta a história é o narrador, que pode ser pessoal (narra em 1ª pessoa: Eu...) ou impessoal (narra em 3ª pessoa: Ele...).
Assim, o texto narrativo é sempre estruturado por verbos de ação, por advérbios de tempo, por advérbios de lugar e pelos substantivos que nomeiam as personagens, que são os agentes do texto, ou seja, aquelas pessoas que fazem as ações expressas pelos verbos, formando uma rede: a própria história contada.
Tudo na narrativa depende do narrador, da voz que conta a história.
Elementos Estruturais (I):
- Enredo: desenrolar dos acontecimentos.- Personagens: são seres que se movimentam, se relacionam e
dão lugar à trama que se estabelece na ação. Revelam-se por meio de características físicas ou psicológicas. Os personagens podem ser lineares (previsíveis), complexos, tipos sociais (trabalhador, estudante, burguês etc.) ou tipos humanos (o medroso, o tímido, o avarento etc.), heróis ou anti-heróis, protagonistas ou antagonistas.
- Narrador: é quem conta a história.- Espaço: local da ação. Pode ser físico ou psicológico.- Tempo: época em que se passa a ação. Cronológico: o tempo
convencional (horas, dias, meses); Psicológico: o tempo interior, subjetivo.
Elementos Estruturais (II):
Personagens Quem? Protagonista/AntagonistaAcontecimento O quê? FatoTempo Quando? Época em que ocorreu o fatoEspaço Onde? Lugar onde ocorreu o fatoModo Como? De que forma ocorreu o fatoCausa Por quê? Motivo pelo qual ocorreu o fatoResultado - previsível ou imprevisível.Final - Fechado ou Aberto.Esses elementos estruturais combinam-se e articulam-se de
tal forma, que não é possível compreendê-los isoladamente, como simples exemplos de uma narração. Há uma relação de implicação mútua entre eles, para garantir coerência e verossimilhança à história narrada. Quanto aos elementos da narrativa, esses não estão, obrigatoriamente sempre presentes no discurso, exceto as personagens ou o fato a ser narrado.
Exemplo:
Porquinho-da-índia
Quando eu tinha seis anosGanhei um porquinho-da-índia.Que dor de coração me davaPorque o bichinho só queria estar debaixo do fogão!Levava ele pra salaPra os lugares mais bonitos mais limpinhosEle não gostava:Queria era estar debaixo do fogão.Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas... O meu porquinho-da-índia foi a minha primeira namorada.
Manuel Bandeira. Estrela da vida inteira. 4ª ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1973, pág. 110.

LÍNGUA PORTUGUESA
46
Observe que, no texto acima, há um conjunto de transformações de situação: ganhar um porquinho-da-índia é passar da situação de não ter o animalzinho para a de tê-lo; levá-lo para a sala ou para outros lugares é passar da situação de ele estar debaixo do fogão para a de estar em outros lugares; ele não gostava: “queria era estar debaixo do fogão” implica a volta à situação anterior; “não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas” dá a entender que o menino passava de uma situação de não ser terno com o animalzinho para uma situação de ser; no último verso temse a passagem da situação de não ter namorada para a de ter.
Verifica-se, pois, que nesse texto há um grande conjunto de mudanças de situação. É isso que define o que se chama o componente narrativo do texto, ou seja, narrativa é uma mudança de estado pela ação de alguma personagem, é uma transformação de situação. Mesmo que essa personagem não apareça no texto, ela está logicamente implícita. Assim, por exemplo, se o menino ganhou um porquinho-da-índia, é porque alguém lhe deu o animalzinho. Assim, há basicamente, dois tipos de mudança: aquele em que alguém recebe alguma coisa (o menino passou a ter o porquinho-da-índia) e aquele alguém perde alguma coisa (o porquinho perdia, a cada vez que o menino o levava para outro lugar, o espaço confortável de debaixo do fogão). Assim, temos dois tipos de narrativas: de aquisição e de privação.
Existem três tipos de foco narrativo:
- Narrador-personagem: é aquele que conta a história na qual é participante. Nesse caso ele é narrador e personagem ao mesmo tempo, a história é contada em 1ª pessoa.
- Narrador-observador: é aquele que conta a história como alguém que observa tudo que acontece e transmite ao leitor, a história é contada em 3ª pessoa.
- Narrador-onisciente: é o que sabe tudo sobre o enredo e as personagens, revelando seus pensamentos e sentimentos íntimos. Narra em 3ª pessoa e sua voz, muitas vezes, aparece misturada com pensamentos dos personagens (discurso indireto livre).
Estrutura:
- Apresentação: é a parte do texto em que são apresentados alguns personagens e expostas algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar onde a ação se desenvolverá.
- Complicação: é a parte do texto em que se inicia propriamente a ação. Encadeados, os episódios se sucedem, conduzindo ao clímax.
- Clímax: é o ponto da narrativa em que a ação atinge seu momento crítico, tornando o desfecho inevitável.
- Desfecho: é a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens.
Tipos de Personagens:
Os personagens têm muita importância na construção de um texto narrativo, são elementos vitais. Podem ser principais ou secundários, conforme o papel que desempenham no enredo, podem ser apresentados direta ou indiretamente.
A apresentação direta acontece quando o personagem aparece de forma clara no texto, retratando suas características físicas e/ou psicológicas, já a apresentação indireta se dá quando os personagens aparecem aos poucos e o leitor vai construindo a sua imagem com o desenrolar do enredo, ou seja, a partir de suas ações, do que ela vai fazendo e do modo como vai fazendo.
- Em 1ª pessoa:
Personagem Principal: há um “eu” participante que conta a história e é o protagonista. Exemplo:
“Parei na varanda, ia tonto, atordoado, as pernas bambas, o coração parecendo querer sair-me pela boca fora. Não me atrevia a descer à chácara, e passar ao quintal vizinho. Comecei a andar de um lado para outro, estacando para amparar-me, e andava outra vez e estacava.”
(Machado de Assis. Dom Casmurro)
Observador: é como se dissesse: É verdade, pode acreditar, eu estava lá e vi. Exemplo:
“Batia nos noventa anos o corpo magro, mas sempre teso do Jango Jorge, um que foi capitão duma maloca de contrabandista que fez cancha nos banhados do Ibirocaí.
Esse gaúcho desabotinado levou a existência inteira a cruzar os campos da fronteira; à luz do Sol, no desmaiado da Lua, na escuridão das noites, na cerração das madrugadas...; ainda que chovesse reiúnos acolherados ou que ventasse como por alma de padre, nunca errou vau, nunca perdeu atalho, nunca desandou cruzada!...
(...)Aqui há poucos – coitado! – pousei no arranchamento dele.
Casado ou doutro jeito, afamilhado. Não no víamos desde muito tempo. (...)
Fiquei verdeando, à espera, e fui dando um ajutório na matança dos leitões e no tiramento dos assados com couro.
(J. Simões Lopes Neto – Contrabandista)- Em 3ª pessoa:
Onisciente: não há um eu que conta; é uma terceira pessoa. Exemplo:
“Devia andar lá pelos cinco anos e meio quando a fantasiaram de borboleta. Por isso não pôde defender-se. E saiu à rua com ar menos carnavalesco deste mundo, morrendo de vergonha da malha de cetim, das asas e das antenas e, mais ainda, da cara à mostra, sem máscara piedosa para disfarçar o sentimento impreciso de ridículo.”
(Ilka Laurito. Sal do Lírico)
Narrador Objetivo: não se envolve, conta a história como sendo vista por uma câmara ou filmadora. Exemplo:
Festa
Atrás do balcão, o rapaz de cabeça pelada e avental olha o crioulão de roupa limpa e remendada, acompanhado de dois meninos de tênis branco, um mais velho e outro mais novo, mas ambos com menos de dez anos.
Os três atravessam o salão, cuidadosamente, mas resolutamente, e se dirigem para o cômodo dos fundos, onde há seis mesas desertas.
O rapaz de cabeça pelada vai ver o que eles querem. O homem pergunta em quanto fica uma cerveja, dois guaranás e dois pãezinhos.
__ Duzentos e vinte.O preto concentra-se, aritmético, e confirma o pedido.__Que tal o pão com molho? – sugere o rapaz.

LÍNGUA PORTUGUESA
47
__ Como?__ Passar o pão no molho da almôndega. Fica muito mais
gostoso.O homem olha para os meninos.__ O preço é o mesmo – informa o rapaz.__ Está certo.Os três sentam-se numa das mesas, de forma canhestra, como
se o estivessem fazendo pela primeira vez na vida.O rapaz de cabeça pelada traz as bebidas e os copos e, em
seguida, num pratinho, os dois pães com meia almôndega cada um. O homem e (mais do que ele) os meninos olham para dentro dos pães, enquanto o rapaz cúmplice se retira.
Os meninos aguardam que a mão adulta leve solene o copo de cerveja até a boca, depois cada um prova o seu guaraná e morde o primeiro bocado do pão.
O homem toma a cerveja em pequenos goles, observando criteriosamente o menino mais velho e o menino mais novo absorvidos com o sanduíche e a bebida.
Eles não têm pressa. O grande homem e seus dois meninos. E permanecem para sempre, humanos e indestrutíveis, sentados naquela mesa.
(Wander Piroli)
Sequência Narrativa:
Uma narrativa não tem uma única mudança, mas várias: uma coordena-se a outra, uma implica a outra, uma subordina-se a outra.
A narrativa típica tem quatro mudanças de situação: - uma em que uma personagem passa a ter um querer ou um
dever (um desejo ou uma necessidade de fazer algo); - uma em que ela adquire um saber ou um poder (uma
competência para fazer algo); - uma em que a personagem executa aquilo que queria ou devia
fazer (é a mudança principal da narrativa);- uma em que se constata que uma transformação se deu e
em que se podem atribuir prêmios ou castigos às personagens (geralmente os prêmios são para os bons, e os castigos, para os maus).
Toda narrativa tem essas quatro mudanças, pois elas se pressupõem logicamente. Com efeito, quando se constata a realização de uma mudança é porque ela se verificou, e ela efetua-se porque quem a realiza pode, sabe, quer ou deve fazê-la. Tomemos, por exemplo, o ato de comprar um apartamento: quando se assina a escritura, realiza-se o ato de compra; para isso, é necessário poder (ter dinheiro) e querer ou dever comprar (respectivamente, querer deixar de pagar aluguel ou ter necessidade de mudar, por ter sido despejado, por exemplo).
Algumas mudanças são necessárias para que outras se deem. Assim, para apanhar uma fruta, é necessário apanhar um bambu ou outro instrumento para derrubá-la. Para ter um carro, é preciso antes conseguir o dinheiro.
Narrativa e Narração
Existe alguma diferença entre as duas? Sim. A narratividade é um componente narrativo que pode existir em textos que não são narrações. A narrativa é a transformação de situações. Por exemplo, quando se diz “Depois da abolição, incentivou-se a imigração de europeus”, temos um texto dissertativo, que, no entanto, apresenta um componente narrativo, pois contém uma mudança de situação: do não incentivo ao incentivo da imigração europeia.
Se a narrativa está presente em quase todos os tipos de texto, o que é narração?
A narração é um tipo de narrativa. Tem ela três características:- é um conjunto de transformações de situação (o texto de
Manuel Bandeira – “Porquinho-da-índia”, como vimos, preenche essa condição);
- é um texto figurativo, isto é, opera com personagens e fatos concretos (o texto “Porquinho-da-índia» preenche também esse requisito);
- as mudanças relatadas estão organizadas de maneira tal que, entre elas, existe sempre uma relação de anterioridade e posterioridade (no texto “Porquinho-da-índia» o fato de ganhar o animal é anterior ao de ele estar debaixo do fogão, que por sua vez é anterior ao de o menino levá-lo para a sala, que por seu turno é anterior ao de o porquinho-da-índia voltar ao fogão).
Essa relação de anterioridade e posterioridade é sempre pertinente num texto narrativo, mesmo que a sequência linear da temporalidade apareça alterada. Assim, por exemplo, no romance machadiano Memórias póstumas de Brás Cubas, quando o narrador começa contando sua morte para em seguida relatar sua vida, a sequência temporal foi modificada. No entanto, o leitor reconstitui, ao longo da leitura, as relações de anterioridade e de posterioridade.
Resumindo: na narração, as três características explicadas acima (transformação de situações, figuratividade e relações de anterioridade e posterioridade entre os episódios relatados) devem estar presentes conjuntamente. Um texto que tenha só uma ou duas dessas características não é uma narração.
Esquema que pode facilitar a elaboração de seu texto narrativo:
- Introdução: citar o fato, o tempo e o lugar, ou seja, o que aconteceu, quando e onde.
- Desenvolvimento: causa do fato e apresentação dos personagens.
- Desenvolvimento: detalhes do fato.- Conclusão: consequências do fato.
Caracterização Formal:
Em geral, a narrativa se desenvolve na prosa. O aspecto narrativo apresenta, até certo ponto, alguma subjetividade, porquanto a criação e o colorido do contexto estão em função da individualidade e do estilo do narrador. Dependendo do enfoque do redator, a narração terá diversas abordagens. Assim é de grande importância saber se o relato é feito em primeira pessoa ou terceira pessoa. No primeiro caso, há a participação do narrador; segundo, há uma inferência do último através da onipresença e onisciência.
Quanto à temporalidade, não há rigor na ordenação dos acontecimentos: esses podem oscilar no tempo, transgredindo o aspecto linear e constituindo o que se denomina “flashback”. O narrador que usa essa técnica (característica comum no cinema moderno) demonstra maior criatividade e originalidade, podendo observar as ações ziguezagueando no tempo e no espaço.
Exemplo - Personagens
“Aboletado na varanda, lendo Graciliano Ramos, O Dr. Amâncio não viu a mulher chegar.
Não quer que se carpa o quintal, moço?Estava um caco: mal vestida, cheirando a fumaça, a face
escalavrada. Mas os olhos... (sempre guardam alguma coisa do passado, os olhos).”
(Kiefer, Charles. A dentadura postiça. Porto Alegre: Mercado Aberto, p. 5O)

LÍNGUA PORTUGUESA
48
Exemplo - Espaço
Considerarei longamente meu pequeno deserto, a redondeza escura e uniforme dos seixos. Seria o leito seco de algum rio. Não havia, em todo o caso, como negar-lhe a insipidez.”
(Linda, Ieda. As amazonas segundo tio Hermann. Porto Alegre: Movimento, 1981, p. 51)
Exemplo - Tempo
“Sete da manhã. Honorato Madeira acorda e lembra-se: a mulher lhe pediu que a chamasse cedo.”
(Veríssimo, Érico. Caminhos Cruzados. p.4)
Apresentação da Narrativa:
- visual: texto escrito; legendas + desenhos (história em quadrinhos) e desenhos.
- auditiva: narrativas radiofonizadas; fitas gravadas e discos.- audiovisual: cinema; teatro e narrativas televisionadas.
Descrição
É a representação com palavras de um objeto, lugar, situação ou coisa, onde procuramos mostrar os traços mais particulares ou individuais do que se descreve. É qualquer elemento que seja apreendido pelos sentidos e transformado, com palavras, em imagens. Sempre que se expõe com detalhes um objeto, uma pessoa ou uma paisagem a alguém, está fazendo uso da descrição. Não é necessário que seja perfeita, uma vez que o ponto de vista do observador varia de acordo com seu grau de percepção. Dessa forma, o que será importante ser analisado para um, não será para outro. A vivência de quem descreve também influencia na hora de transmitir a impressão alcançada sobre determinado objeto, pessoa, animal, cena, ambiente, emoção vivida ou sentimento.
Exemplos:
(I) “De longe via a aleia onde a tarde era clara e redonda. Mas a penumbra dos ramos cobria o atalho.
Ao seu redor havia ruídos serenos, cheiro de árvores, pequenas surpresas entre os cipós. Todo o jardim triturado pelos instantes já mais apressados da tarde. De onde vinha o meio sonho pelo qual estava rodeada? Como por um zunido de abelhas e aves. Tudo era estranho, suave demais, grande demais.”
(extraído de “Amor”, Laços de Família, Clarice Lispector)
(II) Chamava-se Raimundo este pequeno, e era mole, aplicado, inteligência tarda. Raimundo gastava duas horas em reter aquilo que a outros levava apenas trinta ou cinquenta minutos; vencia com o tempo o que não podia fazer logo com o cérebro. Reunia a isso grande medo ao pai. Era uma criança fina, pálida, cara doente; raramente estava alegre. Entrava na escola depois do pai e retirava-se antes. O mestre era mais severo com ele do que conosco.
(Machado de Assis. “Conto de escola”. Contos. 3ed. São Paulo, Ática, 1974, págs. 3132.)
Esse texto traça o perfil de Raimundo, o filho do professor da escola que o escritor frequentava. Deve-se notar:
- que todas as frases expõem ocorrências simultâneas (ao mesmo tempo que gastava duas horas para reter aquilo que os outros levavam trinta ou cinquenta minutos, Raimundo tinha grande medo ao pai);
- por isso, não existe uma ocorrência que possa ser considerada cronologicamente anterior a outra do ponto de vista do relato (no nível dos acontecimentos, entrar na escola é cronologicamente anterior a retirar-se dela; no nível do relato, porém, a ordem dessas duas ocorrências é indiferente: o que o escritor quer é explicitar uma característica do menino, e não traçar a cronologia de suas ações);
- ainda que se fale de ações (como entrava, retirava-se), todas elas estão no pretérito imperfeito, que indica concomitância em relação a um marco temporal instalado no texto (no caso, o ano de 1840, em que o escritor frequentava a escola da rua da Costa) e, portanto, não denota nenhuma transformação de estado;
- se invertêssemos a sequência dos enunciados, não correríamos o risco de alterar nenhuma relação cronológica poderíamos mesmo colocar o último período em primeiro lugar e ler o texto do fim para o começo: O mestre era mais severo com ele do que conosco. Entrava na escola depois do pai e retirava-se antes...
Evidentemente, quando se diz que a ordem dos enunciados pode ser invertida, está-se pensando apenas na ordem cronológica, pois, como veremos adiante, a ordem em que os elementos são descritos produz determinados efeitos de sentido.
Quando alteramos a ordem dos enunciados, precisamos fazer certas modificações no texto, pois este contém anafóricos (palavras que retomam o que foi dito antes, como ele, os, aquele, etc. ou catafóricos (palavras que anunciam o que vai ser dito, como este, etc.), que podem perder sua função e assim não ser compreendidos. Se tomarmos uma descrição como As flores manifestavam todo o seu esplendor. O Sol fazia-as brilhar, ao invertermos a ordem das frases, precisamos fazer algumas alterações, para que o texto possa ser compreendido: O Sol fazia as flores brilhar. Elas manifestavam todo o seu esplendor. Como, na versão original, o pronome oblíquo as é um anafórico que retoma flores, se alterarmos a ordem das frases ele perderá o sentido. Por isso, precisamos mudar a palavra flores para a primeira frase e retomá-la com o anafórico elas na segunda.
Por todas essas características, diz-se que o fragmento do conto de Machado é descritivo. Descrição é o tipo de texto em que se expõem características de seres concretos (pessoas, objetos, situações, etc.) consideradas fora da relação de anterioridade e de posterioridade.
Características:
- Ao fazer a descrição enumeramos características, comparações e inúmeros elementos sensoriais;
- As personagens podem ser caracterizadas física e psicologicamente, ou pelas ações;
- A descrição pode ser considerada um dos elementos constitutivos da dissertação e da argumentação;
- É impossível separar narração de descrição;- O que se espera não é tanto a riqueza de detalhes, mas sim a
capacidade de observação que deve revelar aquele que a realiza.- Utilizam, preferencialmente, verbos de ligação. Exemplo:
“(...) Ângela tinha cerca de vinte anos; parecia mais velha pelo desenvolvimento das proporções. Grande, carnuda, sanguínea e fogosa, era um desses exemplares excessivos do sexo que parecem conformados expressamente para esposas da multidão (...)” (Raul Pompéia – O Ateneu)
- Como na descrição o que se reproduz é simultâneo, não existe relação de anterioridade e posterioridade entre seus enunciados.
- Devem-se evitar os verbos e, se isso não for possível, que se usem então as formas nominais, o presente e o pretérito imperfeito do indicativo, dando-se sempre preferência aos verbos que indiquem estado ou fenômeno.
- Todavia deve predominar o emprego das comparações, dos adjetivos e dos advérbios, que conferem colorido ao texto.

LÍNGUA PORTUGUESA
49
A característica fundamental de um texto descritivo é essa inexistência de progressão temporal. Pode-se apresentar, numa descrição, até mesmo ação ou movimento, desde que eles sejam sempre simultâneos, não indicando progressão de uma situação anterior para outra posterior. Tanto é que uma das marcas linguísticas da descrição é o predomínio de verbos no presente ou no pretérito imperfeito do indicativo: o primeiro expressa concomitância em relação ao momento da fala; o segundo, em relação a um marco temporal pretérito instalado no texto.
Para transformar uma descrição numa narração, bastaria introduzir um enunciado que indicasse a passagem de um estado anterior para um posterior. No caso do texto II inicial, para transformá-lo em narração, bastaria dizer: Reunia a isso grande medo do pai. Mais tarde, Iibertouse desse medo...
Características Linguísticas:
O enunciado narrativo, por ter a representação de um acontecimento, fazer-transformador, é marcado pela temporalidade, na relação situação inicial e situação final, enquanto que o enunciado descritivo, não tendo transformação, é atemporal.
Na dimensão linguística, destacam-se marcas sintático-semânticas encontradas no texto que vão facilitar a compreensão:
- Predominância de verbos de estado, situação ou indicadores de propriedades, atitudes, qualidades, usados principalmente no presente e no imperfeito do indicativo (ser, estar, haver, situar-se, existir, ficar).
- Ênfase na adjetivação para melhor caracterizar o que é descrito;
Exemplo:
“Era alto, magro, vestido todo de preto, com o pescoço entalado num colarinho direito. O rosto aguçado no queixo ia-se alargando até à calva, vasta e polida, um pouco amolgado no alto; tingia os cabelos que de uma orelha à outra lhe faziam colar por trás da nuca - e aquele preto lustroso dava, pelo contraste, mais brilho à calva; mas não tingia o bigode; tinha-o grisalho, farto, caído aos cantos da boca. Era muito pálido; nunca tirava as lunetas escuras. Tinha uma covinha no queixo, e as orelhas grandes muito despegadas do crânio.”
(Eça de Queiroz - O Primo Basílio)
- Emprego de figuras (metáforas, metonímias, comparações, sinestesias). Exemplo:
“Era o Sr. Lemos um velho de pequena estatura, não muito gordo, mas rolho e bojudo como um vaso chinês. Apesar de seu corpo rechonchudo, tinha certa vivacidade buliçosa e saltitante que lhe dava petulância de rapaz e casava perfeitamente com os olhinhos de azougue.”
(José de Alencar - Senhora)
- Uso de advérbios de localização espacial. Exemplo:
“Até os onze anos, eu morei numa casa, uma casa velha, e essa casa era assim: na frente, uma grade de ferro; depois você entrava tinha um jardinzinho; no final tinha uma escadinha que devia ter uns cinco degraus; aí você entrava na sala da frente; dali tinha um corredor comprido de onde saíam três portas; no final do corredor tinha a cozinha, depois tinha uma escadinha que ia dar no quintal e atrás ainda tinha um galpão, que era o lugar da bagunça...”
(Entrevista gravada para o Projeto NURC/RJ)
Recursos:
- Usar impressões cromáticas (cores) e sensações térmicas. Ex: O dia transcorria amarelo, frio, ausente do calor alegre do sol.
- Usar o vigor e relevo de palavras fortes, próprias, exatas, concretas. Ex: As criaturas humanas transpareciam um céu sereno, uma pureza de cristal.
- As sensações de movimento e cor embelezam o poder da natureza e a figura do homem. Ex: Era um verde transparente que deslumbrava e enlouquecia qualquer um.
- A frase curta e penetrante dá um sentido de rapidez do texto. Ex: Vida simples. Roupa simples. Tudo simples. O pessoal, muito crente.
A descrição pode ser apresentada sob duas formas:
Descrição Objetiva: quando o objeto, o ser, a cena, a passagem são apresentadas como realmente são, concretamente. Exemplo:
“Sua altura é 1,85m. Seu peso, 70kg. Aparência atlética, ombros largos, pele bronzeada. Moreno, olhos negros, cabelos negros e lisos”.
Não se dá qualquer tipo de opinião ou julgamento. Exemplo:
“A casa velha era enorme, toda em largura, com porta central que se alcançava por três degraus de pedra e quatro janelas de guilhotina para cada lado. Era feita de pau-a-pique barreado, dentro de uma estrutura de cantos e apoios de madeira-de-lei. Telhado de quatro águas. Pintada de roxo-claro. Devia ser mais velha que Juiz de Fora, provavelmente sede de alguma fazenda que tivesse ficado, capricho da sorte, na linha de passagem da variante do Caminho Novo que veio a ser a Rua Principal, depois a Rua Direita – sobre a qual ela se punha um pouco de esguelha e fugindo ligeiramente do alinhamento (...).”
(Pedro Nava – Baú de Ossos)
Descrição Subjetiva: quando há maior participação da emoção, ou seja, quando o objeto, o ser, a cena, a paisagem são transfigurados pela emoção de quem escreve, podendo opinar ou expressar seus sentimentos. Exemplo:
“Nas ocasiões de aparato é que se podia tomar pulso ao homem. Não só as condecorações gritavam-lhe no peito como uma couraça de grilos. Ateneu! Ateneu! Aristarco todo era um anúncio; os gestos, calmos, soberanos, calmos, eram de um rei...”
(“O Ateneu”, Raul Pompéia)
“(...) Quando conheceu Joca Ramiro, então achou outra esperança maior: para ele, Joca Ramiro era único homem, par-de-frança, capaz de tomar conta deste sertão nosso, mandando por lei, de sobregoverno.”
(Guimarães Rosa – Grande Sertão: Veredas)
Os efeitos de sentido criados pela disposição dos elementos descritivos:

LÍNGUA PORTUGUESA
50
Como se disse anteriormente, do ponto de vista da progressão temporal, a ordem dos enunciados na descrição é indiferente, uma vez que eles indicam propriedades ou características que ocorrem simultaneamente. No entanto, ela não é indiferente do ponto de vista dos efeitos de sentido: descrever de cima para baixo ou vice-versa, do detalhe para o todo ou do todo para o detalhe cria efeitos de sentido distintos.
Observe os dois quartetos do soneto “Retrato Próprio”, de Bocage:
Magro, de olhos azuis, carão moreno,bem servido de pés, meão de altura,triste de facha, o mesmo de figura,nariz alto no meio, e não pequeno.
Incapaz de assistir num só terreno,mais propenso ao furor do que à ternura;bebendo em níveas mãos por taça escurade zelos infernais letal veneno.
Obras de Bocage. Porto, Lello & Irmão, 1968, pág. 497.
O poeta descreve-se das características físicas para as características morais. Se fizesse o inverso, o sentido não seria o mesmo, pois as características físicas perderiam qualquer relevo.
O objetivo de um texto descritivo é levar o leitor a visualizar uma cena. É como traçar com palavras o retrato de um objeto, lugar, pessoa etc., apontando suas características exteriores, facilmente identificáveis (descrição objetiva), ou suas características psicológicas e até emocionais (descrição subjetiva).
Uma descrição deve privilegiar o uso frequente de adjetivos, também denominado adjetivação. Para facilitar o aprendizado desta técnica, sugere-se que o concursando, após escrever seu texto, sublinhe todos os substantivos, acrescentando antes ou depois deste um adjetivo ou uma locução adjetiva.
Descrição de objetos constituídos de uma só parte:
- Introdução: observações de caráter geral referentes à procedência ou localização do objeto descrito.
- Desenvolvimento: detalhes (lª parte) formato (comparação com figuras geométricas e com objetos semelhantes); dimensões (largura, comprimento, altura, diâmetro etc.)
- Desenvolvimento: detalhes (2ª parte) material, peso, cor/brilho, textura.
- Conclusão: observações de caráter geral referentes a sua utilidade ou qualquer outro comentário que envolva o objeto como um todo.
Descrição de objetos constituídos por várias partes:
- Introdução: observações de caráter geral referentes à procedência ou localização do objeto descrito.
- Desenvolvimento: enumeração e rápidos comentários das partes que compõem o objeto, associados à explicação de como as partes se agrupam para formar o todo.
- Desenvolvimento: detalhes do objeto visto como um todo (externamente) formato, dimensões, material, peso, textura, cor e brilho.
- Conclusão: observações de caráter geral referentes a sua utilidade ou qualquer outro comentário que envolva o objeto em sua totalidade.
Descrição de ambientes:
- Introdução: comentário de caráter geral.- Desenvolvimento: detalhes referentes à estrutura global do
ambiente: paredes, janelas, portas, chão, teto, luminosidade e aroma (se houver).
- Desenvolvimento: detalhes específicos em relação a objetos lá existentes: móveis, eletrodomésticos, quadros, esculturas ou quaisquer outros objetos.
- Conclusão: observações sobre a atmosfera que paira no ambiente.
Descrição de paisagens:
- Introdução: comentário sobre sua localização ou qualquer outra referência de caráter geral.
- Desenvolvimento: observação do plano de fundo (explicação do que se vê ao longe).
- Desenvolvimento: observação dos elementos mais próximos do observador explicação detalhada dos elementos que compõem a paisagem, de acordo com determinada ordem.
- Conclusão: comentários de caráter geral, concluindo acerca da impressão que a paisagem causa em quem a contempla.
Descrição de pessoas (I):
- Introdução: primeira impressão ou abordagem de qualquer aspecto de caráter geral.
- Desenvolvimento: características físicas (altura, peso, cor da pele, idade, cabelos, olhos, nariz, boca, voz, roupas).
- Desenvolvimento: características psicológicas (personalidade, temperamento, caráter, preferências, inclinações, postura, objetivos).
- Conclusão: retomada de qualquer outro aspecto de caráter geral.
Descrição de pessoas (II):
- Introdução: primeira impressão ou abordagem de qualquer aspecto de caráter geral.
- Desenvolvimento: análise das características físicas, associadas às características psicológicas (1ª parte).
- Desenvolvimento: análise das características físicas, associadas às características psicológicas (2ª parte).
- Conclusão: retomada de qualquer outro aspecto de caráter geral.
A descrição, ao contrário da narrativa, não supõe ação. É uma estrutura pictórica, em que os aspectos sensoriais predominam. Porque toda técnica descritiva implica contemplação e apreensão de algo objetivo ou subjetivo, o redator, ao descrever, precisa possuir certo grau de sensibilidade. Assim como o pintor capta o mundo exterior ou interior em suas telas, o autor de uma descrição focaliza cenas ou imagens, conforme o permita sua sensibilidade.
Conforme o objetivo a alcançar, a descrição pode ser não-literária ou literária. Na descrição não-literária, há maior preocupação com a exatidão dos detalhes e a precisão vocabular. Por ser objetiva, há predominância da denotação.

LÍNGUA PORTUGUESA
51
Textos descritivos não-literários: A descrição técnica é um tipo de descrição objetiva: ela recria o objeto usando uma linguagem científica, precisa. Esse tipo de texto é usado para descrever aparelhos, o seu funcionamento, as peças que os compõem, para descrever experiências, processos, etc. Exemplo:
Folheto de propaganda de carro
Conforto interno - É impossível falar de conforto sem incluir o espaço interno. Os seus interiores são amplos, acomodando tranquilamente passageiros e bagagens. O Passat e o Passat Variant possuem direção hidráulica e ar condicionado de elevada capacidade, proporcionando a climatização perfeita do ambiente.
Porta-malas - O compartimento de bagagens possui capacidade de 465 litros, que pode ser ampliada para até 1500 litros, com o encosto do banco traseiro rebaixado.
Tanque - O tanque de combustível é confeccionado em plástico reciclável e posicionado entre as rodas traseiras, para evitar a deformação em caso de colisão.
Textos descritivos literários: Na descrição literária predomina o aspecto subjetivo, com ênfase no conjunto de associações conotativas que podem ser exploradas a partir de descrições de pessoas; cenários, paisagens, espaço; ambientes; situações e coisas. Vale lembrar que textos descritivos também podem ocorrer tanto em prosa como em verso.
Dissertação
A dissertação é uma exposição, discussão ou interpretação de uma determinada ideia. É, sobretudo, analisar algum tema. Pressupõe um exame crítico do assunto, lógica, raciocínio, clareza, coerência, objetividade na exposição, um planejamento de trabalho e uma habilidade de expressão. É em função da capacidade crítica que se questionam pontos da realidade social, histórica e psicológica do mundo e dos semelhantes. Vemos também, que a dissertação no seu significado diz respeito a um tipo de texto em que a exposição de uma ideia, através de argumentos, é feita com a finalidade de desenvolver um conteúdo científico, doutrinário ou artístico. Exemplo:
Há três métodos pelos quais pode um homem chegar a ser primeiro-ministro. O primeiro é saber, com prudência, como servir-se de uma pessoa, de uma filha ou de uma irmã; o segundo, como trair ou solapar os predecessores; e o terceiro, como clamar, com zelo furioso, contra a corrupção da corte. Mas um príncipe discreto prefere nomear os que se valem do último desses métodos, pois os tais fanáticos sempre se revelam os mais obsequiosos e subservientes à vontade e às paixões do amo. Tendo à sua disposição todos os cargos, conservam-se no poder esses ministros subordinando a maioria do senado, ou grande conselho, e, afinal, por via de um expediente chamado anistia (cuja natureza lhe expliquei), garantem-se contra futuras prestações de contas e retiram-se da vida pública carregados com os despojos da nação.
Jonathan Swift. Viagens de Gulliver.São Paulo, Abril Cultural, 1979, p. 234235.
Esse texto explica os três métodos pelos quais um homem chega a ser primeiro-ministro, aconselha o príncipe discreto a escolhê-lo entre os que clamam contra a corrupção na corte e justifica esse conselho. Observe-se que:
- o texto é temático, pois analisa e interpreta a realidade com conceitos abstratos e genéricos (não se fala de um homem particular e do que faz para chegar a ser primeiro-ministro, mas do homem em geral e de todos os métodos para atingir o poder);
- existe mudança de situação no texto (por exemplo, a mudança de atitude dos que clamam contra a corrupção da corte no momento em que se tornam primeiros-ministros);
- a progressão temporal dos enunciados não tem importância, pois o que importa é a relação de implicação (clamar contra a corrupção da corte implica ser corrupto depois da nomeação para primeiro-ministro).
Características:
- ao contrário do texto narrativo e do descritivo, ele é temático;- como o texto narrativo, ele mostra mudanças de situação;- ao contrário do texto narrativo, nele as relações de
anterioridade e de posterioridade dos enunciados não têm maior importância o que importa são suas relações lógicas: analogia, pertinência, causalidade, coexistência, correspondência, implicação, etc.
- a estética e a gramática são comuns a todos os tipos de redação. Já a estrutura, o conteúdo e a estilística possuem características próprias a cada tipo de texto.
São partes da dissertação: Introdução / Desenvolvimento /
Conclusão.
Introdução: em que se apresenta o assunto; se apresenta a ideia principal, sem, no entanto, antecipar seu desenvolvimento. Tipos:
- Divisão: quando há dois ou mais termos a serem discutidos. Ex: “Cada criatura humana traz duas almas consigo: uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro...”
- Alusão Histórica: um fato passado que se relaciona a um fato presente. Ex: “A crise econômica que teve início no começo dos anos 80, com os conhecidos altos índices de inflação que a década colecionou, agravou vários dos históricos problemas sociais do país. Entre eles, a violência, principalmente a urbana, cuja escalada tem sido facilmente identificada pela população brasileira.”
- Proposição: o autor explicita seus objetivos.- Convite: proposta ao leitor para que participe de alguma
coisa apresentada no texto. Ex: Você quer estar “na sua”? Quer se sentir seguro, ter o sucesso pretendido? Não entre pelo cano! Faça parte desse time de vencedores desde a escolha desse momento!
- Contestação: contestar uma ideia ou uma situação. Ex: “É importante que o cidadão saiba que portar arma de fogo não é a solução no combate à insegurança.”
- Características: caracterização de espaços ou aspectos. - Estatísticas: apresentação de dados estatísticos. Ex: “Em
1982, eram 15,8 milhões os domicílios brasileiros com televisores. Hoje, são 34 milhões (o sexto maior parque de aparelhos receptores instalados do mundo). Ao todo, existem no país 257 emissoras (aquelas capazes de gerar programas) e 2.624 repetidoras (que apenas retransmitem sinais recebidos). (...)”
- Declaração Inicial: emitir um conceito sobre um fato. - Citação: opinião de alguém de destaque sobre o assunto do
texto. Ex: “A principal característica do déspota encontra-se no fato de ser ele o autor único e exclusivo das normas e das regras que definem a vida familiar, isto é, o espaço privado. Seu poder, escreve Aristóteles, é arbitrário, pois decorre exclusivamente de sua vontade, de seu prazer e de suas necessidades.”
- Definição: desenvolve-se pela explicação dos termos que compõem o texto.

LÍNGUA PORTUGUESA
52
- Interrogação: questionamento. Ex: “Volta e meia se faz a pergunta de praxe: afinal de contas, todo esse entusiasmo pelo futebol não é uma prova de alienação?”
- Suspense: alguma informação que faça aumentar a curiosidade do leitor.
- Comparação: social e geográfica. - Enumeração: enumerar as informações. Ex: “Ação à
distância, velocidade, comunicação, linha de montagem, triunfo das massas, Holocausto: através das metáforas e das realidades que marcaram esses 100 últimos anos, aparece a verdadeira doença do século...”
- Narração: narrar um fato.
Desenvolvimento: é a argumentação da ideia inicial, de forma organizada e progressiva. É a parte maior e mais importante do texto. Podem ser desenvolvidos de várias formas:
- Trajetória Histórica: cultura geral é o que se prova com este tipo de abordagem.
- Definição: não basta citar, mas é preciso desdobrar a idéia principal ao máximo, esclarecendo o conceito ou a definição.
- Comparação: estabelecer analogias, confrontar situações distintas.
- Bilateralidade: quando o tema proposto apresenta pontos favoráveis e desfavoráveis.
- Ilustração Narrativa ou Descritiva: narrar um fato ou descrever uma cena.
- Cifras e Dados Estatísticos: citar cifras e dados estatísticos.- Hipótese: antecipa uma previsão, apontando para prováveis
resultados.- Interrogação: Toda sucessão de interrogações deve
apresentar questionamento e reflexão.- Refutação: questiona-se praticamente tudo: conceitos,
valores, juízos.- Causa e Consequência: estruturar o texto através dos
porquês de uma determinada situação.- Oposição: abordar um assunto de forma dialética.- Exemplificação: dar exemplos.
Conclusão: é uma avaliação final do assunto, um fechamento integrado de tudo que se argumentou. Para ela convergem todas as ideias anteriormente desenvolvidas.
- Conclusão Fechada: recupera a ideia da tese.- Conclusão Aberta: levanta uma hipótese, projeta um
pensamento ou faz uma proposta, incentivando a reflexão de quem lê.
Exemplo:
Direito de Trabalho
Com a queda do feudalismo no século XV, nasce um novo modelo econômico: o capitalismo, que até o século XX agia por meio da inclusão de trabalhadores e hoje passou a agir por meio da exclusão. (A)
A tendência do mundo contemporâneo é tornar todo o trabalho automático, devido à evolução tecnológica e a necessidade de qualificação cada vez maior, o que provoca o desemprego. Outro fator que também leva ao desemprego de um sem número de trabalhadores é a contenção de despesas, de gastos. (B)
Segundo a Constituição, “preocupada” com essa crise social que provém dessa automatização e qualificação, obriga que seja feita uma lei, em que será dada absoluta garantia aos trabalhadores, de que, mesmo que as empresas sejam automatizadas, não perderão eles seu mercado de trabalho. (C)
Não é uma utopia?!Um exemplo vivo são os bóias-frias que trabalham na
colheita da cana de açúcar que devido ao avanço tecnológico e a lei do governador Geraldo Alkmin, defendendo o meio ambiente, proibindo a queima da cana de açúcar para a colheita e substituindo-os então pelas máquinas, desemprega milhares deles. (D)
Em troca os sindicatos dos trabalhadores rurais dão cursos de cabeleireiro, marcenaria, eletricista, para não perderem o mercado de trabalho, aumentando, com isso, a classe de trabalhos informais.
Como ficam então aqueles trabalhadores que passaram à vida estudando, se especializando, para se diferenciarem e ainda estão desempregados?, como vimos no último concurso da prefeitura do Rio de Janeiro para “gari”, havia até advogado na fila de inscrição. (E)
Já que a Constituição dita seu valor ao social que todos têm o direito de trabalho, cabe aos governantes desse país, que almeja um futuro brilhante, deter, com urgência esse processo de desníveis gritantes e criar soluções eficazes para combater a crise generalizada (F), pois a uma nação doente, miserável e desigual, não compete a tão sonhada modernidade. (G)
1º Parágrafo – Introdução
A. Tema: Desemprego no Brasil.Contextualização: decorrência de um processo histórico
problemático.
2º ao 6º Parágrafo – Desenvolvimento
B. Argumento 1: Exploram-se dados da realidade que remetem a uma análise do tema em questão.
C. Argumento 2: Considerações a respeito de outro dado da realidade.
D. Argumento 3: Coloca-se sob suspeita a sinceridade de quem propõe soluções.
E. Argumento 4: Uso do raciocínio lógico de oposição.
7º Parágrafo: ConclusãoF. Uma possível solução é apresentada.G. O texto conclui que desigualdade não se casa com
modernidade.
É bom lembrarmos que é praticamente impossível opinar sobre o que não se conhece. A leitura de bons textos é um dos recursos que permite uma segurança maior no momento de dissertar sobre algum assunto. Debater e pesquisar são atitudes que favorecem o senso crítico, essencial no desenvolvimento de um texto dissertativo.
Ainda temos:
Tema: compreende o assunto proposto para discussão, o assunto que vai ser abordado.
Título: palavra ou expressão que sintetiza o conteúdo discutido.

LÍNGUA PORTUGUESA
53
Argumentação: é um conjunto de procedimentos linguísticos com os quais a pessoa que escreve sustenta suas opiniões, de forma a torná-las aceitáveis pelo leitor. É fornecer argumentos, ou seja, razões a favor ou contra uma determinada tese.
Estes assuntos serão vistos com mais afinco posteriormente.Alguns pontos essenciais desse tipo de texto são:- toda dissertação é uma demonstração, daí a necessidade de
pleno domínio do assunto e habilidade de argumentação;- em consequência disso, impõem-se à fidelidade ao tema;- a coerência é tida como regra de ouro da dissertação;- impõem-se sempre o raciocínio lógico;- a linguagem deve ser objetiva, denotativa; qualquer
ambiguidade pode ser um ponto vulnerável na demonstração do que se quer expor. Deve ser clara, precisa, natural, original, nobre, correta gramaticalmente. O discurso deve ser impessoal (evitar-se o uso da primeira pessoa).
O parágrafo é a unidade mínima do texto e deve apresentar: uma frase contendo a ideia principal (frase nuclear) e uma ou mais frases que explicitem tal ideia.
Exemplo: “A televisão mostra uma realidade idealizada (ideia central) porque oculta os problemas sociais realmente graves. (ideia secundária)”.
Vejamos:Ideia central: A poluição atmosférica deve ser combatida
urgentemente.
Desenvolvimento: A poluição atmosférica deve ser combatida urgentemente, pois a alta concentração de elementos tóxicos põe em risco a vida de milhares de pessoas, sobretudo daquelas que sofrem de problemas respiratórios:
- A propaganda intensiva de cigarros e bebidas tem levado muita gente ao vício.
- A televisão é um dos mais eficazes meios de comunicação criados pelo homem.
- A violência tem aumentado assustadoramente nas cidades e hoje parece claro que esse problema não pode ser resolvido apenas pela polícia.
- O diálogo entre pais e filhos parece estar em crise atualmente.- O problema dos sem-terra preocupa cada vez mais a
sociedade brasileira.O parágrafo pode processar-se de diferentes maneiras:
Enumeração: Caracteriza-se pela exposição de uma série de coisas, uma a uma. Presta-se bem à indicação de características, funções, processos, situações, sempre oferecendo o complemente necessário à afirmação estabelecida na frase nuclear. Pode-se enumerar, seguindo-se os critérios de importância, preferência, classificação ou aleatoriamente.
Exemplo:1- O adolescente moderno está se tornando obeso por várias
causas: alimentação inadequada, falta de exercícios sistemáticos e demasiada permanência diante de computadores e aparelhos de Televisão.
2- Devido à expansão das igrejas evangélicas, é grande o número de emissoras que dedicam parte da sua programação à veiculação de programas religiosos de crenças variadas.
3-- A Santa Missa em seu lar.- Terço Bizantino.- Despertar da Fé.- Palavra de Vida.- Igreja da Graça no Lar.
4-- Inúmeras são as dificuldades com que se defronta o
governo brasileiro diante de tantos desmatamentos, desequilíbrios sociológicos e poluição.
- Existem várias razões que levam um homem a enveredar pelos caminhos do crime.
- A gravidez na adolescência é um problema seríssimo, porque pode trazer muitas consequências indesejáveis.
- O lazer é uma necessidade do cidadão para a sua sobrevivência no mundo atual e vários são os tipos de lazer.
- O Novo Código Nacional de trânsito divide as faltas em várias categorias.
Comparação: A frase nuclear pode-se desenvolver através da comparação, que confronta ideias, fatos, fenômenos e apresenta-lhes a semelhança ou dessemelhança.
Exemplo: “A juventude é uma infatigável aspiração de felicidade; a
velhice, pelo contrário, é dominada por um vago e persistente sentimento de dor, porque já estamos nos convencendo de que a felicidade é uma ilusão, que só o sofrimento é real”.
(Arthur Schopenhauer)
Causa e Consequência: A frase nuclear, muitas vezes, encontra no seu desenvolvimento um segmento causal (fato motivador) e, em outras situações, um segmento indicando consequências (fatos decorrentes).
Exemplos: - O homem, dia a dia, perde a dimensão de humanidade que
abriga em si, porque os seus olhos teimam apenas em ver as coisas imediatistas e lucrativas que o rodeiam.
- O espírito competitivo foi excessivamente exercido entre nós, de modo que hoje somos obrigados a viver numa sociedade fria e inamistosa.
Tempo e Espaço: Muitos parágrafos dissertativos marcam temporal e espacialmente a evolução de ideias, processos.
Exemplos: Tempo - A comunicação de massas é resultado de uma lenta
evolução. Primeiro, o homem aprendeu a grunhir. Depois deu um significado a cada grunhido. Muito depois, inventou a escrita e só muitos séculos mais tarde é que passou à comunicação de massa.
Espaço - O solo é influenciado pelo clima. Nos climas úmidos, os solos são profundos. Existe nessas regiões uma forte decomposição de rochas, isto é, uma forte transformação da rocha em terra pela umidade e calor. Nas regiões temperadas e ainda nas mais frias, a camada do solo é pouco profunda. (Melhem Adas)
Explicitação: Num parágrafo dissertativo pode-se conceituar, exemplificar e aclarar as ideias para torná-las mais compreensíveis.
Exemplo: “Artéria é um vaso que leva sangue proveniente do coração para irrigar os tecidos. Exceto no cordão umbilical e na ligação entre os pulmões e o coração, todas as artérias contém sangue vermelho-vivo, recém oxigenado. Na artéria pulmonar, porém, corre sangue venoso, mais escuro e desoxigenado, que o coração remete para os pulmões para receber oxigênio e liberar gás carbônico”.

LÍNGUA PORTUGUESA
54
Antes de se iniciar a elaboração de uma dissertação, deve delimitar-se o tema que será desenvolvido e que poderá ser enfocado sob diversos aspectos. Se, por exemplo, o tema é a questão indígena, ela poderá ser desenvolvida a partir das seguintes ideias:
- A violência contra os povos indígenas é uma constante na história do Brasil.
- O surgimento de várias entidades de defesa das populações indígenas.
- A visão idealizada que o europeu ainda tem do índio brasileiro.
- A invasão da Amazônia e a perda da cultura indígena.Depois de delimitar o tema que você vai desenvolver, deve
fazer a estruturação do texto.A estrutura do texto dissertativo constitui-se de:
Introdução: deve conter a ideia principal a ser desenvolvida (geralmente um ou dois parágrafos). É a abertura do texto, por isso é fundamental. Deve ser clara e chamar a atenção para dois itens básicos: os objetivos do texto e o plano do desenvolvimento. Contém a proposição do tema, seus limites, ângulo de análise e a hipótese ou a tese a ser defendida.
Desenvolvimento: exposição de elementos que vão fundamentar a ideia principal que pode vir especificada através da argumentação, de pormenores, da ilustração, da causa e da consequência, das definições, dos dados estatísticos, da ordenação cronológica, da interrogação e da citação. No desenvolvimento são usados tantos parágrafos quantos forem necessários para a completa exposição da ideia. E esses parágrafos podem ser estruturados das cinco maneiras expostas acima.
Conclusão: é a retomada da ideia principal, que agora deve aparecer de forma muito mais convincente, uma vez que já foi fundamentada durante o desenvolvimento da dissertação (um parágrafo). Deve, pois, conter de forma sintética, o objetivo proposto na instrução, a confirmação da hipótese ou da tese, acrescida da argumentação básica empregada no desenvolvimento.
4.1. Técnicas de Redação
Estética
Este critério, em primeira instância, desperta o interesse ou a aversão do leitor por sua produção textual. É a apresentação do texto, assim como são para nós a adequação e o asseio de uma roupa. Deve-se enfatizar que a estética se aplica a todos os tipos de texto. Alguns autores abordam a letra como a expressão da personalidade do concursando ou aluno. Contudo, por vezes, as bancas examinadoras punem o uso de letras de imprensa, sobretudo quando utilizadas em caixa-alta (maiúscula). Assim, seguem-se algumas sugestões para não perder pontos referentes à apresentação textual, aqui denominada “estética”. Como critério de correção, será utilizada a perda da pontuação total do quesito sempre que houver uma incidência de erro, entendida como o descumprimento das sugestões de cada um dos quesitos.
Legibilidade
A letra não precisa ser bonita ou enfeitada, como em convites de casamento, por exemplo. Ela deve ser correta e legível! Exemplos:
- i e j com pingo;- c com cedilha correto = ç;- til sobre a primeira vogal do ditongo nasal acentuado, e não
ao centro das duas ou sobre a segunda = ão;- n e m corretos e não com aparência de u; não pular linhas;
letras menores com metade do tamanho das maiores.
Caso você tenha muita dificuldade, pense na possibilidade de adquirir um caderno de caligrafia e reaprenda a escrever as letras corretamente, de acordo com os exemplos acima. Caso opte pelas letras de imprensa, não se esqueça de mesclar maiúsculas com minúsculas, de modo gramaticalmente correto.
Margens
Ao refletir sobre a relação das margens com a estética, pensa-se automaticamente em um texto alinhado tanto à margem esquerda como à direita, sem a utilização abusiva de separações silábicas. Sugestões:
- não deixe espaço superior a 0,3cm entre o texto e a margem estabelecida;
- separe no máximo cinco palavras em todo o texto, de forma correta. Consideram-se separações incorretas: isolar vogais, dissílabas, palavras que comecem por h;
- separe apenas palavras que sejam pelo menos trissílabas, que comecem por consoante que não seja h;
- separe substantivos compostos com hífen com traço lateral, e as demais palavras com traço abaixo da última letra;
- nunca ultrapasse a margem.Parágrafos
Pontinha de unha ou um dedo nunca foram nem nunca serão medidas padrão de um parágrafo. Algumas sugestões para elaborar um parágrafo esteticamente ideal:
- faça recuo de 2 a 4cm;- não marque o início dos parágrafos;- não deixe uma diferença superior a 0,3cm entre o recuo
de um parágrafo e outro, pois isso passa ao leitor a sensação de estarem desalinhados;
- escreva pelo menos duas frases em cada parágrafo;- utilize no máximo 60 palavras por frase. Fusão de letras
Escolha uma letra, cursiva ou de imprensa, e não misture as duas formas. Este item também contempla a utilização incorreta de letras maiúsculas ou minúsculas. Nunca escreva o texto todo em caixa alta.
Alguns concursos optam pela análise grafológica, que analisa a personalidade com base na letra cursiva. Por isso, a letra cursiva lhe dá maior segurança, já que há bancas de correção que eliminam candidatos que utilizam letra de imprensa.
Rasuras
Definitivamente, as rasuras prejudicam a estética do texto e, a depender da forma como se evidenciarem, podem levar à reprovação do candidato. Considera-se rasura a utilização de corretivo ou o rabisco de palavras.
- use um traço retilíneo cortando toda a palavra; tal anulação pode acontecer em até cinco palavras em todo o texto;
- não coloque a palavra anulada entre parênteses.

LÍNGUA PORTUGUESA
55
Gramática
Este critério contempla a mensuração de conhecimentos gramaticais aplicados à produção textual. Apresenta-se aqui apenas a explicação do que faz perder pontos gramaticais em uma redação (para tirar dúvidas de ortografia, conjugação verbal e sintaxe, entre outros, consulte o resumo Português-Gramática de nossa coleção – Nova Apostila).
- Ortografia: avalia o emprego da grafia correta das palavras, como o uso de ç, ss, sc, x, ch...
- Acentuação: avalia a utilização correta de acentos, como o uso de acento agudo (´), acento circunflexo (^), til (~) e acento grave indicativo de crase (`). Lembre-se: crase não é acento, mas a fusão de duas vogais iguais; o til é sinal de nasalização;
- Pontuação: avalia-se a utilização correta da pontuação, como o uso de ponto final (.), vírgula (,), ponto e vírgula (;), doi s pontos (:), ponto de interrogação (?), ponto de exclamação (!) e reticências (...).
- Conectores e Colocação Pronominal: este ponto considera a utilização correta dos conectores para uma boa construção textual, bem como os fatores de próclise, ênclise e mesóclise, como o uso de “eu te amo”, “amote”, “amarte-ei”, entre outros.
- Concordância ou Regência: avaliam a concordância e a regência, verbais ou nominais.
Conteúdo
- Adequação ao tema- Domínio do conteúdo- Pertinência dos argumentos: progressão lógica da
argumentação- Pertinência dos argumentos: consistência da argumentação- Originalidade
Os pontos dispensados ao conteúdo, estreia central da dissertação ou do texto argumentativo, estão diretamente relacionados a seu domínio. Por isso, a leitura de jornais e revistas informativas e uma visão política, econômica e cultural, por exemplo, são fundamentais para a elaboração de textos convincentes.
Tipos de Desenvolvimento
Alguns autores, porém, sugerem a organização dos conteúdos em tipos de desenvolvimento. Por exemplo, Ana Helena Cizotto Belline (1988, p.36) divide-os em dez categorias: causa e consequência, oposição, tempo, espaço, tempo e espaço, definição, semelhança, exemplos/citações/dados estatísticos, enumeração, perguntas.
- Causa e Consequência: Esta categoria é a organizadora de seu texto e deve ser utilizada na montagem de sua estrutura. Atente para a enumeração dos argumentos de acordo com as tabelas:
1º argumento: causa / causa / causa / consequência.2º argumento: causa / causa / consequência / consequência.3º argumento: causa / consequência / consequência /
consequência1º argumento: causa / causa / consequência.2º argumento: causa / consequência / consequência.
- Oposição: Serve também como organizadora do texto e deve ser utilizada durante a montagem da estrutura. Para a enumeração dos argumentos, recomenda-se tomar por base o seguinte esquema:
1º argumento: Favorável / Contrário.2º argumento: Contrário / Favorável.3º argumento: Contrário / Favorável.
Como é possível observar, só há duas possibilidades de organizar o texto por oposição e ambas exigem três argumentos. Com apenas dois argumentos por oposição, automaticamente haveria um favorável e outro contrário ao tema e, portanto, uma argumentação morna, que tanto afirma como nega, sem posicionamento, elemento central da dissertação. Vale lembrar que é necessário manter coerência na enumeração dos argumentos: deve-se colocar primeiramente o que for minoria e deixar os outros dois (maioria) como segundo e terceiro argumentos, isso facilita, inclusive, na constituição de uma ponte com a conclusão.
- Tempo: É o tipo de desenvolvimento, e a categoria, que objetiva situar o leitor temporalmente. Para tanto, a utilização de advérbios de tempo se faz obrigatória. É recomendável utilizar, no mínimo, três advérbios temporais: “No século passado”, “Em 1945”, “No dia da posse”, “Às duas da tarde” etc.
- Espaço: Situa o leitor espacialmente e, para tanto, a utilização de advérbios de lugar também é obrigatória. Recomenda-se o uso de, no mínimo, três advérbios espaciais: “No Brasil”, “Na América Latina”, “No mundo”, “No prédio do ministério”, “Na Praça dos Três Poderes”, “Na escola” etc.
- Tempo e espaço: O objetivo é situar o leitor temporal e espacialmente. Nesse sentido, é obrigatória a utilização de advérbios de tempo e lugar. Sugere-se, no mínimo, o uso de quatro advérbios temporais e espaciais: “A partir de 2000, no Brasil”, “No último semestre, em São Paulo”, “Neste século, a América Central”, “Hoje, na Praça da Sé”, “Ontem, no Maracanã” etc.
- Definição: Tem por objetivo explicar determinado argumento, para comprovar a tese diante do tema. Recomenda-se o uso de, no mínimo, três verbos que indiquem definição: “entende-se por”, “define-se por”, “quer dizer”, “enfatiza-se”, “denota”.
- Semelhança: Desenvolvimento que tem por objetivo comparar para comprovar. Devem-se utilizar, no mínimo, três comparações: “tão... como”, “tanto quanto”, “tal qual”, “assim como” etc.
- Exemplos/citações/dados estatísticos: Nessa categoria, a finalidade é exemplificar, mencionar autores e citações ou dados estatísticos. Use, no mínimo, dois exemplos ou citações.
- Enumeração: Desenvolvimento com vistas a enumerar fatos ou situações em um mesmo argumento. Devem-se fazer pelo menos três enumerações.
- Perguntas: Desenvolvimento que utiliza perguntas retóricas como argumentação e posicionamento, e deve conter, no mínimo, quatro delas.
Estilística
- Subjetividade: Recomenda-se não utilizar a primeira pessoa nem do singular, nem do plural: se isso for feito, além de pontuação na prova, o candidato perderá pontos no quesito “gênero textual”. A dissertação é um texto denotativo; logo, não devem ser empregadas marcas de pessoalidade, próprias apenas de textos literários.

LÍNGUA PORTUGUESA
56
Incoerência ou Repetição: É aconselhável não repetir palavras das seguintes classes gramaticais: substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, interjeição. Lembre-se de que é possível utilizar o mesmo radical com vários afixos sinônimos, pois o que é proibido especificamente é a repetição da flexão. Analise as ideias na argumentação, com a finalidade de deixar o texto coerente.
Pouca Objetividade: Evite verbos de ligação, entre eles, “ser”, “estar”, “ficar”, “permanecer”, “parecer”, porque apenas ligam palavras. Após terminar o rascunho, revise a dissertação e substitua os verbos repetidos ou de ligação. Veja algumas sugestões:
Afirmação: consistir, constituir, significar, denotar, mostrar, traduzir-se por, expressar, representar, evidenciar...
Causalidade: causar, motivar, originar, ocasionar, gerar, propiciar, resultar, provocar, produzir, contribuir, determinar, criar...
Finalidade: visar, ter em vista, objetivar, ter por objetivo, pretender, tencionar, cogitar, tratar, servir para, prestar-se para...
Oposição: opor-se, contrariar, negar, impedir, surgir em oposição, surgirem contraposição, apresentar em oposição, ser contrário...
- Coloquialismo: Evidencia características da fala na escrita. Como estratégia de avaliação, veja a seguir algumas proibições que, se não acatadas, fazem perder pontos neste quesito.
- três usos da primeira pessoa na redação inteira;- três usos de verbo de ligação no mesmo parágrafo;- começar frase com gerúndio, duplo gerúndio na mesma
frase, gerúndio no futuro;- usar gírias, regionalismos etc.
Conotação ou Estrangeirismo: Já que a dissertação é um texto denotativo, informativo, formal, sugere-se a não utilização de: sentido figurado, figuras de linguagem, funções de linguagem, estrangeirismo etc.









![CPCCRD - Folha Informativa 21 [Outubro 2014] informativa 21... · ... garantir que esta ... o gosto do sociedade que se quer mais justa, ... muitíssimos anos até ser esgotado. O](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5c14df8709d3f29b2f8c5f07/cpccrd-folha-informativa-21-outubro-2014-informativa-21-garantir.jpg)