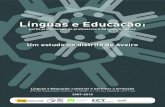0124
-
Upload
andre-carlos-furtado -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of 0124
-
20
INTELIGNCIAI N S I G H T
20 OH!
-
21JANEIRO FEVEREIRO MARO 2004
INTELIGNCIAI N S I G H T
re-Visesdo Paraso:
21JANEIRO FEVEREIRO MARO 2004
Robert Wegner & Nsia Trindade Limasocilogos
idias em livre concorrncia
-
22
INTELIGNCIAI N S I G H T
ostuma-se reconhecer Oliveira Vianna (1883-
1951) e Srgio Buarque de Holanda (1902-
1982) como dois entre os grandes ensastas
da Histria do pas. Mas, a partir desse quadro, alm de
serem considerados de geraes distintas, so apresentados
em extremos opostos, o primeiro representando o autorita-
rismo enquanto o outro, a democracia. O principal formula-
dor dessa configurao talvez tenha sido o prprio Srgio
Buarque de Holanda ao publicar, no decorrer de janeiro de
1950, um conjunto de quatro resenhas sobre o ento re-
cm-lanado Instituies Polticas Brasileiras, livro do escri-
tor fluminense.
Nesses comentrios, o articulista mostrava-se surpreso
com a resistncia manifestada por Oliveira Vianna s teo-
rias culturalistas, apresentadas como uma moda passageira
que transformava os indivduos em bonecos mecnicos
da cultura. A surpresa se transformava em espanto, porque,
segundo Srgio Buarque, ao continuar abraando explica-
es biolgicas no decorrer do livro, o autor simplesmente
reforava o determinismo antes criticado, ao mesmo tempo
em que guardava espao para indivduos geniais, como que
saltando por cima de sua raa e cultura, descobrirem as ins-
tituies polticas de fato adequadas forma de ser do povo
brasileiro, to avesso democracia e ao self-government.
O prprio Srgio Buarque, quase trinta anos mais tarde,
reconheceu que suas longas digresses sobre explicaes
culturais e biolgicas tinham por alvo maior, na verdade,
uma vasta construo jurdica e poltica, expressa nas leis
trabalhistas, da era de Vargas, a que a ela pretende forne-
cer o necessrio suporte cientfico.1 Desse modo, mesmo
que seja exagero dizer que essas resenhas o tenham inau-
gurado, delineiam de forma clara e em sua dupla face, te-
rica e poltica, o antagonismo com que se costuma apresen-
tar os dois ensastas.2
Contudo, uma vez que assinalemos que as obras de Oli-
veira Vianna no se resumem a explicaes raciais, o sim-
ples antagonismo continua a pouco esclarecer a relao entre
as obras dos dois autores e, mais especificamente, os usos
de Populaes Meridionais do Brasil por Srgio Buarque de
Holanda que mesmo em sua resenha crtica de 1950
no deixa de afirmar que Oliveira Vianna, em 1920, inau-
gurara com sua anlise memorvel das nossas populaes
meridionais uma fase nova nos estudos para o melhor co-
nhecimento do Brasil.
Mais recentemente, alguns historiadores, como Jos
Murilo de Carvalho e Angela de Castro Gomes, tm deixa-
do de enxergar meros antagonismos entre os ensastas, apon-
tando congruncias entre as interpretaes de Srgio Buar-
que de Holanda e Oliveira Vianna.3 Mesmo assim, continua
vlido dizer que uma das dificuldades para este tipo de rea-
valiao repousa no fato de que a verso que costumamos
ler de Razes do Brasil no corresponde exatamente pri-
meira edio do livro publicada em 1936, mas sim se-
gunda, de 12 anos depois.
Mesmo que o simples acesso direto ao texto no seja
capaz de resolver todos os enigmas de sua interpretao, a
1. Holanda, Srgio Buarque de. Apresentao. In Tentativas de Mitologia. So Paulo: Perspectiva, p.9.
2. As resenhas, publicadas originalmente no caderno Vida Literria do Dirio de Notcias, apareceram reunidas, sob o ttulo Cultura & Poltica,em livro de 1979, Tentativas de Mitologia.
3. Gomes, Angela de Castro. A Dialtica da Tradio. Revista Brasileira de Cincias Sociais, n 12 , 1990. pp.15-27; Carvalho, Jos Murilo de.A utopia de Oliveira Viana. Estudos Histricos, Rio de Janeiro, vol.4, n 7, 1991, pp.82-99.
c
22
INTELIGNCIAI N S I G H T
OH!
-
23JANEIRO FEVEREIRO MARO 2004
INTELIGNCIAI N S I G H T
primeira edio de Razes do Brasil poderia contribuir para
uma melhor compreenso do livro em seu contexto e em
dilogo com a literatura da poca. Lembremos que as mo-
dificaes operadas pelo autor de uma para outra verso se
deram justamente em um perodo de amplas mudanas no
pas, com nada menos do que a instaurao do Estado Novo
no ano seguinte publicao da verso original do livro, e,
em 1945, a redemocratizao.
Para o caso em questo, nos defrontamos com uma
modificao significativa. Na primeira edio de seu livro,
Srgio Buarque publicou uma nota sobre Populaes Meri-
dionais do Brasil, que, juntamente com as outras notas de
esclarecimento, foi retirada das edies seguintes e, portan-
to, do texto de Razes do Brasil que costumamos ler. Desde
ento, esses comentrios sobre Oliveira Vianna nunca mais
foram publicados. Quase setenta anos depois, voltamos a
publicar a nota.
NOTA B(Pg. 56)
Os admirveis estudos de histria econmica de Joo Lucio
de Azevedo mostram-nos essa situao prevalecendo clara-
mente em Portugal, antes de existir entre ns
A teoria artificiosa e extravagante da fora centrfuga
um dos aspectos de uma tese tendente a mostrar que as
formas sociais institudas em nosso meio, depois de algum
tempo de colonizao, resultam exclusivamente da ao ti-
rnica do ambiente americano agindo sobre a gente de ul-
tramar. Devemos essa teoria, to prpria para lisonjear a
vaidade patritica de numerosos brasileiros, ao Senhor F.J.
Oliveira Vianna. Precisamente a propsito da carta mencio-
nada do Conde de Cunha, esse autor, depois de afianar
que durante os primeiros tempos de colonizao prevaleceu
a tendncia europia de concentrao urbana, o que pare-
ce profundamente inexato, declara que o documento em
questo tem uma significao imensa para ns, porque nos
permite ver j nos meados do III sculo este duplo
fato da maior importncia para a nossa histria social: de
uma vida urbana rudimentar, em contraste com uma vida
rural intensssima.
ara o senhor Oliveira Vianna essa situao
significa apenas que a vida social dos colo-
nizadores do Brasil se est organizando, di-
ferenciando e adquirindo uma fisionomia prpria, perfeita-
mente incompreendida, por indita aos portugueses. O
que o Conde de Cunha chama casar-se mal prossegue
no , talvez, seno casar-se com pessoa sem nobreza,
a ligao do luso com o elemento no-nobre, mas rico e
rural do pas. Essa ligao, essa aliana, essa fuso nos no-
bres vindos dalem-mar com os nossos fazendeiros do inte-
rior prova quanto a obra de adaptao rural, de conformis-
mo rural em uma palavra, a obra de ruralizao da po-
pulao colonial, durante o III sculo rpida, vasta, pro-
funda. Sente-se que o nosso tipo de homem rural homo
rusticus com os caractersticos com que o conhecemos
hoje, j se vai modelando por esse tempo, e diferenciando-
se cada vez mais do tipo peninsular originrio. (Ver Oliveira
Vianna Populaes Meridionaes do Brasil, 3 edio. Com-
panhia Editora Nacional, So Paulo. 1933. Pgs. 19-20).
23JANEIRO FEVEREIRO MARO 2004
INTELIGNCIAI N S I G H T
p
-
26
INTELIGNCIAI N S I G H T
esprezando o que h de especioso nessa ten-
tativa de interpretao de um texto que no
exigiria tamanha ginstica de raciocnios da
parte de um esprito menos prevenido, cum-
pre, no entanto, assinalar que a intensidade da vida rural,
em contraste com a misria da vida urbana, no tem nada
de incompreensvel e de indito para os colonizadores. O
fenmeno, geral entre ns desde o primeiro sculo da colo-
nizao e no somente a partir do terceiro, como quer o
Senhor Oliveira Vianna reproduz simplesmente o que j
ocorria na me-ptria. Segundo nos informa Joo Lucio de
Azevedo, sucedia algumas vezes no Portugal quinhentista
ser a sede do conselho lugar deserto ou quase, derraman-
do-se a populao pelas aldeias e freguesias rurais. Em
1572, no censo a que mandou proceder Dom Joo III
acrescenta esse historiador verificou-se haver, por exem-
plo, em Trs-os-Montes, no conselho de Teixeira, dois mo-
radores no lugar, e quarenta e seis outros, em suas residn-
cias rsticas. No conselho de Penaguio, com cinco fregue-
sias, ningum residia na sede. Erguia-se no ermo a casa
das audincias e em frente o lugar da forca, com o rude
pelourinho, emblema da autoridade local. (Ver J. L. de Aze-
vedo pocas de Portugal Econmico, Livraria Clssica
Editora de A. M. Teixeira & Cia., Lisboa, 1929. Pg.16).
Em todo o trabalho do Senhor Oliveira Vianna ainda se
observa bem ntida a pretenso de fazer coincidirem, a qual-
quer preo, a verdade histrica e as teses de certa escola de
socilogos particularmente interessados em acentuar os ca-
racteres tnicos antes como efeito do que como causa. E as
teses desse tipo so ansiosamente acolhidas pelos que vem
qualquer coisa de detestvel nas condies em que se pro-
cessou a nossa formao racial e, por isso mesmo, preferi-
riam que, comparado a outras influncias no caso pre-
sente a do chamado meio csmico o fator tnico pu-
desse ser considerado de importncia secundria e at nula
na constituio das sociedades. No fundo o desejo de ver
cientificamente confirmada a esperana de que a influncia
do ambiente nos seja, ao cabo, favorvel, liquidando a he-
rana tnica que ficou dos nossos antepassados.
certo que o prprio Senhor Oliveira Vianna parece
desapegar-se dos pontos de vista patrocinados pelos disc-
pulos de Le Play, que consideram soberana a influncia do
meio csmico, para adotar com entusiasmo certas doutrinas
racistas, seleccionistas etc., quando estas, suficientemente
elaboradas, possam confirmar a idia de que caminhamos
para um tipo racial mais excelente. Nesse caso est, por
exemplo, a sua extraordinria obsesso do arianismo e
da tendncia arianizante de nossas selees sociais. f-
cil ver-se que ainda aqui as consideraes puramente senti-
mentais prevalecem sobre as de ordem cientfica.
A anotao de alguns erros de julgamento do autor de
Populaes Meridionais do Brasil no visa, alis, negar que
o ambiente brasileiro possa ter sido um considervel fator
de diferenciao de nossa gente. Deseja-se apenas assina-
lar, de passagem, que o caminho seguido por alguns pes-
26
INTELIGNCIAI N S I G H T
d
OH!
-
27JANEIRO FEVEREIRO MARO 2004
INTELIGNCIAI N S I G H T
quisadores para mostrar as etapas dessa diferenciao
um mau caminho e que o rumo s aparentemente cientfi-
co, e derivado realmente de inclinaes individuais, que to-
mam, por vezes, tais pesquisas, deve ser evitado em qual-
quer esforo srio para a clara compreenso de nossa rea-
lidade. O estudo das razes rurais da sociedade e das insti-
tuies brasileiras exige uma fundamentao mais objetiva.
[SRGIO BUARQUE DE HOLANDA. RAZES DO BRASIL. RIO DE JANEIRO:
LIVRARIA JOS OLYMPIO EDITORA, 1936 (COLEO DOCUMENTOS
BRASILEIROS, N 1) PP.166-169]
A simples publicao da nota de esclarecimento no re-
presenta, por si s, uma iluminao sobre as relaes que
possam ser estabelecidas entre Razes do Brasil e Popula-
es Meridionais do Brasil. E nem pretendemos fazer aqui
uma longa digresso sobre o tema. Ainda assim poderamos
assinalar alguns pontos.
Em primeiro lugar, se o texto tambm salienta um anta-
gonismo entre os dois autores, chama a ateno inicialmen-
te para uma diferena pouco explorada entre os autores e
localizada num vetor mais interpretativo do que poltico. Usan-
do termos elaborados mais tarde, podemos dizer que o que
est em jogo diz respeito opo entre dois grandes mode-
los explicativos para a histria do continente americano, que,
em texto de 1965, Richard Morse chamaria de viso gen-
tica e viso funcional.4
a viso gentica afirma-se que o fator ex-
plicativo principal da histria do novo con-
tinente a tradio cultural que o incorpo-
rou ao Ocidente. A Amrica apareceria como uma folha
em branco a ser preenchida pelo legado transatlntico. Desse
modo, no se compreenderia os Estados Unidos se no se
entendesse o legado anglo-saxo, assim como o Brasil no
poderia ser interpretado sem que se falasse dos portugue-
ses. Esta a posio de Srgio Buarque de Holanda. A viso
funcional, posio representada por Oliveira Vianna, com-
preende o continente como portador de um poder transfor-
mador das tradies culturais, seja pela ao do clima, pela
simples distncia da Europa ou ainda pela existncia de no-
vas terras a explorar.
Em segundo lugar, na mesma medida em que a nota
traz luz uma divergncia, pressupe um encontro nas in-
terpretaes, pois os dois autores so enfticos em apontar
como caracterstica da sociedade brasileira o predomnio do
rural sobre o urbano. Se um parte de um enfoque funcional
27JANEIRO FEVEREIRO MARO 2004
INTELIGNCIAI N S I G H T
4. Morse, Richard. Introduction. In The Bandeirantes: the historical role of the Brazilian Pathfinders. New York: Alfred Knopf, 1965. p.28. Os conceitosde iberismo e americanismo, trabalhados contemporaneamente por Luiz Werneck Vianna (A Revoluo Passiva: iberismo e americanismo no Brasil.Rio de Janeiro: Revan, 1997), poderiam ser mobilizados para o desenvolvimento de uma discusso prxima da que ser aqui esboada.
n
-
28
INTELIGNCIAI N S I G H T
e o outro do gentico, elaboram um diagnstico bastante
semelhante ao constatar que as relaes parentais estabele-
cidas a partir do grande domnio rural eram determinantes
na conformao das relaes sociais e dominavam a lgica
da poltica mesmo nas cidades.
como se a psicologia do brasileiro pudesse ser com-
preendida a partir da e, nesse caso, no podemos deixar
de lembrar do conceito delineado em Razes do Brasil como
homem cordial, aquele que, acostumado a se guiar e
moldar a partir das relaes familiares, age a partir dos
impulsos do corao e, desse modo, no distingue esfera
pblica e privada. E, de fato, este fundo comum de explica-
o do pas a partir do ruralismo acaba desembocando em
uma forma muito prxima de descrever o dilema brasileiro,
pois h passagens de Populaes Meridionais do Brasil que
podem ser lidas de um modo muito prximo ao que Srgio
Buarque viria a denominar cordialidade, de um lado, e civili-
dade, de outro. Uma passagem retirada do captulo de Popu-
laes, intitulado A formao da idia de Estado, parece
ilustrar bem o dilema que Srgio Buarque viria apresentar no
famoso captulo 5 de seu livro. Escrevera Oliveira Vianna:
[A] obedincia voluntria aos representantes locais
do poder pblico, to assinalada entre os povos euro-
peus, significa apenas que esses povos realizaram,
nas formas da sua conscincia poltica, uma evolu-
o, que ns ainda no podemos realizar. Eles con-
seguiram discriminar, com perfeita lucidez, a dife-
rena entre o poder pblico, como tal, e os indiv-
duos, que o exercem. Atravs dos representantes da
autoridade, conseguiram ver a autoridade em si, na
sua abstrao. Do conceito concreto, tangvel, pes-
soal do Estado, conseguiram elevar-se a um conceito
intelectual, isto , ao conceito do Estado na sua forma
abstrata e impessoal.5
sta passagem pode ser comparada com a dis-
cusso de Razes do Brasil sobre o funcionrio
patrimonial, que assume funes burocrti-
cas em um aparato estatal com uma mentalidade cordial,
da no compreenderem a distino fundamental entre os
domnios do privado e do oficial.6
Em terceiro lugar, poderamos finalmente nos perguntar
por que o debate com Oliveira Vianna condensado a par-
tir da segunda edio com a reduo da passagem do
corpo do texto em que discutia com a tese da fora centr-
peta e mesmo com o corte da nota explicativa , fazendo
com que as congruncias das teses ficassem invisveis ao
mesmo tempo em que a divergncia antes explicitada dei-
xasse de ser mencionada. certo que pode haver muitas
explicaes para esse fato, inclusive porque as modificaes
de uma edio para outra foram inmeras, no se limitando
s que faziam referncia obra de Oliveira Vianna. Poder-
se-ia at supor que, medida que as divergncias polticas
foram aumentando, Srgio Buarque tenha procurado man-
ter sua obra distante de Populaes Meridionais do Brasil
inclusive eliminado as marcas mais explcitas da influncia.
Contudo, tambm possvel cogitar que o exato oposto te-
nha ocorrido: Srgio Buarque deixa de polemizar com Oli-
veira Vianna exatamente porque o ponto fundamental da
discrdia comeara a desaparecer. Para ser mais claro, Sr-
5. Vianna, Oliveira. Populaes Meridionais do Brasil: histria, organizao e psicologia. Belo Horizonte: Itatiaia; Niteri: Editora da UniversidadeFederal Fluminense, 1987. p.247
6. Holanda, Srgio Buarque de. Razes do Brasil. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1936. p.100. Apenas em edies seguintes o autor substitui domniooficial por domnio pblico.
e
28 OH!
-
29JANEIRO FEVEREIRO MARO 2004
INTELIGNCIAI N S I G H T
7. Holanda, Srgio Buarque de. Razes do Brasil. 2 edio. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1948, p.11.
gio Buarque estaria abandonando o iberismo como a gran-
de chave explicativa do pas e estaria adotando uma inter-
pretao mais funcional.
Uma pista para esta elucubrao se encontra fora de
Razes do Brasil. Entre as duas primeiras edies desse li-
vro, Srgio Buarque de Holanda publica, em 1945, Mon-
es, um livro em que narra o estabelecimento de uma
rota comercial, por via fluvial, entre o planalto paulista e as
minas de Cuiab e que tambm uma narrativa da for-
mao dos homens de fronteira. De um certo ponto de
vista, integravam os primeiros grupos de monoeiros des-
de a ral indmita at comerciantes aventureiros que ama-
vam mais o cio que o negcio. Na mesma medida em
que a rota comercial se rotiniza, estabiliza-se tambm os
nimos dos seus personagens de modo que o ganho mais
imediato comea a dar lugar ao clculo. O ponto especfi-
co que deve ser a ressaltado que estamos diante de uma
explicao funcional, onde h uma transformao do ho-
mem ibrico a partir do momento em que se lana s ter-
ras do novo continente. Nesse ponto, Srgio Buarque fica-
r mais prximo de Oliveira Vianna.
No entanto, se a idia do iberismo como chave para se
entender o Brasil foi de fato constitutiva para a formulao
do argumento de Razes, tem-se que, para falar de forma
um tanto quanto descomprometida, Srgio Buarque encon-
trava-se em maus lenis ao revisar o seu livro. O prprio
autor parece reconhecer isto quando, no Prefcio da 2
edio, escreve que reproduzi-lo
[...] em sua forma originria, sem qualquer reto-
que, seria reeditar opinies e pensamentos que em
muitos pontos deixaram de satisfazer-me. Se por ve-
zes tive o receio de ousar uma reviso verdadeira-
mente radical do texto mais valeria, nesse caso,
escrever um livro novo no hesitei, contudo, em
alter-lo abundantemente onde pareceu necessrio
retificar, precisar ou ampliar sua substncia.7
De fato, se, a partir de Mones, Srgio Buarque come-
a a investigar a transformao da tradio portuguesa
medida que avana para o Oeste, podemos dizer que tinha
o desafio de operar modificaes que ressaltassem uma di-
8. No que diz respeito s modificaes operadas em Razes do Brasil, e especialmente sobre a questo do iberismo,vale remeter o leitor a uma conferncia pronunciada por Srgio Buarque de Holanda, j em 1967, na EscolaSuperior de Guerra. O autor explica as mudanas realizadas em Razes do Brasil dizendo que, em alguns casos, [...]
(HOLANDA, Srgio Buarque de. Elementos bsicos da nacionalidade: o homem. Rio de Janeiro: Estado Maior dasForas Armadas/Escola Superior de Guerra, 1967. p.4).
-
30
INTELIGNCIAI N S I G H T
nmica funcional quando o livro havia sido elaborado a par-
tir de uma viso gentica, como fica claro ao demarcar sua
diferena com Oliveira Vianna.8
Talvez pudssemos esquematizar o que vimos at aqui,
dizendo que, entre os anos 1930 e 1950, conforme Srgio
Buarque ia se distanciando politicamente de Oliveira Vian-
na, sua chave explicativa do pas tornava-se mais semelhan-
te do socilogo fluminense. Embora isto seja uma simplifi-
cao, aponta a direo correta. Contudo, preciso ainda
uma quarta e ltima observao, pois h diferentes modos
de operar com uma chave funcional e, portanto, dizer que
os dois atores passam a com ela lidar no significa que dei-
xem de existir grandes diferenas entre as obras. Desse
modo, no parece meramente retrico o fato de Srgio Bu-
arque, mesmo retirando a nota sobre Populaes Meridio-
nais, ter continuado a considerar, no texto de Razes do Bra-
sil, misteriosa aquela fora centrfuga prpria ao meio
americano, que compeliu nossa aristocracia rural a aban-
donar a cidade pelo isolamento dos engenhos e pela vida
rstica das terras de criao.9
Sem analisar a justeza da crtica, deve-se dizer que,
mesmo que se diga que Populaes Meridionais do Brasil e
Mones e, por assim dizer, a parte revisada de Razes
do Brasil lidam com uma viso funcional do Brasil, o pri-
meiro faz isso a partir da anlise do grande domnio rural,
enquanto Mones aborda personagens que fogem de sua
lgica e fazem avanar a fronteira para Oeste. Mas, para
analisar essas diferenas, seria necessrio comentrios mais
extensos.
ueramos salientar com os que fizemos at
aqui e com a transcrio da nota da 1a
edio de Razes do Brasil que Oliveira
Vianna parece ter sido um interlocutor ver-
dadeiramente importante para autores como Srgio Buar-
que de Holanda. No se trata apenas de apontar influncias
ou mesmo pontos de convergncia na produo intelectual
dos dois autores. Pretendemos, sobretudo, acentuar a ne-
cessidade de estudos mais amplos que considerem a origi-
nalidade de Populaes Meridionais do Brasil na conforma-
o de uma matriz interpretativa sobre o pas e na constru-
o de uma agenda de pesquisa em relao a qual as gera-
es de intelectuais posteriores tiveram de lidar. Considera-
mos este ponto fundamental para que se melhor perceba o
lugar de Oliveira Vianna na histria do pensamento social
no Brasil.10
e - m a i l : r w e g n e r @ p o b o x . c o me - m a i l : l i m a @ c o c . f i o c r u z . b r
9. Holanda, Srgio Buarque de. Razes do Brasil. 24 edio. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1992, p.60.
10. Entre os trabalhos que contribuem para o reconhecimento da importncia da obra de Oliveira Vianna, destacam-se os de WanderleyGuilherme dos Santos (Paradigma e Histria. A ordem burguesa na imaginao social brasileira. In Roteiro Bibliogrfico do Pensamento SocialBrasileiro (1870-1965). Rio de Janeiro: UFMG/Casa de Oswaldo Cruz, 2002. pp.19-71); Luiz Werneck Vianna (Americanistas e iberistas: apolmica de Oliveira Vianna com Tavares Bastos. In A Revoluo Passiva, op.cit.); Jos Murilo de Carvalho, op.cit; Angela Castro Gomes, op.cit.
INTELIGNCIAI N S I G H T
q
30 OH!