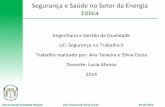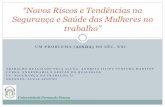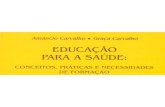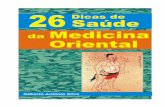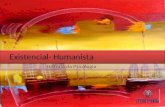06 Artigo - Princípios da Saúde e Mínimo Existencial
-
Upload
marildapsilveira -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
description
Transcript of 06 Artigo - Princípios da Saúde e Mínimo Existencial
EXMO
Princpios constitucionais em sade, mnimo existencial e proporcionalidade
Eduardo da Silva Villas-Bas
Sumrio: 1. Introduo. 2. Princpios norteadores no paradigma constitucional. 3. Proporcionalidade e mnimo existencial. 4. Concluso. 5. Referncias Bibliogrficas.
Resumo: O presente estudo analisa o direito sade e seus princpios constitucionais universalidade, igualdade e integralidade , identificando os potenciais pontos de conflito entre eles. Examina-se o conceito de mnimo existencial, tanto em seu vis formal quanto em seu contedo material, a fim de lhe atribuir maior densidade e coerncia. Nessa tarefa, aborda-se tambm o preceito da dignidade humana, fundamento do mnimo existencial. Tomam-se como premissas tericas o postulado da proporcionalidade e os enunciados jusfilosficos kantianos da mxima universal e do homem como fim em si mesmo, buscando conferir ao direito sade um perfil de equilbrio e efetividade.
Palavras-chave: direito constitucional, direito sade, princpios, mnimo existencial, dignidade humana.
1. Introduo.
A sade veiculada no texto constitucional como direito de todos e dever do Estado, em carter universal, igualitrio e integral. As contingncias da realidade e a efetivao do preceito no plano dos fatos, entretanto, apresentam-se bem mais complexas que as linhas da norma, o que demanda especiais empenho e equilbrio para densificar e concretizar o direito.
O ponto de partida a anlise dos princpios reitores da sade no prisma constitucional universalidade, igualdade e integralidade , identificando e compreendendo seus potenciais pontos de conflito. A partir da, cumpre perpassar o postulado da proporcionalidade, na busca por harmonizao e concordncia prtica entre os preceitos, a fim de amadurecer a discusso, afastar maniquesmos e manter os olhos fitos tanto na dignidade humana quanto na responsabilidade coletiva das decises de alocao de recursos.
Nesse cenrio, tem essencial importncia o exame do conceito de mnimo existencial, definindo-o e aprofundando-o, tanto em sua dimenso formal quanto em seu contedo material. Nessa tarefa, ganha relevncia a busca por uma enunciao clara do preceito de dignidade da pessoa humana, raiz e fundamento do mnimo existencial. Outro slido ponto de apoio so os paradigmas jusfilosficos kantianos da mxima universal e do homem como fim intrnseco.
A partir dessas premissas tericas, possvel avanar na delimitao da extenso do mnimo existencial, a fim de lhe reforar a densidade e a coerncia, mediante uma viso que equilibre as contingncias da realidade e os anseios da norma, as responsabilidades coletivas e as necessidades individuais, a necessidade de concordncia prtica e as expresses fundamentais de dignidade humana.
2. Princpios norteadores da sade no paradigma constitucional.
No Brasil, a sade possui status de direito fundamental de destacada importncia, previsto no artigo 6 da Constituio Federal, que o classifica como direito social:
Art. 6 So direitos sociais a educao, a sade, a alimentao, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurana, a previdncia social, a proteo maternidade e infncia, a assistncia aos desamparados, na forma desta Constituio.
Trata-se, portanto, de direito fundamental de segunda dimenso ou direito a prestao, que tem como nota principal a imposio ao Estado do dever de promover interveno proativa e de fornecer ao indivduo as prestaes materiais necessrias conservao de sua dignidade, diferentemente dos direitos de primeira dimenso ou direitos de defesa, que se caracterizam pela absteno estatal na preservao da liberdade dos particulares.
Com foco nessa necessidade de interveno estatal proativa, o artigo 196 preceitua expressamente que dever do estado garantir o acesso universal e igualitrio dos indivduos s aes e aos servios para promoo, proteo e recuperao sanitrias. O artigo 198, em complementao, expe o atendimento integral como diretriz das polticas pblicas na matria:
Art. 196. A sade direito de todos e dever do Estado, garantido mediante polticas sociais e econmicas que visem reduo do risco de doena e de outros agravos e ao acesso universal e igualitrio s aes e servios para sua promoo, proteo e recuperao.
...
Art. 198. As aes e servios pblicos de sade integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema nico, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
...
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuzo dos servios assistenciais;
Esses trs dispositivos artigos 6, 196 e 198, II formam o arcabouo constitucional bsico do direito sade, que tem trs balizas essenciais:
a) Universalidade: obrigao estatal de alcanar todos os indivduos, e no apenas uma parcela ou a maioria deles;
b) Igualdade: obrigao estatal de garantir aos indivduos os mesmos padres de qualidade e de eficincia na promoo da sade;
c) Integralidade: obrigao estatal de cobrir todos os riscos e agravos sade, e no somente enfermidades mais simples ou mais comuns.
No se trata de regras, mas de princpios.
Em breve sntese, regras so normas que consistem em mandados de definio, determinando meios de agir, e no propriamente resultados buscados. Por isso mesmo, em caso de conflitos com outras normas, so aplicveis segundo a tica do all or nothing (tudo ou nada).
Princpios, por outro lado, so normas que consistem em mandados de otimizao, determinando resultados buscados na maior medida do possvel, e no meios objetivos e concretos de agir. Seus conflitos so resolvidos sob o prisma da concordncia prtica e da cedncia recproca (em que os princpios colidentes cedem uma parcela de sua esfera de alcance, a fim de se chegar a um consenso em que ambos sejam aplicados proporcionalmente); ou, em ltimo caso, resolve-se o impasse mediante a ponderao, em que um dos princpios pontualmente mitigado ou at afastado naquele caso concreto, para fazer prevalecer o outro, que assumiu, naquelas circunstncias, maior relevo.
Os trs alicerces bsicos do direito sade no texto constitucional universalidade, igualdade e integralidade so princpios, considerando que no indicam ao Administrador o modo exato de agir, mas sim os objetivos que deve buscar na formulao e execuo de polticas pblicas em sade: atender a todos, dispensar-lhes igual padro de qualidade e cobrir todos os riscos.
So tambm esses os preceitos que ho de ser tomados por base na judicializao da matria, caso o Estado-Administrador se afaste dos impositivos constitucionais e viole seu dever de proteo para com o indivduo.
Por outro lado, quer no mbito da Administrao Pblica, quer no da judicializao, nem sempre possvel alcanar completamente esses trs fins, pois as contingncias da realidade no se curvam aos ditames do Direito. Este se ocupa do sollen, do dever ser; aquela opera nos domnios do sein, do ser.
Cobrir todos os riscos e curar todos os agravos, em ateno integralidade, pode ser impossvel, se o estado da tcnica mdico-farmacutica no houver ainda alcanado resposta eficaz para a enfermidade. Pode, ainda, ser incerto ou inseguro, se os tratamentos ainda forem experimentais ou no-registrados. So os casos em que a integralidade encontra fronteiras na evoluo do conhecimento cientfico.
Ainda mais limtrofes so as hipteses em que fornecer determinado tratamento, de acordo com a integralidade, necessariamente afeta a igualdade e a universalidade, pois o custo daquela teraputica (quer em recursos financeiros, como um medicamento demasiado caro, ou em recursos materiais naturalmente restritos, como rgos para transplante), embora seja vivel para um ou para poucos pacientes, tornaria absolutamente impossvel a dispensao a todos os indivduos com igual quadro de sade.
Nesse cenrio, qual princpio deve prevalecer? Prevalecer o princpio da integralidade, fornecendo-se a um indivduo o que h de melhor, ainda que no possa ser estendido a todos em iguais condies (o que afasta a universalidade e a igualdade)? Qual o critrio para escolher quem receber um tipo de teraputica e quem receber outro tipo? Quais os custos invisveis de atender a uma demanda individual visvel? Prevalecero, por outro lado, os princpios da universalidade e o da igualdade, fornecendo-se a cada um apenas o padro que puder ser estendido a todos, ao conjunto de indivduos em iguais condies? Manter-se- esse padro, ainda que ele no atenda integralidade da cobertura dos riscos e no seja o mais avanado do estado da tcnica?
Por certo, no h resposta estanque para as perplexidades e escolhas que tm de ser feitas em matria de sade. H, sim, critrios gerais e aspectos tcnicos, jurdicos e cientficos a serem observados, a fim de enriquecer a discusso, fixar balizas razoveis e legtimas, efetivar direitos humanos na mxima medida do possvel, afastar anlises simplistas e manter viva no intrprete a compreenso de que preciso ter em conta o direito e a escassez, o ideal e o possvel: decidir um ato de responsabilidade individual e coletiva.
3. Proporcionalidade e mnimo existencial.
Na discusso sobre tutela sade, bem como sobre os fundamentos e limites da interveno judicial para efetivao desse direito, tem especial relevncia o conceito jusfilosfico de mnimo existencial.
Mnimo existencial, em sua definio mais clssica, o conjunto das condies mnimas de existncia humana digna. De forma mais analtica, o Supremo Tribunal Federal o define como o ncleo intangvel consubstanciador de um conjunto irredutvel de condies mnimas necessrias a uma existncia digna e essenciais prpria sobrevivncia do indivduo.
Trata-se de decorrncia implcita do princpio da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado brasileiro, nos termos do artigo 1, III, da Constituio Federal. o ncleo mais essencial, mais denso e intangvel dos direitos fundamentais, a esfera impretervel de proteo que o poder pblico necessariamente tem de fornecer ao indivduo e coletividade. o elemento dignificante que, caso descumprido, pe em xeque a legitimidade do prprio Estado como realidade social, jurdica e poltica.
Entretanto, se o mnimo existencial o conjunto das condies mnimas de existncia humana digna, faz-se necessrio examinar a prpria ideia de dignidade.
tradicional a definio de Kant, segundo a qual a dignidade consiste em se considerar o homem como um fim em si mesmo, jamais um meio. Dworkin, por seu turno, conceitua a dignidade como "importncia intrnseca da vida humana". Essas duas expresses, contudo, so ainda um pouco vagas, carecendo de vis mais analtico e descritivo.
Um passo nessa direo dado por Ana Paula de Barcelos, que define a dignidade como o "direito de no serem tratados de forma que, dentro dos padres daquela sociedade, demonstre desrespeito".
Delineamento mais completo fornecido por Ingo Wolfgang Sarlet, que conceitua a dignidade como a qualidade intrnseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e considerao por parte do Estado e da comunidade.
Com isso, chega-se a paradigma mais objetivo e especfico de mnimo existencial, traado tambm por Ingo Wolfgang Sarlet:
um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condies existenciais mnimas para uma vida saudvel, alm de propiciar e promover sua participao ativa e co-responsvel nos destinos da prpria existncia e da vida em comunho com os demais seres humanos.
luz dessa viso, e adentrando o contedo material da ideia de mnimo existencial, Ana Paula de Barcellos defende que ele envolve quatro elementos essenciais trs de ndole material e um de ndole instrumental: educao bsica, sade bsica, assistncia aos desamparados e acesso justia.
Veja-se que se fala em sade bsica, e no apenas em sade. Na mesma linha, Abramovich e Courtis, com base na Constituio argentina, fixam distino entre o tratamento adequado (o razovel, garantido por aquela norma) e o tratamento timo (nem sempre possvel ou exigvel em face das limitaes da realidade).
Trata-se da noo de densidade, uma das principais em matria de mnimo existencial. Para ser um ncleo realmente intangvel, ele deve ter a menor extenso possvel, a fim de garantir a sua mxima densidade e de viabilizar que se exija do Estado o seu atendimento incondicional a todos os indivduos, rejeitando dura, firme e quase incondicionalmente os argumentos de ausncia de disponibilidade financeira.
A est mais um desafio. Se a ideia de mnimo existencial, com o bom propsito de garantir melhor qualidade de vida populao, crescer mais do que o estritamente necessrio, terminar por perder essa densidade e por se tornar incoerente, pois comearia a se revelar plausvel o argumento estatal de que aquele padro de proteo, embora fosse o ideal, no poderia ser estendido a todos os indivduos em condies anlogas. O problema que, apesar de a dignidade ser inegocivel, os recursos materiais so finitos, e todos os indivduos tm a mesma dignidade e devem ter garantido pelo Estado o mesmo padro material mnimo para mant-la.
Exemplificativamente, sabido que o Hospital Srio-Libans, em So Paulo, tem excelente reputao tcnica, e os seus dados estatsticos sugerem que ele garante um tanto mais o direito sade do que a maioria dos nosocmios. Contudo, no se mostraria razovel ou exequvel afirmar que um atendimento com esse padro integraria o mnimo existencial, se h diversos outros que, malgrado no ostentem esse nvel, garantem um tratamento digno e respeitoso. Por outro lado, tampouco se pode ceder excessivamente presso financeira do Estado, aceitando tratamentos e padres desrespeitosos e manifestamente inadequados, sob o fundamento de que o que se pode custear.
Para definir, na realidade ftica, a dimenso material do mnimo existencial em sade, necessrio realizar constante ponderao de princpios e concordncia prtica entre trs preceitos igualmente constitucionais. De um lado, esto a universalidade e a igualdade previstas no artigo 196 da Constituio, a exigirem que o contedo do mnimo seja pequeno o suficiente para ser extensvel a todos os indivduos em situao anloga. De outro, est a integralidade do atendimento, gravada no artigo 198, II, a demandar que esse contedo seja grande o suficiente para tratar de modo adequado a enfermidade.
Cumpre internalizar no conceito do mnimo existencial a aplicao do postulado da proporcionalidade, em suas trs mximas parciais adequao (ou idoneidade), necessidade e proporcionalidade em sentido estrito e com seus dois reflexos essenciais: proibio de excesso (bermassverbot) e proibio de proteo insuficiente (Untermassverbot).
Em outras palavras, cabe verificar se aquela pretenso realmente segura e apta a apresentar bons resultados, se h certeza cientfica sobre seus efeitos esperados e colaterais. Ultrapassada essa fase, deve-se analisar se a teraputica a nica existente para atender de modo suficiente sade no caso concreto; ou se h, pelo contrrio, alternativas com efetividade razovel (ainda que, em certos casos, um pouco menor) capazes de atender quele quadro a um custo mais compatvel com as possibilidades e necessidades da coletividade e de todos os pacientes em situao anloga, tentando otimizar, tanto quanto possvel, a relao entre a integralidade do atendimento e a universalidade e igualdade.
Assim, o tamanho do mnimo existencial, para preservar a razo de ser, a legitimidade e a fora desse preceito, deve ter sempre em mente no s uma anlise individual, mas tambm a perspectiva coletiva. preciso manter dilogo constante, em ponderao de valores e concordncia prtica, entre dois clssicos imperativos kantianos: de um lado, agir segundo mxima tal que possa simultaneamente fazer a si mesma lei universal; de outro, considerar o homem um fim em si mesmo, e no um instrumento cuja dignidade intrnseca possa ser subordinada a padres utilitrios monetarizados. mister analisar, luz do princpio da proporcionalidade, qual o mnimo intangvel que se deve e se pode exigir em relao quele indivduo e a todos em situao similar, em um processo de retroalimentao entre o minimo existencial do indivduo e o mnimo existencial da sociedade. Esse mnimo, entretanto, uma vez fixado em padres razoveis e responsveis, intangvel, inegocivel e impretervel.
4. Concluso.
A sade possui perfil constitucional de direito fundamental social, o que pressupe intervenes estatais proativas para sua garantia. Os princpios constitucionais reitores desse direito so a universalidade (obrigao estatal de atender a todos os indivduos), a igualdade (obrigao estatal de garantir a todos os mesmos padres de qualidade e eficincia na promoo da sade) e a integralidade (obrigao estatal de cobrir todos os riscos e agravos).
Esses alicerces, entretanto, tm pontos de potencial conflito, uma vez que a integralidade milita em favor da aplicao dos tratamentos mais avanados para as enfermidades, mas os custos destes podem ser de tal monta que tornem impossvel a sua extenso igualitria a todos os demais indivduos, o que poderia afetar a universalidade e a igualdade.
H de se realizar, ento, uma harmonizao recproca entre os princpios reitores, com base no postulado da proporcionalidade, a fim de alcanar o maior atendimento possvel aos trs preceitos, compatibilizando a dimenso individual e a coletiva.
No contexto de concordncia prtica, tem especial relevncia o conceito de mnimo existencial, definido como o conjunto de direitos fundamentais que protegem o indivduo contra atos degradantes ou desumanos e lhe garantem as condies existenciais mnimas para uma vida saudvel, bem como para a sua participao ativa e corresponsvel no seu destino e no da coletividade.
Na definio da extenso do mnimo existencial ou seja, do seu contedo material , preciso ter em mente a ideia de densidade, a impedir que o conceito se alargue indefinidamente e perca sua coerncia e sua fora argumentativa e principiolgica.
Para isso, cumpre internalizar, no seu delineamento, a aplicao do postulado da proporcionalidade, em constante harmonizao entre os princpios da universalidade, da igualdade e da integralidade, a fim de buscar a concordncia prtica entre as noes do mnimo existencial do indivduo e do mnimo existencial de todos os demais em condies anlogas.
Trata-se do exerccio jusfilosfico de aplicao de dois clssicos preceitos kantianos: adotar para cada indivduo mximas potencialmente extensveis a toda a universalidade e considerar o homem um fim em si mesmo, cuja dignidade imanente inegocivel.
Essa reflexo, em termos responsveis e equilibrados deixando de lado o maniquesmo e levando a srio as contingncias da realidade, mas sem abrir mo dos padres essenciais de dignidade humana , em nada enfraquece o conceito de mnimo existencial. Pelo contrrio, confere-lhe maior densidade e aplicabilidade prtica, contribuindo decisivamente para a concretizao e efetividade do direito fundamental sade.
5. Referncias Bibliogrficas.
ABRAMOVICH, Victor; COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. Madrid: Trotta, 2002.
ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Trad.: Ernesto Garzn Valds. Madrid: Centro de Estdios Constitucionales, 1993. Constitucionalismo Discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
ARAJO, Luiz Alberto David; NUNES JNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 9.ed. So Paulo: Saraiva, 2005.
VILA, Humberto. Teoria dos Princpios: da definio aplicao dos princpios jurdicos. So Paulo: Malheiros, 2003.
BARBOSA, Ruy. Comentrios Constituio Federal Brasileira. Coligidos e coordenados por Homero Pires. v. 2. So Paulo: Saraiva & Cia, 1932.
BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficcia Jurdica dos Princpios Constitucionais: O Princpio da Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
BARROSO, Lus Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. 4.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.
BASTOS, Celso Ribeiro; BRITTO, Carlos Ayres. Interpretao e Aplicabilidade das Normas Constitucionais. So Paulo: Saraiva, 1982.
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 21.ed. So Paulo: Malheiros, 2007.
BRITO, Edvaldo. Limites da Reviso Constitucional, Porto Alegre: Srgio Antnio Fabris Editor, 1993.
BRITTO, Carlos Ayres. Teoria da Constituio. Rio de Janeiro, Forense, 2003.
CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemtico e conceito de sistema na Cincia do Direito. 2.ed. Trad. Antnio Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1996.
COELHO, Inocncio Mrtires. Interpretao constitucional. Porto Alegre: Srgio Antnio Fabris, 1997.
CUNHA JNIOR, Dirley da. Controle Judicial das Omisses do Poder Pblico. So Paulo: Saraiva, 2004.
DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. 4.ed. So Paulo: Saraiva, 1998.
DWORKIN, Ronald. El Dominio de la Vida: Una discusin acerca del aborto, la eutanasia y la libertad individual. Trad. Ricardo Caracciolo. Barcelona: Ariel, 1994.
__________. Levando os Direitos a Srio. Trad. Nelson Boeira. So Paulo: Martins Fontes, 2002.
FERRAZ JNIOR, Trcio Sampaio. Aplicabilidade e interpretao das normas constitucionais. In: Interpretao e Estudos da Constituio de 1988. So Paulo: Atlas, 1990.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonalves. Direitos Humanos Fundamentais. 7.ed. So Paulo: Saraiva, 2005.
KANT, Immanuel. Crtica da Razo Prtica. Trad. Afonso Bertagnoli. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1967.
__________. Fundamentao da Metafsica dos Costumes e Outros Escritos. Trad. Leopoldo Holzbach. So Paulo: Martin Claret, 2005.
LARENZ, Karl. Metodologia da Cincia do Direito. Trad. Jos Iamego. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1991.
MENDES, Gilmar; COELHO, Inocncio Mrtires; e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. So Paulo: Saraiva, 2010.
MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentrios Constituio de 1967, com a Emenda n. 1 de 1969. v.I. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987.
S, Maria de Ftima Freire. A dignidade do ser humano e os direitos da personalidade: uma perspectiva civil-constitucional. In: S, Maria de Ftima Freire de (Coord.). Biodireito. Belo Horizonte: Del Rey, 2002.
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituio Federal de 1988. 3.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.
SARMENTO, Daniel. Os Princpios Constitucionais e a Ponderao de Bens. In. TORRES, Ricardo Lobo (org.) Teoria dos Direitos Fundamentais. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
SILVA, Jos Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 7.ed. So Paulo: Malheiros, 2007.
SILVA NETO, Manoel Jorge e. O Princpio da Mxima Efetividade e a Interpretao Constitucional. So Paulo: LTR, 1999.
__________. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
TORRES, Ricardo Lobo. O Mnimo Existencial e os Direitos Fundamentais. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 177, p. 29-49, jul./set. 1989.
VILLAS-BAS, Maria Elisa. Direito sade, polticas pblicas e demandas judiciais: quando a realidade e os direitos fundamentais se chocam. Salvador: Juspodium, prelo editorial.
O autor Procurador da Repblica, Bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia e Especialista em Direito Pblico pela Escola Superior do Ministrio Pblico da Unio. Anteriormente, foi Advogado da Unio com atuao na Procuradoria-Geral da Unio, perante o Superior Tribunal de Justia, e na Consultoria Jurdica do Ministrio da Sade.
MENDES, Gilmar; COELHO, Inocncio Mrtires; e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. So Paulo: Saraiva, 2010, p. 334 e 821-826.
Exposio minuciosa do tema encontra-se em LARENZ, Karl. Metodologia da Cincia do Direito. Trad. Jos Iamego. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1991; COELHO, Inocncio Mrtires. Interpretao constitucional. Porto Alegre: Srgio Antnio Fabris, 1997; ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Trad.: Ernesto Garzn Valds. Madrid: Centro de Estdios Constitucionales, 1993. Constitucionalismo Discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 37; DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Srio. Trad. Nelson Boeira. So Paulo: Martins Fontes, 2002; CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemtico e conceito de sistema na Cincia do Direito. 2.ed. Trad. Antnio Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1996, p. 86-87; SARMENTO, Daniel. Os Princpios Constitucionais e a Ponderao de Bens. In. TORRES, Ricardo Lobo (org.) Teoria dos Direitos Fundamentais. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 51; VILA, Humberto. Teoria dos Princpios: da definio aplicao dos princpios jurdicos. So Paulo: Malheiros, 2003, p. 39-41; BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 21.ed. So Paulo: Malheiros, 2007, p. 279-281.
TORRES, Ricardo Lobo. O Mnimo Existencial e os Direitos Fundamentais. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 177, p. 29-49, jul./set. 1989.
ADPF 45 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 29/04/2004, publicado em DJ 04/05/2004 PP-00012 RTJ VOL-00200-01 PP-00191.
SILVA NETO, Manoel Jorge. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 143.
KANT, Immanuel. Crtica da Razo Prtica. Trad. Afonso Bertagnoli. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1967.
DWORKIN, Ronald. El Dominio de la Vida: Una discusin acerca del aborto, la eutanasia y la libertad individual. Trad. Ricardo Caracciolo. Barcelona: Ariel, 1994, p. 305.
S, Maria de Ftima Freire. A dignidade do ser humano e os direitos da personalidade: uma perspectiva civil-constitucional. In: S, Maria de Ftima Freire de (Coord.). Biodireito. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 83-100.
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituio Federal de 1988. 3.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 59-60.
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituio Federal de 1988. 3.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 59-60.
BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficcia Jurdica dos Princpios Constitucionais: O Princpio da Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 258.
ABRAMOVICH, Victor; COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. Madrid: Trotta, 2002, p. 145-146.
VILA, Humberto. Teoria dos Princpios: da definio aplicao dos princpios jurdicos. So Paulo: Malheiros, 2003, p. 104. O autor esclarece a distino entre a proporcionalidade como postulado e como princpio tema fundamental para o presente tema, considerando que ambos os diferentes sentidos da proporcionalidade esto relacionados judicializao da sade.
Conforme leciona, princpios so normas imediatamente finalsticas, primariamente prospectivas e com pretenso de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicao se demanda uma avaliao da correlao entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessria sua promoo (op. cit., p. 70). Os princpios so, pois, mandamentos que visam a nortear a conduta do agente, estabelecendo um estado de coisas final a ser alcanado e deixando escolha de cada um o meio de concretizar esse objetivo. Como princpio, a proporcionalidade o dever de se buscarem situaes equnimes, em que as respostas fornecidas ou esperadas tenham dimenso compatvel com a natureza e gravidade dos fatos que lhes deram causa. Exemplo de sua utilizao no contexto da sade a razoabilidade de expectativas que se deve ter em relao ao tratamento mdico a ser fornecido pelo Estado.
Os postulados, por seu turno, so metanormas: situam-se num segundo grau e estabelecem a estrutura de aplicao de outras normas princpios e regras (op. cit., p. 80). dizer: so uma espcie de orientao sobre como tratar normas. No dizem ao agente, de forma imediata, a finalidade especfica a ser buscada (como os princpios) ou a conduta especfica a ser adotada (como as regras), mas sim informam ao intrprete, de modo genrico, as bases que devem condicionar a relao dos diferentes princpios e regras entre si. Na sua acepo de postulado, a proporcionalidade o conjunto de preceitos voltados a orientar o intrprete sobre como realizar ao mximo, em cada caso concreto, todos os princpios que entrem em colidncia.
KANT, Immanuel. Fundamentao da Metafsica dos Costumes e Outros Escritos. Trad. Leopoldo Holzbach. So Paulo: Martin Claret, 2005, p. 51-52; 59; 62; 67-69.