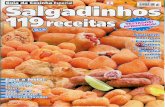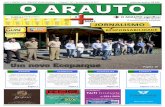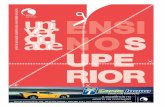119 (1)
-
Upload
denise-machado -
Category
Documents
-
view
218 -
download
2
description
Transcript of 119 (1)

Suporte semiótico para as aulas de leitura e produção textual
Darcilia Simões1, Maria Suzett Biembengut Santade2
1Instituto de Letras – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) & Programa de Pós-graduação em Comunicação & Semiótica – Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP) www.darcilia.simoes.com
2 Faculdades Integradas Maria Imaculada & Faculdade Municipal Professor Franco Montoro Mogi-Guaçu/SP & Programa de Pós-graduação em Letras - Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) [email protected]
Abstract. Quarrel of transdisciplinares processes of text analyze for grammatical rules acquisition in support of writing and reading texts along with exploring of mechanisms of apprehension and understanding of the verbal signs. Categorization of the grammatical contents in three levels: iconic, symbolic and indicial for understanding demonstrated students difficulties during national language learning.
Keywords. Applied semiotics – learning of written composition and reading texts - grammar knowledge
Resumo. Discussão de processos transdisciplinares de abordagem do texto, com vistas à absorção dos esquemas gramaticais de formulação/compreensão textual por meio da exploração de mecanismos de apreensão e interpretação dos signos verbais. Classificação dos conteúdos gramaticais em três níveis: icônico, indicial e simbólico, com vistas a contribuir para a compreensão das dificuldades demonstradas pelos escolares durante o aprendizado do vernáculo.
Palavras-chave. Semiótica aplicada – aprendizagem da composição escrita e da leitura – conhecimento gramatical
1. Por que os alunos apresentam tanta dificuldade na assimilação das normas gramaticais? A dificuldade de produção escrita constatada há anos no desempenho de estudantes de todos os níveis tem sido objeto de investigação freqüente nos programas de pós-graduação e pesquisa desenvolvidos no Brasil. São inúmeras as monografias, dissertações e teses que abordam esse tema, analisando-os sob os mais diversos ângulos e apoiadas nas mais variadas matrizes teóricas.
Em nossa atuação, já tivemos a oportunidade de orientar pesquisas subsidiadas pela Lingüística textual, pela análise dos Gêneros, pela matriz da Análise de Discurso, entre outras. Contudo, os resultados obtidos sempre apontam alguma falha no processo de ensino-aprendizagem. Em outras palavras, conclui-se que o desempenho estudantil na prática redacional decorre quase sempre de um equívoco pedagógico. Este se funda
Estudos Lingüísticos XXXVI(3), setembro-dezembro, 2007. p. 372 / 377

na desarticulação entre a informação das regras gramaticais e a aplicação destas na compreensão e na formulação dos textos.
O hiato alimentado historicamente entre as aulas de gramática e as aulas de leitura e produção textual faz com que o aluno se pergunte para quê aprender gramática se, nas aulas de texto, aqueles conteúdos extravagantes (para ele, aluno) não se mostram significativos (cf. Moreira, 1999: 20).
A nosso ver, a desarticulação começa com a não-demonstração da variação das regras em função da variação da língua (ou dos usos lingüísticos). Assim sendo, a escola se fecha na norma padrão e constrói um paradigma de aulas pautado num modelo de língua completamente alheio à prática linguageira do alunado (cf. Simões & Bonin, 2004: 80).
É indiscutível o compromisso da escola com o ensino do uso padrão da língua nacional, contudo, os degraus de uma escada devem ser galgados um por vez, e a aquisição do modelo padrão demanda a compreensão prévia da variedade imediata ao falante. Ninguém porá em dúvida o fato da maioria das crianças e jovens brasileiros (independentemente de classe social) chegar hoje à escola com o seu desempenho verbal assentado em uma variante não-padrão, não necessariamente a variante popular geral, mas numa gíria grupal qualquer como a dos esqueitistas, dos surfistas, dos futebolistas, dos fanqueiros, dos pagodeiros etc. Já foi o tempo que a classe média garantia um desempenho verbal formal na sua fala cotidiana, gerando diferença quando do encontro em sala de aula com alunos das classes populares.
O fenômeno da nova babel (proliferação de usos lingüísticos decorrentes da multiplicidade de subgrupamentos socioculturais) exige uma nova atitude didático-pedagógica. Caso contrário, cada vez mais os alunos se distanciarão do compromisso com saber a língua nacional, principalmente baseados na idéia de que as aulas de português só tratam de temas alienados da realidade, completamente estanhos à prática verbal cotidiana, e a meta de tornar os alunos poliglotas em sua própria língua (cf. Bechara, 1991) resta cada vez mais longínquo.
Nessa perspectiva, vimos desenvolvendo estudos e pesquisas em que são testadas estratégias diversificadas de abordagem do conteúdo vernáculo, partindo principalmente da utilização de textos demonstrativos da variação lingüística, de modo que um dos fundamentos do preconceito social possa ser discutido e, uma vez entendida a importância e a indispensabilidade da variação – sobretudo como meio de adequação expressional – os alunos comecem a ter mais boa vontade em relação aos estudos lingüísticos, uma vez que estes passarão a mostrar-se significativos.
É preciso demonstrar a articulação entre as gramáticas peculiares a cada uso e a produção dos textos, com vistas a produzir proficiência leitora no alunado.
2. Classificação semiótica dos conteúdos gramaticais À primeira vista pode parecer incoerente propor-se uma abordagem semiótica dos conteúdos gramaticais. Isto porque a intenção de aproximar estudantes e conteúdos por um meio menos esotérico parece colidir com a busca de uma teoria pouco conhecida dos docentes. No entanto, temos clareza no que vimos inventando, uma vez que dois argumentos sustentam nossa proposta: 1) não adianta insistir num paradigma gasto e improdutivo; 2) a cultura nacional tende a animar-se com as modas. Trocando
Estudos Lingüísticos XXXVI(3), setembro-dezembro, 2007. p. 373 / 377

em miúdos, em primeiro lugar, entendemos que o modelo didático-pedagógico praticado no ensino da língua já se desgastou e a insistência nesse modelo tem resultado numa sucessão de gerações de estudantes despreparados para a expressão verbal; e em segundo lugar, buscamos lançar mão de uma peculiaridade de nossa cultura: o brasileiro adora andar na moda; e no âmbito intelectual, a semiótica vem ganhando força a cada dia. Logo, essa ciência, além de suas características imanentes, tem chance de renovar as práticas de ensino da língua nacional.
Essa afirmação se baseia no fato de que um bom número de programas de ensino - do primeiro ao quarto grau – inclui itens de base semiótica. Cumpre então dar consistência a essa nova onda didático-pedagógico, fornecendo subsídios teórico-práticos aos docentes, para que estes possam então trilhar com mais segurança os novos caminhos eleitos.
O primeiro passo desse suporte é viabilizar a compreensão das categorias sígnicas. A classificação dos signos entre ícones, índices e símbolos não é uma taxionomia gratuita, mas a distribuição de funções e valores com conseqüência perceptivo-cognitiva. Isto porque os níveis de representação configurados nos tipos sígnicos promovem reações diferenciadas nas mentes receptoras, gerando assim processos semióticos distintos. O ícone, que na realidade se manifesta como um ícone de segunda ou hipoícone, deverá manter alguma relação de semelhança com o objeto que representa (objeto imediato); assim, no âmbito da gramática, as palavras ditas aspectuais tais como montanha (em relação a morro), devagarzinho (em relação a devagar) e as onomatopéias, por exemplo, podem gerar impressão icônica, por evocarem mais fortemente seus objetos (que não precisam ter existência real, física, material). Quanto aos índices, a gramática é farta. Isto porque os signos verbais têm originalmente a faculdade de levar a, de induzir. Por isso, não é novidade o poder indicial dos pronomes, dos adjetivos, dos advérbios, por exemplo, palavras que conduzem as mentes leitoras a interpretações mais diretas, mais imediatas. A dêixis, por exemplo é um fato de natureza indicial. No que tange aos símbolos, parece que não há muito que se dizer, uma vez que o sistema verbal é eminentemente simbólico, porque é convencionado. Logo, uma segunda classificação dos signos verbais como símbolos, via de regra, resultará do seu poder generalizador. No âmbito das figuras de expressão, o estudo da conotação vai propiciar, com alta produtividade, a exploração do valor simbólico dos signos.
Segundo Simões, 2006: Entendo que palavras e expressões funcionam como signos icônicos ou indiciais segundo características que neles se inscrevem na trama textual de que participam. O potencial icônico, qualitativo, do signo estaria condicionado à faculdade de acionar esquemas mentais e, por conseguinte, estimular a produção de imagens que gerenciariam a interpretação. Já o potencial indicial, que é inerente aos signos verbais a princípio1, resulta da faculdade de induzir raciocínios, provocar inferências e implicaturas. O signo indicial funciona como um vetor que indica caminhos possíveis na trilha textual.
1 Digo que os signos verbais têm inerente o potencial indicial pelo fato de dirigirem os intérpretes para referentes convencionados a priori. O co-texto (contexto intratextual, segundo Sautchuk) é que regulará a definição mais ajustada dos significados.
Estudos Lingüísticos XXXVI(3), setembro-dezembro, 2007. p. 374 / 377

É ainda Simões (2004: 128) que propõe: No âmbito em que se explora a iconicidade (conceito de extração peirceana enriquecido pelo funcionalismo), pôde-se desenvolver estratégias de análise que tratam os seguintes aspectos: 1 – iconicidade diagramática (no projeto visual do texto e na estruturação dos sintagmas); 2 – iconicidade lexical (discutindo a seleção dos itens lexicais ativados no texto); 3 - iconicidade isotópica (extraída das duas anteriores e funcionando como trilha temática para a formação de sentido); 4 - alta e baixa iconicidade (considerando as estratégias sígnicas voltadas para a eficácia ou para falácia textual); 5 - eleição de signos orientadores ou desorientadores (definindo as intenções de univocidade, ambigüidade ou equivocidade inscritas no texto).
Para concluir esta seção, cumpre acrescentar que a entrada da semiótica no estudo da gramática não pode ser um complicador a mais, senão um facilitador da compreensão dos valores e funções gramaticais em relação ao seu poder de expressão.
2. Aplicação prática como conclusão Não adianta apresentar propostas teóricas sem que se possa demonstrar sua aplicação no cotidiano das aulas de português. Nossa meta é melhorar a qualidade e a produtividade das aulas de leitura e redação. Por isso, apresentamos a seguir um breve ensaio de análise que concluirá esta comunicação e poderá servir de sugestão para uma aula de leitura e produção textual dinâmica e proficiente.
Com o título “Um poema pode ser um jogo”, desenvolvemos uma aula em que foi analisado um poema de Mário Quintana, partindo do princípio de que embora a linguagem literária não seja o modelo a ser praticado cotidianamente pelos falantes, é nela que se pode verificar exemplos de “transgressões” freqüentes na fala cotidiana e que por isso comprovam a variação da língua em função das situações comunicativas.
Ei-lo: POEMINHO DO CONTRA Todos esses que aí estão Atravancando o meu caminho, Eles passarão... Eu passarinho!
Para quem não gosta de ler, de estudar gramática, de língua portuguesa e temas afins, aí vai uma pitadinha de leitura de um poema que tem sabor de provérbio: pequeno frasco, mas de valiosa essência. Nesse poema, o eu lírico opta por questionar a vida por intermédio do questionamento da própria língua. Assim sendo, ele vai alinhando signos verbais que podem estimular a geração de imagens nas mentes leitoras. E a partir de tais imagens brotam as interpretações e também as reflexões acerca dos usos da língua, sua adequação e eficiência.
Ao nomear o poema, o poeta lança mão de uma nova proposta derivacional para poema. Essa forma atua como índice-ícone da transgressão que é descrita pelo poeta como seu modo de vida. Segundo a norma, poema é uma palavra masculina e uniforme. Logo, o –a é uma vogal temática. Ao construir a forma poeminho, o autor afasta-se da norma, flexionando poema para uma terminação masculina (já que é o poema) e derivando-a para o diminutivo. Esta dupla mudança mórfica resulta numa guinada estilística, que pode ser interpretada como: 1) se ele é o autor do poema, ele faz das
Estudos Lingüísticos XXXVI(3), setembro-dezembro, 2007. p. 375 / 377

palavras o que bem entender; 2) o diminutivo é usado também como uma forma de ironia e de pejoração; 3) a expressão poeminho do contra evoca o clichê popular povinho do contra que representa pessoas que teimam em contrariar algo; no contexto do poema enfatiza a idéia de contrariedade; e 4) por fim, vê-se uma proposta de hipálage (recurso de estilo do nível semântico, que consiste na atribuição, a um nome, de uma qualidade que logicamente pertence a outro nome da mesma frase2), uma vez que a noção contida no epíteto do contra não é de fato um atributo do poema, mas de seu autor, o poeta.
No desenvolvimento do texto, corrobora-se a idéia de contrariar com o uso da forma verbal atravancando. Essa seria uma forma icônica em decorrência de sua extensão (polissílaba) e de sua estruturação silábica (V ccV cVc cVc cV), já que as sílabas mais fáceis são as de padrão V ou cV. Observe-se que atravancar é impedir, atrapalhar. Por fim, contrariar. E mais, a eleição do gerúndio traz ao texto a idéia de continuidade, permanência, duração.
Mas as brincadeiras lingüísticas não acabam aí. O uso de expressões como todos esses e aí remete para tudo que está fora do eu lírico, que se mostra “de outro lado”, contrário aos de quem ele fala. A força dêitica do advérbio pronominal aí leva o leitor a olhar em volta de si, para verificar se ele (leitor) também não está sendo afetado por todos esses que aí estão. Logo, há aí uma formação de signo indicial que induz o leitor a comportar-se de uma dada maneira.
O pronome possessivo de 3ª pessoa acentua a idéia de que o que atravanca é o tema, o conteúdo sobre que se declara algo. A opção pelo verbo estar é também um ato de maestria, uma vez que, além de ser um verbo de valor situacional, a noção de estar é efêmera. Logo, começa a insinuar-se no texto uma proposta de contraste entre o permanente e o passageiro (duradouro). A idéia de passageiro se consolida no uso da forma verbal passarão; verbo nocional que, flexionado na 3ª pessoa do plural, aponta para a efemeridade daqueles que atravancam o caminho do poeta. Eles passarão. A esta altura do texto, dá-se uma evocação do texto bíblico: “(Mateus 24:35) - O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar”. Com isso, o poeta se põe numa posição privilegiada, a de alguém que vai conseguir perpetuar-se. No entanto, o leitor é surpreendido pelo verso seguinte: Eu passarinho! O aparecimento de um substantivo para formar paralelismo com a forma verbal passarão é o dado que quebra a expectativa de leitura e gera a novidade.
Mas os jogos textuais não terminaram aí. O poema começa com uma palavra terminada em –inho e encerra com outra com a mesma terminação. Quereria isto dizer algo? Observe-se que a primeira (poeminho) é um diminutivo neológico para poema; a segunda, a despeito de sua terminação em –inho, não corresponde necessariamente a um substantivo em grau diminutivo, uma vez que também nomeia a espécie. Veja-se: [De pássaro + -inho1.] S. m. Bras. Pássaro; pequena ave. (Aurélio, s.u.)
Convém notar que são duas formas falaciosas: a) poeminho – não por ser pequeno, mas por ser ardiloso, mordaz, pícaro; b) passarinho – não por formar uma
2 Ex.: "Fumando um pensativo cigarro", ou "Todos os dias de jejum come um peixe austero" - exemplos extraídos das obras de Eça de Queirós.
Estudos Lingüísticos XXXVI(3), setembro-dezembro, 2007. p. 376 / 377

oposição de grau com passarão, mas por significar uma espécie animal cuja vida é livre e transmite pureza, quase angelitude.
Por outro lado, é possível reverter mais uma vez o esquema da língua. A oposição passarão & passarinho pode ser vista sim como contraste de grau, mantendo assim a estrutura em paralelismo; mas, ao mesmo tempo, pode gerar a surpresa de um paralelismo entre formas verbais, pois passarinho pode ser a 1ª pessoa do singular de passarinhar, cujo significado vai de caçar passarinhos até bolinar.
Veja-se: Passarinhar - [De passarinho + -ar2.] V. int. 1. Caçar pássaros. 2. Vadiar, vagabundear, vagabundar. 3. Bras. Espantar-se (a cavalgadura): & 4. Bras. S. Mover (o cavalo) a cabeça dum lado para outro, impedindo, assim, que lhe ponham o freio ou o buçal, ou lhe toquem nas orelhas. Bras. Chulo V. bolinar (2). Bolinar - [De bolina + -ar2.] V. int. 1. Mar. V. navegar à bolina. Bras. Chulo - Procurar contatos voluptuosos, sobretudo em aglomeração de pessoas, em veículos, cinema, etc.; tirar um sarro, sarrar, xumbregar, amassar, passarinhar. (Aurélio. s.u.)
Observe-se que a noção contida nas acepções 2 de bolinar resumem exatamente as idéias que se transmitem com o poema de Quintana: enquanto os outros se ocupam de dirigir, normatizar, avaliar, etc., ele, o poeta, ocupa-se com gozar a vida, passarinhar.
Carpe diem!
5. Referências bibliográficas BECHARA, Evanildo. Ensino de gramática. Opressão? Liberdade? 5a ed. São Paulo:
Ática, 1991. MOREIRA, Marco Antonio. Aprendizagem Significativa. Brasília Editora da UNB,
1999. SIMÕES, Darcilia & BONIN, M. Política e Ensino do Idioma: Língua e Inclusão
Social. In Caderno Seminal Digital, Ano 11, nº. 2, V. 1 [Jul/Dez-2004] — ISSN 1806-9142. [p.78-86]
SIMÕES, Darcilia. “Primeiros escritos do Projeto de texto e iconicidade: uma reflexão sobre a eficácia comunicativa.” Pesquisa de pós-doutoramento em realização na PUC-SP sob supervisão de Lucia Santaella. 2006
_____. “Semiótica e Alternativas Metodológicas para a Leitura e Produção de Textos.” In SIMÕES, Darcilia (org.) Estudos semióticos. Papéis avulsos. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2004.
Estudos Lingüísticos XXXVI(3), setembro-dezembro, 2007. p. 377 / 377