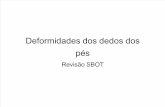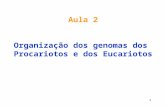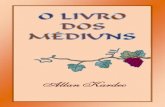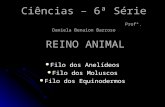11_História dos Surdos_RODRIGUES
-
Upload
eli-ribeiro-dos-santos -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of 11_História dos Surdos_RODRIGUES
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
1/27
Surdez e Surdos no Brasil: tudo comeou com um Instituto de Educao1
A his tr ia da fundao do Imperia l Ins t i tuto dos Surdos Mudos doRio de Janeiro comeou na Europa, mais precisamente no Instituto
Nacional de Paris , pois de l veio seu fundador. O professor surdoErnest Huet lecionava neste Instituto e j havia dirigido o Institutode Surdos-Mudos de Bourges, quando intencionou estabelecer noBrasil uma escola voltada para o ensino de surdos. O incio doscontatos para a criao desta escola ocorreu atravs de uma carta deapresentao do Ministro da Instruo Pblica da Frana entregue junto ao Governo do Brasil , ao Ministro da Frana, Saint Georg(PINTO, 2007, p.7).
No Brasil, a histria da educao de surdos inaugurada com a vinda de Huet
(18221882), surdo francs, pro fessor de surdos, na segunda metade do sculo
XIX. Sua estada no Brasil tornou-se um marco da histria da educao dossurdos brasileiros. 2 Pode-se afirmar que Huet veio para o Brasil inaugurar o
processo educacional de surdos (ROCHA, 1997).
Com o apoio do Imperador Pedro II, do Dr. Manoel Pacheco Silva, reitor do
Colgio Pedro II, e de uma Comisso Inspetora 3 chefiada pelo Marqus de
Abrantes (PINTO, 2007, p.2), Huet fundou, em 1857, no Rio de Janeiro, o
Instituto de Educao de Surdos-Mudos, atual Instituto Nacional de Educaode Surdos INES. Acredita-se que uma jornada pela histria do instituto
permite que se conheam as diferentes vises, paradigmas, concepes e
perspectivas da educao de surdos no Brasil durante os sculos XIX e XX.
Conta-se que
para dar incio ao trabalho, o Instituto, ainda no oficialmentecriado, funcionou em salas do Colgio de Vassinon situado ruaMunicipal n 8. Com os auxlios da Comisso, Huet conseguiu as
duas primeiras alunas surdas do Instituto, cujos nomes eram
1 Esse texto fo i extra do de RODRIGUES, C. H. R Situaes de incompreenso vivenciadas porprofessor ouvinte e a lunos surdos em sala de aula : processos in terpreta t ivos e oportunidades deaprendizagem. 2008. Disser tao (Mestrado em Educao e Linguagem). Faculdade de Educao.Univers idade Federal de Minas Gerais , Belo Horizonte , 2008 (p .42-76) .2 No se sabe ao cer to a data da v inda de Huet para o Brasi l ; encontramos as seguintes indicaes:1852, 1855 e 1856 (MCCLEARY, 2005) . Alm disso , no h um consenso com relao ao nome deHuet (LEITE, E. , 2005; MCCLEARY, 2005; KUCHENBECKER, 2006) . Dentre as obrasconsultadas encontramos: Ernest , Hernest , Eduard , Edward e Eduardo. Ver Revis ta da Feneis , anoIV. n . 13 . jan .-mar. , 2002. Huet f icou apenas a lguns anos no Brasi l , fa to que comprovado pelosregis tros h is tr icos que demonstram que, no ano de 1866, e le j es tava no Mxico (MCCLEARY,2005).3
Alguns importantes homens da e l i te da poca compunham essa Comisso em sua pr imeiraformao, dentre e les podemos c i tar : Marqus de Montalegre , Marqus de Olinda, Pr ior doConvento do Carmo, Conselheiro de Estado Eusbio de Queiros , Padre Joaquim FernandesPinheiro e o Abade do Mosteiro de So Bento (ROCHA, 1997, p . 6 ; PINTO, 2007, p .7) .
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
2/27
Umbelina Cabrita, de 16 anos, e Carolina Bastos, de 12 anos.Ambas eram naturais do Rio de Janeiro, tendo sido admitidas em 1de janeiro de 1856, e recebiam uma penso anual paga por SuaMajestade Imperial (PINTO, 2007, p.8).
A histria da Libras e da educao de surdos no Brasil est intimamente
ligada histria do instituto. Acredita-se que a primeira perspectiva de
educao de surdos a ser propagada no Brasil seria o gestualismo, pois Huet
seria adepto do gestualismo de Clerc. Moura (2000, p.81-2) ressalta que
no foram encontrados dados que estabelecessem que o trabalhoproposto e realizado por Huet seguisse a Lngua de Sinais , mas,considerando-se que ele havia estudado com Clerc no InstitutoFrancs e que sua educao se deu atravs da Lngua de Sinais ,
pode-se deduzir que ele util izava os Sinais e a escrita, sendoconsiderado inclusive o introdutor da Lngua de Sinais Francesa noBras i l , onde e la acabou por mesclar-se com a Lngua de S inaisutil izada pelos surdos em nosso pas .
Huet teria dirigido o instituto de 1856 a 1861, sendo substitudo,
repectivamente, por Frei do Monte do Carmo e Ernesto do Prado Seixas.
Em 1862, assumiria a direo o professor Manoel de Magalhes Couto que
ficaria no cargo at 1868, quando Tobias Leite ficaria na direo
interinamente at sua nomeao oficial (PINTO, 2007, p.12). Vale destacar ofato de Couto no ser um especialista em surdez, assim como no eram seus
sucessores, tendo realizado apenas, um curso de especializao na Frana
(MOURA, 2000, p.82).
Nesses primeiros anos de funcionamento do instituto, percebe-se que ele
estava voltado educao integral dos surdos, que recebiam noes de artes,
cincias, religio e moral e, num momento em que no havia preocupao com
este tipo de educao (PINTO, 2007, p.13). Entretanto, em 1868, uma
inspeo do governo no instituto verificou que ele estava servindo apenas
como um asilo de surdos (MOURA, 2000, p.82), o que provocou a demisso
de Couto.
Segundo Rocha (1997, p.7), em 1872, o Dr. Tobias Rebello Leite fo i
nomeado diretor do instituto, ficando no cargo at 1896, ano de sua morte.
Para Oliveira (2003, p.32), a gesto de Tobias Leite possibilitou melhoras
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
3/27
significativas no instituto4. Em 1871, ele teria publicado o primeiro livro, no
Brasil, para o ensino de surdos (ROCHA, 1997, p.8). Tratava-se da traduo
do livro do professor francs J. J. Vallade Gabell, Methode pour Enseigner
aux Surds-muets. O livro, organizado na forma de perguntas e respostas,
abordava diversos temas referentes educao de surdos e tornou-se a base
norteadora da atuao dos profissionais do instituto.
Outros aspectos importantes da gesto de Tobias so: a aprovao do projeto
de regulamento em que era estabelecida a obrigatoriedade de ensino
profissional e o ensino da linguagem articulada e leitura sobre os lbios
(MOURA, 2000, p.82) e, tambm, a publicao, em 1875, do livro Iconografia dos Sinais dos Surdos-Mudos do surdo Flausino Jos da Gama,
aluno do instituto.
Durante a gesto de Tobias evento marcante da educao de surdos conhecido
como Congresso de Milo (1880) aconteceu na Itlia. A partir do Congresso
de Milo, o oralismo tornou-se a filosofia dominante em meio ao processo
educacional dos surdos, a ponto de banir a LS da educao de surdos, deafastar os professores surdos das instituies e de excluir a comunidade
surda, por ser vista como um risco para o desenvolvimento da linguagem oral
e das decises polticas das instituies de ensino (LACERDA, 1996, p.15;
SACKS, 1998, p.40-1; CAPOVILLA, 2001, p.1481). Segundo Lacerda (1996,
p.6), os oralistas
exigiam que os surdos se reabili tassem, que superassem sua surdez,
que falassem e, de certo modo, que se comportassem como se nofossem surdos. Os proponentes menos tolerantes pretendiamreprimir tudo o que fizesse recordar que os surdos no poderiamfalar como os ouvintes. Impuseram a oralizao para que os surdosfossem aceitos socialmente e, nesse processo, deixava-se a imensamaioria dos surdos de fora de toda a possibilidade educativa, detoda a possibilidade de desenvolvimento pessoal e de integrao nasociedade, obrigando-os a se organizar de forma quase clandestina.
Com a morte do ento diretor Tobias Leite, em 1896, assume, como diretor
interino, o professor Dr. Joaquim Borges Carneiro e, em seguida, o Dr.
4 As mudanas ser iam o re torno da d isc ip l ina Leitura sobre os Lbios , a cr iao do professorrepetidor e o ensino profiss ional , sendo que todos os a lunos eram obrigados a aprender um ofc ioou ar te (ROCHA, 1997, p .7) .
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
4/27
Joo Paulo de Carvalho . Durante sua gesto, a atuao do professor
Cndido Juca na disciplina de Linguagem Articulada logrou grande destaque
e fortaleceu as discusses com relao oralizao ou no dos surdos.
De um lado, estava a viso de que a oralizao era uma condio essencial
insero social dos surdos e, do outro, a viso de que, para a insero social
dos surdos, bastava ensinar-lhes uma profisso junto linguagem escrita
(ROCHA, 1997, p.12). Ainda na gesto do Dr. Joo Paulo de Carvalho, foi
assinado, em 23 de maro de 1901, o Decreto n. 3964, que estabelecia um
novo regulamento para o instituto5.
Com a exonerao de Joo Paulo de Carvalho, o Dr. Joo Brasil Silvado
assume a direo do instituto. Durante o curto perodo em que esteve na
direo (1903-1907), foi criada a Revista do Instituto Nacional de Surdos-
Mudos e realizada uma significativa campanha em prol da educao das
meninas surdas e, tambm, pela melhor escolha dos mtodos de ensino. Aps
a sada de Joo Brasil Silvado, o Dr. Custdio Ferreira Martins assumiu a
direo do instituto, permanecendo at 1930. Durante esse perodo, algumasalteraes foram realizadas, como a criao de uma cadeira de Linguagem
Escrita (Decreto n. 6892 de 19 de maro de 1908), o estabelecimento do
mtodo oral puro como base para o ensino de todas as disciplinas e a criao
da seo feminina (Decreto n. 9198 de 12 de dezembro de 1911), que s viria
a existir de fato em 1932.
Segundo Leite, T. (2004, p.26), a repercusso do Congresso de Milo teriachegado ao Brasil, em 1910, estabelecendo a proibio do uso da LS e, at
mesmo, do alfabeto manual nas instituies de educao de surdos. Tal
proibio tornou-se oficial no Instituto de Surdos-Mudos com o Decreto n.
9.198 de 12 de dezembro de 1911. Dessa data em diante, o mtodo oral puro
deveria ser a base do processo educacional dos surdos. Segundo Skliar
(1997a, p.110),
5 O decreto previa a manuteno do plano de es tudos previamente es tabelecido pelo Regulamentode 1873, preservando o ar t igo 8: o ensino da Linguagem art iculada e da Leitura sobre os Lbiosser dado de preferncia aos a lunos que mostrarem-se apt os para receb-lo .
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
5/27
O objetivo de orientar toda a educao das crianas surdasunicamente aprendizagem da lngua oral j se havia manifestadoem outros momentos da histria da surdez, mas nesse perodo queo interesse se torna mais extremo e radical. Com a finalidade deuma quimrica conquista da lngua oral se comea a proibir outras
formas de comunicao.
Entretanto, Lima (2004, p.25) afirma que, mesmo com a proibio, a LS
continuou a ser aceita em sala de aula at 1957, quando a ento diretora do
instituto, Ana Rmoli de Faria Dria , assessorada pela professora Alpia
Couto, proibiu efetivamente o uso de sinais em classe (GOLDFELD, 1997,
p.29).
Se, por um lado, h uma ao coerci t iva para vigiar e punir o surdoque se util izasse da lngua de sinais , por outro, h uma reao dosprprios surdos que cont inuam a fa lar a t ravs dos s inais , no, n assalas de aula do Instituto, mas fora delas e principalmente nascomunidades que comeam a tomar forma nos principais centrosurbanos do pas (LIMA, 2004, p.25).
Rocha (1997, p.14) afirma que, aps trs anos de emprego efetivo do mtodo
oral puro, os resultados no eram positivos, pois cerca de 60% dos alunos no
alcanavam um nvel satisfatrio. Segundo Moura, ao verificar esse resultado
negativo, Martins solicita ao governo a reforma do regula mento e a entrada decrianas menores, entre os seis e dez anos, justificando a falha no como do
ensino, mas das crianas que seriam muito velhas para o aprendizado da fala
articulada (MOURA, 2000, p.83). O governo rejeitou a solicitao, e o
ensino da fala passou a ser realizado somente para os que tivessem aptido,
em outras palavras, para aqueles que pudessem desenvolv-la com facilidade
beneficiando-se dela.
Em 1930, o chefe do governo provisrio, Getlio Vargas, nomeou, como
diretor do instituto, o Dr. Armando Lacerda . Durante sua gesto, Lacerda
dedicou-se a organizar o instituto e implantar um novo modelo pedaggico de
acordo com a capacidade dos alunos surdos (ROCHA, 1997, p.17). Em 1934,
Lacerda teria publicado a Pedagogia Emendativa do Surdo Mudo , ressaltando
que existiriam dois objetivos centrais na educao dos surdos: o
conhecimento da linguagem e a habilitao profissional.
O objet ivo do t rabalho no Ins t i tuto nes ta poca era a adaptao doSurdo no meio social, ministrando-lhe o conhecimento da
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
6/27
l inguagem usual e rea l izando a sua habi l i tao profiss ional paraque pudesse viver de seu prprio trabalho (MOURA, 2000, p.84).
O Dr. Armando substitudo em 1947 pelo Dr. Antnio Carlos Mello, que
permanece na direo do instituto at 1951. Durante sua gesto, lanada a
revista do Instituto Nacional de Surdos Mudos (1949), uma nova verso da
revista que havia sido lanada na gesto de Joo Brasil Silvado (1903-1907).
Aps Carlos Mello, a professora Ana Rimoli de Faria Dria assume, em
1951, a direo do instituto. Em sua gesto, foram criados o Curso Nor mal de
Formao de Professores para surdos, o Jardim de Infncia, o Curso de
Especializao para professores, a campanha para Educao do SurdoBrasileiro, a Primeira Olimpada Nacional de Surdos, o Curso de Artes
Plsticas, o Centro de Logopedia e, ta mbm, inmeras publicaes 6 (ROCHA,
1997, p.23). Em 1957, o instituto passa a ter um novo nome: Instituto
Nacional de Educao de Surdos, e no mais Instituto Nacional de Surdos-
Mudos.
No ano de 1961, Dona Ana, como Dria ficou conhecida, afastada daDireo. E de 1961 a 1964, trs diretor es passam pelo Instituto: Rodolpho da
Cruz Rolo, Pedro Eziel Cylleno e Euclides Alberto Braga da Silva .
Diversas aes so realizadas durante esse perodo como, por exemplo, a
criao do boletim informativo Educao de Surdos e do Ginsio Industrial
Ernest Huet, mais tarde conhecido como Ginsio Orientado para o Trabalho
Ernest Huet e extinto em 1974.
Em 1974, sob a direo do Dr. Marino Gomes , foi criado o servio de
Educao Precoce pela professora Ivete Vasconcelos. Vasconcelos, aps ter
visitado a Gallaudet, tambm seria a responsvel pela difuso da
Comunicao Total7 no Brasil, nos fins da dcada de setenta (GOLDFELD,
6 Essas publicaes ser iam: Manual de Educao da Criana Surda, Ensino Oro-udio-Visual para
os Defic ientes da Audio, In troduo Didtica da Fala , Compndio de Educao da PessoaSurda.7 Uma f i losofia educacional que propunha usar todo e qualquer s is tema de comunicao, querpalavras ou s mbolos , quer s inais naturais ou ar t i f ic ia is , para garantir o desenvolvimento dal inguagem e o desenvolvimento dos surdos (CAPOVILLA, 2001, p .1483) .
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
7/27
1997, p.29). Rocha registra o seguinte trecho de uma entrevista concedida por
Dona Ivete, como era chamada, a um jornal da poca:
a nova corrente filosfica da Comunicao Total, est se difundindoe ganhando adeptos em vrios pases do mundo. A ComunicaoTotal, apela para outras vias de comunicao, associando oralismo egestualismo (1997, p.28).
Em 1980, na gesto de Heleton Saraiva OReilly , foi lanado o PLANAP
(Plano Anual de Atividade Pedaggica) e retomado o Curso de Especializao
que havia sido desat ivado h anos. Da em diante, vrias mudanas ocorrem e,
sob a gesto de Lenita de Oliveira Viana , e a partir de 1985, os debates
acerca dos rumos educacionais da instituio so (re)impulsionados
8
.
Em 1986, a direo do instituto iniciou, atravs do Projeto de Pesquisa PAE
(Projeto de Alternativas Educacionais), a implementao da Comunicao
Total em alguns grupos de alunos (CICCONE, 1996, p.6). A instituio
continua a seguir os rumos e debates das tendncias que o processo
educacional dos surdos vai assimilando com as no vas pesquisas em lingstica
e educao, com os movimentos surdos e com as decises po ltico-sociais.
Embora o Rio de Janeiro tenha sido, de certa maneira, o ncleo da educao
dos surdos brasileiros, no sculo XX, tornaram-se visveis diversas aes em
vrios outros lugares do Brasil. Em 1929, foi fundado em So Paulo o
Instituto Santa Terezinha, o qual se dedicava educao de moas surdas. O
Instituto Santa Terezinha permitia o uso da LS fora de sala e, segundo Brito,
foi o segundo plo de concentrao de surdo s usurios de lngua de sinais no
Brasil (1993, p. 6).
Segundo Monteiro (2006, p.283), o instituto seguia uma perspectiva oralista
devido forte influncia dos educadores franceses catlicos. Fato que
tambm marcou a influncia da Lngua de Sinais Francesa (doravante LSF) na
LS dos surdos brasileiros. Moura explica que
8 No fa lamos de todos os d ire tores do INES e nem esgotamos os acontecimentos importantes dasgestes c i tadas , pois esse no o nosso foco.
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
8/27
inicialmente, na cidade de So Paulo, o trabalho com crianasSurdas nas escolas particulares seguiu uma abordagem oralis ta.Estas escolas t inham uma tradio religiosa, benemrita, ousurgiram atravs do interesse de pais e amigos de Surdos. Seusobje t ivos eram pautados na integrao do Surdo na comunidade
ouvinte , onde o Surdo deveria procurar o seu lugar de t rabalho(2000, p .91) .
Em 1950, surgiram, em So Paulo, as pr imeiras iniciativas da Rede Municipal
de ensino e de alguns familiares de surdos, dando origem ao Instituto Hellen
Keller e ao Instituto Educacional de So Paulo 9, ambos utilizando o mtodo
oral. Some-se o fato de que a Rede Estadual de Ensino de So Paulo, em
1957, criou cinco classes especiais nas esco las regulares para atender o aluno
surdo (LIMA, 2004, p.26).
Em Belo Horizonte, as primeiras aes com relao educao de surdos
teriam surgido na dcada de 30. Segundo Miranda (2007, p.50):
Em 08 de maro de 1938, o jornal de circulao do Estado de MinasGerais , O DIRIO, j re la tava o inc io da cons truo do Ins t i tutoSanta Ins, indicando a quem ele pertencia _ Congregao dasFilhas de Nossa Senhora do Monte Calvrio _ e os motivos de suaconstituio.
O Instituto Santa Ins destacou-se na educao de surdos e contou com o
apoio de religiosas do Instituto Estadual de Roma, uma importante instituio
educacional para surdos da poca. Ele propagou e defendeu a adoo do
oralismo na educao de surdos e, ao s poucos, passou a aceitar a LS como u m
auxlio comunicao com os alunos surdos. Outra instituio criada na
dcada de 30, que ate ndia alunos surdos, foi o I nstituto Pestalozzi.
Em 1979, foi fundada em Belo Horizonte a Clnica Fono, com o objetivo de
atender pessoas surdas, promovendo o desenvolvimento das habilidades
sensoriais e psicolgicas (MIRANDA, 2007, p.55.). Com o tempo, a
instituio foi assumindo uma funo mais educacional e passou a ser
denominada como Clnica Escola Fono10. Em sua proposta inicial, a clnica-
9 Segundo Miranda (2007, p .35) o Inst i tu to em 1969 fo i doado para a Fundao So Paulo ,
ent idade mantenedora da PUCSP. A part i r da passou a ser conhecido como DERDIC - Diviso deEducao e Reabil i tao dos Dis trbios da Comunicao.10 Em 17 de novembro de 1981, com parecer favorvel pelo CEE da Secretar ia de Estado daEducao SEE, f ica autor izado o funcionamento da Escola Fono, de ensino do 1 grau especia lna rede par t icular , de Belo Horizonte . (Decreto n 467/81) . A proposta pedaggica da escola
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
9/27
escola seguia uma perspectiva educacional oralista, entretanto, com o tempo,
passou a discutir as perspect ivas da Comunicao Total.
A partir da dcada de 1980, em Belo Horizonte, outras instituies escolares
passaram a atender alunos surdos. Dentre elas, pode-se destacar a Escola
Estadual Francisco Sales Instituto de Deficincia da Fala e da Audio,
inaugurada em 1983, que, numa perspectiva oralista, tornou-se responsvel
pela escolarizao inicial de crianas surdas. Nessa escola, somente aps
alguns anos, que se comeou a empregar a LS, dentro das diretrizes da
Comunicao Total.
O movimento de criao de escolas especiais, classes especiais para surdos,
bem como salas mistas de surdos e ouvintes com a presena do intrprete de
Libras, tornou-se realidade em todo o Brasil na dcada de 1990. Essa
mudana inicial foi amparada pelas novas vises sociais, antropolgicas,
lingsticas e pedaggicas com relao surdez e aos surdos e fortalecida, no
sculo XXI, pelo surgimento de uma legislao 11 especfica em relao aos
surdos, sua lngua e educao.
Em Belo Horizonte, podemos citar: a Escola Estadual Jos Bonifcio, que em
1996 formou sua primeira turma de surdos; a Escola Estadual Maurcio
Murgel, que em 1999 formou suas primeiras turmas mistas; a Escola
Municipal Arthur Versiani Velloso, que, a part ir do projeto piloto Integrao
de alunos surdos no Ensino Regular, 12 passou a atender alunos surdos; e a
Escola Municipal Paulo Mendes Campos, que em 1998 passou a atender ossurdos, jovens e adultos, no noturno.
seguia os mesmos moldes da pol t ica educacional desenvolvida a par t i r do Congresso de Milo em1880, uma educao voltada para o incentivo e as pr t icas endossadas pela metodologia ora l(MIRANDA, 2007, p .55-6) .11 A Lei 10 .436 de 24 de abri l de 2002 of ic ia l izou a Libras , Lngua de Sinais Brasi le ira , como
lngua da Comunidade Surda Brasi le ira , e o Decreto 5 .626 de 22 de dezembro de 2005 aregulamentou, junto ao ar t igo 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000.12 O formato in ic ia l do proje t o era de agrupamento de 5 a lunos surdos por turma, t endo como apoiopedaggico uma professora auxil iar in trprete de Libras , para in terpretar os contedosdesenvolvidos pelo professor regente .
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
10/27
Outro fato marcante da histria da educao dos surdos no Brasil foi a
fundao, em 1977, da Feneida (Federao Nacional de Educao e
Integrao dos Deficientes Auditivos) por u m grupo de profissionais ouvintes
ligados rea da surdez (FENEIS, 1993, p.5). Conta-se que, alguns anos aps
a fundao da federao, um grupo de surdos passou a se interessar pela
entidade, participando de seus encontros e da recm-fundada Comisso de
Luta pelos Direitos dos Surdos (RAMOS, 2004, p.2). Essa comisso passou a
reivindicar a participao efetiva dos surdos na Diretoria da Feneida. Assim,
os surdos da comisso formaram uma chapa e conquistaram a presidncia da
entidade por um ano (FENEIS, 1993, p.5). Souza escreve (1998, p.90-1):
Ao lutarem pelos sinais , os surdos, organizados, se diferenciam,pela linguagem que defendem, do grupo majoritrio usurio de umaoutra linguagem: a oral. A partir dessa tomada de conscincia, asdivergncias com profissionais ouvintes foram postas s claras eacabou por levar posse , pelos surdos , da pres idncia daFENEIDA, [] Simboliza uma vitria contra os ouvintes queconsideravam a eles, surdos, incapazes de opinar e decidir sobreseus prprios assuntos e, entre eles, sublinha o papel da linguagemna educao regular. Desnuda, ainda, uma mudana de perspectiva,ou de representao discursiva, a respeito de si prprios: aoalterarem a denominao deficiente auditivo, impressa na siglaFENEIDA, para Surdos, em FENEIS, deixam claro que recusavam
o atributo estereotipado que normalmente os ouvintes ainda lhesconferem, is to , o de serem deficientes.
Ento, em 1987, a Feneida passou a se chamar Feneis (Federao Nacional de
Educao e Integrao de Surdos). Segundo Ramos (2004, p.2), a criao da
Feneis13 deu-se atravs da ao de um grupo de surdos em uma assemblia
geral na qual se votou o fechamento da Feneida.
A Feneis constituiu-se como uma instituio no-governamental, filantrpica,sem fins lucrativos, com carter educacional, assistencial e sociocultural
(FENEIS, 1993, p.7). Suas metas principais seriam promover e ampliar a
13 As entidades fundadoras da FENEIS foram: Associao de Pais e Amigos do Defic iente daAudio - APADA/ Niteri-RJ, Associao dos Surdos de Minas Gerais - MG, Associao dosSurdos do Rio de Janeiro - RJ, Associao Alvorada Congregadora de Surdos - RJ, Associao dosSurdos de Cuiab - MT, Associao dos Surdos de Mato Grosso do Sul - MS, Ins t i tu to Londrinensede Educao de Surdos PR, Escola Estadual Francisco Sales MG, Inst i tu to Nossa Senhora deLourdes RJ, Associao de Pais e Amigos dos Surdos APAS PR, Associao de Pais e
Amigos do Defic iente da Audiocomunicao APADA/ Mar l ia SP, Centro Educacional deAudio e Fala DF, Associao do Defic iente Audit ivo do Dis tr i to Federal DF, Centro Verbo-Tonal Suvag/ Recife PE, Associao Bem Amado dos Surdos do Rio de Janeiro RJ eAssociao de Pais e Amigos do Defic iente Audit i vo/ APADA DF (RAMOS, 2004, p .6 , 7) .
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
11/27
educao e a cultura do indivduo surdo, amparar socialmente este indivduo,
congregar e coordenar atividades junto s filiadas, associaes, escolas e
instituies da rea da surdez, lutar pela melhoria de recursos educacionais e
pela incluso social dos surdos, organizar e participar de eventos na rea da
surdez.
A Feneis tem realizado diversas aes sociais e polticas, tais como incluso
de surdos no mercado de tra balho, assistncia jurdica aos surdos, servios de
intrpretes de Libras-LP para acompanhar os surdos quando necessrio,
servios de informao e esclarecimento aos pais, aos educadores, s
autoridades e ao pblico em geral, organizao de cursos de Libras,capacitao de instrutores de Libras e de intrpretes e produo de
publicaes com assuntos de interesse da comunidade surda, dentre outras.
A histria de formao da Feneis evidencia a emergncia dos movimentos
reivindicatrios organizados pelos surdos brasileiros em prol no somente do
direito de um ensino em Libras, mas principalmente pelo direito a opinar e
decidir acerca de quaisquer decises polticas que envolvam os surdos. Aformao da Feneis inaugurou um importante captulo das relaes polticas
entre surdos e ouvintes e influenciou significativamente a educao de surdos
no Brasil.
Vale ressaltar que, contrapondo-se preponderncia do mtodo oral, a LS
tornou-se o ponto central da luta da FENEIS e o smbolo por excelncia da
surdez (BRITO, 1993, p.28). Segundo Antnio Campos de Abreu, surdo e
integrante da Diretoria da ent idade:
Para a Feneis , a l ngua de sinais um direito do surdo lnguamaterna, responsvel pelo seu desenvolvimento cultural social eacadmico/ educacional. As dvidas, receios e dificuldades deassumir essa postura prejudicou em muito, o surdo, alm da questodo tempo perdido em discusses entre famlias e profissionaisenvolvidos com este indivduo. A Lngua de Sinais a chave paraampliar a insero do surdo no mbito social (AZEREDO, 2006, p.7).
Esse panorama geral da histria da educao de surdos permite que se
conheam diversas vises, concepes, conceitos e modelos de surdez, os
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
12/27
quais evidenciam diferentes perspectivas e propostas educacionais. Segundo
Thoma (1998, p.127-8):
Na histria da educao dos surdos surgiram vrias tendncias,apontando concepes distintas e, por vezes, opostas, quanto amelhor forma de educar ao surdo e, no ritmo das mudanas, as f i losofias educacionais foram (re)feitas de acordo com osinteresses, crenas e valores de cada poca. A histria destaeducao , portanto, t r i lhada por diferentes caminhos ,apresentados como um reflexo do pensamento e dos interessesdominantes em cada poca e em cada sociedade. Poderamos dizerque cada um destas filosofias nada mais representa do que oimaginrio e as representaes sociais construdas sobre os surdosao longo dos tempos.
O atual contexto educacional dos surdos est permeado pelas diferentes
vises, conceitos e modelos de surdez historicamente construdos.
Considerando-se que para a compreenso da educao bilnge de surdos
necessrio que se conhea a realidade na qual ela se localiza, o rganizaram-se,
a seguir, as duas vises bsicas com relao surdez e aos surdos e, tambm,
as trs principais propostas educacionais empregadas no decorrer da histria
do processo educacional dos surdos.
Vises com relao aos surdos e a surdez
Grosso modo, configuraram-se historicamente duas maneiras distintas de se
olhar para a surdez e, conseqentemente, para os surdos. A adoo de uma
dessas vises demonstra as concepes e conceitos de quem olha e,
certamente, guiar a uma srie de perspectivas e atitudes com relao aos
surdos e ao seu pro cesso de ensino-aprendizagem.
Essas vises distintas fundamentam-se, basicamente, em dois modelos: o
clnico-teraputico e o scio-antropolgico (SKLIAR, 1997a; 1998). Esses
modelos tm sido responsveis em definir e guiar diversas tendncias
educacionais, ora enfatizando uma certa normalizao, ora defendendo a
aceitao das diferenas. Entretanto, a temtica da surdez, na atualidade, se
configura como territrio de representaes que no podem ser facilmente
delimitadas ou distribudas em modelos sobre a surdez (SKLIAR, 1998p.9).
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
13/27
A viso a partir do modelo clnico-teraputico
O modelo clnico-teraputico foi-se formando historicamente de acordo com
as posturas mdicas e ideolgicas que foram sendo assumidas com relao
surdez. O olhar clnico-teraputico difundiu-se socialmente e passou a
embasar as posturas educacionais em relao aos surdos, inclusive a filosofia
educacional oralista. Nesse modelo, o surdo
considerado uma pessoa que no ouve e, portanto, no fala. definido por suas caracters ticas negativas; a educao se converteem teraputica, o objetivo do currculo escolar dar ao sujeito oque lhe falta: a audio, e seu derivado: a fala. Os surdos soconsiderados doentes reabili tveis e as tentativas pedaggicas sounicamente prticas reabili tatrias derivadas do diagnstico mdicocujo fim unicamente a ortopedia da fala (SKLIAR, 1997a, p.113).
O modelo clnico-teraputico trouxe uma viso estritamente relacionada
surdez como patologia, enfatizando o dficit biolgico. Assim, aqueles que se
aliceram nesse modelo consideram a surdez como mera deficincia sensorial.
Segundo S (2002, p.48):
Historicamente se sabe que a tradio mdico-teraputicainfluenciou a definio da surdez a partir do dficit auditivo e daclassificao da surdez (leve, profunda, congnita, pr-lingstica,etc.), mas deixou de incluir a experincia da surdez e de consideraros contextos psicossociais e culturais nos quais a pessoa Surda sedesenvolve.
Com esse conceito de surdez, a educao de surdos passou a ser vista como
um processo de medicalizao, no qual as estratgias e recursos educacionais
tm um carter reparador, reabilitador, normalizador e corretivo. Assimsendo, as lnguas de sinais so rechaadas do processo educacional dos
surdos. Na viso clnico-teraputica, materializada por meio do oralismo,
acredita-se que
a lngua de sinais no constitui um verdadeiro sis tema lingstico,pois o define como um conjunto de gestos carente de estruturagramatical, um tipo de pantomima desarticulada, que, alm disso e paradoxalmente l imitar ia ou impedir ia a aprendizagem da l nguaoral (SKLIAR, 1997a, p.111).
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
14/27
Nesse momento da histria da surdez, no qual o modelo clnico imperou, os
surdos seriam potencialmente retirados do contexto educacional, pedaggico,
e colocados nos domnios da medicina, da interveno clnica e da terapia. Na
verdade, ocorria uma transformao gradual do contexto escolar e de suas
discusses e enunciados pedaggicos, em mecanismos de natureza mdico-
hospitalar (LANE, 1993 apud SKLIAR, 1 998, p.16).
Medical izar a surdez s ignif ica or ientar toda a a teno cura doproblema auditivo, correo de defeitos da fala, ao treinamento decertas habilidades menores, como a leitura labial e a articulao,mais que a interiorizao de instrumentos culturais s ignificativos,como a l ngua de s inais . E s ignif ica tambm opor e dar pr ior idadeao poderoso discurso da medicina frente dbil mensagem da
pedagogia, explicitando que mais importante esperar a curamedicinal encarnada atualmente nos implantes cocleares quecompensar o dficit de audio atravs de mecanismos psicolgicosfuncionalmente equivalentes (SKLIAR, 1997a, p. 111).
Nesse modelo clnico, os surdos ou deficientes auditivos possuem uma
deficincia que precisa ser tratada com o propsito de reabilit-los
convivncia social. Visa-se ao disciplinamento do comportamento e do corpo
para produzir surdos aceitveis para a sociedade dos ouvintes (SKLIAR,
1998, p.10). Esse tratamento teria o objetivo de desenvolver e tr einar a fala ea leitura labial, atravs de tratamento fonoaudiolgico, de uso de prteses e
implantes, por exemplo, capazes de capacit-los a usar a LO e a part ilhar dos
modos de ser, pensar e agir da sociedade ouvinte que integram. Ao criticar tal
modelo, Skliar (1997a, p.12) ressalta que
a criana no vive a partir de sua deficincia, mas a partir daquiloque para e la resul ta ser um equivalente funcional . Tudo is to ser iacerto se, desde j, o modelo clnico-teraputico no se obstinasse
tanto em lutar contra a deficincia, o que implica em geral originarconseqncias sociais ainda maiores. Reeducao ou Compensao,essa a questo. Obstinar-se contra o dficit , esse o erro.
Esse modelo clnico foi preponderante at a dcada de 1990, quando uma
nova viso da surdez destacou-se, principalmente em meio aos pesquisadores.
Segundo Skliar (1997a, p.140-1):
Foram duas as observaes que a partir da dcada de 60 levaramoutros especialis tas como antroplogos, l ingistas e socilogos
a interessar-se pelos surdos, e que originaram uma viso totalmenteoposta clnica, uma perspectiva scio-antropolgica da surdez.Por um lado, o fato de que os surdos formam comunidades cujofator aglutinante a l ngua de sinais [] Por outro lado, a
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
15/27
confirmao de que os f i lhos surdos de pais surdos apresentammelhores nveis acadmicos, melhores habilidades para aaprendizagem da lngua oral e escrita, nveis de leitura semelhantesaos do ouvinte, uma identidade equilibrada, e no apresentam osproblemas sociais e afetivos prprios dos filhos surdos de pais
ouvintes.
A viso a partir do modelo scio-antropo lgico
Ao contrrio da viso clnica, na qual que se prope a medicalizao, o
tratamento teraputico, a reabilitao do surdo; na viso scio-antropolgica,
compreende-se a surdez como uma experincia visual, ou seja, como uma
maneira especfica de se construir a realidade histrica, poltica, social e
cultural. No modelo scio-antropolgico, concebe-se a surdez como uma
diferena14, e no como mera deficincia co mo no modelo clnico-teraputico.
Esse novo prisma possibilitou que a surdez fosse vista a partir de outros
referenciais (HUBNER, 2006, p.51). Ao se referir a esse novo prisma, Moura
relata que
O movimento multicultural, de grande amplitude, abrangeu asminorias dos mais diversos tipos que reivindicavam o direito deuma cul tura prpria , de ser diferente e denunciavam adiscriminao qual estavam sendo submetidos (2000, p.64).
Considerando esta perspectiva, os surdos passam a ser vistos como aqueles
que
formam uma comunidade lingstica minoritria caracterizada porcompartilhar uma lngua de sinais e valores culturais , hbitos emodo de socia l izao prprios . A l ngua de s inais cons t i tui oelemento identificatrio dos surdos, e o fato de constiturem-se emcomunidade significa que compartilham e conhecem os usos e
normas de uso da mesma lngua, j que interagem cotidianamenteem um processo comunicativo eficaz e eficiente. Is to ,desenvolveram as competncias l ingstica e comunicativa ecognitiva por meio do uso da lngua de sinais prpria de cadacomunidade de surdos [] A lngua de sinais anula a deficincialingstica conseqncia da surdez e permite que os surdosconstituam, ento, uma comunidade lingstica minoritriadiferente e no um desvio da normalidade (SKLIAR, 1997a, p.141).
Em oposio viso clnico-teraputica, na viso scio-antropolgica, passa-
se a utilizar o termo surdo para se referir queles que, independentemente
14 Carlos Skliar deixa c laro que, para e le , d iferena entendida, conforme McLaren (1995) , nocomo um espao re tr ico a surdez uma diferena mas como uma construo his tr ica esocia l , efe i to de confl i tos socia is , ancorada em prt icas de s ignif icao e de representaescompart i lhadas entre os surdos (SKLIAR, 1998, p . 13) .
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
16/27
do grau da perda auditiva, reconhecem-se como surdos, na medida em que
valorizam a experincia visual e se apropriam da LS como meio de
comunicao e expresso; renem-se com seus pares e partilham modos de
ser, agir e pensar, bem como uma ide ntidade cultural comum e um certo Deaf
Pride , orgulho em ser surdo.
Os nomes atribudos aos No-Ouvintes incluem mudo, surdo-mudo, deficiente auditivo, uma variedade de outros eufemismospoliticamente corretos, e o que preferido pela maioria daquelesque se identifica como tal: Surdo (WRIGLEY, 1997, p.3). 15
Nessa mesma perspectiva, as pessoas com de ficincia auditiva seriam aquelas
que rejeitam a condio da surdez, na medida em que tentam resgatar aexperincia auditiva por meio de prteses e implantes, desprezando a LS e
estabelecendo seu nico meio de comunicao atravs da LO: fala com o
auxlio da leitura labial. Alm disso, essas pessoas freqentam grupos de
ouvintes e no se identificam com os surdos sinalizadores usurios da LS.
Considerar a surdez atravs desse modelo implica, primeiramente, respeitar e
aceitar o surdo em sua diferena e especificidade lingstica e cultural. Dito
de outro modo, esse respeito e aceitao da diferena significam no so mente
aceitar a LS usada pelos surdos no processo educacional, mas produzir uma
poltica de significaes que gera um outro mecanismo de participao dos
prprios surdos no processo de transformao pedaggica (SKLIAR, 1998
p.14).
A difuso da viso scio-antropolgica da surdez nas ltimas dcadas do
sculo XX possibilitou aos educadores uma nova maneira de se pensar o
processo de ensino-aprendizagem de surdos. Apropriando-se dessa viso,
muitos professores de surdos propuseram novas estratgias de ensino
vinculadas ao uso da LS e ao reconhecimento da necessidade de se ensinar a
LP como L2 . Entretanto, at que essa nova proposta educacional bilnge se
15 Minha traduo para The names ass igned to the Other- than-Hearing include mute , deaf-mute , hear ing impaired , a range of o ther poli t ica l ly correct euphemisms, and the one that ispreferred by most of those who identify themselves as such: Deaf . H uma cpia da in troduodo l ivro d isponvel em . Acesso em 25 nov. 2007.
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
17/27
configurasse outras maneiras de se tratar a educao de surdos destacaram-se
no cenrio educacional: o o ralismo e a comunicao total.
Sinais e fala: os caminhos educacionais e a surdez
Historicamente verifica-se a configurao dos debates acerca da educao dos
surdos sob trs importantes filosofias educacionais: o Oralismo, a
Comunicao Total e o Bilingismo. A aproximao e a a nlise da concepo
e aplicao de tais filosofias evidenciam uma ampla variedade de vises,
nfases e prticas, muitas vezes, contraditrias.
Segundo Brito (1993, p.27), seriam apenas duas as filosofias educacionais
para surdos: o Oralismo, que defenderia o aprendizado apenas da LO, e o
Bilingismo, que defenderia o aprendizado da LO e da LS, reconhecendo o
surdo em sua diferena e especificidade. Considerando isso, pode-se dizer,
sem dvidas, em oralismos e bilingismos. Esse plural serve para marcar a
diversidade das metodologias, leituras e aplicaes do oralismo e do
bilingismo na educao de surdos.
A histria da educao dos surdos revela o confronto e a coexistncia dessas
diferentes abordagens. Sabe-se que, desde o sculo XVIII, duas perspectivas,
tratadas como oralismo e ge stualismo, confrontam-se acirradamente (BUENO,
1998, p.47). O pndulo da educao de surdos, ora estava mais para lado o
oralista, ora para o gestualista. De acordo com Lima (2004, p.50):
A abordagem educacional (oralis ta ou gestual) dependiaincondicionalmente de quem a conduzia. Caso fosse partidrio douso exclusivo da lngua oral, esta era tomada como fio condutor daeducao do aluno surdo. Caso fosse simpatizante da lngua desinais , esta era adotada como instrumento de trabalho na sala deaula .
Embora, atualmente, o pndulo esteja voltado para o gestualismo, expresso
atravs de diferentes perspectivas bilnges, o oralismo continua presente e
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
18/27
defendido por alguns familiares de surdos, profissionais e pessoas com
surdez16.
Diferentes facetas do o ralismo
Em seu incio, no campo da pedagogia do surdo, existia um acordounnime sobre a convenincia de que esse sujeito aprendesse alngua que falavam os ouvintes da sociedade na qual viviam; porm,no bojo dessa unanimidade, j no comeo do sculo XVIII, foiaberta uma brecha que se alargaria com o passar do tempo e quesepararia irreconciliavelmente oralis tas de gestualis tas (LACERDA,1996, p.6).
De forma simplificada, pode-se dizer que o oralismo, preponderante at a
dcada de 1980, defendia a desmutizao, em outras palavras, o
aprendizado apenas da LO com o objetivo de recuperar o surdo, integr-lo
sociedade, ou seja, de, se po ssvel, torn-lo como o ouvinte. Nesse caso, a LO
tornava-se mais um objetivo do que um instrumento do aprendizado e da
comunicao (BRITO, 1993, p.27; BERNARDINO, 2000, p.29), pois seu
aspecto sonoro era enfatizado e m detrimento de sua estruturao semntica e,
at mesmo, de seu registro lingstico. Segundo Br ito (1995, p.15):
Devido falta de audio do surdo, alguns mtodos, na nsia, desuprir essa falta, centralizaram sua ateno na produo e recepoda cadeia sonora da fala, is to , no nvel fontico, negligenciando,muitas vezes, o nvel semntico-cognitivo.
Na filosofia educacional oralista, toda e qualquer forma de comunicao
gestual deveria ser negada ao surdo. Muitos acreditavam que o contato dos
surdos com a linguagem gestual impediria que eles se desenvolvessem
oralmente e os levaria a viver margem da sociedade ouvinte. Segundo Souza
(1998, p.4):
A idia central do oralismo que o deficiente auditivo sofre deuma patologia crnica [] obstaculizando a aquisio normal dalinguagem, demanda intervenes clnicas de especialis tas , t idosquase como responsveis nicos por restituir a fala a esse tipode enfermo. Para o oralismo, a l inguagem um cdigo de formas eregras estveis que tem na fala precedncia histrica e na escritasua via de manifestao mais importante. Gestos ou sinais , noimporta de que natureza fossem, eram e ainda so considerados
16 Pode-se d izer que exis tem em meio aos surdos dois grupos d is t in tos: os surdos s inal izadores ,que defendem a LS e o b i l ingismo e os surdos ora l izados , que repudiam a LS e defendem ooral ismo.
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
19/27
acessrios , dependentes da fa la e / ou infer iores a e la do ponto devista s imblico. O oralismo defende essencialmente a supremaciada voz, transformando-a em nuclear do que consideram ser otratamento educativo interdisciplinar da pessoa surda.
Para conseguir alcanar seu objetivo, a aquisio e desenvolvimento normal
da linguagem oral, os oralistas desenvolveram e empregaram diferentes
instrumentos, tcnicas e metodologias de oralizao: a verbo-tonal, a
audiofonatria, a aural, a acupdica, a interveno precoce, a protetizao, o
implante coclear e etc (GOLDFELD, 1997, p.31; MOURA, 2000, p.53-5;
CAPOVILLA, 2001, p.1482). Alm disso, muitos oralistas tambm se
dedicaram ao ensino da escrita e a rigorosos treinos de leitura.
Apesar do grande afinco e dedicao dos oralistas, o oralismo no obteve
resultados to satisfatrios, talvez devido maneira como se enfatizava a LO
em detrimento de outros importantes aspectos da comunicao, da interao,
da educao e da insero social. 17 A educao de cunho oralista no garante
o pleno desenvolvimento da criana surda e nem a sua integrao
comunidade ouvinte, visto que o domnio apenas da LO em hiptese alguma
possibilita a equiparao entre pessoas surdas e ouvintes (GOLDFELD,1997, p.86).
No comeo do sculo XX, encontram-se os primeiros relatos dosinsucessos do oralismo. Um inspetor geral de Milo descreveu queo nvel de fala e de aprendizado de leitura e escrita dos Surdos apssete a oito anos de escolaridade era muito ruim, sendo que estesSurdos no estavam preparados para nenhuma funo, a no sercomo sapateiros ou costureiros. Na Frana isso tambm foi notado,os Surdos educados no oralismo tinham uma fala ininteligvel(MOURA, 2000, p. 49).
17 Os mtodos orais sofrem uma sr ie de cr t icas pelos l imites que apresentam, mesmo com oincremento do uso de prteses . As cr t icas vm, pr incipalmente , dos Estados Unidos . Algunsmtodos prevem, por exemplo, que se ensinem palavras para cr ianas surdas de um ano.Entre tanto , e las tero de entrar em contato com essas palavras de modo descontextual izado deinter locues efe t ivas , tornando a l inguagem algo dif c i l e ar t i f ic ia l . Outro aspecto a serdesenvolvido a le i tura labia l , que para a idade de um ano , em termos cognit ivos , uma tarefabastante complexa, para no dizer impossvel . muito d if c i l para uma cr iana surda profunda,a inda que prote t izada , reconhecer , to precocemente , uma palavra a travs da le i tura labia l .Limitar-se ao canal vocal s ignif ica l imitar enormemente a comunicao e a possib i l idade de usodessa palavra em contextos apropriados . O que ocorre pra t icamente no pode ser chamado dedesenvolvimento de l inguagem, mas s im de tre inamento de fa la organizado de maneira formal,
ar t i f ic ia l , com o uso da palavra l imitado a momentos em que a cr iana es t sentada d iante dedesenhos, fora de contextos d ia lgicos propriamente d i tos , que de fa to permit ir iam odesenvolvimento do s ignif icado das palavras . Esse aprendizado de l inguagem desvinculado desi tuaes naturais de comunicao, e res tr inge as possib i l idades do desenvolvimento g lobal dacr iana (LACERDA, 1996, p .18) .
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
20/27
Contudo, pode-se verificar que os oralistas esperavam no somente levar o
surdo a falar e a ler os lbios, mas a desenvolver competncia lingstica, o
que lhes permitiria desenvolver-se social, emocional e intelectualmente e,
dessa maneira, integrar-se ao mundo dos ouvintes (CAPOVILLA, 2001,
p.1481). Entretanto, isso no foi possvel devido, entre outros, ao fato de que
essa filosofia educacional ampara-se em uma idia equivocada de que h uma
dependncia intrnseca entre a linguagem e a linguagem oral e entre
desempenho oral e o desenvolvimento cognitivo. Portanto, nessa perspectiva,
acredita-se que o desenvolvimento cognitivo est condicionado ao maior ou
menor conhecimento que tenham as crianas surdas da lngua o ral (SKLIAR,
1997a, p.111).
Ao se restringir a essa concepo de linguagem, desconsiderando os aspectos
cognitivos que so determinados pela linguagem e pela cultura para se limitar
a oralizao da criana surda, o oralismo produz surdos que, embora
possam falar o portugus, provavelmente no sero capazes de interagir
com os ouvintes, devido a questes semnticas e pragmticas relativas
lngua em uso e a dificuldades cognitivas, sociais e emocionais advindas dano-aquisio natural e contextualizada de uma lngua na infncia
(GOLDFELD, 1997, p.91). Considerando isso, pode-se afirmar que
[] todas estas tentativas de oralizao do Surdo caminharam numabusca incessante de uma transformao do Surdo num ouvinte queele jamais poderia vir a ser. Como ele no poderia vir a ser, nem secomportar, nem aprender da mesma forma que o ouvinte, asabordagens oralis tas no conduziram ao resultado desejado:desenvolvimento e integrao do Surdo na comunidade ouvinte(MOURA, 2000, p.55).
importante a compreenso de que o oralismo, desde suas origens
quinhentistas, fundamentou-se em concepes mdicas, religiosas, filosficas
e, at mesmo, polticas (SKLIAR, 1997b), sem as quais ele no teria surgido e
muito menos ganhado consistncia. Podem-se encontrar essas concepes em
diversas obras, inclusive nos textos clssicos, tanto sacros quanto seculares
(CAPOVILLA, 2001, p.1480). Foi justamente por vieses oralistas que se
fomentou, no sculo XVI, a concepo de que os surdos eram educveis.
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
21/27
O imaginrio da sociedade quinhentista estava marcado pela idia de que a
linguagem oral era o cerne da aprendizagem e do desenvolvimento humano.
Portanto, foram exatamente as demonstraes oralistas de surdos usando a
LO, falada e escrita, que possibilitaram uma mudana nesse imaginrio que
passou a aceitar, pouco a pouco, a possibilidade de o s surdos serem educados,
visto que conseguiam usar a linguagem oral. A partir de ento, tornaram-se
possveis os relatos que, de alguma maneira, creditaram LS um certo
status18.
Expresses do gestualismo
O surgimento de uma filosofia educacional gestualista talvez possa ser
relacionado ao fato de que, reconhecida a natureza educvel do surdo e ace ita
a idia de que a surdez no trazia prejuzos para o desenvolvimento da
inteligncia, era possvel olhar a linguagem gestual usada pelos surdos, para
comunicarem entre si, como uma possibilidade de interlocuo com eles e
como um meio de ensino da lngua oral, falada e escrita. De acordo com
Lacerda (1996, p.6), os gestualistas
eram mais tolerantes diante das dificuldades do surdo com a lnguafalada e foram capazes de ver que os surdos desenvolviam umalinguagem que, ainda que diferente da oral, era eficaz para acomunicao e lhes abria as portas para o conhecimento da cultura,incluindo aquele dirigido para a l ngua oral.
LEpe, o precursor do uso da LS na educao dos surdos, provavelmente, viu
a linguagem gestual dos surdos dessa maneira. inegvel o fato de que ele
apresentou uma perspectiva avanada para a educao dos surdos no sculoXVIII: o uso da LS, ainda que adaptada numa forma de francs sinalizado.
Embora avanasse, LEpe, considerava a linguagem oral muito importante,
no sentido de que no s ensinava leitura e escrita aos seus alunos surdos,
mas, principalmente, acrescentava LS aquilo que, segundo ele, faltava, ou
18
Capovil la (2001, p .1480) escreve: Uma honrosa exceo do sculo XVIII fo i o f i lsofoCondil lac . Embora a pr incpio considerasse os Surdos como meras es t tuas sensveis e mquinasambulantes , incapazes de pensamento e l inguagem, depois de comparecer incgnito s aulas doabade lEpe, e le se converteu e forneceu o pr imeiro endosso f i losfico da Lngua de Sinais e deseu uso na educao do Surdo (LANE, 1984) .
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
22/27
seja, uma gramtica. Assim, ele criou os Sinais Metdicos: um misto do
lxico da LS com a gramtica francesa.
Durante a ascenso do gestualismo, na segunda metade do sculo XVIII e
primeiras dcadas do XIX, percebe-se, mesmo entre os seus defensores, uma
certa controvrsia: ao mesmo tempo em que exaltavam a LS, a depreciavam.
Segundo Oliver Sacks (1998, p.33), LEpe considerava a LS, por um lado,
uma lngua universal 19; por outro lado, destituda de gramtica (portanto,
necessitando da importao da gra mtica francesa, por exemplo).
Desloges, surdo francs, considerava que a LS seria a lngua mais prpria expresso das sensaes sendo semelhante s outras, entretanto tambm a via
como incompleta, a ponto de afirmar que e mbora LEpe no tivesse sido o
seu inventor, ele teria reparado o que encontrou incompleto nela, ampliando-a
e dotando-a de regras. 20
Com as decises do Congresso de Milo, em 1880, o gestualismo foi posto
como o grande vilo e empecilho do sucesso do processo educacional,passando a ser gradativamente banido da educao dos surdos. Iniciava-se
uma nova era da educao de surdos: a era do oralismo puro.
Assim, durante quase um sculo (1880-1960), o discurso dominantesobre a surdez centrou-se no abafar, no inferiorizar, no
19 Como fa to bastante conhecido, os f i lsofos dos sculos XVII e XVIII acreditavam que aprimeira l inguagem dos homens ter ia s i do a de ao - os surdos a ter iam conservado e aprimorado.A l inguagem de ao, segundo os i luminis tas , ser ia uma forma de regis tro mais acurada da
real idade, pois , como um espelho, ref le t i r ia o modo s imultneo como os sentidos percebiam omundo exter ior - ser ia deles , portanto , uma forma de representao desdobrada. A l ngua oral ter iasurgido como uma expanso la tera l da l inguagem de ao por convenincias impostas pelasnecessr ias adaptaes ao ambiente - poder ser perceptvel no escuro das cavernas , por exemplo(Cf. Foucault , 1992: 121-125) . Assim concebida, a l inguagem de s inais ter ia um carter universal ,uma vez que todos os homens ser iam dotados das mesmas condies de funcionamento dossentidos e porque os obje tos percebidos ter iam sempre as mesmas caracter s t icas , independente dopas . Quer d izer : se na l inguagem de ao havia (supostamente) uma re lao isomrfica entre oreferente e as sensaes , e , portanto , entre a coisa e o s inal correspondente , a langue des s ignes spoderia ser entendida como sendo, necessr ia e logicamente , comum a todos os povos (SOUZA,2003, p .334) .20 ( . . . ) cer ta vez l 'Epe concebeu o nobre proje to de devotar-se educao do surdo; e lesabiamente observou que e les possuam uma l inguagem natural para se comunicarem entre s i .Como essa l inguagem no era outra seno a de s inais , e le sups que, se e le se empenhasse em
compreend-la , o t r iunfo de seu empreendimento ser ia assegurado. Esse d iscernimento fo irecompensado com sucesso . Ento o abade de l 'Epe no fo i o inventor ou o cr iador dessal inguagem; pelo contrr io , e le a aprendeu com o surdo; e le somente reparou o que encontrouincompleto nela ; e le a ampliou e lhe deu regras metdicas (DESLOGES, 1984, p .34 apudNASCIMENTO, 2006, p . 258) .
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
23/27
descaracterizar as diferenas, elevando e enfatizando aquilo queestava ausente no surdo frente ao modelo ouvinte (a audio, a fala,a l inguagem), determinando o desenvolvimento de abordagensclnicas e prticas pedaggicas que buscavam o apagamento dasurdez, por meio da tentativa de restituio da audio pelo uso de
aparelhos de amplificao sonora, e de levar os surdos aodesenvolvimento da linguagem oral a partir de tcnicas mecnicas edescontextualizadas de treino articulatrio (LODI, 2005, p.416).
Praticamente um sculo de preponderncia do oralismo fez aflorar uma
realidade no muito satisfatria. Segundo Lacerda (1996, p.15):
Os resul tados de muitas dcadas de t rabalho nessa l inha, noentanto, no mostraram grandes sucessos. A maior parte dos surdosprofundos no desenvolveu uma fala socialmente satisfatria e, emgeral, esse desenvolvimento era parcial e tardio em relao
aquisio de fala apresentada pelos ouvintes, implicando um atrasode desenvolvimento global s ignificativo. Somadas a isso estavam asdificuldades ligadas aprendizagem da leitura e da escrita: sempretardia, cheia de problemas, mostrava sujeitos, muitas vezes, apenasparcialmente alfabetizados aps anos de escolarizao.
Um flego em meio ao o ralismo: uma filoso fia hbrida de transio
A insatisfao com os insucessos do oralismo possibilitou o surgimento, na
dcada de 70, de uma proposta diferenciada que, de certa maneira,
possibilitava a revitalizao da LS no processo de ensino-aprendizagem dos
surdos. Segundo Brito (1993, p.31), essa perspect iva, tal como foi concebida,
propunha o reconhecimento das lnguas de sinais como direito fundamental
da criana surda. Nessa nova proposta educacional, a premissa bsica era a
utilizao de toda e qualquer forma de comunicao com a criana Surda,
sendo que nenhum mtodo ou sistema particular deveria ser omitido ou
enfatizado (MOURA, 2000, p.57).
A Comunicao Total21, como foi batizada, utiliza todos o s recursos e tcnicas
orais e manuais que possibilitam a interao comunicativa tanto entre
21 Ndia de S ressal ta que a tualmente o termo Comunicao Total tem s ido ut i l izado a par t i r dediferentes entendimentos: a) pode refer ir -se a um posic ionamento f i losfico-emocional deacei tao do surdo e de exal tao da comunicao efe t iva pela u t i l izao de quaisquer recursosdisponveis ; b) pode refer ir -se abordagem educacional b imodal que obje t iva o aprendizado da
l ngua da comunidade majori tr ia a travs da u t i l izao de todos os recursos possveis a lm dafala , quais se jam: le i tura dos movimentos dos lbios , escr i ta , p is tas audit ivas , e , a t mesmo deelementos da l ngua de s inais ; c) pode refer ir -se a um t ipo de b imodalismo exato , que faz usosimultneo ou combinado de s inais extra dos da l ngua de s inais , ou de outros s inais gramaticaisno presentes nela , mas que so enxertados para t raduzir a l inear idade da l ngua na modalidade
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
24/27
ouvintes e surdos quanto entre surdos e surdos: gestos, mmica, fragmentos da
LS, pantomima, leitura labial, dramatizao, expresses faciais, datilologia,
formas sinalizadas da LO, pidgin, estimulao auditiva, prteses, leitura,
escrita, etc.
A Comunicao Total22 seria um hbrido do oralismo com o gestualismo e,
diferentemente do oralismo, defenderia que somente o aprendizado da LO no
asseguraria o pleno desenvolvimento do surdo (GOLDFELD, 1997, p.36). De
acordo com Fernando Capovilla (2001, p.1483), a Co municao Total:
Advoga o uso de todos os meios que possam facili tar a
comunicao, desde a fala s inalizada, passando por uma srie desistemas artificiais , at chegar aos sinais naturais da Lngua deSinais . [] A Comunicao Total advoga o uso de um ou maisdesses sis temas, juntamente com a lngua falada, com o objetivobsico de abrir canais de comunicao adicionais . mais umafilosofia que se ope ao Oralismo estrito do que propriamente ummtodo.
A Comunicao Total demonstrou uma eficcia maior em relao ao o ralismo,
pois ela possibilitou a presena da LS na escola como um auxlio na aquisio
da lngua falada e escrita. Segundo Moura (2000, p.59), a ComunicaoTotal expandiu-se nos Estados Unidos e em outros pases, tendo sido a forma
pela qual os Sinais puderam ser aceitos. Contudo, o uso simultneo de
diversos meios e cdigos comunicativos acabou por fazer da prtica bimodal 23
o centro de t al filosofia. Segundo So uza (1998 p.7):
Sinalizar o Portugus era como conseguir um meio-termo queaparentemente satisfazia aos dois grupos envolvidos. Se de um ladoos surdos poderiam readquirir o direito de usar a LIBRAS fora daclasse, de outro, na escola, os professores teriam sua tarefa deensino facili tada com o uso de sinais . Essa aparente soluo erasubsidiada pelas novas idias na Educao do Surdo, mais oumenos cris talizadas ou que giravam na rbita do que se comps como rtulo de Comunicao Total.
oral e para auxil iar v isualmente o aprendizado da l ngua-alvo, que a ora l (S, 1999, p .99-102apudS, 2002, p .64) .22 Vale ressal tar que, embora a Comunicao Total sur ja , nos f ins do sculo XX, como umafi losofia educacional , o abade LEpe j havia real izado propostas semelhantes no Inst i tu to deSurdos de Paris , no sculo XVIII , ao cr iar os Sinais Metdicos .23 O bimodalismo ser ia o uso s imultneo de cdigos manuais com a LO. Ele se manifes ta a travs
da u t i l izao da LO junto a a lguns cdigos manuais , ta is como o portugus s inal izado (uso dolxico da LS na es tru tura da LO e a lguns s inais inventados, para representar es tru turas gramaticaisdo portugus que no exis tem na Libras) , o cued-speech (s inais manuais que representam ossons da LP), o pidgin (s implif icao da gramtica de duas l nguas em contato) e , a t mesmo, adat i lo logia ( representao manual das le tras do a lfabeto) .
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
25/27
Para Brito (1993, p.31), a Comunicao Total, tal como foi sendo aplicada,
deixou de representar uma perspectiva oposta ao Oralismo, para se tornar
apenas uma tcnica manual dele. De acordo com Goldfeld (1997, p.97):
A Comunicao Total apresenta aspectos positivos e negativos. Porum lado, ela ampliou a viso de surdo e surdez, deslocando aproblemtica do surdo da necessidade de oralizao, e ajudou oprocesso em prol da util izao de cdigos espao-visuais . Por outrolado, no valorizando suficientemente a l ngua de sinais e a culturasurda, propiciou o surgimento de diversos cdigos diferentes dalngua de sinais , que no podem ser util izados em substituio auma lngua, como a lngua de sinais , no processo de aquisio dalinguagem e desenvolvimento cognitivo da criana surda.
Embora a Comunicao Total tivesse de fato melhorado a interao entre os
professores ouvintes e os alunos surdos, o conhecimento dos contedos
escolares e as habilidades de leitura e escrita ainda continuavam aqum do
esperado (LIMA, 2004, p.34).24 Segundo Moura (2000, p.63),
Na verdade, o desenvolvimento das crianas Surdas melhorou muitocom o Bimodalismo: elas podiam se comunicar de uma forma muitomais fluda, a comunicao oral no ficou prejudicada como muitosdos opositores das lnguas sinalizadas esperavam que acontecesse, odesempenho acadmico melhorou, mas nem todos os problemasforam solucionados.
Com o insucesso da Comunicao Total e o aumento significativo das
pesquisas em relao LS, surgiram novas perspectivas para a educao de
surdos, as quais passaram a defender a idia de que a educao deveria
utilizar a prpria Lngua de Sinais natural da Comunidade Surda, e no mais
a lngua falada sinalizada (CAPOVILLA, 2001, p.1486).
24 Fernando Capovil la (2001, p .1486) , re la ta que procurando descobrir por que as aulas em que seoral izava e s inal izava ao mesmo tempo no produziam a melhora esperada na aquis io da le i turae escr i ta a lfabt icas , os pesquisadores decidiram regis trar as aulas do ponto de v is ta de um alunoSurdo e , ento d iscutir com as professoras o que poderia es tar acontecendo. Para tanto , e lesf i lmaram as aulas em Comunicao Total minis tradas pelas professoras , em que e las s inal izavam eoral izavam ao mesmo tempo. Ento, colocando as professoras na pele de seus a lunos Surdos,e les exibiram as f i tas s professoras , mas sem o som da fa la que acompanhava a sua s inal izao,as professoras exibiam uma grande dif iculdade em entender o que e las mesmas haviam sinal izado!As prprias professoras perceberam ento que, quando s inal izavam e fa lavam ao mesmo tempo,elas costumavam omitir s inais e p is tas gramaticais que eram essencia is compreenso dascomunicaes , embora a t ento costumassem crer que es tavam a s inal izar cada pala vra concreta ede funo gramatical em cada sentena fa lada. A concluso desconcertantemente bvia fo i a deque, durante todo o tempo, as cr ianas no es tavam obtendo uma verso visual da l ngua fa lada na
sala de aula , mas, s im, uma amostra l ings t ica incompleta e inconsis tente , em que nem os s inaisnem as palavras fa ladas podiam ser compreendidos p lenamente por s i ss . Em conseqnciadaquela abordagem, para sobreviver comunicat ivamente , as cr ianas es tavam se tornando nobil nges como se esperava, mas s im hemil nges , por ass im dizer , sem ter acesso p leno aqualquer uma das l nguas , e sem conhecer os l imit es entre uma e outra .
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
26/27
-
8/4/2019 11_Histria dos Surdos_RODRIGUES
27/27
deforme a outra (BRITO, 1993, p.46, 48). Para Goldfeld (1997, p.160), o
bilingismo seria a melhor filosofia educacional para a criana surda,
pois a expe a uma lngua de fcil acesso, a l ngua de sinais , quepode evitar o atraso de linguagem e possibili tar um plenodesenvolvimento cognitivo, alm de expor a criana l ngua oral,que essencial para o seu convvio com a comunidade ouvinte ecom sua prpria famlia [] possibili tando a internalizao dalinguagem e o desenvolvimento das funes mentais superiores.
Em suas consideraes e crticas, Fernandes (2003, p. 55) afirma que os
ltimos 100 anos de educao de surdos, no Brasil, foram mais do que
suficientes para aprendermos como no educar surdos e, tambm, como no
formar educadores de surdos. Diante dessa contur bada realidade, atualmente,as pesquisas e as discusses com relao surdez, aos surdos, sua lngua,
educao e cultura tm crescido co nsideravelmente.
No Brasil, por exemplo, o desenvolvimento dos Estudos Surdos tem-se
tornado um marco na melhor compreenso e modificao das propostas
educacionais para surdos. Pode-se, inclusive, afirmar que atualmente
assistimos construo de um novo paradigma da educao de surdos, o qual
reconhece no s a sua diferena, mas, principalmente seus direitos humanos
expressos na aceitao de sua lngua, cultura(s) e identidades.
Essas mudanas relacionam-se ao surgimento de diversas pesquisas, na
segunda metade do sculo XX, abordando os surdos e a surdez. O novo olhar
acadmico e cientfico em relao ao campo da surdez possibilitou as
construes de novos fundamentos educacionais e proporcionaram outros
olhares sobre os conceitos de lngua, cultura e aprendizado.