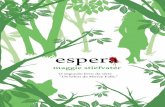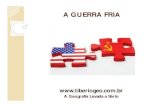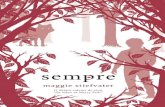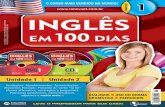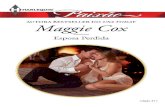148240002-Yvone-Maggie-Guerra-Orixa.pdf
-
Upload
dofonoogumja -
Category
Documents
-
view
83 -
download
0
Transcript of 148240002-Yvone-Maggie-Guerra-Orixa.pdf
-
~ l i
Cop yright 2001, Yvonne Maggie Todos os direitos reservados.
A reproduo no-autorizada desta publicao, no todo ou em parte, constitui violao de direitos autorais. (Lei 9.610/98)
2001 Direitos para esta edio contratados com:
Jorge Zahar Editor Ltda. rua Mxico 31 sobreloja
20031-144 Rio de Janeiro, RJ te!.: (2 1) 2240-0226 / fax: (21) 2262-5123
e-mail: [email protected] site: www.zahar.com.br
Capa: Srgio Campante
CIP-Brasil. Catalogao-na-fonte Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.
Maggte, Yvonne Ml 72g Guerra de Orix: um estudo de ritual c confiito I 3.ed. Yvonne Maggie. - 3.ed. - Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Ed., 2001
Inclui bibliografia. ISBN 85-7110-611-8
-(Antropologia social)
1. Brasil - Religio - Infl uncia africana. 2. Cultos afro-brasileiros- Esmdo de casos. 3. Sincre-th mo (Religio). 4. Etnografia. I. Ttulo. II. Srie.
coo 306.60981) III 111111'1 CDU 316.74:2(81)
Sumrio
11tl'/r1t'io 3!! edio ..... . .... . ... . ........ .. .. ... .... ....... 7 l'tl'/rlrio 111 edio .. ......... . . ................ ....... ... . 11 111/t/lr/ll(fiO . ...... . ........... . ... . .... . . ....... . . ... . 13
I 'il(tli iO 1- O T ERREIRO .. .. . . . ..... . . . . ... ... .. ...... 19
I ljdtu lo 11 - 0 DRAMA ..... .. . ....... . .. .............. 43 A loucura da me-de-santo .. ... .... .. . .. . . .... .. .... . ... 47 A volta da me-de-santo ............ . ..... .. ...... . .. ... . 52 A demanda de Aparecida .. .. . .... ........ .... . .......... 55
A~ duas ordens .. ...... .... .. . ... ... .. ... . ... . .......... 59 A vlnda de velha Leda ...... . ... .. ............ . ..... . . ... 63 A pmva de fogo ou uma guerra de orix ......... .. ........ 67 1 l 1 istn a ............... . .... ...... .. ............... . .. 70 I ) drama: anlise . .... ... ..... . . .. . . .. .......... . .... . .. 77
I oq t(l tdo II I - Q UATRO PERSONAGENS DO D RAMA ..... .... ... 83 ~lil t io: o presidente ............ .. .... . ... .. . .. .. .... . ... 85 MMina: a primeira me-pequena .... .. ... . .... .. . . ..... .. 93 I 11d 1'0: o pai-de- santo ................... . ..... . . ... .. .. . 96 'fl lli:t:asegunda me-pequena ........ . . . ... ... . . ... .. . . 100 A11.1lisc: o cdigo do santo e o cdigo burocrtico .. ... .... . 103
I lj l(l li iO IV- RITUAL E CONFLITO: ANLISE SIMBLICA .... ... 111
1 ,.,, /tt .\cJcs . . . .. ... .... . .. . ... . ........ . ............ .. . .. 129 Nll/rl\, ... .................. . . ... . ... .... . ....... ..... 135 t ,f,,lll t io ... .. .... ........ .. ............................ 140 l't/r't ~11rins bibliogrficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 /', 11/rkio . . ....... . . ..... . ....... .... .. . . . .......... .. . .. 157
-
Prefcio 3 edio
lttli ,, N t l.~ anos depois de ter escrito Guerra de orix: um estudo de '111111/ r 1 oujlito, com o qual me iniciei como antroploga, posso dizer I"' 'lt t\
-
Guerra de orix
mesmo do surgimento desta onda mais reflexiva sobre o papel e a autoridade do antroplogo no campo, que influenciou o fazer da etnografia a partir do final da dcada de 1980, aproximei-me de Max Gluckman e Victor Turner para falar de verses dos acontecimentos que se estruturam e, com um olhar muito crtico, percebi a importn-cia de refletir sobre a presena e a posio do observador no drama e de seu papel no desenrolar da histria. Se tivesse que escrever este l ivro hoje, no poderia deixar de lanar mo da anlise de evento e estrutura de Marshall Sahlins em Ilhas de histria, para entender ain-da mais a estrutura da conjuntura e desvendar as verses do grupo sobre o lugar do observador neste drama.
Atravs da noo de "drama social" elaborada por Victor Turner, pude perceber a importncia dos acontecimentos que estavam se de-senrolando sem perder de vista que tais transformaes e sucesses de conflitos eram percebidas dentro de um contexto ritual e interpreta-das luz de cdigos prprios. Victor Turner foi guia neste estudo e pude, anos mais tarde, retribuir o privilgio de suas lies proporcio-nando a ele e a Edith Turner, sua esposa, uma visita a um dos terreiros por mim estudados no Rio de Janeiro.
Duas principais crticas foram levantadas e merecem ser discuti-das por terem produzido respostas que busquei aprofundar em traba-lhos posteriores.
A primeira e mais recorrente se refere ao fato de ser um estudo de caso. Apenas um terreiro estudado, segundo os crticos, no pode explicar a complexidade de uma religio. O caso estudado, um terrei-ro na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro e sua brevssima hist-ria, foi o palco por onde tentei desvendar as formas pelas quais o poder estruturado nesta instituio religiosa. Estudei assim em um terreiro e no o terreiro e segui trilhas que foram abertas por trs dos mais importantes estudiosos do tema e que mais marcaram minha trajetria neste campo de estudo: Nina Rodrigues em O animismo
J do santo e o cdigo burocrtico ao interpretar a guerra
11 111 h111, 11 demanda e o conflito que funda a histria descrita s I'" lvtIPtt mesmo necessria porque o ritual e a crena em questo 111 jl1ltl t' desta sociedade particular.
\11 lnnno dos anos que separam Guerra de orix de Medo do f IIII ' ' tlii'H segundo livro, busquei o fio da meada a partir destas
111 h ~ ~ -. Pol neste ltimo trabalho que encontrei a relao possvel IIII ' '~ ltl'tciros, entre os diversos segmentos da crena e tambm os
1 l ltlt I(IIWI qnc organizam as hierarquias dos terreiros construdas 111 ll dnli' JII t. Tentei entender as homologias entre a feitiaria e o uni-' 1!11 'li''' 1 humei de religies medinicas. Nos anos em que pesquisei
I 111 lt '" diversos e muitos processos criminais pude voltar a pensar, '' "'" I ltll'khcim, que, no Brasil, a religio o elo entre os vrios 1 '" 1 '" ~ ljll l' compem nossa sociedade e que as religies medinicas, , pt l tll ll\1\t'lll p essoas de todas as classes. Comparando a mediunida-f, , 1 l o l l l~ tll' ia daqui com a da antiga Rodsia, pude demonstrar que
1 .lt lt "'"~ns encontradas expressam de maneira muito particular a 1 lu. I ' til rc religio e relaes sociais. Em Medo do feitio aprofundei ' lf llllllt ld {ins apenas esboadas em Guerra de orix, como a univer-d 1 '\ 11 dn crena no esprito em nossa sociedade e as diversas for-
" ' ' dt t l\ 1\~cb~-lo. Foi naquele terreiro- Caboclo Serra Negra-I"' vivi I'''"' primeira vez a problemtica que hoje ocupa minhas ' '" I~~ dt l111bnlho: a importncia de "ter estudo" para aquele grupo e , 1, ' ' \''"' ot idiona entre brancos e negros na vida brasileira. Em meio '' IIII j , , ~ Hllt' l' l' f\S cm que deuses lutavam por homens e mulheres esco-
-
10 Guerra de orix
lhidos, vivenciei a tenso entre ter estudo e ser "bom no santo", c tambm entre ser um bom pai-de-santo e ser um estudante, inde-pendentemente de ser negro ou branco. Hoje meu esforo se volta para a pesquisa sobre educao e relaes raciais.
Guerra de orix foi portanto um livro de estria, mas constituiu-se tambm em um plano de vo da minha vida profissional.
Jorge Zahar, o grande editor brasileiro e amigo saudoso, acredi-tou e confiou naquela iniciante, e devo a ele o privilgio da oportuni-dade. Foi dele a coragem de lanar um trabalho que ia to contra a corrente da poca.
Rio de janeiro, maio de 2001
Prefci o 1 ~edio
l!stc trabalho foi apresentado como dissertao de mestrado no Pro-grama de Ps-Graduao em Antropologia Social da Diviso de An-tropologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Teve como ponto de partida a leitura crtica da !itera-Jura sobre cultos afro-brasileiros realizada no Brasil e na Universidade do Texas, Austin, Estados Unidos. A partir da leitura e anlise desse lll Oterial pude repensar alguns problemas que me levaram a procurar rcspostas atravs de um estudo de caso.
O trabalho de campo foi realizado em um terreiro de umbanda localizado no bairro do Andara (RJ), no perodo compreendido entre Jnnho e setembro d e 1972. Nesses quatro meses observei a vida deste tc:rreiro, desde sua inaugurao at seu fechamento. De setembro a outubro de 1972 acompanhei a t rajetria do grupo que se dispersou depo is do seu fim.
Quero agradecer ao Conselho Nacional de Pesquisas atravs do qual obtive bolsa para freqentar os cursos do Programa de Ps-Gra-11 ~ tao em Antropologia Social da Diviso de An tropologia do Museu Nacional da UFRJ, assim como para realizar o trabalho de campo.
Agradeo ainda Fundao Ford pela bolsa que me permitiu ll'~qentar a Universidade do Texas. Como special student no Depar-l,,rncnto de Antropologia dessa universidade tive oportunidade de l1cqentar cursos e manter contatos com professores e alunos, aper-lt'ioando minha perspectiva terica. Agradeo a todos eles, especial-lllC nte aos professores Richard N. Adams e Anthony Leeds.
Como professora do Departamento de Cincias Sociais do Insti-tuto de Filosofia e Cincias Sociais da UFRJ contei sempre com o apoio de meus colegas.
11
-
12 Guerra de orix
Agradeo aos professores, colegas e amigos do Programa de Ps Graduao em Antropologia Social do Museu Nacional da UFRJ. En fa tizo particularmente o apoio do prof. Roberto Cardoso de Oliveira, antigo diretor do Programa, e de seu atual diretor, meu orientador dr tese, prof. Roberto DaMatta. A este devo muito em termos de um contnuo e saudvel estmulo intelectual.
As crticas e sugestes da prof Francisca Schurig Vieira Keller t' do prof. Peter Fry, membros de minha banca, muito incentivaram :1 continuidade de meu trabalho.
Minha gratido falecida prof Marina So Paulo de Vasconccl los. Minha profissionalizao muito deve a seu incentivo e apoio.
Agradeo a meus irmos que, de vrias maneiras, me ajudaram a realizar este trabalho.
Este livro no teria sido realizado sem a cooperao e disposio dos mdiuns e clientes da Tenda Esprita Caboclo Serra Negra de me prestar informaes. Gostaria de agradecer a cada um em particular t' desculpar-me pela imperfeio deste livro. Seus nomes foram manti dos em sigilo e os aqui citados so fictcios.
Agradeo de forma particular a Gilberto Velho pelo carinho t' amor com que me ajudou e acompanhou durante todas as fases deste trabalho.
Introduo
Iemanj~ nossa me E Oxal~ nosso pai.
Eu vim aqui pedir a Jesus E Virgem Maria.
Nossa Senhora nossa me E Oxal nosso pai.
Eu vim aqui pedir a Jesus E Virgem Maria.
Estrela d'Alva nossa guia Que nos alumeia neste dia.
Eu vim aqui pedir a Jesus E Virgem Maria.
Ponto cantado* na abertura das sesses* de domingo
'" 1udn in iciei minhas leituras sobre o que se convencionou chamar 1. 11 li j\llks afro-brasileiras, fiquei impressionada com a continuidade
11 11 1 11cia com que eram tratados certos temas. Estes quase no " "'" 11 1111l desde o incio dos estudos sobre essas religies. Os proble-1" ' 1 ~~~i nterpretaes variavam pouco apesar da imensa bibliografia
I I IIl i' . As questes abordadas no mudavam devido s determi-11 "''' ~ ideolgicas dos autores. Foi necessrio fazer uma crtica da I 1. 1 .j, 1f\lll subjacente s afirmaes dos estudiosos que se dedicaram ', 1 II ' IIHI para tentar fazer novas perguntas que levassem a respostas t V ~ ~
t'u1 prime iro lugar, as religies afro-brasileiras foram sempre vis-1 1 1 11110 um fenmeno de sincretismo religioso no qual se encontra-
' 111 11 1 1 ~ os africanos associados a traos catlicos. A esse sincretismo 11 h 1 d loi acrescentada a mistura de traos do espiritismo kardecista
ttl lr11~os indgenas. O prprio nome genrico que foi escolhido 11 1 d1'110min-las expressa essa viso de uma religio sincretizada. lt n , pois tinham traos africanos. Brasileiras, pois apresentavam tra-' 111llicos, espritas e indgenas.
( I Vt ll ,\hulos assinalados com asterisco constam do Glossrio.
13
-
14 Guerra de orix
Em segundo lugar, esses traos foram associados a um maior ou menor grau de desenvolvimento ou de evoluo cultural. Assim, O~> traos de origem africana foram colocados no vrtice mais baixo da evoluo cultural, seguidos dos traos indgenas e dos traos catlico~ assimilados de forma primitiva. No vrtice mais elevado dessa evolu o cultural colocavam -se os traos espr itas.
De incio, por serem religies classificadas como primitivas, fel i chistas e mgicas, elas estariam, frente a outras religies, num estgio inferior da evoluo cultural. Os primeiros autores que procuraram dar uma abordagem cientfica a esse tipo de estudo colocaram ess~ primitivismo associado ao fato de serem religies de negros, "trans plantadas" para o Brasil na poca da escravido. Sendo seus membros negros, suas crenas deveriam ser condizentes com o estgio "primil i vo" e por que no " inferior" dessa raa. Mais tarde, com o aprimora menta das abordagens cientficas, o prim itivismo foi associado :h cam adas baixas da populao brasileira que, com forte contingcnll' negro, adotavam essas religies por no terem ainda alcanado esl6 gios m ais altos da evoluo cultural, a "civilizao': Mais recentemcn te, um outro tipo de associao foi feito. Esses traos foram associadm a uma maior ou menor adaptao ao meio de vida urbano. Aparc
-
._
{'
Guerra de orix
"I impo" e "aristocrtico". A frica est longe, os africanos so estran-geiros e isso lhes confere um outro status. Nesse sentido, na obra de dison Carneiro (Carneiro, 1948 e 1964), embora contendo esses mesmos pressupostos, mencionado o carter nacional dos cultos, a sua nacionalizao, o que uma perspectiva menos comprometida.
Na medida em que esses autores buscavam a explicao dos tra-i' os na sua origem, no conseguiram dar conta do prprio objeto que
se propunham a analisar, ou seja, o fenmeno do sincretismo. Num primeiro momento, viam os rituais sendo compostos de traos, peda-os, smbolos. No entanto, buscavam na frica a explicao desses pedaos. No perceberam que a relao entre essas partes que d sentido ao todo. Assim, no importava saber qual o significado de exu* na frica. Importava verificar o significado que lhe era dado pelas pessoas que praticavam esses rituais no Brasil e qual a relao entre esse trao- exu- e os demais.
Mas havia ainda uma outra problemtica que preocupava os au-tores, qual seja, o fato de essas religies terem surgido nos centros urbanos e suas ramificaes no meio rural serem muito menos ricas. Por que no meio urbano uma religio fetichista? Alguns autores res-ponderam que, por serem os membros desses cultos de origem rural, estariam tentando recriar no meio urbano os laos primrios nele perdidos. Mas, ainda assim, o problema no se resolvia e a podemos encontrar um dos tipos de contradio dessa perspectiva evolucionis-ta e de busca de africanismos.
Diante do que foi exposto quero dizer que no estou interessada no sincretismo, nem na origem dos traos, nem tampouco no primi-tivismo ou fetichismo dessas religies. No estou tambm vendo-as como religies negras. No estou, por outro lado, preocupada em dar uma explicao para esse fenmeno to abrangente e com tantas diferenas. No pretendo esgotar o estudo das religies chamadas de afro-brasileiras, nem de sua ramificao no Rio, a umbanda ou ma-cumba.
Meu objetivo neste trabalho muito restrito. Fiz um estudo de caso de um terreiro*, ou seja, um local de culto. Neste estudo de caso,
r minha preocupao bsica foi partir das informaes do universo pesquisado c tentar verificar como um grupo de pessoas vivia, numa poca deterrn inada, usando determinados rituais, smbolos e costu-mes. Num segund o momento, procurei interpretar o que estava sendo expresso atravs da hist ri a desse terreiro, de seus rituais e da exegese
, ,dos membros do grupo. Ou seja, pre tendia perceber a lgica que
Introduo 17
estava por trs desses rituais, dos smbolos e do discurso daqueles que os praticavam.
Minhas concluses sero, portanto, limitadas ao universo pesqui-sado. No estou com elas explicando todo o fenmeno da umbanda ou macumba no Rio de Janeiro. Mas, na medida em que este terreiro fazia parte de um universo maior de terreiros, minhas concluses talvez possam explicar terreiros que tenham uma equivalncia estru-tural com o caso estudado.
No primeiro captulo discuto algumas categorias-chave e descre-vo o terreiro e seus principais rituais.
No segundo captulo narro o "drama", ou a histria do terreiro, desde seu nascimento at sua morte. Procuro relatar no s os fatos ocorridos como tambm as verses deles apresentadas por cada membro do grupo.
No terceiro captulo descrevo quatro histrias de vida e a posio desses personagens no drama, tentando atravs delas entender por que tiveram essa posio e qual o seu significado.
O quarto captulo uma tentativa de anlise simblica de alguns aspectos do drama e de alguns rituais realizados. Aqui minha preocu-pao foi tentar verificar os modelos expressos pelos membros do grupo e quais as vises que, atravs desses modelos, tinham da socie-dade mais ampla.
-
CAPTULO I
O terreiro
Eu me perdi, meu pai Eu me perdi
L na mata da furema* eu me perdi. Fui procurar seu Serra Negra*
No achei e l na mata da Jurema Eu encontrei.
Eu me perdi, meu pai Eu me perdi.
Ponto cantado do caboclo Serra Negra, que deu nome ao terreiro
Neste captulo pretendo fazer a etnografia do terreiro Tenda* Esprita Caboclo Serra Negra e um breve relato de sua histria, assim como descrever os principais rituais realizados e a composio da clientela e dos mdiuns*.
Como parte dessa mesma etnografia, pretendo me localizar como observadora e, de certa forma, como participante dos fa tos ocorridos no curto perodo de vida deste terreiro. importante frisar que minha percepo do objeto de pesquisa aguou-se no momento em que compreendi que a relao observador e observado tambm faz parte desse objeto de pesquisa. Isso se d no nvel de interferncia do obser-vador na vida do observado, e sem a conscincia deste fato muitos dados importantes se perdem.
Fui apresentada aos membros do grupo estudado por seu presi-dente*, Mrio, meu aluno no curso de Cincias Sociais. Este aluno era mdium de um terreiro na Zona Norte e, freqentemente, convers-vamos sobre problemas relativos umbanda e sua participao nessa religio. Certo dia, disse-me que estava querendo abrir um terreiro com uma conhecida que era me-de-santo*. Passado algum tempo, convidou-me para assistir inaugurao do terreiro do qual seria presidente. Comecei, ento, a freqent- lo. Mesmo me definin-do como observadora, pesquisadora, antroploga, e talvez por isso mesmo, passei a ser tambm pea do drama. Meu primeiro contato tinha sido com o presidente, que fazia questo d e me apresentar como sua professora na universidade. Cada vez que um elemento novo me
19
-
20 Guerra de orix
era apresentado pelo pai-de-santo*, este pedia ao presidente para dizer quem eu era. "Ter estudo" era para o grupo um sinal de prest-gio, enfatizado pelo presidente, que era estudante universitrio. As-sim, no tive muitos problemas para ser aceita, pois logo se estabele-ceu um mecanismo atravs do qual aquele que me desse mais infor-maes ganhava um pouco de prestgio.
Mas ter estudo no era apenas um sinal de prestgio; tambm era sinal de ignorncia das "leis da umbanda"* ou da "lei espiritual"*, das "coisas do santo"*, como diziam. Eu mesma me definia como igno-rante no assunto, queria aprender com eles, saber como pensavam e o que significava tudo o que ali se passava. Essa problemtica ficar mais clara no decorrer do trabalho.
Senti tambm, por parte dos membros do terreiro, a necessidade de me classificar. Era uma pesquisadora e tinha estudo, mas queria aprender com eles. Freqentava todas as sesses, mas como observa-dora; no incio, no queria participar.
O pai-de-santo, logo no primeiro contato, terminou a conversa falando sobre vrios tipos de mdiuns, ressaltando o caso de um rapaz: "Era igual senhora", disse, "e conversava muito comigo. Me contou que estava l no interior de Minas e foi visitar um velho que morava numa casa pobre. Quando chegou na porta, antes de bater, o velho chamou ele e disse que sabia de tudo o que ele queria. Ensinou alguma coisa e disse que ele podia voltar pro Rio que ele ia ensinar tudo, ele em Minas e o rapaz aqui." Continuou dizendo que o rapaz, mesmo s estando estudando h seis meses, havia escrito um livro, e que agora trabalhava na Congregao Umbandista*, indo aos terrei-ros para ver se "tudo est feito de acordo com a lei*". Terminou dizendo: "Ele um cientfico, sabe de tudo mas no recebe*. Ele pode ver tudo, estar do seu lado num bar e saber sua vida. .. . existe ainda o mdium cientfico*."
Algum tempo depois, conversando com o pai-de-santo e a me-pequena*, depois de termos ouvido a gravao que eu havia feito numa sesso de domingo, esta perguntou-me: "Voc no quer 'traba-lhar'* aqui?" No entendi bem e ela insistiu, dizendo: "Voc no quer ser mdium aqui?" O pai-de-santo, que ouvia calado, olhou para a me-pequena e os dois comearam a rir. Resolvi no responder e ri tambm com eles.
Uma outra mdium, durante uma conversa, j havia me pergun-tado se eu no queria "trabalhar no santo"*. Um dia, possuda por seu
O terreiro 21
preto-velho*, chamou-me e pediu para colocar o charuto que fumava em minha boca com a brasa voltada para dentro. Relutei, mas insistiu e, ento, fiz o que tinha mandado - com muito medo, confesso. Devolvi-lhe o charuto e ela, abraando-me, disse: "Chuc* filha-de-f*, no queimou, vou proteg chuc e abri seus caminho*." Alguns dias depois o mesmo preto-velho me disse, meio rindo: "Chuc filha-de -curiosidade*, mas vai s filha-de-f."
Aps esses ensaios de classificao - mdium cientfico, filha-de-curiosidade, filha-de-f- no houve mais perguntas sobre o mo-tivo de minhas idas ao terreiro. Passado algum tempo, a me-pequena insistiu para que eu "entrasse de scia"*, contribuindo como os ou-tros para a manuteno do terreiro. De incio hesitei, mas depois resolvi contribuir e fui arrolada como scia da casa.
Antes de iniciar a descrio do terreiro e de seus rituais, farei um breve histrico e discutirei algumas categorias-chave. Farei, tambm, a des-crio da classificao dos deuses de sua relao com os mdiuns.
O terreiro foi inaugurado por um grupo de 14 mdiuns e algumas pessoas que, mesmo no sendo mdiuns, eram a eles ligadas. O grupo de mdiuns, embora participasse de outros terreiros, era unido por conhecer Maria Aparecida, que era me-de-santo. No tendo um ter-reiro, costumava "dar consulta"* nas casas das pessoas, inclusive des-ses mdiuns. Um dos mdiuns do grupo, Mrio, resolveu ceder sua casa para que Maria Aparecida pudesse dar consultas sem precisar se deslocar de casa em casa. Nesse perodo, que durou uns trs meses, o grupo manteve estreito contato e os que no se conheciam antes puderam ali se conhecer. Foi nessa poca que o grupo resolveu abrir um terreiro para ajudar a me-de-santo que era "excelente" mas mui-to pobre. Diziam tambm que no terreiro de origem no tinham "conhecimentos", enquanto no novo todos eram amigos.
O terreiro foi inaugurado e Mrio, locatrio da casa, assumiu o posto de presidente. Uns dez dias depois da inaugurao a me-de-santo "ficou maluca", como diziam, e foi internada em um hospital psiquitrico. Depois disso, os mdiuns resolveram chamar um pai-de-santo para substitu-la. Esse novo pai-de-santo s era conhecido por um casal do grupo original e, imediatamente, reiniciou os "traba-lhos"*. O terreiro teve um curto perodo de vida sob a chefia desse novo pai-de-santo, mas durante esse tempo houve intensa participa-o dos membros do grupo. Dedicavam muitos dias e noites ao terrei-
-
22 Guerra de orix
ro e alguns chegaram a largar seus empregos, enquanto outros de-monstravam cansao depois de um dia de trabalho e vrias noites sem dormir. Nesse perodo, surgiu nova crise, com o conflito entre o pai-de-santo e o presidente. O encaminhamento dessa crise levou ao fechamento definitivo do terreiro. Os membros se dispersaram e, passado algum tempo, a maioria dos mdiuns j se tinha integrado a outros terreiros. Essa histria ser narrada no prximo captulo.
Passarei agora a analisar algumas categorias, com o objetivo de verifi-car como so empregadas pelo grupo estudado. Existe na literatura sobre religies afro-brasileiras uma srie de definies do que seja, por exemplo, macumba, umbanda, quimbanda* e espiritismo* (Car-neiro, 1964; Bastide, 1960 e Ramos, 1956). Constatei, no decorrer da pesquisa, que essas categorias eram empregadas no terreiro estudado de uma forma que, num certo sentido, se distanciava das definies que eu conhecia.
No incio da pesquisa, minha primeira dificuldade foi a de classi-ficar o grupo em termos dessas definies. Cada vez que, numa con-versa, tentava usar um desses termos, sentia que as pessoas emprega-vam-nos de maneira distinta. Essa foi uma das ocasies em que pude perceber, claramente, dois sistemas de classificao distintos, o meu, como antroploga, e o dos membros do grupo.
Embora o nome do terreiro fosse Tenda Esprita Caboclo Serra Negra, o grupo dizia que o terreiro era "traado"*, umbanda com candombl. Alguns usavam o termo macumba para definir sua reli-gio- "estou na macumba". Outros usavam macumba ou macum-beiro* para definir algum que usava a magia negra*. Quimbanda era usada raramente e sempre no sentido de acusar algum de "trabalhar para o mal"*. Se eu perguntava, por exemplo, "Por que voc entrou para a umbanda?", a resposta vinha sem que fosse usado uma s vez esse termo. Comecei a reparar que quase no se falava em umbanda, ou espiritismo, ou macumba. Perguntei, ento, ao pai-de-santo qual era a diferena entre umbanda e macumba e esta foi a resposta: "Ma-cumba o instrumento dos santos, o tambor*, mas o povo fala macumbeiro para aquele que trabalha na umbanda*. Macumba o tambor, macumbeiro, o tocador."
No terreiro estudado, nunca ouvi algum definir outra pessoa como esprita ou umbandista, nem se definir com essas categorias. Falavam em pessoas que trabalham no santo e s usavam umbanda
O terreiro 23
para definir a religio em termos amplos - as leis da umbanda -assim como macumba. Sempre se referiam ao "trabalho no santo", "esse negcio de santo"*, "trabalhar no santo s no d dinheiro" etc.
Assim, umbanda, macumba e espiritismo eram raramente usa-dos e s no sentido de definir uma religio. 1 Quimbanda, o trabalho para o mal, s era usado para acusar algum, sendo que alguns po-diam tambm usar macumbeiro nesse mesmo sentido. A categoria usada para definir um grupo de mdiuns era o trabalho no santo. Esse trabalho se realizava nas sesses, "trabalhamos a noite inteira", e era definido como um ofcio. Um dia, um mdium, depois de ter se machucado numa sesso ao sair do transe, disse-me: "So os ossos do ofcio."
Mdium era aquele que trabalhava no santo e trabalhar no santo era um ofcio. Santo* era uma das denominaes dadas aos deuses ou espritos, que tambm eram chamados de guias*, orixs* e entida-des*. Existia uma classificao desses orixs, santos ou guias, da qual falarei adiante. O fato central, no entanto, era que esses orixs atua-vam "na terra*" atravs dos mdiuns. Cada mdium era cavalo* de vrios santos. Ou seja, atravs da possesso, os mdiuns se transfor-mavam em veculos, cavalos dos orixs, para que estes pudessem vir "fazer caridade na terra". 2
Trabalhar no santo era a expresso usada para definir o estado de possesso. Logo, o trabalho no santo expressa o aspecto central dos rituais de um banda, a possesso.
Os orixs eram classificados da seguinte forma: Oxal ou Zambi*: o orix maior. Esse orix no utilizava nenhum cavalo, apenas coman-dava os outros orixs, classificados em linhas*. Essas linhas eram categorias amplas que definiam como cada orix devia trabalhar, ou seja, que tipo de dana fazia, como deveria ser sua representao corporal, quais as suas cores, dias da semana etc.
As sete linhas de umbanda eram as seguintes: linha de Iemanj, linha de Xang*, linha de Oxosse* ou de caboclos*, linha de Ogum*, linha de pretos-velhos, linha de criana* e linha de exu*. Cada linha com seu chefe e seus subordinados era subdividida em sete falanges*, cada qual tambm com seu chefe e seus subordinados, todos subordi-nados aos chefes de linha. Existe, por exemplo, na linha de Iemanj, uma falange comandada por Ians* e outra por mame Oxum*, duas
-
24 Guerra de orix
outras entidades femininas. Dentro de cada linha existiam, portanto, orixs com vrios nomes, classificados dentro das falanges .
Cada linha era associada a um local, uma cor, um dia da semana e a determinados tipos de comida. Havia tambm a categoria orix cruzado*, que definia um mesmo o rix pertencente a duas linhas. Um caboclo podia ser cruzado com exu, e ele seria metade exu, metade caboclo, um dos lados sendo caboclo e o outro lado sendo exu. Ou ainda, um preto-velho poderia ser metade do ano preto-velho e a outra metade exu.
Essa era a classificao mais utilizada pelo grupo estudado, em-bora houvesse variaes mesmo dentro desse grupo. 3 Alm dessas linhas de umbanda, o grupo falava nas "naes do candombl"*. Existiam sete naes: queto, jeje, nag, angola, omoloc, cambinda e guin. Diziam que o terreiro era traado quando eram utilizadas as linhas de um banda e as naes do candombl. Dependendo da nao, o ritual seguia uma seqncia diferente, como por exemplo nas ses-ses de domingo.
Foi muito difcil recolher precisamente essa classificao, porque as pessoas falavam menos nas linhas e mais nos seus orixs. No importava dizer de que linha eram; falavam, por exemplo, "meu Xan-g'~ ou "meu preto-velho". Isso indicativo de que para os mdiuns desse grupo essa classificao ampla tinha pouca importncia para o ritual propriamente dito (Carneiro, 1964).
Cada mdium recebia pelo menos um orix feminino e um o rix masculino de cada linha. Podia receber mais, no entanto. Um mdium poderia escolher, dentre os orixs que recebia, aqueles com os quais fosse trabalhar mais. Ou seja, nem sempre recebiam todos os seus orixs.
No terreiro estudado havia ainda a classificao das entidades em duas categorias: os guias que davam consulta- pretos-velhos, exus e caboclos- e os guias que no davam consulta-das linhas de Xang, Ogum, Iemanj e criana. Havia vrios xangs, iemanjs, oguns e crianas, cada qual de um mdium. Estes ltimos orixs eram associa-dos a santos catlicos. Exus, pretos-velhos, caboclos, iemanjs, xan-gs, oguns e crianas eram os guias que usavam seus cavalos para trabalhar na terra, no terreiro.
Embora havendo diferenas de classificao dos orixs e diferen-as "doutrinrias"4 entre membros do terreiro estudado, o fato de trabalharem no santo os unia. Por exemplo, os mdiuns do terreiro
O terreiro 25
estudado faziam distino entre terreiros e centros de mesa*, embora vissem os mdiuns dos dois tipos como sendo pessoas que trabalha-vam no santo.
O grupo estudado classificava ainda os terreiros em duas catego-rias: terreiro de rua* e terreiro de morro*. O primeiro para definir terreiros em casas nos vrios bairros ou subrbios da cidade. O se-gundo, terreiros localizados nas favelas.
Meu objeto de estudo era um terreiro de rua, mas havia vrias categorias para design-lo. importante discuti-las pois, embora houvesse um sentido que as unia, dependendo da situao eram em-pregadas de maneiras diferentes. Tenda, terreiro, terra ou centro* eram categorias empregadas para designar a casa onde era realizada a maior parte dos rituais e, tambm, o grupo sob a chefia de um pai ou me-de-santo. Esse era o sentido que unia as quatro categorias.
Mas existiam diferenas no emprego de uma ou outra dessas categorias. Em primeiro lugar, centro e terreiro eram os mais usados pelos mdiuns. Essa diferena pode estar ligada s diferentes prove-nincias dos membros do grupo. Como a formao dos mdiuns se d no terreiro e como cada terreiro tem diferenas de linguagem, usar mais um do que outro pode significar uma diferena na socializao de cada mdium. Mesmo assim, no incio da pesquisa o grupo usava mais a categoria centro quando falava comigo, embora entre eles terreiro fosse o termo mais utilizado. No final da pesquisa, tambm usavam mais este ltimo termo quando se dirigiam a mim. Assim, parece-me que a categoria centro era mais empregada para falar com pessoas de fora, com pessoas que no pertenciam ao grupo.
Terra era mais usada quando os orixs falavam, como, por exem-plo, uma pomba-gira dizia: "Esta minha terra." Era tambm usada pelo pai-de-santo, no sentido de domnio: "Tenho trs terras." Ou pelos mdiuns para designar o domnio do pai-de-santo: "Ele (pai-de-santo) nunca poderia aceitar aquela terra como dele."
Tenda nunca foi usada, a no ser na porta da casa, em um pedao de papel escrito em letra de frma: "Tenda Esprita Caboclo Serra Negra': Nos pontos cantados s eram usados terra ou terreiro.
No decorrer do trabalho usarei sempre terreiro, pois era a catego-ria mais usada pelos membros do grupo quando falavam entre si. Ou seja, era uma categoria do grupo para o grupo.
Quero frisar que essas categorias (assim como o sistema de classi-ficao dos orixs) eram empregadas pelos membros do grupo cstu -
-
26 Guerra de orix
dado e que, portanto, no so, necessariamente, iguais s de outros grupos. Alm disso, muitos dos mdiuns eram novos no santo* e no conheciam bem as leis da umbanda. Porm, meu objetivo era partir das informaes deste grupo a fim de saber como pensavam e qual o significado que davam aos itens rituais e prpria doutrina da reli-gio que praticavam. No seria portanto lgico saber se estavam usan-do os termos ou se davam os significados "corretos': pois a teramos de nos perguntar: corretos em relao a qu? literatura sobre cultos afro-brasileiros? Aos livros escritos pelos membros mais "cultos" des-ses rituais? Se fizssemos isso, estaramos invertendo o trabalho do antroplogo que deve partir das formulaes do grupo estudado.
Passarei agora anlise da composio do grupo de mdiuns e da clientela e ao exame da hierarquia existente no terreiro.
O grupo que iniciou o terreiro era composto de 14 mdiuns (nove mulheres e cinco homens), todos ligados me-de-santo, Ma-ria Aparecida. Alm desses mdiuns havia ainda duas pessoas que ajudaram a abrir o terreiro e que estavam sempre presentes. Uma delas era marido de uma mdium e a outra, uma senhora amiga de Mrio, o presidente. Outro amigo de Mrio, um bancrio, ajudava o terreiro financeiramente, mas nunca comparecia.
Desse grupo inicial de mdiuns, cinco eram vizinhos - mora-vam na mesma rua. Dez haviam pertencido anteriormente a um mes-mo terreiro, sendo que dois desses faziam parte do grupo de vizinhos. Trs dos vizinhos freqentavam terreiros distintos e apenas um no freqentava terreiro algum. Todos eles, antes de abrirem o terreiro estudado, consultavam-se com a me-de-santo Maria Aparecida. A maioria do grupo havia freqentado o mesmo terreiro, alguns h muitos anos, mas nenhum tinha posio de destaque na hierarquia desse terreiro de origem, o terreiro da rua do Bispo.
Com o afastamento da me-de-santo, quatro pessoas do grupo original de fundadores saram do terreiro estudado e voltaram para o terreiro de origem. Mas com a vinda do novo pai-de-santo, sete novos mdiuns entraram- cinco do prprio bairro que, indo ao terreiro, resolveram ficar; um deles participava de um terreiro vizinho e dois eram conhecidos de um dos mdiuns do grupo inicial.
O terreiro passou, portanto, por trs fases na composio de seus mdiuns. A primeira com 14 mdiuns (nove mulheres e cinco ho-mens, sem incluir a me-de-santo). A segunda com 17 mdiuns (13
O terreiro 27
mulheres e quatro homens). A terceira com 15 mdiuns (12 mulheres e trs homens). Nestas duas ltimas fases havia ainda o pai-de-santo, Pedro. No total, desde a inaugurao, 22 mdiuns freqentaram a "Tenda Esprita Caboclo Serra Negra':
Os mdiuns tinham as seguintes ocupaes: estudante universit-rio, datilgrafo, camel, manicura, dobradora de roupa em tinturaria, vendedor, confeiteiro, boy, enfermeira e empregada domstica. A pri-meira me-de-santo vivia apenas do dinheiro das consultas dadas nas casas de pessoas conhecidas. O pai-de-santo era pedreiro em uma escola.
A clientela era composta, na sua maioria, por pessoas modestas do bairro: empregadas domsticas, donas-de-casa, motoristas de ni-bus, vendedores de loja etc. Havia uma parte bastante numerosa da clientela formada por familiares e amigos dos mdiuns. O terreiro era tambm freqentado por pessoas de posio social mais elevada, como, por exemplo, uma dona-de-casa de Copacabana, um portu-gus dono de loja e um despachante. Algumas delas chegavam de carro para consultar-se e outras raramente apareciam. A grande maioria dos clientes era composta de mulheres.
O grupo classificava a hierarquia que organizava o terreiro em duas categorias: a hierarquia espiritual* e a hierarquia material*. A hierarquia espiritual era composta dos seguintes postos pela ordem de importncia:
Pai ou Me-de-santo: chefe espiritual do terreiro, zelava pela uni-dade* e medi unidade* de seus filhos. O pai-de-santo era responsvel pelos mdiuns e pela clientela, ensinava as leis da umbanda, coman-dava as sesses e os trabalhos.
Me-pequena: auxiliar do pai-de-santo durante as sesses. Era responsvel pelo dinheiro recolhido nas consultas e pela compra de itens rituais, como velas, charutos, cigarros etc.
Samba*: auxiliar da me-pequena. Ajudava os clientes durante as consultas, anotando o que os guias prescreviam ou traduzindo algu-mas palavras por eles pronunciadas de maneira confusa.
Mdiuns: deviam obedincia aos postos superiores da hierarquia material e espiritual. Alguns mdiuns eram, s vezes, escolhidos para tomar conta da assistncia, no permitindo a entrada de pessoas al-coolizadas e auxiliando no que fosse preciso.
A hierarquia material era composta dos seguintes postos:
-
28 Guerra de orix
Presidente: chefe material do terreiro. Zelava pelos problemas que surgissem na casa, como pagamento de contas, arrumao, consertos de coisas quebradas etc. Tinha tambm de arrecadar dinheiro para o pagamento do aluguel, e era o locatrio da casa.
Scios: contribuam com uma mensalidade e auxiliavam o presi-dente. Todos os mdiuns eram scios e havia uma mensalidade estipu-lada para eles. Mas havia tambm outros scios que no eram mdiuns, dois deles eram mais prsperos e por isso contribuam com mais.
Embora os membros do grupo empregassem sempre essa classi-ficao em termos de hierarquia espiritual e material, havia certa ambigidade na delimitao das funes de cada um desses postos. O presidente, por exemplo, tambm zelava pelos mdiuns, verificando se chegavam na hora certa, e pela clientela, controlando a relao entre homens e mulheres na assistncia. Isso, de certa forma, entrava em choque com as atribuies do pai-de-santo.
Embora em todos os terreiros haja uma hierarquia, existem varia-es entre elas (Lapassade e Luz, 1972). No terreiro estudado no havia og*, funo preenchida por um scio, marido de uma das mdiuns. O novo pai-de-santo reclamava muito desse scio, pois di-zia que ele no sabia bater*. Algumas vezes era ele que ia at o ataba-que* e passava algum tempo tocando.
Os postos hierrquicos do terreiro estudado foram distribudos duas vezes: uma pela primeira me-de-santo, que escolhera Mrio para presidente, Marina para me-pequena e Carmen para samba, e outra pelo pai-de-santo que a sucedeu confirmando todos os postos, com exceo do lugar de me-pequena, para o qual escolheu Snia.
O terreiro estudado era filiado Congregao Esprita Umban-dista do Brasil- mbito Nacional. A me-de-santo, Maria Apareci-da, e o presidente, Mrio, fizeram a inscrio nesta congregao e seus nomes figuravam como responsveis pelo terreiro no certificado de funcionamento que a congregao concedeu ao terreiro. Tal filiao, no entanto, no significava que a congregao tivesse algum tipo de controle sobre o terreiro, que nunca foi visitado por nenhum membro dessa entidade, e os mdiuns no lhe deviam nenhuma obrigao. O certificado era, a meu ver, necessrio para legitimar o terreiro perante os rgos policiais.
O velho sobrado onde se localizava a Tenda Esprita Caboclo Serra Negra estava situado no final de uma rua importante do bairro do
O terreiro 29
Andara. A iluminao dessa parte da rua era precria e o quarteiro tinha vrios sobrados ocupados por lojas no primeiro andar. O se-gundo andar de alguns deles era habitado por famlias. noite, com a rua mal iluminada e apenas algumas luzes acesas nos sobrados vizi-nhos, o terreiro destoava, com o batuque dos tambores e a sala do gong* muito iluminada.
O primeiro andar do sobrado onde o terreiro estava instalado no era ocupado. Subindo-se por uma escada estreita chegava-se sala da assistncia*, relativamente pequena, com 4m de largura por 4m de comprimento. As paredes, pintadas de rosa, eram nuas, com apenas duas reprodues de Jesus Cristo e o certificado da Congregao pendurados. Quatro bancos de madeira, pintados de branco, ocupa-vam a sala inteira, deixando apenas uma passagem de circulao da cozinha para a sala do gong. Entre as duas ltimas fileiras de bancos havia um espao maior para permitir o acesso a um pequeno quarto que ficava em frente escada.
Quem entrasse na sala da assistncia, pela escada, via direita uma porta que dava para a cozinha e uma janela que se abria para uma pequena rea e, esquerda, a sala do gong. Nessa pequena rea, com cerca de 3m de largura por 3m de comprimento, havia a casa de exu* e a casa das almas*, dois pequenos barraces de madeira cobertos com folhas de zinco. A casa de exu, dos compadres*, era pintada de verme-lho, tendo lm de largura por l,Sm de comprimento e altura. A casa das almas, do "povo do cemitrio"*, era pintada de branco e ligeira-mente menor que a outra. Na casa de exu havia algumas imagens de cermica pintadas, como a de uma pomba-gira*- "a ciganinha* de Mrio': de seu Sete Encruza* e de exu Mangueira*. Esta ltima estava colocada na entrada do terreiro, num nicho logo perto da porta, e depois da vinda do novo pai-de-santo foi trazida para a casa de exu. Essas imagens eram compradas pelos prprios mdiuns e no com o dinheiro das consultas, como no caso dos outros itens rituais. Na casa das almas havia uma imagem de Obalua*, uma pequena cruz de madeira branca e sempre uma tigela com pipocas.
A sala da assistncia comunicava-se com a sala do gong atravs de dois arcos. A passagem se fazia por um dos arcos, onde existiam duas tbuas de madeira, de aproximadamente SOem de altura, presas de um lado e de outro do arco, permitindo a passagem para a sala do gong sem atrapalhar a viso da assistncia. O outro arco era tambm
-
30 Guerra de orix
fechado por duas tbuas flxas que impediam a passagem, mas permi-tiam a viso.
A sala do gong tinha cerca de 7m de comprimento por 3m de largura, estendendo-se perpendicularmente sala da assistncia. Seu teto era coberto por pequenas bandeiras de papel colorido. direita da porta, por onde se entrava nesta sala, ficava o gong e esquerda havia um banco reservado para os convidados "importan tes': Na pa-rede em frente porta de entrada havia duas janelas voltadas para a rua, permitindo a boa iluminao da sala. Debaixo da janela mais prxima do gong ficavam dois tambores, um pequeno e o utro maior, e dois bancos para os tocadores. Entre essas duas janelas havia uma porta que se abria para um pequeno balco.
Perto do gong ficavam uns sete bancos pequenos de madeira onde os mdiuns se sentavam para dar consulta. Esses bancos, tocos*, dispunham-se em dois semicrculos direita e esquerda do gong. esquerda deste tambm havia uma mesa mais baixa, construda de-pois da vinda do novo pai-de-santo. Em cima da m esa, antes das sesses, acendiam-se as velas e colocavam-se os copos com gua para os anjos da guarda* dos mdiuns. Antes da construo da mesa, as velas eram acesas no parapeito das janelas. Debaixo da mesa, coberta por um pano, guardava-se o dinheiro das consultas e diversos itens rituais: charutos, velas, pembas* etc.
O gong era uma mesa alta e larga com l m de altura e com cerca de 1m de comprimento por 60 cm de largura. Era coberta por um pano azul-claro sobre o qual se colocava outro de renda branca que descia at o cho. Acima dessa mesa havia duas prateleiras. Na primei-ra ficavam as imagens de Iemanj, Ians e mam e Oxum. Na segunda, vasos de flores e a imagem do Sagrado Corao de Jesus, de cermica, com os braos abertos e cados para baixo e com um corao verme-lho em alto-relevo. Em volta desse Cristo, o Oxal, havia um crculo d e pequenas lmpadas azuis. Em cima da mesa, do lado direito, uma imagem de seu Serra Negra, o caboclo que dava nome ao terreiro e, do lado esquerdo, uma imagem de so Jernimo, o Xang. Havia out ras imagens entre estas duas, como a de Nossa Senhora Aparecida, peque-na e de plstico, a de so Jorge em seu cavalo, o Ogum, tambm pequena, e ainda duas de pretos-velhos - Vov Lusa* e o Velho Caetano da Bahia*. Vov Lusa foi retirada depois, assim como uma pequena imagem de um exu menino*, preto e acocorado. Esse exu menino foi colocado perto da casa de exu, onde improvisaram uma
O terreiro 3 1
pequenina casa com dois tijolos cobertos por um papelo. O gong devia sempre ter uma luz acesa, mesmo durante a noite, quer de vela, quer luzes azuis, para "no deixar os santos no escuro': como me explicaram.
Na cozinha havia uma porta em frente a um pequeno banheiro e o utra que dava para a rea onde estavam as casas de exu e das almas. Havia problemas com a gua, pois canos e ralos estavam sempre entupidos. Com freqncia, a cozinha e a rea ficavam alagadas, obri-gando os mdiuns a passar muito tempo com uma lata e um balde para retirar a gua e usando arames para tentar desentupir os ralos. Sentia-se sempre um cheiro de gordura e de podre, pois a caixa de gordura ficava debaixo da pia e, s vezes, transbordava. Havia na cozinha um fogo, uma pia e uma mesa onde eram colocados copos, xcaras, caf e acar. Debaixo da mesa, coberta por um plstico at o cho, guardavam-se outros itens r ituais como incenso, carvo, dend, restos de velas e tambm alguns mantimentos.
O quartinho que ficava em frente escada tinha aproximadamen-te 3m de comprimento por l ,Sm de largura. Nele os mdiuns troca-vam de roupa, que penduravam em pregos na parede. Havia um tanque, que no era utilizado, e uma cama, sobrando pouco espao para as pessoas ali circularem . Nesse quarto dormia o pai-de-santo, que para l se mudou logo depois de ter assumido a chefia do terreiro.
O terreiro foi sendo modificado durante sua curta existncia. O cho, de incio sem cera, um dia foi raspado e encerado por alguns mdiuns. Os bancos de madeira foram substitudos por cadeiras, doa-das por um amigo do presidente; em nmero maior, permitiam que mais pessoas pudessem assistir s sesses sentadas. Novas imagens foram sendo compradas e uma pequena caixa de m adeira foi pendu-rada numa das paredes da sala da assistncia para que nela fosse depositado o dinheiro das consultas.
Havia uma grande flexibilidade no uso da casa e dos itens rituais. Quando chovia, a consulta dos exus se fazia dentro da sala do gong e no perto da casa de exu, como habitualmente. No tendo pemba de cor branca para "riscar os pontos"*, riscava-se com pemba de outra cor. No havendo nmero suficiente de velas, acendiam-se apenas uma ou duas para todos os anjos da guarda dos mdiuns e no uma para cada. Algumas vezes no se cobria o gong com o pano na "hora dos exus"*, como se fazia mais freqentemente. s vezes escalava-se um mdium para tomar conta da entrada, outras vezes no. No cn-
-
:12 Guerra de orix
tonto, apesar dessa flexbilidade, notava-se a preocupao em marcar, ritualmente, cada parte da casa: separando uma sala da outra, colo-cando os exus do lado de fora e procurando seguir sempre um mesmo padro nas seqncias das sesses. Uma das preocupaes do presi-dente e do pai-de-santo referia-se ao fato de que os bancos da assis-
t~ncia deveriam estar separados em dois grupos, um para homens e outro para mulheres, a fim de impedir "liberdades". Mas quando no havia espao, homens e mulheres misturavam-se na assistncia.
Os limites do terreiro no terminavam, no entanto, nesse sobra-do. A mata, a cachoeira, a praia, a encruzilhada e o cemitrio eram seus limites espaciais mximos. O grupo sob a chefia do pai-de-santo a realizava alguns rituais como sacrifcios denominados obrigaes*. Nesses locais, com exceo das encruzilhadas, eram tambm realiza-dos rituais em que os orixs desciam* em seus cavalos.5 Cada um desses lugares era associado a um grupo de orixs: a cachoeira a mame Oxum, a mata aos caboclos, a praia a Iemanj, a encruzilhada a exu e o cemitrio a Obalua. Durante a vida do terreiro quatro rituais foram efetuados nesses locais: antes da inaugurao, logo aps, depois do afastamento da me-de-santo e quando o conflito entre o pai-de-santo e o presidente se agravou.
Alguns itens rituais, depois de usados, no podiam ser lanados em qualquer lugar, porque, com o me explicaram, poderiam ser utili-zados por pessoas que quisessem fazer trabalhos contra o terreiro. Por isso, as pontas de charutos e de cigarros, restos de velas e a gua dos copos eram jogados na mata. Em analogia ao espao sagrado da mata um vaso de plantas, na sala da assistncia, era utilizado para depositar a gua.
No terreiro, propriamente, realizavam-se trs tipos de rituais distin-tos: as consultas, o desenvolvimento* e as sesses de domingo - a gira*. No houve nenhum ritual dedicado especialmente a um nico orix.
As consultas eram realizadas s segundas e sextas-feiras: segundas para caboclos e pretos-velhos; sextas para exus. As pessoas consul-tavam-se com os guias, no com os mdiuns. Nesses dias no se batia tambor e os mdiuns antes de comear a consulta iam at o gong, "batiam cabea"*, colocando a testa em cima da mesa e batendo levemente trs vezes, para a esquerda, direita e depois de frente. De-pois disso, concentravam-se*, uns de p em frente ao altar, outros
O terreiro 33
sentados nos tocos. A concentrao consistia em ficar alguns segun-dos em silncio para logo comear a entrar em transe. O tempo para iniciar o transe no era igual para todos - uns demoravam mais, outros menos. Tambm no ocorria da mesma forma: os que estavam sentados enrijeciam o corpo e comeavam a balan-lo para a frente e para trs, e os que ficavam em p enrijeciam tambm o corpo, mas tremiam da cabea aos ps at que o santo incorporasse*. Sentados ou em p, depois desse movimento surgia a figura do santo, logo reco-nhecida por ter caractersticas bem marcantes. O preto-velho, por exemplo, era uma figura encarquilhada, andando com dificuldade e falando muito atrapalhado. Depois que o santo incorporava, iam sen-tar-se nos tocos e iniciava-se a consulta.
Os clientes eram encaminhados para falar com os guias pela me-pequena, que antes recolhia o dinheiro do consulente, uma quantia de cinco cruzeiros para cada consulta. Os clientes entravam na sala do gong sem sapatos. Alguns faziam um cumprimento diante do gong, curvando ligeiramente o corpo para baixo e depois dirigiam-se ao guia com quem desejavam falar. Cumprimentavam o guia com o abrao ritual (encosta-se o ombro direito no ombro direito do m-dium e depois o esquerdo no esquerdo do mdium). Geralmente o guia iniciava a consulta perguntando como ia a pessoa e logo depois seu nome, quando no era conhecida. O cliente, ento, comeava a contar o problema que o levara consulta.
Nem todos os mdiuns incorporavam guias que davam consulta. Apenas Mrio, o presidente; Pedro, o pai-de-santo; Marina, Carmen, Manuel e d. Jandira. Mais tarde, a irm de Pedro, Josefa, passou tam-bm a poder dar consulta com seu preto-velho. As tcnicas usadas nas consultas por cada um dos guias dessas pessoas variavam.
O pai-de-santo jogava bzios*, s vezes incorporado, outras vezes no. Mrio, quando recebia sua pomba-gira, botava cartas* e lia a mo*. Os guias de Carmen apenas conversavam com os clientes e costumavam, mais do que os outros, descarregar* as pessoas, ou seja, afastar dela os maus fluidos. Costuma-se dizer que a pessoa est car-regada, quer dizer, com problemas causados por feitio, olho grande* ou pelos orixs e que precisam ser descarregadas. :B um ato de purifi-cao que o guia faz, passando a mo pelo corpo do cliente e puxando suas mos com fora para baixo. Marina costumava mandar os clien-tes guardarem a guimba de seus charutos ou, ento, fum-los, para abrir seus caminhos, isto , para melhorar a vida deles. Manuel rece-
-
I]
I li ti
I' I
I
34 Guerra de orix
bia uma preta-velha bastante procurada pelos clientes e prescrevia banhos de ervas* tambm para abrir os caminhos das pessoas. Os guias de d. Jandira tambm receitavam esses banhos.
Os clientes, muitas vezes, procuravam vrios guias num mesmo dia. Alm dessa clientela irregular, cada mdium tinha sua clientela fixa que, quanto maior fosse, maior prestgio lhe dava no terreiro e maiores, tambm, os comentrios sobre ele. Mrio e Manuel pos-suam maior nmero de clientes fixos, especialmente para consultar-se com a pomba-gira do primeiro e a preta-velha do segundo. Em mdia dez pessoas procuravam regularmente esses dois guias. Pedro, o pai-de-santo, tinha tambm uma clientela grande, mas alguns m-diuns tentavam desprestigi-lo, dizendo: " tudo gente da famlia dele." Isso significava uma importncia menor diante da clientela dos outros, que era composta de um nmero maior de no-parentes.
O incio da sesso de consultas era marcado para as 18 horas, mas sempre comeava mais tarde e terminava, s vezes, de madrugada. Era grande o nmero de pessoas que afluam ao terreiro nesses dias. Com freqncia os clientes j tinham ido embora mas os mdiuns conti-nuavam recebendo guias. O pai-de-santo, principalmente, dizia sem-pre ter passado a noite inteira trabalhando. Esses trabalhos eram feitos para resolver os problemas dos clientes, pois nem sempre era suficiente apenas prescrever-lhes obrigaes como acender velas nas encruzilhadas. Os guias tinham tambm de fazer outros trabalhos, dentro do terreiro, s vezes exigindo a presena do cliente, outras vezes no.
Os clientes contavam aos guias os mais variados problemas, rela-tivos a si mesmos ou a pessoas prximas. Em geral era difcil ouvir o que conversavam porque falavam baixo. Mas pude recolher uma pe-quena lista desses problemas: doenas; problemas com marido, mu-lher ou namorado; problemas de emprego (geralmente pessoas que estavam para conseguir um emprego novo ou uma promoo); pro-blemas com filhos (mes tentando impedir um namoro da filha ou tentando conseguir um marido ou namorado para ela) . Numa con-sulta que pude ouvir integralmente, uma empregada domstica falava sobre a acusao de roubo que lhe tinha sido feita na casa de seus patres. O pai-de-santo, jogando os bzios, indicou o possvel ladro, depois de ter perguntado sobre todas as pessoas que moravam na casa. A indicao era ambgua, pois o nome da pessoa no era dito. Mas a
O terreiro 35
empregada saiu dizendo: "Eu sabia que era ele." O pai-de-santo man-dou que a moa voltasse para fazer um trabalho que resolveria o caso.
Mas os clientes no levavam apenas problemas, muitas vezes vi-nham s conversar com os guias (geralmente pessoas que faziam parte da clientela fixa do mdium), ou levar presentes para eles. Ou-tras vezes, vinham tomar passe*, o guia apenas descarregava a pessoa, passando a mo pelo corpo.
As consultas, como as percebi, no eram uma conversa com um medicine man, como muitas vezes se disse. Os clientes no procura-vam os guias s para a cura de doenas e, quando o faziam, diziam que j "tinham corrido muitos mdicos e eles no tinham dado jeito': Havia, inclusive, uma classificao de doenas feita pelos guias e uma das classes de doena era "doena de mdico': Ao lado disso, os guias muitas vezes no receitavam nada, apenas conversavam e diziam coi-sas como: "Vou proteg voc" ou "Vou proteg seus caminhos': s vezes zombavam e riam dos clientes como, por exemplo, de uma senhora que, j mais velha, trazia problemas de namoro e o guia disse alto e rindo: "Imagine, ela s gosta de moo, velho no", fazendo a senhora rir tambm.
Observei que os guias mais procurados eram os pretos-velhos e pretas-velhas, exus e pombas-giras. Vi poucas vezes um caboclo dan-do consulta. Entre esses guias mais procurados estavam aqueles cujos cavalos eram homens e os guias femininos, como a pomba-gira de Mrio e a preta-velha de Manuel. A clientela destes ltimos era com-posta por um maior nmero de pessoas que no conheciam os cavalos e iam procurar os guias6
As consultas eram impressionantes por sua eficcia simblica e seria importante aprofundar mais o estudo desse tipo de ritual neste aspecto. Por que, por exemplo, essas figuras ambguas de Mrio e Manuel eram as mais procuradas? Como so manipulados os smbo-los? A meu ver existem dois nveis de anlise: um referente aos mode-los representados pelos guias e outro referente ao que dito pelo guia. Como so feitas as perguntas e como so dadas as respostas? Mas a complexidade do assunto exigiria um estudo parte, que no cabe no objeto que me propus analisar.
O segundo tipo de ritual realizado no terreiro era o desenvolvi-mento. O dia estipulado para o desenvolvimento era quarta-feira, de incio quinzenalmente, passando depois a ser realizado a cada semana e, no ltimo ms, voltando a ser quinzenal.
-
36 Guerra de orix
O desenvolvimento era uma aula, nas palavras do pai-de-santo, que iniciou uma delas dizendo: "Hoje dia de desenvolvimento. No s para desenvolver os guias. uma aula; para vocs saber riscar um ponto, saber o que um tambor, uma vela e pra que serve. pra vocs aprender as coisas da lei:'
Todos os mdiuns eram obrigados a comparecer nesse dia. O pai-de-santo iniciava os trabalhos fazendo uma breve preleo, quer dando uma explicao, quer repreendendo os mdiuns pelos erros cometidos na semana: atrasos, problemas de freqncia ou falta de responsabilidade. Os mdiuns ouviam sentados nos tocos ou em p. Depois, o pai-de-santo mandava comear a "bater" e os mdiuns, de p, formavam dois semicrculos, de um lado e de outro do altar, homens direita e mulheres esquerda. Comeavam a cantar os pontos dos orixs e os dois semicrculos transformavam-se em uma roda que ia girando, enquanto pouco a pouco os mdiuns entravam em transe. Iniciava-se, ento, o desenvolvimento dos guias, que con-sistia em fazer com que o mdium fosse controlando e dando forma a seus guias. O desenvolvimento dos guias era um exerccio que consis-tia em fazer com que o mdium, com os ps fixos no cho, controlasse o transe. Enquanto isso, o pai-de-santo gritava: "Firma*, firma ... " e dizia o nome do guia que estava sendo incorporado. O mdium ia controlando os movimentos do corpo e, ento, sem que casse no cho ou ficasse desequilibrado, ia-se delineando a figura de um guia.
Esses exerccios eram feitos com todos os mdiuns, mas especial-mente com os que estavam comeando - novos no santo. Muitas vezes o pai-de-santo pedia a um mdium j mais desenvolvido, e em estado de possesso, que ajudasse outro mais novo. O primeiro segu-rava as mos do segundo e gritava o nome do seu guia em seu ouvido.
Essas sesses demoravam muito tempo e muitas vezes um ou outro mdium "passava mal"*, exigindo cuidados especiais do pai-de-santo. Esse fato ocorreu mais vezes no ltimo ms de vida do terreiro, quando o conflito entre o pai-de-santo e o presidente se agravou. Passar mal no era visto como doena. O mdium podia desmaiar, vomitar etc., mas esses males eram provocados por feitio (coisa feita*), olho grande ou pelos prprios guias do mdium.
Num desses dias de desenvolvimento, vi um guia surgir. A m-dium que estava sendo desenvolvida era uma moa que quase nunca entrava em transe e cujos movimentos, quando isso acontecia, eram descoordenados, levando-a muitas vezes a cair no cho. Nesse dia,
O terreiro 37
enquanto o pai-de-santo ia dizendo "Firma': uma figura retorcida ia surgindo. A cabea meio virada para o lado, uma das mos para trs, a outra movimentando-se em forma de garra. Dava uivos e uma gargalhada estridente, e comeou a falar, ameaando de morte uma senhora da assistncia. Esta foi at a sala do gong e recebeu tambm um guia que comeou a falar uma lngua estranha com o guia que a ameaava. A outra parecia entender, pois respondia, sempre amea-ando "fazer passar"* o cavalo. Disseram-me depois que aquela figura era um exu de duas cabeas* e que a tal senhora - desconhecida da mdium - tinha-lhe prometido algo que no cumprira. A senhora, uma negra aparentando 35 anos, tinha um terreiro e era a primeira vez que ia ao Caboclo Serra Negra. Enquanto tal cena se passava, os outros mdiuns pareciam nervosos e agitavam-se de um lado para o outro. O pai-de-santo procurava acalmar o exu de duas cabeas que pela primeira vez descia naquela terra. O desenvolvimento parecia uma aula de preparao de ato r para que representasse bem um papel. Mas essa "aula" diferia da outra pela violncia simblica da repre-sentao dos atares. No eram papis que um ator de teatro repre-senta com certo distanciamento. Eram figuras, guias, que faziam parte ou eram parte do ator em causa, o cavalo.
O terceiro tipo de ritual realizado no terreiro era a sesso de domingo- a gira. Tais sesses eram dedicadas ao trabalho com todos os orixs, permitindo que todos viessem terra. Assim como o desen-volvimento, elas eram de incio quinzenais, passando depois a sema-nais e, no ltimo ms, novamente passaram a ser realizadas quinze-nalmente. Deviam comear s 16 horas, mas sempre comeavam mais tarde. Essas mudanas foram exigidas pelo pai-de-santo e estavam ligadas aos fatos que ocorriam no terreiro. No prximo captulo isso ser explicado.
A primeira sesso de domingo do terreiro foi realizada sob a chefia do novo pai-de-santo. Essas sesses seguiam um determinado encaminhamento que se manteve inalterado durante todo o tempo de vida do terreiro. Os mdiuns descreviam a sesso, dividindo-a em duas partes: a primeira chamada de "dar firmeza ao terreiro"* e a segunda que se relacionava com a "chamada dos orixs"*.
A firmeza do terreiro iniciava-se com o pai-de-santo riscando um ponto de Ogum debaixo do altar e outros dois pontos riscados* em dois cantos da sala da assistncia e da sala do gong. Os pontos risca-dos so as insgnias de cada o rix (o smbolo de cada o rix, como rnc
-
j
Jl
38 Guerra de orix
disse Mrio). Eram feitos da seguinte forma: traava-se um crculo com giz (a pemba) no cho, dentro do qual desenhavam-se sinais como cruzes, espadas etc. Em cima de cada ponto riscado eram colo-cados um copo com gua e uma vela. Riscavam-se ainda pontos na casa das almas e de exu e na porta de entrada do terreiro. Enquanto isso, os mdiuns acendiam suas velas ao lado de um copo com gua para seus anjos da guarda. Depois, vestidos de branco, ficavam "em forma"*, ou seja, dispostos em dois semicrculos, mulheres do lado esquerdo e homens do lado direito do gong. O pai-de-santo coloca-va-se de costas em frente a este, e a me-pequena a seu lado. O tambor comeava a tocar sob as ordens do pai-de-santo, que iniciava o ponto de defumao*. Enquanto isso a me-pequena ia com o defumador* purificando cada um dos mdiuns, o gong, os cantos das salas do gong e da assistncia (inclusive a porta que dava passagem de uma sala para a outra) a entrada da escada para a sala da assistncia, para a rea, a casa de exu e das almas, a porta que dava entrada para esta rea e a entrada do terreiro. Algumas vezes defumava, um por um, todos os assistentes, que deviam ficar de frente para o defumador com os braos abertos e voltados para baixo e depois dar-lhe as costas. Algu-mas pessoas, quando de frente, faziam um gesto como se estivessem lavando as mos na fumaa.
Cantava-se depois o ponto da encruza* enquanto a me-pequena fazia com uma pemba branca uma cruz nas palmas e nas costas das mos de cada mdium e algumas vezes de cada assistente. Entregava depois a pemba ao pai-de-santo. Este desenhava cruzes nas mos da me-pequena e nas suas, voltava-se para o altar e fazia uma genufle-xo, marcando ao mesmo tempo uma cruz no cho. Isto feito, era cantado o ponto de abertura da gira*, enquanto a me-pequena pega-va uma pemba e retirava um pedao que levava para a casa das almas, de exu e para a porta do terreiro. Em seguida os mdiuns ajoelhavam-se e com uma das mos no cho cantavam um ponto de louvor a Jesus e Virgem Maria e o tambor no tocava. Cantavam um ponto de abertura dos trabalhos*, salvando* Oxal, e ainda outro para pedir a so Jorge que firmasse o terreiro.
Passava-se ao ponto de bater cabea* e um por um os mdiuns deitavam-se em frente ao altar e batiam a cabea trs vezes no cho, para a direita, para a esquerda e para a frente. Levantavam-se e batiam mais trs vezes com a testa no gong, deitavam-se novamente (repe-tindo o gesto que fizeram diante do altar) diante da me-pequena e
O terreiro 39
depois em fren te ao pai-de-santo, os quais faziam um leve aceno mandando que se levantassem. Quando todos os mdiuns termina-vam esses gestos, a me-pequena fazia o mesmo. O pai-de-santo no se deitava em frente ao altar; batia apenas a testa no gong e depois ajoelhava-se diante dele e beijava o pano que o cobria. Ajoelhava-se novamente diante da mesa onde ficavam as velas para os anjos da guarda e beijava tambm a toalha que a cobria. Virava-se depois para os mdiuns e, diante de cada um, batia a mo trs vezes no cho em forma de cruz. Voltava-se, finalmente, para a assistncia e cumpri-mentava-a levantando os braos para cima com as palmas das mos viradas para a frente.
Iniciava-se ento a segunda parte da sesso, com a chamada de todos os orixs. Os mdiuns formavam um crculo que girava ao mesmo tempo em que eles danavam, rodando em torno de si mes-mos balanando os braos e batendo palmas. Havia uma ordem de chamada dos orixs: iniciava-se com os caboclos, seguidos de Ogum, exu, Xang, Iemanj, mame Oxum, pretos-velhos e, finalmente, crianas. Em cada uma das chamadas cantavam-se os pontos dos guias de todos os mdiuns, que iam, um a um, entrando em transe, recebendo seus guias. Quando terminavam todos os pontos dos cabo-clos, por exemplo, cantava-se o ponto de subida* de cada um deles e pouco a pouco os mdiuns iam saindo do transe. Assim se dava para todos os orixs: primeiro a chamada, depois a subida. A me-pequena geralmente puxava os pontos* e, quando um mdium comeava o transe, batia uma campainha e gritava o nome do guia do mdium, at que a possesso propriamente dita ocorresse.
A ordem da chamada dos orixs podia variar um pouco; mas sempre era iniciada com os caboclos. s vezes chamavam-se os exus, logo depois dos caboclos e depois, ento, os outros. Algumas vezes deixavam de chamar Xang ou Ians. Fazia-se, ento, uma pausa e os mdiuns iam para a sala da assistncia conversar com os amigos ou parentes que l estivessem. As mulheres iam para a cozinha e serviam caf, bolo ou sanduches para a assistncia. Essa pausa durava cerca de 20 minutos, quando a sesso era reiniciada.
Na hora da chamada dos exus, geralmente colocava-se um pano sobre as imagens do altar e ningum podia sair do terreiro. A sesso demorava mais na hora dos exus e pretos-velhos e nesse momento ficava mais "animada': Na hora das crianas, os meninos e as meninas da assistncia participavam, entrando na sala do gong, recebendo
-
40 Guerra de orix
bala e bolo dos guias. O terreiro ficava cheio de papel de bala e de pedaos de bolo. Quando chamavam Ogum, um dos mdiuns ia at o altar e riscava seu ponto.
A sesso terminava com todos os mdiuns batendo cabea, desta vez s em frente ao altar. O pai-de-santo, ento, os liberava.
Cada uma das entidades usava determinados objetos rituais: cha-rutos e cigarros de palha para os caboclos; cachimbo e vinho para os pretos-velhos e cachaa- marafo* - para os exus. As crianas be-biam guaran e algumas traziam chupetas, bonecas ou outros brin-quedos. As bebidas eram servidas no coit* e os mdiuns, incorpora-dos, iam s vezes at a assistncia oferecer sua bebida. Me-pequena e samba auxiliavam os mdiuns.
Cada entidade tinha uma representao corporal, voz ou gritos especficos. Os exus falavam palavro e as pombas-giras faziam gestos obscenos, masturbando-se ou chamando os homens. Os pretos-ve-lhos sentavam-se nos tocos ou andavam curvados. Ians e Iemanj ofereciam bebida em clices para a assistncia. Todos os orixs apre-sentavam suas danas especficas para a assistncia e cumprimenta-vam-na com o abrao ritual.
Esta era a ordem de seqncia dos trabalhos, mas as sesses de domingo nunca se realizavam sem que houvesse incidentes que sero narrados no prximo captulo.
Houve mudanas na atitude dos mdiuns e na prpria vivncia das sesses durante o perodo de vida do terreiro. Falarei sobre dois momentos bem marcantes. O primeiro, que vai do afastamento da me-de-santo at o incio do conflito entre o pai-de-santo e o presi-dente e o segundo, dai at a ltima sesso de domingo.
Durante o primeiro perodo, os mdiuns realizavam as sesses em ambiente de euforia. Todos chegavam cedo no terreiro e a sesso estendia-se noite adentro. A me-pequena, quando tocava a campai-nha perto do mdium que iniciava o transe, sorria para ele. Os orixs cumprimentavam a assistncia muitas vezes, levantando os braos e abraando um ou outro cliente. Quando abraavam diziam frases como: "Vou proteg chuc" ou "Chuc formosa': ou ainda "Chuc vai bem?" Ofereciam bebidas aos clientes e havia maior movimenta-o dos mdiuns incorporados entrando e saindo da sala do gong.
Havia consulta na hora dos exus, pretos-velhos e caboclos. Esta hora era ao mesmo tempo tensa e confusa. Os mdiuns possudos iam para perto da casa de exu e davam consulta. Alguns assistentes logo se
O terreiro 41
encaminhavam seguros, outros iam devagar com uma expresso de medo e espanto. Principalmente, na hora dos dois primeiros o terrei-ro ficava em rebulio, com pessoas entrando c saindo da sala do gong. Como tinham de tirar os sapatos para entrar nesta sala, ficava difcil a passagem com tantos pares de sapatos amontoados perto da porta. Os exus falavam alto, dizendo palavres e os clientes apenas riam, sem se importar, pois eram os guias que estavam falando. Nessa hora, s o tambor tocava e um ou outro mdium que ainda no recebia cantava os pontos7. Os clientes levavam presentes para os guias e estes conversavam longamente com eles sem se preocupar com o tempo.
O nico mdium que passava mal era a primeira me-pequena e era sempre ajudada por seus pares. Algumas pessoas da assistncia, principalmente mulheres, entravam num transe desordenado e os mdiuns iam at elas e levavam-nas para a sala do gong, onde o pai-de-santo as ajudava a sair do transe ou a receber o guia. s vezes aparecia um bbado- era proibida a entrada de pessoas alcoolizadas no terreiro - e a sesso custava a terminar, pois tinham de fazer trabalhos para limpar a casa*.
Todos os mdiuns tinham o mesmo papel na sesso, ou seja, recebiam, danavam e davam consulta. Os pontos para os guias de cada mdium no seguiam a ordem de importncia na hierarquia, dependiam da vontade da me-pequena ou do pai-de-santo8. Este, mesmo estando incorporado, dirigia a sesso mandando cantar os pontos, dizendo a hora em que os orixs deviam subir* e resolvendo os problemas que surgiam. Recebia muitos orixs e gostava de bater o tambor quando percebia que o ritmo do og improvisado estava atrapalhando os trabalhos. No intervalo para descanso havia muita conversa, no s entre os mdiuns como entre eles e as pessoas da assistncia.
No segundo perodo, como o presidente exigira que as sesses terminassem mais cedo, no se permitiam mais consultas. Assim, a participao da assistncia no ritual diminuiu. Os cumprimentos e oferecimentos das bebidas aos clientes tambm diminuram. O pai-de-santo passou a receber apenas seu preto-velho e houve sesses em que no recebeu nem este. Os mdiuns tinham mais dificuldade de entrar em transe e muitos passavam mal, inclusive o pai-de-santo. A me-pequena no sorria mais para chamar os guias dos mdiuns no incio do transe e ela mesma no incorporava mais nenhum guia . Os
-
42 Guerra de or ix
mdiuns comearam a demorar para chegar no terreiro e muitos comearam a faltar s sesses.
A diferena fundamental, no entanto, foi a mudana do papel do presidente nas sesses. No era mais um dos md.iun~, o?edecendo s ordens do pai-de-santo; passou a ficar a sesso mtetra mcorporado, com sua pomba-gira, para segurar a gira, distinguindo-se, por:a~to, dos outros mdiuns. Essa mudana ficar mais clara no proximO capitulo. . ,
Minha prpria participao nesses d01s penados so~reu algumas alteraes. Na primeira sesso de domingo, algu~s .mdmns me pe~guntaram se eu no queria me consultar. No aceitei, pensando par_tl-cipar apenas como observadora. Mas isso no durou nem essa sessao. Quase no final 0 pai-de-santo, incorporado com seu preto-velho, chamou-me para a sala do gong. Tirei os sapatos, como os outros assistentes, e fui at ele. Abraou-me como fazia com todos, olhou-me nos olhos e disse: "Algum est com olho grande na senhora ... Sabe o que olho grande? pior que um feitio:' Perguntou-me se eu acre~ ditava "no deus da Igreja" e respondi que no. " crente?".R.~spondl negativamente e disse que no acreditava em nenhuma rehg!ao,.mas respeitava todas. Disse ele ento: "Respeita? Ento v a uma tgreJa de so Jorge e quando o padre tiver rezando, pea a Deus que abra seus caminhos." Mandou que eu voltasse no dia seguinte para fazer ~~a consulta com ele. Com isso no deixou que eu ficasse numa pos1a? diferente do restante das pessoas e mostrou que, com seus co~hectmentos, podia saber muito a meu respeito, colocando-me, asstm, na sua dependncia, mandando que eu voltasse para a consulta. Eu era pesquisadora, tinha estudo, mas ele sabia as coisas do santo e, portan-to, sabia coisas que eu no podia saber. ,
Na sesso seguinte chamou-me para bater cabea como os me-diuns e sentar no banco reservado a pessoas importantes. Deu-me uma flor de um vaso do gong e pediu desculpas por no ter podido me dar ateno. .
Esses dois fatos fizeram-me ver que impossvel estar num terrei-ro, durante a sesso de domingo, e no ser, de uma forma ou de outra, um participante. .
No segundo perodo, no tive essas atenes, mas mesmo asstm no deixei de participar, como os outros assistentes, recebendo abra-os, saudaes e descargas.
CAPfTULO 11
O drama
Ogum olha sua bandeira. Oh, ela branca verde encarnada.
Ogum nos campos de batalha, Ogum venceu a guerra
Sem perder soldado. Ponto cantado de Ogum, o vencedor de demanda*
Meu objetivo, neste capitulo, descrever o nascimento, a vida e a morte da Tenda Espirita Caboclo Serra Negra. No decorrer da pesqui-sa fui percebendo que as crises, os conflitos e os incidentes que ocor-riam no terreiro seguiam certo padro de desenvolvimento. Nada acontecia por acaso, mas era difcil a tarefa de analisar e entender como e por que aconteciam. Os estudos existentes sobre terreiros se preocupam mais com a funo integradora da religio e menos com seus aspectos de conflito. Descrevem rituais, buscam suas origens remotas e relatam uma histria das religies afro-brasileiras num largo perodo de tempo. Minha preocupao era diferente; estava querendo perceber a vida de um terreiro, como era vivido seu cotidia-no. Tive a oportunidade de seguir passo a passo seu ciclo de desenvol-vimento. Seria impossvel tentar descrever estaticamente os fatos, pois as descontinuidades, as crises e os conflitos saltavam aos olhos do pesquisador.
Uma preocupao semelhante pode ser encontrada na obra Schism and Continuity in an African Society (Turner, 1964), quando elaborado o conceito de "drama social': pretendendo compreender os distrbios e crises que ocorriam na vida social dos grupos estudados. Turner detectou um padro de desenvolvimento nas erupes dos conflitos e deu a eles o nome de dramas sociais. Para o autor os dramas sociais tm uma lgica processual.
Segundo Turner, atravs do drama social
pode-se algumas vezes ir alm da superfcie de regularidades sociais c perceber as contradies e conflitos ocultos no sistema social. Os tipos
43
-
I[
44 Guerra de orix
de mecanismos corretivos empregados para lidar com o conflito, o pa-dro de luta faccionalista e as fontes de iniciativa para acabar com a crise, todos claramente manifestados no drama social, fornecem pistas valio-sas sobre o carter do sistema social." (Turner, 1964, p.xvii)
O autor aplicou o conceito no estudo de uma aldeia ndembu, uma sociedade de pequena escala, em que o sistema de parentesco prov um modelo para a anlise das regularidad~s do siste~a estud~do. Ao lado disso, os limites e fronteiras nesse tlpo de soCiedade sao mais bem definidos e , portanto, possvel estabelecer cortes mais precisos para efeito de anlise. . .
Pretendi usar esse conceito na anlise do nasCimento, vtda e mor-te do terreiro, mas houve alguns problemas que dificultaram a sua aplicao. O primeiro problema da anlise de drama social n? caso estudado refere-se ao fato de o terreiro estar inserido numa soctedade urbana, complexa, sendo mais difcil estabelecer suas fronteiras. O grupo que faz parte de um terreiro no tem, necessariamente, o me~mo tipo de experincia de vida. Existe, portanto, menor homogen~tdade no caso do que numa aldeia ndembu. Os membros do grupo nao viviam apenas no terreiro, participavam de outras atividades, usavam vrios cdigos e vivenciavam, muitas vezes de forma diferente, um mesmo tipo de ritual. Ao lado disso, o sistema de paren:esco n~o servia de referencial como no caso estudado por Turner. Fot necessa-rio lanar mo de outros tipos de referenciais, como por exem~l~ o sistema de estratificao social mais amplo, verificando as postoes dos mdiuns e da clientela.
Mas acho que a aplicao do conceito foi frutfera no sentido de verificar um padro estrutural nas crises ocorridas. Essas crises desen-volveram-se regularmente, tendo sido possvel, de certa forma, en-contrar nelas uma lgica processual. Meu objetivo no foi, no entanto, o de explicar, atravs dessa lgica, todo o universo de grupos ~ue participam da vida de terreiros. Pretendi apenas alcanar um~ lgtca para esse caso, que poderia, talvez, ser encontrada em terretros de estrutura equivalente.
Mas o drama social, alm de ser um instrumento terico, serve de guia para a prpria descrio etnogrfica de um sistema em funcion~mento. Nessa descrio parte-se no apenas da observao do pesqm-sador, mas das verses que os membros do grupo do aos fatos ocor-ridos. Como diz Gluckman, no prefcio monografia de Turner, o
O drama 4 5
drama uma nova forma de ilustrar como um grupo de pessoas vive num tempo e num determinado lugar dentro de uma estrutura social e usando seus costumes (in Turner, 1964, p.x).
No caso estudado, a crise surgiu no momento em que um grupo de mdiuns abandonou um terreiro e, com outros, criou um novo. A abertura do terreiro j implicava a quebra de uma norma fundamen-tal que regulava a relao entre mdiuns e pai ou me-de-santo. Os mdiuns devem obedincia ao pai ou me-de-santo e atravs disso que um terreiro se mantm. A crise se prolongou com a loucura da me-de-santo que abrira o novo terreiro e estendeu-se com a luta pela sucesso, atravs do conflito entre o pai-de-santo e o presidente. Essa crise foi expressa no sistema em questo atravs de uma categoria que se revelou de fundamental importncia para sua compreenso: a de-manda.
"Demanda uma guerra de orix, uma briga de santo, uma batalha. Essa guerra, no entanto, era acionada pelos homens. Se a gente demanda, a gente pede uma coisa (aos orixs) e sabe o que . Ns (os mdiuns) sabemos como trabalhar para acabar com uma demanda." Assim disse o pai-de-santo quando me explicou o que era demanda. O significado da demanda para os membros do terreiro era este. A demanda era uma guerra de orix, mas tal guerra estabelecia-se a partir dos homens. Um mdium que tinha uma desavena ou uma questo com outro mdium mobilizava seus orixs atravs de traba-lhos, a fim de que estes causassem algum mal a seu oponente. O mdium atacado mobilizava ento seus orixs para defend-lo. Assim estabelecia-se a guerra entre os orixs de cada um dos dois mdiuns. Cada qual tentando desmanchar, anular os trabalhos feitos* pelos orixs oponentes. Um desses orixs vencia, e o vencedor era o orix mais forte, aquele que conseguira proteger melhor seu cavalo.
"Demanda uma coisa muito perigosa ... pode haver at morte': como me explicaram. Poderia ser estabelecida entre mdiuns, entre uma me ou pai-de-santo e seus filhos, ou entre terreiros. "Uma pessoa que t nova assim no santo, que no tem preparos ainda, ela no sabe o que demanda ... s eles (os pais ou mes-de-santo) quem sabe. Como uma me-de-santo sabe tudo sobre seus filhos, pode fazer muita coisa." Ou seja, aquele que dominasse m elhor as tcnicas rituais teria mais possibilidade de fazer com que seus orixs vencessem. Saberia demandar, fazer trabalhos, por conhecer mais a
-
r
. iY ~- v
,v , ~
Guerra de orix
lei. Mas um mdium que estivesse em demanda poderia pedir auxlio a um outro pai ou me-de-santo, a fim de poder vencer o oponente.
A categoria demanda definia uma prtica mgica 1, ou seja, o processo de demandar. Esse processo era sempre iniciado com uma acusao. Acusava-se um filho- de-santo* de estar demandando con-tra sua me-de-santo, por exemplo. Comeava, a partir da, a guerra entre os orixs de cada uma das duas pessoas. A me-de-santo fazia trabalhos para ocasionar algum mal a seu filho. Estes trabalhos pode-riam ser de vrios tipos mas consistiam, basicamente, em oferendas, fei tas a um orix (geralmente um exu), atravs das quais se fazia o pedido. O acusado lanava mo de seus orixs para defender-se, fa-zendo tambm oferendas. Quando duas pessoas estavam em deman-da, o maior perigo era o de os orixs de uma delas conseguirem prender as linhas* de algum orix da outra. Para isso era necessrio que o mdium conhecesse as linhas dos orixs do oponente. A linha, como j foi dito, marca como o orix deve trabalhar, a sua origem*. Prendendo-se a linha de um orix, este no poderia mais trabalhar para proteger seu cavalo. O orix em causa ficaria preso, imobilizado, e no incorporaria mais em seu cavalo. Desse modo, o cavalo ficaria sem sua proteo, podendo ser levado loucura ou morte. Esse era o maior perigo de uma demanda e os mdiuns afirmavam que tinham medo de ter seus guias presos.
,,
No momento em que um mdium perde o contato com um de seus guias, ou com vrios deles, perde sua identidade, como pessoa. A identidade do mdium constri-se atravs de sua relao com seus orixs e por isso que teme que seus guias fiquem presos.
Um dos mdiuns do terreiro estudado, que teve seus guias presos, contou-me um dia: "Recebi meu preto-velho na sexta-feira, e ele disse pra eu no ter mais medo, que ele ia me proteger da demanda .... Acordei de outro jeito, aliviada. Finalmente encontrei o meu eu." Quando o mdium conseguiu reaver o contato com seu preto-velho pde encontrar seu eu, sua identidade. Os diversos guias do mdium so como uma mscara social, no sentido clssico dado por Marcel Mauss (1950). A mscara revela os diversos papis sociais assumidos pelo mdium, ou seja, a persona. Essa mscara dada pela posio do mdium no ritual e tal posio passa a ser dominante em sua vida.
A categoria demanda ser analisada mais profundamente no de-correr do trabalho. Por enquanto pretendi descrever as formulaes que o grupo expressava sobre ela e como se processava o ato de
O drama II I
demandar. Sem esses primeiros esclarecimentos seria difcil mostrar como a crise ocorrida no terreiro foi expressa atravs da "demanda: uma guerra de orix':
Durante a vida do terreiro houve constantes acusaes a pessoas ou grupos. De incio, a acusao incidiu sobre o terreiro da rua do Bispo. Em seguida, a me-de-santo acusou a me-pequena de estar demandando contra ela. Depois que a me-de-santo ficou maluca e foi afastada, a acusao recaiu na sua me-de-santo. Quando a pri-meira me-de-santo saiu do hospital, foi acusada de estar demandan-do contra o terreiro por ter sido afastada. O novo pai-de-santo foi acusado de ter uma demanda com sua me-de-santo. Finalmente, o pai-de-santo classificou a luta final entre seu preto-velho e o preto-ve-lho do presidente de guerra de o rix.
Assim, de um lado temos a crise iniciada com a abertura do novo terreiro e, de outro, uma expresso dessa crise, pondo em relevo uma categoria do sistema de representaes do grupo. A demanda estava relacionada com o sistema ritual do grupo, pois definia uma prtica mgica que expressava a crise gerada no terreiro.
Os fatos que passo a narrar so aqueles enfatizados pelo prprio grupo, atravs das entrevistas, depoimentos e observaes. Ao lado desses fatos, exponho tambm as diversas verses dadas sobre suas causas e conseqncias.
A LOUCURA DA M E-DE-SANTO
Domingo, 25 de junho de 1972: Nesse dia houve a cerimnia de inaugurao do terreiro. A casa estava cheia, com muitos assistentes, sendo alguns deles colegas de Mrio. A me-de-santo, Maria Aparecida, uma senhora negra, fumando um charuto e com olhos enormes, presidia os trabalhos. Mandava cantar os pontos e recebia vrios orixs. O ritual da inaugurao tinha a mesma seqncia da sesses de domingo, mas no havia consulta. No dia anterior tinha havido o ritual de assentamento* do terreiro, do qual no participei.
A primeira vez que tive contato com o grupo foi nesse domingo. Foi tambm nesse dia, ao sair, que decidi acompanhar a vida de um terreiro que comeava. Ainda no entendia muito bem o que se pass~ -
-
48 Guerra de orix
va, pa rccia meio cega; s pouco a pouco, no decorrer da pesquisa, pude reconstituir o que tinha sido essa cerimnia. Minhas impresses no dia da inaugurao eram ambguas. s vezes sentia-me como num teatro, vendo um espetculo dramtico, catrtico, agressivo, pois vez por outra os mdiuns possudos diziam palavres. Mas ao mesmo tempo tinha a impresso de que no eram homens que via e sim deuses na terra, to marcadas eram as expresses corporais dos a tores. Minha confuso aumentou quando vi um aluno meu, que assistia cerimnia, "cair no santo"*. Era um transe desordenado e os m-diuns, imediatamente, ajudaram-no. Seria a primeira vez que isso lhe acontecia? Tive medo, mas ao mesmo tempo tal fato incentivou-me a prosseguir com a pesquisa. Se essa experincia cultural, qual assistia como observadora, era uma escolha entre as limitadas opes cultu-rais, talvez eu, como qualquer um daqueles mdiuns, pudesse entrar em transe e ser um cavalo dos deuses. Depois dessa primeira impres-so pude reconstituir os fatos.
Aquela m e-de-santo, Maria Aparecida, era a responsvel pelo terreiro. Disse-me uma mdium: "O terreiro era dela." O nome da casa foi dado por ela e o caboclo Serra Negra era um de seus guias. O exu que ficava num nicho perto da porta de entrada era tambm seu exu- o exu Mangueira. As imagens que ficavam no altar eram dela e, como j disse, o grupo inicial de mdiuns que organizou o terreiro fazia parte de sua clientela. Ela era "excelente", "conhecia muito bem a lei" e era "muito boa no santo"*, segundo o grupo. Tinha uma grande ascendncia sobre as pessoas no s porque sua ligao com elas vinha de anos mas porque sua preta-velha, vov Maria Conga*, j tinha auxiliado todos os mdiuns do grupo atravs de consultas. Sempre que falavam de Aparecida, falavam na "vov" e enfatizavam o auxlio qu e dela tinham recebido. Um dos m diuns prometera-lhe que iria trabalhar no santo com seu cavalo, ou seja, a me-de-santo Maria Aparecida.
Sexta-feira, 30 de junho: Passara-se quase uma semana da inaugurao. A me-de-santo esti-pulara para esse dia um trabalho no cemitrio. Uma obrigao, ou seja, um ritual atravs do qual so feitas oferendas aos orixs, levan-do-se suas comidas e bebidas ao local onde eles reinam. O cemitrio o local do povo do cemitrio, cujo chefe Obalua - associado a "so
O drama
Lzaro. Quando chegaram ao cemitrio havia um grupo de mdiuns de um terreiro que no conheciam. Os dois grupos pretendiam "ar-riar obrigao"* no mesmo local e iniciou-se por isso uma briga cnlrc eles. Os mdiuns estavam incorporados e a primeira me-pequena, Marina, com seu exu, comeou a brigar com um mdium do o utro terreiro que acusou-a de estar traindo sua me-de-santo, demandan-do contra a me-de-santo para que esta sasse do terreiro. Saram do cemitrio e foram para a Tenda Caboclo Serra Negra. Chegando l, a me-de-santo pegou Marina pelos braos e jogou-a para fora da casa. Agarrou outra mdium, comeou a chut-la, mandando depois todos os outros m diuns embora, ficando no terreiro apenas o presidente e dois ou trs mdiuns.
Segunda-feira, 3 de julho: A me-de-santo reuniu os mdiuns no terreiro. Quando chegaram, encontraram moedas espalhadas por todos os lados, na casa de exu, na sala do gong e da assistncia, e muitos pontos riscados. A me-de-santo afirmava que as moedas e os pontos riscados eram parte de um trabalho que Marina estava fazendo contra ela. Era dia de consulta no terreiro e os mdiuns comearam a limpar e


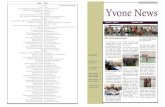
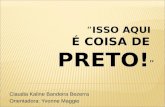


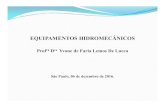


![[XLS]download.uol.com.brdownload.uol.com.br/fernandorodrigues/a-z-arquivos_da... · Web viewYVAN PEREIRA RANGEL YVES SEGAL YVONE COELHO GOMES YVONE DIAS AVELINO ZïÉLIO SABINO BARBOSA](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5ae74fb37f8b9a3d3b8e5f33/xls-viewyvan-pereira-rangel-yves-segal-yvone-coelho-gomes-yvone-dias-avelino-zlio.jpg)