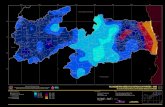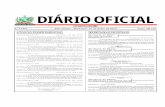1622-23-PB
-
Upload
anonymous-cf1sgnntbj -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
description
Transcript of 1622-23-PB
-
ISSN 1981-7126
msica em perspectiva
REVISTA DO PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM MSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARAN
volume 6 nmero 1 julho de 2013
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARAN DEPARTAMENTO DE ARTES
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM MSICA Reitor Zaki Akel Sobrinho
Diretora do Setor de Artes, Comunicao e Design Dalton Razera
Chefe do Departamento de Artes Maurcio Soares Dottori
Coordenador do Curso de Msica Hugo de Souza Mello
Coordenador do Curso de Ps-Graduao em Msica Silvana Scarinci
Editores chefes Rosane Cardoso de Arajo (UFPR) Norton Dudeque (UFPR)
Conselho Editorial Roseane Yampolschi (UFPR) lvaro Luiz Ribeiro da Silva Carlini (UFPR)
Conselho Consultivo Accio Piedade (UDESC) Adriana Lopes Moreira (USP) Ana Rita Addessi (Universit di Bologna, Itlia) Claudiney Carrasco (UNICAMP) Carole Gubernikof (UNIRIO) Elizabeth Travassos (UNIRIO) Fausto Borm (UFMG) Ilza Nogueira (UFPB) John Rink (University of London, Inglaterra) Jusamara Souza (UFRGS) Luis Guilherme Duro Goldberg (UFPEL) Marcos Holler (UDESC) Maria Alice Volpe (UFRJ) Mariano Etkin (Universidad de La Plata, Argentina) Paulo Castagna (UNESP) Rafael dos Santos (UNICAMP) Sergio Figueiredo (UDESC) Rodolfo Coelho de Souza (USP)
Capa: Geraldo Leo (sem ttulo)
Msica em Perspectiva: Revista do Programa de Ps-Graduao em Msica da UFPR v. 6, n. 1 (jul. 2013) Curitiba (PR) : DeArtes, 2013. Semestral ISSN 1981-7126 1. Msica: Peridicos. I. Universidade Federal do Paran. Departamento de Artes. Programa de Ps-Graduao em Msica. II. Ttulo
CDD 780.5 Solicita-se permuta: [email protected] Tiragem: 100 exemplares As ideias e opinies
expressas neste peridico so de inteira responsabilidade de seus autores
-
Sumrio
5 Editorial
Artigos
9 Dinmicas da experincia musical: msica, movimento, entendimento e composio Dynamics of musical experience: music, movement, understanding and composition Guilherme Bertissolo
25 Aprendizagem docente em msica: pensando em professores Teaching and learning in music: thinking with teachers Cludia Ribeiro Bellochio e Zelmielen Adornes de Souza
43 A classificao timbrstica atravs de seus aspectos sinestsicos Synaesthetic aspects of musical timbre taxonomy Jos Fornari
63 A percepo dos licenciandos sobre a motivao em uma aula de msica Student music teachers perception of motivation in a music lesson Teresa Mateiro, Andrea Hellena dos Santos, Ana Ester Correia Madeira
86 Memorizao musical: um estudo de estratgias deliberadas Daniela Tsi Gerber
102 The child as musician: A handbook of musical development Resenha Descritiva Veridiana de Lima Gomes Krger, Igor Mendes Krger, Melody Lynn Falco Raby, Anderson Roberto Zabrocki Rosa, Jean Felipe Pscheidt, Elisa Gross
111 Sobre os autores About the authors
114 Diretrizes para submisso/Submission Guidelines
-
Editorial
A Revista Msica em Perspectiva vol. 6 n. 1 foi organizada por meio de
uma proposta temtica que envolve artigos sobre Cognio e Educao Musical.
Esta escolha foi estrategicamente pensada pela relao deste tema com a linha de
pesquisa do Programa de Ps-graduao em Msica da Universidade Federal do
Paran, Cognio e Educao Musical. Esta edio da revista conta com cinco
artigos inditos e uma resenha, nos quais vrios autores, de diferentes instituies
brasileiras, colaboraram.
O texto de Guilherme Berissolo, situado no contexto dos estudos
cognitivos, trata da relao entre msica e movimento. Ele prope a relao entre
msica e experincia corporal, com base nas metforas conceituais (Lakoff e
Johnson), nos esquemas imagticos baseados na experincia (Johnson) e nas
investigaes oriundas das neurocincias, noo de gesto e mecanismos da
memria. Para Bertissolo, a relao entre msica e movimento favorece a
compreenso de estratgias de entendimento musical e tambm oferece
possibilidades para experimentaes sobre criao musical.
Cludia Ribeiro Bellochio e Zelmielen Adornes de Souza, por sua vez,
trazem um artigo sobre educao musical com foco no pensamento do professor.
A pesquisa apresentada vinculada ao grupo FAPEM: formao, ao e pesquisa
em educao musical da Universidade Federal de Santa Maria. O objetivo de
Bellochio e Souza a discusso dos processos de aprendizagem docente, durante o
processo de formao laboral de professores de msica, a partir das perspectivas
tericas da Teoria das Representaes Sociais e do referencial sobre o Pensamento
do Professor. Neste sentido, foi realizada uma pesquisa acerca das representaes
sobre a docncia, considerando a experincia de alunos em estgio
supervisionado em msica e tambm um estudo sobre a relao entre o pensar e
o fazer docente, considerando professores que atuam com o ensino de flauta
doce.
No texto A classificao timbrstica atravs de seus aspectos sinestsicos,
Jos Fornari traz mais um artigo no domnio da cognio musical, abordando a
temtica sobre percepo auditiva para anlise timbrstica. De acordo com o
-
autor, a cognio humana reconhece e relembra muitos timbres distintos, no
entanto, ao tentar identificar aspectos estruturais independentes, esta funo
torna-se limitada. Por meio de uma anlise da percepo de aspectos sinestsicos,
isto , aspectos vinculados especialmente a sensao visual e tctil, Fornari
apresenta o resultado de trs experimentos sobre a classificao do timbre
musical, com base nestes de aspectos sinestsicos.
Trazendo como tema a percepo de acadmicos de um curso de
licenciatura em msica sobre motivao em sala de aula, Teresa Mateiro, Andrea
Hellena dos Santos e Ana Ester Correia Madeira apresentam um estudo realizado
com licenciandos. Foram analisadas imagens de uma aula de msica considerando
os contedos da aula, a prtica pedaggica da professora e o comportamento das
crianas com o objetivo de verificar os fatores motivacionais mais destacados
(pelos futuros professores de msica) durante a observao. As autoras afirmam,
por meio desta pesquisa, a relevncia dos estudos da motivao no contexto de
ensino musical da escola regular, bem como os resultados significativos que a
anlise de prticas de ensino proporciona para o desenvolvimento de processos
individuais de reflexo, como forma de construo do conhecimento profissional.
Daniela Tsi Gerber a partir de um estudo sobre memorizao musical traz
sua contribuio para este volume, destacando o processo de emprego dos guias
de execuo GEs - (de Chaffin) como estratgia de resgate da memria musical.
A autora apresenta em seu texto um estudo realizado com uma pianista no qual os
guias de execuo (GEs) nortearam o processo de memorizao de diferentes
obras. Por meio dos resultados apresentados, Gerber destaca que os GEs so uma
forma de otimizao para a prtica da memorizao, enquanto estratgia de
estudo, que auxiliam o msico na sua prtica deliberada.
Por fim, este volume encerrado com uma resenha elaborada pelos
membros do grupo de pesquisa PROFCEM: Processos Formativos e Cognitivos em
Educao Musical, vinculado Universidade Federal do Paran e ao CNPq. A
resenha trata da obra The child as musician: A handbook of musical development
(New York, Oxford University Press, 2006), organizado por Gary E. McPherson.
Neste livro so tratados inmeros temas sobre cognio e educao musical, por
meio da colaborao de mais de 30 pesquisadores. O livro possui 24 captulos,
-
est subdividido em 5 sees Development, Engagement, Diferences,
Skills e Contexts. A resenha elaborada colaborativamente por Veridiana de
Lima Gomes Krger, Igor Mendes Krger, Melody Lynn Falco Raby, Anderson
Roberto Zabrocki Rosa, Jean Felipe Pscheidt e Elisa Gross, pode auxiliar autores,
pesquisadores e professores a conhecer melhor esta publicao organizada por
McPherson, considerando-se as indiscutveis contribuies deste livro, tanto para
pesquisas sobre educao musical quanto para pesquisas com foco na cognio.
Rosane Cardoso de Arajo e
Norton Dudeque
-
Dinmicas da experincia musical: msica, movimento, entendimento e composio
Guilherme Bertissolo (UFBA)
Resumo: Nesse artigo sero abordadas cinco possveis feies para a relao entre msica e movimento que mobilizam conceitos e pressupostos das metforas conceituais e dos esquemas imagticos baseados na experincia corporal. As principais elocues sobre do tema sero tecidas a partir de uma literatura emergente que aplica a noo de esquemas imagticos, as metforas conceituais, investigaes oriundas das neurocincias, mecanismos da memria e a noo de gesto para possibilitar insights e desdobramentos nas prticas musicais. O contexto de msica e movimento permite descortinar estratgias de entendimento musical, alm de oferecer um rico campo para experimentaes no domnio da criao. Nesse sentido, abordei na minha pesquisa de doutorado (no PPGMUS/UFBA) a relao entre msica e movimento no contexto da Capoeira Regional, onde no h a separao conceitual entre os domnios. Essa interao foi operacionalizada a partir da inferncia em campo de quatro conceitos que mobilizam a relao entre msica e movimento para a composio musical: ciclicidade, incisividade, circularidade e surpreendibilidade.
Palavras-chave: Movimento em msica, metforas conceituais, esquemas imagticos
DYNAMICS OF MUSICAL EXPERIENCE: MUSIC, MOVEMENT, UNDERSTANDING AND COMPOSITION
Abstract: In this paper we will approach five different views for the relationship between music and movement whose concepts and assumptions derived from conceptual metaphors and image schemata based upon body experience. We will discuss the subject related to emergent literature that offers interesting insights and developments for music studies through the notions of image schemata, conceptual metaphor, neuroscience researches, memory mechanisms and the notion of gesture. The context of music and movement allows us to reveal strategies of musical understanding and represents a rich field for experiments in music creation. Indeed, my PhD research (at PPGMUS/UFBA) focused upon the relationship between music and movement in the context of Capoeira Regional, where there is no conceptual separation between both domains. This interaction was engendered by four concepts inferred in the context whose application of music and movement for composition is intended: ciclicity, sharpness, circularity and surpreseness.
Keywords: movement in music, conceptual metaphor, image schemata
-
Guilherme Bertissolo Dinmicas da experincia musical: msica, movimento, entendimento e composio
________________________________________________________________________________
10
1. Introduo
Se considerarmos a simples ideia de que a maneira como conceituamos
msica no , em princpio, diferente da maneira como conceituamos o mundo
(Spitzer, 2004, p. 16), o entendimento da experincia do corpo no pode ser
dissociado do entendimento da msica enquanto fenmeno. Nesse sentido, o
estudo das relaes entre msica e movimento tem se mostrado um contexto
prolfico para pesquisa, podendo desvelar aspectos de grande valia para anlise,
para performance e sobretudo para o compor.
Abordaremos nesse artigo, cinco incurses recentes no campo da teoria
que abordam o fenmeno da msica pelo vis da experincia corporal, veiculando
aspectos relacionados s metforas conceituais (Lakoff e Johnson, 1999, 2003), os
esquemas imagticos baseados na experincia (Johnson, 1990), veiculando noes
relacionadas s abordagens na neurocincia, ao vis da memria e noo de
gesto. Por fim, abordaremos brevemente algumas incurses no campo do compor,
a partir do campo conceitual oferecido pelo compositor Marcos Nogueira e de
uma experincia na Capoeira Regional, um universo onde no h separao
conceitual entre msica e movimento. A partir de uma pesquisa de quatro anos no
contexto, pude inferir um arcabouo conceitual para a relao entre msica e
movimento no compor (Bertissolo, 2013).
2. Brower e os esquemas metafrico-musicais
Brower (2000) apresenta uma incurso sobre a noo de movimento em
msica pelo vis das metforas conceituais. Nesse artigo, a autora aborda
temticas que se relacionam com as noes de fora e movimento, pelo vis dos
esquemas imagticos e metafrico-musicais (p. 324). A autora afirma que
padres musicais prestam-se a este tipo de mapeamento metafrico, sendo
marcados por alteraes de razo e intensidade que se traduzem facilmente em
fora e movimento (p. 324). Dessa forma, o sentido musical est relacionado ao
mapeamento de padres ouvidos em uma obra musical. Esses padres so intra-
-
msica em perspect iva v.6 n.1, julho 2013 p. 9-24 ________________________________________________________________________________
11
obra, esquemas musicais e esquemas imagticos, extrados da nossa experincia
corporal (p. 324).
Brower (2000, p. 327) aborda a experincia corporal como parmetro
para metforas conceituais em msica: nossa experincia corporal do mundo
fsico (o domnio-fonte) para a msica (o domnio-alvo) produzem os conceitos
metafrico-musicais de espao musical, tempo musical, fora musical e
movimento musical. O mapeamento exerce um papel fundamental, j que
mapeamos padres dentro da prpria msica, veiculando relaes com esquemas
musicais (mapeamentos intra-musicais) e esquemas imagticos (mapeamentos
inter-domnios). A experincia musical est contaminada pela experincia do
prprio corpo.
A autora prope, pois, esquemas imagticos mobilizados no
entendimento musical: continer, ciclo, verticalidade, equilbrio, relao centro-
periferia e trajetria (Brower, 2000, p. 326). Esses esquemas so relacionados com
as proposies de Johnson (1990). A partir desse modelo, Brower prope
esquemas metafrico-musicais para melodia, harmonia e estrutura de frase,
descrevendo cada um deles a partir dos esquemas imagticos. Com essas
ferramentas, a autora discute a ideia de msica como narrativa e apresenta
aplicaes prticas na anlise de Du bist die Ruh, de Schubert.
Em um escrito mais recente, a autora aplica a noo de esquemas
metafrico-musicais e espao tridico de alturas sob o ponto de vista da teoria
neo-riemanniana (Brower, 2008)1. H o pressuposto de que nossa experincia de
relaes de alturas so governadas, pelo menos parcialmente, por projees
metafricas de padres abstratos da nossa experincia corporal (esquemas
imagticos), que podem ser representados graficamente. A partir de projees
metafricas entre nossa percepo visual e aspectos da tonnetz e outras abstraes
geomtricas da teoria neo-riemanniana, a autora estabelece um corpus por sobre
o qual fundamenta quatro anlises: um moteto do sculo XV, Haydn, Brahms e
Wagner. 1 A teoria neo-riemanniana uma corrente que estuda as relaes entre centros tonais a partir de engendramentos entre espaos de alturas, e suas possveis interlocues com figuras geomtricas em deslocamentos imagticos. Maiores detalhes sobre a teoria neo-riemanniana, cf. Cohn (1998).
-
Guilherme Bertissolo Dinmicas da experincia musical: msica, movimento, entendimento e composio
________________________________________________________________________________
12
3. Spitzer: uma abordagem ampla para a metfora no pensamento musical
Spitzer (2004) oferece uma consistente viso panormica para o
pensamento da metfora em msica, onde a noo de movimento em msica
discutida consistentemente: a msica se comporta como o corpo em movimento,
e [...] ouvintes projetam suas experincias de movimento corporal na sua audio
de processos musicais (p. 10). Spitzer parte da ideia de ouvir como (hearing as)
de Wittgenstein para oferecer uma possibilidade de abordagem terica que
mistura conhecimento e percepo, partindo da ideia de que a maneira como
conceitualizamos msica no , em princpio, diferente da maneira como
conceitualizamos o mundo (p. 16).
Para o autor, a metfora vislumbrada a partir de trs domnios
principais: representao, linguagem e incorporao (embodiment) (Spitzer, 2004,
p. 12). Pensar a metfora como modelo para a experincia musical contradiz duas
das principais ideias herdadas do pensamento objetivista aplicado musica:
msica no pode ser ouvida e msica abstrata (p. 15). O autor cita trs exemplos
de articulao entre a superfcie audvel da msica e sua relao com esquemas
musicais de nvel bsico, enfocando contraponto em Bach, ritmo em Mozart e
melodia em Beethoven.
preciso salientar a interessante proposio de Spitzer a respeito do
esquematismo como piv entre as cincias cognitivas e a esttica musical (Spitzer,
2004, p. 54). De fato, como uma literatura ainda recente e inicialmente no
formulada para a aplicao em msica, so poucas as incurses sobre a sua
influncia no domnio da esttica musical. O autor prope a perspicaz imagem dos
esquemas imagticos como dobradia (hinge) entre mapeamentos intra-musicais e
inter-domnios (cross-domain) (p. 55-6). Nesse sentido ele formula suas
dobradias entre pares: harmonia/pintura (tendo como dobradia o esquema
centro-periferia); ritmo/linguagem (sendo o esquema partes-todo a dobradia); e
melodia/vida (sendo trajeto, path, a dobradia).
Spitzer prope, pois, um modelo tripartite: esquematismo, metfora e
prottipos (categorias de nvel bsico projetadas em categorias superordenadas).
-
msica em perspect iva v.6 n.1, julho 2013 p. 9-24 ________________________________________________________________________________
13
Nesse modelo, o esquematismo um elemento bsico da experincia e do
entendimento, por sobre o qual a metfora se estabelece, na medida em que
representam um mapeamento interdomnios. As categorias de nvel bsico,
relacionados aos esquemas da experincia, so projetadas em categorias
superordenadas.
Ao apresentar esse modelo, Spitzer aborda o artigo de Brower (2000). Ele
critica o alinhamento que Brower faz no conceito de esquemas metafrico-
musicais, j que, segundo ele, metfora e esquemas imagticos so instncias
diferentes. O anseio de Spitzer em oferecer um modelo filosfico para o
pensamento musical a partir da metfora o faz tentar estabelecer separaes
conceituais entre instncias bastante tnues da experincia, plenamente
contaminadas no entendimento. No h a separao to delimitada entre
metfora conceitual e esquemas imagticos. A questo que ambos so baseados
na experincia, portanto contaminados. A crtica a Brower, pela considerao do
alinhamento entre metfora e esquema, no parece ser um elemento que possa
invalidar ou mesmo por em xeque o argumento oferecido por essa abordagem.
4. As perspectivas na neurocincia da msica
A neurocincia da msica, ou neuromusicologia, um campo de estudo
em franco desenvolvimento, que tem produzido resultados bastante significativos
no domnio do entendimento do fenmeno da msica. Phillips-Silver (2009)
oferece um interessante survey das perspectivas atuais que consideram a
imbricao entre msica e movimento pelo vis da neurocincia, no que concerne
aos efeitos no crebro de experincias possibilitadas pelos domnios do corpo em
movimento e auditivo.
A autora parte de um ponto de vista categrico afirmando de sada que
movimento uma parte intrnseca da experincia musical. Msica e movimento
co-ocorrem desde a primeira relao musical (Phillips-Silver, 2009, p. 293-4).
So apresentados diversos exemplos de correlao entre msica e movimento em
vrios contextos culturais, ocidentais e no-ocidentais, colimando na hiptese
-
Guilherme Bertissolo Dinmicas da experincia musical: msica, movimento, entendimento e composio
________________________________________________________________________________
14
posteriormente provada. A ideia de que nossas experincias cotidianas
influenciam diretamente o nosso entendimento musical, pressuposto das
abordagens baseadas nos esquemas metafricos-musicais, aventado pela autora
quando afirma que msica frequentemente uma experincia multi-sensorial, e
estmulos sensoriais de sons e movimento corporal moldam nossa definio
conceitual de msica (p. 294).
A autora formula questes de pesquisa que nortearo seu artigo: por que
msica e movimento so to inextricavelmente ligadas? Por que essa interao
crucial para as etapas iniciais do desenvolvimento humano? Por que se argumenta
que todos os humanos virtualmente compartilham certas capacidades musicais? O
que pode a msica fazer para o desenvolvimento do crebro? (Phillips-Silver,
2009, p. 294). A autora apresenta respostas e insights para essas questes em
quatro diferentes perspectivas.
Primeiramente, sob a gide das teorias evolucionistas e sob os
pressupostos biolgicos, a autora tece comentrios sobre a importncia da
sincronizao de movimentos com a msica na experincia humana, desde a
relao entre me e filho na primeira infncia, at um estudo experimental que
demonstrou influncia entre escolha de parceiros e capacidades musicais e em
dana em um grupo adultos (Phillips-Silver, 2009, p. 295).
Uma segunda perspectiva diz respeito percepo de pulso e
sincronizao de movimentos. A autora apresenta um interessante paradoxo
relacionado aos ritmos sincopados que, ao inserirem pausas em tempos fortes e
operarem deslocamentos nos acentos, ironicamente acabam por representar uma
forte sensao de sentimento de pulso. H aqui uma discusso sobre resultados de
pesquisas empricas que comprovaram o reconhecimento de padres de pulso e a
capacidade de reconhecimento de mtrica musical e impulsos sonoros simples,
onde a sincronizao um aspecto importante no entendimento. H um foco em
se entender as regies do crebro afetadas no reconhecimento de pulsos e na
habilidade de sincronizao entre os movimentos corporais a esses estmulos. Uma
importante considerao nessa perspectiva a descoberta de que os sistemas de
audio e sensrio-motor so integrados na percepo e entendimento musicais
(Phillips-Silver, 2009, p. 300). Essa assertiva refora de maneira contundente a
-
msica em perspect iva v.6 n.1, julho 2013 p. 9-24 ________________________________________________________________________________
15
ideia de que o entendimento, o significado e a conceituao musicais so
diretamente influenciados pelos domnios da experincia corporal cotidiana,
refletidas nos esquemas metafrico-musicais.
Na terceira perspectiva veiculada pela gide do desenvolvimento
infantil, a partir de experincias de reconhecimento de padres mtricos e pulsos
musicais em crianas. Destaquemos a realizada pela prpria autora, que testou o
interesse de crianas de sete meses de idade submetidas a padres musicais,
demonstrando uma maior medida de interesse em padres rtmicos familiares, ou
seja, aos quais eles haviam sido previamente submetidos atravs do movimento
corporal (Phillips-Silver, 2009, p. 304). Resultados semelhantes foram obtidos
com adultos, de maneira a sugerir, segundo a autora, que msica no apenas o
que nos faz mover, mas a maneira como nos movemos molda o ns ouvimos (p.
305). Ou seja, nossa percepo musical um processo multi-sensorial e estruturas
de entendimento musical surgem do movimento.
Finalmente, a quarta perspectiva aborda a neuropsicologia, em especial
em relao a um distrbio chamado amusia, uma anomalia congnita que atinge
4% populao mundial, onde um indivduo incapaz de reconhecer uma melodia
ou padres meldicos. Um fato curioso que a amusia no afeta a capacidade de
percepo mtrica, de modo que em diversas culturas, onde o ritmo to ou mais
importante do que o domnio das alturas, no possvel afirmar que uma pessoa
portadora de amusia seja destituda de entendimento musical.
A principal contribuio desse artigo no domnio dessa pesquisa o
reconhecimento e legitimao da complexa e intricada interao dinmica entre
msica e movimento para os processos de significao musical e construo de
estruturas de conhecimento, sob o ponto de vista do desenvolvimento e zonas de
ativao do crebro. A descoberta de que sistemas de audio e sensrio-motores
so integrados nas habilidades de reconhecimento de padres rtmicos e de
sincronizao, assim como as evidncias de que conceituamos e entendemos
msica a partir do movimento, demonstram a pertinncia da considerao da
interao entre msica e movimento para a criao musical.
-
Guilherme Bertissolo Dinmicas da experincia musical: msica, movimento, entendimento e composio
________________________________________________________________________________
16
5. Movimento na memria: a abordagem de Snyder
Snyder aborda a questo do movimento em msica a partir das metforas
e em especial pela sua articulao na memria, recuperando os temas
previamente discutidos. A metfora ganha nesse contexto a dimenso da
memria. Metfora a relao entre duas estruturas de memria (Snyder 2000,
p. 107). Nesse sentido, os esquemas imagticos podem dessa forma servir como
uma ponte entre experincia e conceituao (p. 109). justamente nesse
contexto da experincia e sua articulao entre domnios, possibilitada pela
memria, que os esquemas tem importncia fundamental nos processos
cognitivos. Eles so to bsicos para a nossa ideia de como o mundo funciona que
so usados no apenas literalmente, mas tambm metaforicamente para
representar muitos outros tipos de ideias, mais abstratos. A relao entre a
metfora e a conceituao, para o autor, tem explicao em recentes descobertas
na neurocincia, que percebeu que a mesma parte do crebro responsvel pelo
senso de posio espacial tambm desempenha papel fundamental no
estabelecimento de memrias de longo prazo, o que explicaria o motivo de
usarmos metforas espaciais para entender conceitos abstratos (p. 110).
As ideias de Snyder oferecem um contexto bastante profcuo. de grande
importncia a sua considerao de que entender possveis conexes metafricas
entre msica e experincia pode nos ajudar no apenas a entender msica, mas
tambm a cri-la (Snyder, 2000, p. 111). O autor discute a importncia de
categorias perceptuais (p. 83) e conceituais (p. 85). Os esquemas desempenham
aqui um papel importante, tanto em sua relao mais geral (p. 97) quanto com
suas correlaes com a msica (p. 100).
A importncia do movimento na teoria de Snyder fundamental. Aps
analisar as diversas instncias da memria e esquemas cognitivos (como as leis de
proximidade, similaridade e continuidade) de agrupamento de elementos
musicais, ele formula a ideia de esquemas imagticos. H uma pequena diferena
de abordagem em relao a Brower, considerando ligeiras variaes de
nomenclaturas.
-
msica em perspect iva v.6 n.1, julho 2013 p. 9-24 ________________________________________________________________________________
17
6. A noo de gesto em msica
A ideia de movimento como aspecto significativo da experincia musical,
com suas articulaes com a cognio e movimento humano, representa uma
importante contribuio das abordagens para o gesto em msica. Nesse sentido, o
gesto musical estaria relacionado ao gesto corporal e essa associao traria
consequncias para o entendimento do fenmeno da msica. Essa aplicao da
noo de gesto em msica tem representado um importante ponto de vista para a
teoria e anlise e tem ganho importncia crescente nos ltimos anos.
O livro organizado por Anthony Gritten e Elaine King (2006) uma
espcie de compilao e compndio das ideias dos principais especialistas, que
foram convidados a escrever captulos enfocando as suas principais ideias e
incurses teorticas, oferecendo assim um panorama do que se tem pesquisado a
esse respeito. So ao todo doze captulos, que cobrem reas to distintas quanto a
anlise de gestos auxiliares de msicos em performance (clarinetistas, violonistas,
pianistas e o cantor Robbie Williams), a importncia do movimento na construo
da noo de mtrica e nos padres de reconhecimento de andamentos, gestos
emotivos, improvisao, gestos militares em Mahler etc.
Hatten oferece um esboo para uma teoria do gesto musical e argumenta
que ela comea com o entendimento do gesto humano, por sua vez definido
como qualquer modelagem energtica atravs do tempo que pode ser
considerado significante (p. 1). uma definio deveras inclusiva, no sentido de
que algo pode ser interpretado como gesto sendo real ou implicado, intencional
ou involuntrio, desde que possa ser interpretado como tal. Essa definio
inclusiva potencializada pela considerao de que no apenas processamos
essas formas em todos os domnios sensoriais e motores, mas o seu carter
expressivo, como gesto afetivo, parte do desenvolvimento humano prvio
linguagem (p. 1), j que a permutabilidade entre produzir e interpretar um
gesto depende da capacidade representacional compartilhada atravs do sistema
sensrio-motor, e que possibilita que mapeamentos individuais sejam
correlacionados uns com os outros (p. 2). Alm disso, foras que agem no nosso
corpo sob o ponto de vista fsico, como a gravidade e a noo de verticalidade,
-
Guilherme Bertissolo Dinmicas da experincia musical: msica, movimento, entendimento e composio
________________________________________________________________________________
18
por exemplo, so comumente associadas a parmetros e gestos emotivos em
msica (p. 3).
Os mapeamentos dos domnios sensrio-motores, que promovem
categorizaes de eventos dinmicos atravs da percepo, mesmo anteriores
conceituao, so a base por sobre a qual os gestos so desenhados (p. 1). O autor
avana na considerao de que um gesto molar prototpico acontece no presente
perceptual, que dura aproximadamente dois segundos, e sua interpretao
repousa sobre percepes imagsticas e temporais. Uma sntese imagstica
operada na percepo como imediata, com profundidade qualitativa. ela que
nos faz perceber o estado emotivo de um rosto, por exemplo, ou mesmo
qualidades de timbres ou acordes como objetos na percepo musical. J o
segundo modo de percepo diz respeito percepo gestltica da continuidade
temporal, que associada cognio no apenas como objeto, mas como um
evento, motivado pela coerncia funcional, ou coordenao proposital do seu
movimento (p. 2). Nesse sentido, experimentamos a imediaticidade de uma
percepo qualitativa que est sendo reforada e modulada pela continuidade de
uma percepo dinmica (p. 2 grifo original). Gestos, pois, envolvem a
coordenao de snteses intermodais (j que percebemos formas energticas no
tempo cruzando informaes nos domnios visuais, aurais, tteis e motores),
baseadas em coerncias funcionais de movimentos como eventos, e seus
significados emergentes (p. 3).
Um pressuposto axiomtico assumido por David Lidov, um dos
principais tericos do gesto musical, ao considerar a importncia de gestos e
outros movimentos na experincia musical, afirmando que todos ns j temos
muitas noes disto -- por exemplo, o papel do movimento da dana no
imaginrio da msica (p. 24). Para sua anlise, o autor analisa que os gestos
como realizando trs funes: emotiva, ftica e diagramtica. Uma importante
considerao a de que elementos de expresso gestual e um vocabulrio de
envelopes dinmicos so inatos (respectivamente, p. 25 e 29).
Baseado nas ideias de Johnson (1990), o autor enfoca os contrrios
relacionados ao gesto: 1- gestos emotivos contra outras expresses gestuais; 2-
-
msica em perspect iva v.6 n.1, julho 2013 p. 9-24 ________________________________________________________________________________
19
gestos em si contra outros movimentos; e 3- gestos como um fenmeno molecular
contra um mais complexo e abstrato esquema no qual eles so parte (p. 24).
Arnie Cox, por sua vez, problematiza a noo de gesto a partir de uma
simples pergunta: como a msica nos faz sentir qualquer coisa? Nesse caso, o
autor salienta que no est se referindo necessariamente a emoes, mas
sensaes mais viscerais diretamente relacionadas ao movimento. Portanto, a sua
incurso terica est no campo do como ouvir, sentir e compreender gestos
musicais. Sua principal questo o que motiva e estrutura a conceituao da
msica em termos de gestos.
Para construir o seu ponto de vista, o autor parte de um background
terico que considera a hiptese da participao mimtica no ato de ouvir msica.
Essa hiptese veiculada com base na existncia de respostas incorporadas
mobilizadas por estmulos musicais e o reconhecimento de que as formas
evidentes de participao mimtica (bater o p, involuntariamente,
acompanhando um pulso, por exemplo) so partes usuais da experincia e da
compreenso musicais, ou seja, parte de como ns entendemos msica envolve a
imaginao de produzir os sons por ns mesmos, e essa participao imaginada
envolve a imitao velada e manifesta dos sons ouvidos e a imitao das aes
fsicas que produzem estes sons (p. 45).
Segundo o autor, a participao mimtica ocorre em trs formas: imitao
velada e manifesta das aes dos performers; a imitao subvocal velada ou
manifesta dos sons produzidos, vocais ou instrumentais; e uma imitao amodal,
por empatia, ou visceral de padres de esforo que provavelmente produziriam
tais sons. O autor comenta o contexto de incurses que tratam a questo do gesto
e da participao mimtica, que concordam que a imitao por parte dos ouvintes
desempenha um papel claramente importante na experincia musical. Entretanto,
aponta diferenas cruciais em sua abordagem, principalmente pela considerao
da noo de mente incorporada (embodied mind), tal como exposto nas teorias
de Lakoff e Johnson (1999, 2003) e Johnson (1990). As evidncias clnicas para a
participao mimtica so cinco: estudos de imitao face a face; estudos da
imagtica motora envolvendo neurnios espelho; estudos de sub-vocalizao para
a fala e para a msica; estudos da imagtica motora no-vocal para a msica; e a
-
Guilherme Bertissolo Dinmicas da experincia musical: msica, movimento, entendimento e composio
________________________________________________________________________________
20
evidncia indireta das nossas descries vocais para sons no-vocais (Gritten e
King, 2006, p. 47-8). A partir da investigao e discusso das evidncias
relacionadas hiptese mimtica, o autor oferece uma interessante considerao:
se um gesto musical motiva representaes que no esto confinadas nas
modalidades as quais eles so produzidos, ento o gesto tem um significado ao
mesmo tempo de acordo com seu modo de produo e transcendente em relao
a ele (p. 51).
O captulo de Steve Larson busca justamente convergir argumentos entre a
noo gesto que atuam a partir e sobre foras musicais, considerando que
descrever um pedao de uma melodia como 'gesto' conceituar msica em
termos de movimento fsico, de maneira que assim como cada gesto fsico
deriva seu carter em parte pela maneira pela qual ele se move em relao s
foras fsicas, cada gesto musical deriva seu carter em parte pela maneira como
ele se move em relao s foras musicais (p. 61). Com esse pressuposto, foras
musicais so consideradas ento anlogas s foras que regem o movimento fsico,
tais como gravidade, magnetismo e inrcia.
H aqui a interessante proposio de um mapa de padres, conforme
exposto tambm por Larson, relacionados msica tonal e a constelaes de sons
de maior e menor estabilidade, agrupando-os de acordo com seus movimentos de
resoluo (inrcia). Trs so os perfis relacionados ao desenho de um gesto de
acordo com as foras musicais, que servem como parmetro de anlise:
circularidade ao redor de um ponto para atingir repouso; combinao de dois
gestos continuamente de maneira que a inrcia conduz a um ponto relativamente
estvel de eliso (mudando de direo em pontos relativamente menos estveis);
pausa em uma mudana de direo em uma juno relativamente estvel (p. 64).
Justin London aborda a relao entre a percepo do ritmo e o
movimento corporal, correlacionando experincia musical a caminhada e a
corrida, em seus diversos componentes e seus limiares. A partir de perspectivas
relatadas em experincias empricas, o autor sugere correlaes entre o sistema
sensrio-motor e a nossa capacidade de perceber andamentos e ritmos,
comparando os limiares de uma corrida ao limiar de reconhecimento de diviso
rtmica, a mdia de andamento, obtidas em experincias com adultos ao serem
-
msica em perspect iva v.6 n.1, julho 2013 p. 9-24 ________________________________________________________________________________
21
solicitados a bater pulsos confortveis (sem aceleraes ou desaceleraes) ao
tempo giusto, para citar apenas dois exemplos. Diversas so as evidncias sobre as
correlaes entre o entendimento musical e o sistema sensrio-motor, conforme
discutimos na seo 4.
As diversas abordagens para o gesto musical sintetizam o pensamento que
considera o entendimento musical em suas mltiplas componentes, sempre
baseado na experincia corporal. O movimento exerce aqui um papel
preponderante na conceituao e no pensamento musicais. Podemos observar a
confluncia entre os gestos musicais e corporais, no sentido de entender a
experincia musical pelo vis da experincia corporal. O domnio da mente
incorporada, de Lakoff e Johnson (1999, 2003) e Johnson (1990) representa um
importante arcabouo terico que corta diversos desses discursos. importante
notar, finalmente, que grande parte dessas formulaes tem sido tema de estudos
na neurocincia da msica, e tem mostrado concluses similares, comprovando a
pertinncia do tema para a rea de msica. A ideia de que ouvimos msica a
partir do nosso sistema sensrio-motor veiculada constantemente e mencionada
por diversos autores e perspectivas.
O livro de Gody e Leman (2010) tambm aborda a noo de gesto,
compilando pensamentos de diversos autores. Esse volume fruto de um grupo
interdisciplinar de estudos sobre a importncia do gesto como controle em
sistemas computacionais. Portanto, embora apresente uma rica contribuio para
a noo de gesto, enfocaremos nesse artigo o livro de Gritten e King (2006), por
estar mais consonante com as ideias desenvolvidas durante a pesquisa e ser capaz
de oferecer um campo de estudo mais prolfico para o entendimento da relao
entre msica e movimento.
7. Consideraes finais
As diversas abordagens para a noo de movimento em msica mostram
um campo em pleno desenvolvimento, passvel de incurses nos diversos campos
do conhecimento musical. Os esquemas imagticos, as metforas, as perspectivas
-
Guilherme Bertissolo Dinmicas da experincia musical: msica, movimento, entendimento e composio
________________________________________________________________________________
22
da neurocincia, a abordagens pela memria e a noo de gesto desempenham
papis fundamentais no entendimento da msica, mas oferecem tambm ricas
possibilidades para a composio musical2.
A temtica da relao entre msica e movimento aplicada ao compor
oferece um campo profcuo de desdobramentos criativos. No Brasil, os escritos de
Marcos Nogueira tm avanado consistentemente nesse sentido. A sua abordagem
tambm ocorre pelo vis das metforas conceituais. Segundo ele, a questo
central da experincia de tempo em msica o entendimento do tempo como
uma nossa experincia no contato com a 'mudana' que movimento (Nogueira,
2009, p. 758). Nogueira tem empreendido esforos nos ltimos anos para o
estabelecimento de um campo conceitual para a noo de movimento,
oferecendo um leque de possibilidades para abordar o compor a partir da
experincia e da cognio.
Na minha pesquisa de doutorado (Bertissolo, 2013), formulei um
arcabouo conceitual oriundo da experincia no contexto da Capoeira Regional,
onde no h a separao conceitual entre msica e movimento. A partir de uma
experincia de quatro anos na Fundao Mestre Bimba, em Salvador, realizando
aulas de capoeira e berimbau, realizando dilogos formais e informais com os
mestres e participando dos eventos relacionados ao contexto, pude inferir quatro
conceitos para composio a partir da noo de movimento: ciclicidade,
incisividade, circularidade e surpreendibilidade3.
Esse arcabouo dialogou em diversos nveis, tanto tericos, quanto
aqueles que dizem respeito diretamente ao compor, tais como ideias, materiais e
processos. J que conceituamos e ouvimos msica pela experincia corporal, os
esquemas imagticos e as metforas conceituais so uma evidncia contundente
2 importante mencionar a abordagem pela cognio e pelo vis do movimento e do corpo como uma alternativa abordagem tecnicista da composio, ao mesmo tempo possibilitando pensar o compor a partir da experincia, evitando posicionamentos estticos limitadores ou desnecessariamente tcnicos. 3 Esse arcabouo conceitual deu vaso a duas sries de obras: m'bolumbmba e Fumebianas. Essas obras foram abordadas pelos nveis de ideia, materiais, implementao e obra, por um lado, e na tentativa de elencar e descrever sete processos de composio oriundos da noo de movimento em msica na Capoeira Regional, por outro (Bertissolo, 2013). As partituras e gravaes das obras, bem como a tese, esto disponveis em http://guilhermebertissolo.wordpress.com/.
-
msica em perspect iva v.6 n.1, julho 2013 p. 9-24 ________________________________________________________________________________
23
para a pertinncia da considerao das correlaes entre aspectos cinticos e
musicais oriundos da Capoeira Regional como fonte de ideias e processos para o
compor.
Esperamos que com essas diversas incurses tericas e com as
possibilidades de desdobramento para a composio musical, a noo de
movimento em msica, assim como as articulaes entre compor e cognio,
capoeira e composio, capoeira e cognio, especialmente pelo vis da
experincia e das metforas conceituais, possam oferecer um campo de
desdobramentos e um contexto de dilogos nas diversas esferas do conhecimento
musical.
Referncias
BERTISSOLO, Guilherme. Composio e Capoeira: dinmicas do compor entre msica e movimento. Tese de doutorado no publicada. Programa de Ps-Graduao em Msica da UFBA, 2013.
_____. Dinmicas da experincia: abordagens para a relao msica-movimento. In: Anais do IX Simpsio de Cognio e Artes Musicais. Belm: UFPA, 2013.
BROWER, Candace. A Cognitive Theory of Musical Meaning. Journal of Music Theory, n. 44, vol. 2, 2000. p. 323379.
_____. Paradoxes of pitch space. Music Analysis, n. 27, vol. i, 2008. p. 51106.
COHN, Richard. Introduction to neo-riemannian theory: a survey and a historical
perspective. Journal of Music Theory, n. 42, vol. 2, 1998. p. 16780.
GODY, Rolf e LEMAN, Mark (eds). Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning. New York/London: Routledge, 2010.
GRITTEN, Antony; KING, Elaine King (eds) Music and Gesture. Aldershot: Ashgate, 2006.
JOHNSON, Mark. The Body in the Mind: The bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason. Chicago: University of Chicago Press, 1990.
LAKOFF, George, e JOHNSON, Mark. Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought. New York: Basic Books, 1999.
_____. Metforas da vida cotidiana. Campinas/So Paulo: Mercado das Letras/EDUC, 2002.
_____. Metaphors we live by. Chicago/London: University of Chicago Press, 2003.
-
Guilherme Bertissolo Dinmicas da experincia musical: msica, movimento, entendimento e composio
________________________________________________________________________________
24
NOGUEIRA, Marcos. Metforas de movimento musical. Anais do XIX Congresso da ANPPOM. Curitiba: Programa de Ps-Graduao em Msica UFPR, 2009.
PHILLIPS-SILVER, Jessica. On the meaning of movement in music, development and the brain. Contemporary Music Review, n. 28, vol. 3, 2009. p. 293314.
SNYDER, Bob. Music and Memory: an introduction. Cambrigde/London: The MIT Press, 2000.
SPITZER, Michael. Metaphor and Musical Thought. Chicado/London: University of
Chicago Press. 2004.
-
Aprendizagem docente em msica: pensando com professores
Cludia Ribeiro Bellochio (UFSM) Zelmielen Adornes de Souza (UFSM)
Resumo: O artigo apresenta partes de duas pesquisas vinculadas ao grupo FAPEM: formao, ao e pesquisa em educao musical da Universidade Federal de Santa Maria, buscando discutir acerca de processos de aprendizagem docente no percurso formativo de professores de msica. As pesquisas so orientadas a partir das perspectivas tericas da Teoria das Representaes Sociais e do referencial sobre o Pensamento do Professor, abordando estudos que envolvem o pensamento de alunos e de egressos do curso de Licenciatura em Msica da UFSM, tanto no que tange s representaes sobre a docncia, a partir do estgio supervisionado em msica, quanto relao entre o pensar e o fazer docente dirio de professores que atuam com o ensino de flauta doce. Conclumos pela relevncia da formao acadmico-profissional em cursos de Licenciatura em Msica somada ao reconhecimento das internalizaes de conhecimentos dos estudantes e aos vrios contextos existentes no ensino superior, paralelos dinmica curricular.
Palavras-chave: Educao Musical. Formao de professores de msica. Teoria das Representaes Sociais. Pensamento do Professor.
TEACHING AND LEARNING IN MUSIC: THINKING WITH TEACHERS
Abstract: The article presents parts of two research processes related to the group FARME: formation, action and research in music education of Federal University of Santa Maria, aiming to discuss the teaching learning processes in the formative process of Music teachers. Both research are oriented by the theoretical perspectives of Social Representations Theory and Teachers Thinking, approaching studies that involve students and UFSM Music teaching degree alumnis thinking in relation to their representations about teaching derived from their teaching training in music as well as the relation between everyday teaching thinking and doing of teachers who teach the recorder. It is concluded the relevance of professional-academic formation in Music teaching courses in addition to the acknowledgement of students knowledge internalizations and several contexts in higher education along with the curricular dynamics.
Keywords: Music Education. Music teachers formation. Social Representations Theory. Teachers Thinking.
-
Cludia R. Bellochio e Zelmielen A. Souza Aprendizagem docente em msica: pensando com professores
________________________________________________________________________________
26
Ser professor de msica: pensando processos de aprendizagem
Como ocorre a aprendizagem docente em msica? Que fatores
desencadeiam esse processo? Como promover a construo de conhecimentos,
saberes e experincias formadoras para os futuros professores de msica?
Questes como essas atravessam as preocupaes profissionais de docentes
universitrios formadores de professores e refletem-se no ensino superior, nas
matrizes curriculares dos cursos de Licenciatura em Msica e nas polticas pblicas
educacionais.
Os processos de aprendizagem docente em msica so complexos e
desenrolam-se em um continuum, ao longo da vida, envolvendo construes
biolgicas e psicolgicas, englobando diversas dimenses, dentre as quais as de
natureza cognitiva, emocional e psicossocial. Esses processos no so
determinados pela idade cronolgica de cada um, mas, sobretudo, pelas relaes
com as aprendizagens que vo sendo construdas ao longo da vida, mediadas por
interaes sociais. Decorre, ento, a compreenso de que nem todos aprendem
da mesma maneira e no mesmo ritmo (Souza, 2012, p. 49).
Desse modo, processos biolgicos e psicolgicos individuais, somados s
relaes sociais de aprendizagem que os sujeitos esto submetidos e que
promovem as suas construes pessoais, influenciam nas condies para a
aprendizagem de cada um. Trata-se, aqui, de entender a aprendizagem como de
natureza psquica e social, de uma cognio que decorre de processos
sociointeracionistas. Como sublinham Fairstein e Gyssels (2005, p. 20, grifos das
autoras): O processo de aprendizagem acontece com as pessoas, pessoas com
histrias e com vidas.
Outro fator que corrobora na formao do ser professor de msica est
relacionado s experincias pessoais e profissionais que vo sendo construdas e
internalizadas no decorrer da trajetria de vida. Se, por um lado, parece estranho
falar de natureza de conhecimentos profissionais no contexto ainda da formao
em um curso de licenciatura, por outro, h de se considerar as aes de ensino
que grande parte dos estudantes destes cursos tem, ao ministrar aulas de
-
msica em perspect iva v.6 n.1, julho 2013 p. 25-42 ________________________________________________________________________________
27
instrumento particulares ou em escolas de msica, fato que muito comum no
contexto da Licenciatura em Msica. Desse modo, o processo de aprendizagem
do ser professor um processo nico e liga-se s suas vivncias e experincias
pessoais e profissionais as quais se desenrolam ao longo de sua vida, configurando
seus pensamentos e prticas (Souza, 2012, p. 49).
Neste artigo, apresentamos partes de duas pesquisas vinculadas ao grupo
de estudos FAPEM1: formao, ao e pesquisa em educao musical da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), buscando discutir acerca de algumas
aprendizagens que envolvem processos formativos de ser professor de msica. As
pesquisas so orientadas a partir de duas perspectivas tericas: uma associa-se aos
estudos da Teoria das Representaes Sociais e a outra focaliza o referencial sobre
o Pensamento do Professor.
A primeira pesquisa, Representaes sociais acerca do estgio
supervisionado em msica: um estudo na formao inicial de licenciandos em
msica da UFSM buscou investigar as representaes de licenciandos em msica
sobre ser professor, vinculado s realizaes docentes durante o estgio
supervisionado, em trs etapas do curso. A segunda pesquisa procurou
compreender o pensamento de professores de msica, egressos do curso de
Licenciatura em Msica da UFSM, no processo de construo da docncia, a partir
das narrativas de suas trajetrias pessoais e profissionais com o ensino de flauta
doce.
As representaes de licenciandos em msica sobre o estgio supervisionado
Partindo de estudos sobre o estgio supervisionado (ES) nos cursos de
licenciaturas do Brasil e de suas implicaes na formao de professores (Pimenta,
1995; Lima, 2003; Pimenta e Lima, 2004; Kulcsar, 2005; Piconez, 2005;
Fernandes e Silveira, 2007; Azevedo, 2007; Werle, 2010; Buchmann, 2008;
1 Grupo de estudos e pesquisas vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq) e ao Programa de Ps-Graduao em Educao (PPGE/UFSM).
-
Cludia R. Bellochio e Zelmielen A. Souza Aprendizagem docente em msica: pensando com professores
________________________________________________________________________________
28
Wielewicki, 2010; entre outros), bem como de sua prpria vivncia como
professora, formadora de professores e pesquisadora, Bellochio elaborou e
coordenou uma pesquisa2 que teve como foco entender como a docncia vai
sendo representada ao longo do processo de formao acadmico-profissional de
graduandos em situao de ES (2012, p. 230).
Na pesquisa, tomou-se, como pressuposto terico, a orientao de que a
formao acadmico-profissional (Diniz-Pereira, 2008) construda no contexto
das instituies de ensino superior e que o ES, como disciplina obrigatria dos
cursos de Licenciatura, est inserido no processo formativo dos licenciandos. No
caso da Licenciatura em Msica, a docncia no ES no tem sido o primeiro contato
prtico com a docncia tomada de um modo amplo, visto que muitos alunos j
possuem prticas de ensinar no contexto de aulas de msica particulares ou de
instrumento, como j mencionado. Contudo, , para a grande maioria, o primeiro
contato com a docncia na educao bsica, fato que se reveste de desafios para a
formao de professores. Com este panorama, a pesquisa buscou entender a
construo das representaes dos licenciandos em msica, antes mesmo da
insero deles no ES, de modo a acompanhar longitudinalmente os modos
tomados acerca da docncia e de ser professor at o trmino da realizao dos
estgios. O estudo compreendeu trs etapas de realizao (Fase I, II e III), no
perodo de 2008 a 2011, tendo, como instrumentos de produo de dados, em
cada etapa, entrevistas semiestruturadas individuais e grupais.
A pesquisa embasou-se em referenciais tericos acerca do ES e em
referenciais da Teoria das Representaes Sociais desenvolvida por Moscovici em
1976. Segundo Moscovici (1976), uma representao social o senso comum
que se tem sobre um determinado tema, onde se incluem tambm os
preconceitos, ideologias e caractersticas especficas das atividades cotidianas
(sociais e profissionais) das pessoas (Reigota, 2002, p. 12). Nesse contexto,
representar uma ao mental sobre um objeto, sobre um sujeito, constituindo-
se como uma forma de colocar-se diante do real. Destacam os conhecimentos de 2 Esta pesquisa contou com a atuao dos bolsistas Douglas da Silva Duarte (PIBIC/CNPq 2008), Zelmielen Adornes de Souza (PIBIC/CNPq 2009-2010), Jeimely Heep (BIC/FAPERGS 2008-2010; PIBIC/CNPq 2010-2011), Daniel Stringini da Rosa (BIC/FAPERGS 2010) e Iara Cadore Dallabrida (Assistente de pesquisa).
-
msica em perspect iva v.6 n.1, julho 2013 p. 25-42 ________________________________________________________________________________
29
senso comum, carregados de crenas e valores como centralidade das
representaes (Bellochio, 2010, p. 2112).
Para analisar a relao entre a gnese e a organizao das representaes,
Moscovici parte do pressuposto de que a finalidade de todas as representaes
tornar familiar algo no familiar, ou a prpria no-familiaridade (2007, p. 54).
De acordo com o autor, dois mecanismos tornam isso possvel: a ancoragem e a
objetivao. O primeiro mecanismo tenta ancorar ideias estranhas, reduzi-las a
categorias e a imagens comuns, coloc-las em um contexto familiar; enquanto o
segundo visa a transformar algo abstrato em algo quase concreto, transferir o que
est na mente em algo que exista no mundo fsico (Moscovici, 2007, p. 61).
Segundo Alves-Mazzotti (2008, p. 24), a objetivao trata da passagem de
conceitos ou ideias para esquemas ou imagens concretas, os quais, pela
generalidade de seu emprego se transformam em supostos reflexos do real.
No caso das representaes dos licenciandos em msica, a pesquisa
mostrou que, antes de iniciarem o ES, os alunos no possuam uma ideia clara
acerca deste como componente curricular e como prtica de docncia na educao
bsica, revelando-se uma no familiaridade com a docncia como prtica pessoal.
A viso inicial do ES como parte do curso relacionava-se a relatos de colegas da
graduao que estavam realizando as disciplinas de ES ou que j haviam as
concludo; alm disso, partiam de seus conhecimentos, crenas e imagens a
respeito da escola e do professor de msica para tecer as primeiras ideias sobre o
ES.
No decorrer da realizao das disciplinas de ES, a ideia inicial sobre o
mesmo foi sofrendo modificaes e reconstrues, bem como o prprio
significado de docncia e de ser professor de msica.
No curso de licenciatura em msica, internalizam-se conhecimentos, desestabilizam-se certezas e reconstituem-se crenas e valores que aproximam o estudante da atividade de docncia. Esse processo de reestruturao, por sua vez, no atributo nico do curso, mas de todas as relaes sociais internalizadas fora e dentro do espao institudo de formao profissional (Bellochio, 2010, p. 2114)
-
Cludia R. Bellochio e Zelmielen A. Souza Aprendizagem docente em msica: pensando com professores
________________________________________________________________________________
30
Desse modo, ao longo do curso de licenciatura, as representaes foram
sendo modificadas/transformadas, reorientando a relao dos estagirios com a
docncia em msica. As representaes produzidas sobre o que significa ES em
msica, em diferentes etapas do curso, revelam trajetrias particulares dos
licenciandos, ao passo que tambm apontam traos comuns, j que os estudantes
tm uma idade semelhante e convivem no mesmo grupo social, mesma turma de
faculdade, amigos e colegas msicos, porm modificando outros, na medida em
que cada um tem a sua subjetividade e as suas experincias sociointerativas, e
produz-se diferentemente em seu processo de desenvolvimento como futuro
professor de msica.
Nas duas primeiras fases de coleta para a produo de dados, destacam-
se representaes nas quais o ES foi objetivado como aplicar na prtica uma
teoria, revelando uma viso distorcida e funcionalista das relaes entre teoria e
prtica no contexto de ensino. Com isso, as crenas trazidas sobre docncia dos
licenciandos, antes e no incio da realizao do ES, focavam-se na aprendizagem
de conhecimentos visando a sua aplicao prtica no contexto do ensino de
msica escolar.
Entretanto, em meio a essa viso de docncia, emergiram, nas narrativas
dos licenciandos, as recordaes de professores que marcaram as suas trajetrias
discentes, constituindo-se em referncias docentes a serem seguidas no momento
de atuao profissional com o ensino de msica. O que chamava ateno que as
narrativas no eram caracterizadas como as de professores que sabiam aplicar
conhecimentos. No que diz respeito a isso, segundo Bellochio (2011, p. 2220-
2221),
[...] tem-se que a relao com o ensinar das estagirias, naquele momento, estava marchetada no que Alves-Mazzotti nomina como universos consensuais. Dito de outra forma, o fato de ensinar baseando-se num modelo de professor, ressaltando os seus aspectos positivos (ou negativos) uma teoria de senso comum na formao de professores e carrega consigo o fato de que: se deu certo comigo como aluno dar certo comigo como professor.
-
msica em perspect iva v.6 n.1, julho 2013 p. 25-42 ________________________________________________________________________________
31
Posteriormente, essas referncias transformaram-se e passaram a
configurar uma imagem de professor de msica prpria no processo de construo
pessoal da docncia, como destaca uma das estagirias entrevistadas: O que eu
estou procurando o meu jeito (Andria3). Tardif e Raymond (2000, p. 6-7)
enfatizam que as fontes pr-profissionais do saber ensinar so relevantes na
constituio da docncia; sobretudo, aquelas vinculadas histria de vida pessoal
e familiar do futuro professor que so reatualizadas e reutilizadas, de maneira
reflexiva, mas com grande convico, na prtica de seu ofcio.
Assim, as transformaes das representaes sobre ES e,
consequentemente, acerca de ser professor, ao longo da formao acadmico-
profissional de licenciandos em msica, tornaram-se evidentes a partir da insero
e dos desafios cotidianos na docncia da educao bsica, por parte dos
estagirios. Todavia, as transformaes das representaes acerca do ES, e da
docncia, no decorreram somente deste momento das prticas nas escolas, mas
de processos que envolveram a totalidade de seus envolvimentos no curso, seja
em disciplinas curriculares ou outras atividades acadmicas, tais como a
participao em projetos de ensino, extenso e pesquisa.
O ES somado aos aprendizados adquiridos anteriormente, na formao
pr- acadmico-profissional do estagirio, potencializou as reflexes realizadas
durante o ES e promoveu a busca pela concretizao de um trabalho qualificado
de ensino de msica.
Neste processo, as relaes entre conhecimento cientfico e senso comum vo modificando as representaes de docncia e edificando a formao de professor, em um constante processo de transformaes. Outro elemento importante decorre do fato de que, no jogo do ES, entre ser aluno e ser professor, transformaes com relao ao que est implicado no que se ensina e nos modos pelos quais se v ensinado vo emergindo e, ao mesmo tempo em que constroem valores e crenas, estas vo sendo modificadas e reconstrudas. Assim, ao longo da graduao, as representaes dos licenciandos em msica no ES vo sendo constitudas como indicativos de como eles significam a docncia no processo de sua formao acadmico-profissional e vo transformando os seus sistemas de referncia em relao a ser professor. (Bellochio, 2012, p. 230)
3 Nome fictcio escolhido pela participante da pesquisa.
-
Cludia R. Bellochio e Zelmielen A. Souza Aprendizagem docente em msica: pensando com professores
________________________________________________________________________________
32
A pesquisa ainda sublinhou que, ao representar o ES e a docncia em
msica, os licenciandos revelaram a complexidade desta ao, tendo em vista a
dinmica existente nesse processo em que as crenas e os valores esto em
constante transformao, articulando-se intensamente a elementos afetivos,
mentais e sociais, ao lado da cognio, da linguagem e da comunicao (Arruda,
2002, p. 138).
Um destaque acerca da origem das representaes da docncia mistura-
se com os saberes do curso de licenciatura e com as experincias musicais e
pedaggico-musicais que vo sendo construdas ao longo do ensino superior de
graduao, demarcando a relao entre o pessoal e o social na constituio de
representaes (Bellochio, 2011, p. 2221). O curso, o estgio, as aprendizagens
das demais disciplinas e experincias e vivncia dentro e fora da universidade
ajudam a construir a identidade docente (Pimenta e Lima, 2004, p. 67).
Ao serem analisadas as crenas e as perspectivas dos estagirios na
constituio representacional do que significa o ES em msica e suas articulaes
com a educao musical na educao bsica, notou-se o quanto o mundo da
escola, no qual estavam vivendo a sua docncia, demonstrava-se, a princpio,
distante do mundo j vivido como aluno. A escola mudou para eles quando lhes
provocou a sua atuao como estagirios (estudantes de ensino superior), com
saberes acadmicos, mas, em muito, com exigncias profissionais de ser professor
(profisso).
Para os estagirios, o ES em msica ultrapassou o que pensavam ser a aula
de msica. A crena e a perspectiva quase que direta de que a aula de msica
seria realmente uma aula de/com msica, com as escolas de educao bsica
que se tinha, foi gerando outros pontos de vista. Com crianas pequenas, a
preocupao com o cuidar e o educar foram desafios constantes. Com estudantes
dos anos iniciais, dar aula de msica implicava buscar, em outras reas, possveis
relaes com o que gostariam de trabalhar.
Os estagirios, sobretudo, na Fase III da pesquisa, consideraram que as
escolas no esto equipadas com materiais necessrios para as aulas de msica,
bem como no dispem de espao fsico adequado para atividades sonorizadas,
como so as de natureza musical. Expresses como as turmas so agitadas; No
-
msica em perspect iva v.6 n.1, julho 2013 p. 25-42 ________________________________________________________________________________
33
se consegue trabalhar com composio, apreciao, execuo musical tem muito
pouca concentrao na turma; Tem que ficar o tempo todo chamando a ateno
dos alunos; Parece que no estou dando aula de msica foram narrativas
recorrentes. Com relao a este ponto, ponderamos que:
Se h, por um lado, o reconhecimento de que o estgio tanto uma etapa importante na formao de professores, quanto uma oportunidade da maior relevncia para estar em contato com a escola, h indcios razoavelmente claros de que a organizao institucional na universidade pouco coerente com a necessidade de convvio com a escola. A organizao de horrios e atividades no favorece a realizao de um trabalho integrado e reitera, nesse sentido a linha divisria entre o trabalho feito nas duas instituies. Acaba se fazendo, sob certo modo, um trabalho paralelo. O problema dessa analogia geomtrica que duas linhas paralelas, em tese, nunca se encontram. (Wielewicki, 2010, p. 166)
Enfim, podemos compreender que as transformaes das representaes
sobre o ES, ao longo da formao inicial de licenciandos em msica, decorrem da
ampla insero dos estudantes em seu curso, participando como estudantes em
disciplinas curriculares, mas tambm em outras atividades universitrias; resultam
dos aprendizados internalizados em sua formao pr-profissional e tambm das
reflexes realizadas quando em estgio nas escolas de educao bsica,
desafiando-se a fazer uma aula de msica qualificada e que atinja interesses
pessoais, da superviso/orientao e da escola/espao educativo.
Finalizando a pesquisa, entende-se que as representaes dos estagirios
vo sendo modificadas ao longo da formao acadmico-profissional e que o
aspecto central trazido em relao docncia no ES carrega a aspirao positiva
de ser um bom professor de msica nos diferentes espaos educativos.
-
Cludia R. Bellochio e Zelmielen A. Souza Aprendizagem docente em msica: pensando com professores
________________________________________________________________________________
34
O pensamento do professor de msica e a construo da docncia com a flauta doce
Souza (2012), em sua dissertao de mestrado, investigou o pensamento
de quatro professores4 de msica, egressos do curso de Licenciatura em Msica da
UFSM, que atuam com o ensino de flauta doce em diferentes espaos
socioeducativos. O objetivo da pesquisa foi compreender a relao entre o pensar
e o fazer pedaggico-musical com a flauta doce na constituio da docncia em
msica.
Tendo, como aporte terico, o referencial sobre o Pensamento do
Professor (Braz, 2006; Pacheco, 1995), Souza (2012) buscou entender como, ao
pensar o ensino, o professor constri a sua docncia, ou seja, aprende a ser
professor (p. 49), tendo em vista que esse referencial centra os seus estudos no
ensino sob a perspectiva dos professores, tanto com relao dimenso prtica de
suas aes pedaggicas quanto aos pressupostos construtos, conhecimentos,
saberes, crenas, valores, etc. - atravs dos quais eles pensam e organizam o seu
fazer docente. Nesse sentido, os estudos sobre o pensamento do professor
enfatizam os processos mentais envolvidos na relao entre o pensar e o fazer
pedaggico como forma de refletir sobre o ensino e sobre o processo de
aprendizagem docente.
Partindo desse referencial, a pesquisadora aprofundou os estudos a
respeito do pensamento, discutindo como o pensamento processado no
crebro e suas conexes com a memria (2012, p. 49). Para tanto, analisou o
pensamento como funo psicolgica superior (Vygotsky, 2008), a qual se
configura em uma ao mental especializada, de cunho racional e emocional,
intrinsecamente ligada memria. Como destaca Vignaux (1991, p. 214):
Qualquer funcionamento cognitivo aplicado ao tratamento da informao
depende directamente ao mesmo tempo de nossos mecanismos de armazenagem
e de recuperao as nossas estruturas mnsicas. Desse modo, a memria
desempenha um papel fundamental na construo do pensamento, no qual o
4 Os professores de msica participantes da pesquisa escolheram os pseudnimos de Maria Lucia, Vera, Luis Henrique e Bernardo.
-
msica em perspect iva v.6 n.1, julho 2013 p. 25-42 ________________________________________________________________________________
35
pensamento produzido a partir da memria e esta, tambm constituda pelo
pensamento (Souza, 2012, p. 52).
Nesse contexto, sublinhamos que a memria no tem apenas como
funo lembrar ou reactivar o passado; tambm o que permite uma
aprendizagem constante (Vignaux, 1991, p. 214). As lembranas recuperadas
pelo pensamento so reconstrudas, refletidas e reinventadas, desencadeando um
processo de aprendizagem na medida em que movem o ser humano em direo
ao seu desenvolvimento individual e social, principalmente, atravs de sua relao
com a linguagem. Nesse processo de recordar e de narrar histrias ou fatos
vividos, fatores emocionais, cognitivos e sociais intervm e interligam-se,
potencializando a aprendizagem, como salientam Fairstein e Gyssels (2005):
em relao nossa histria que damos sentido e significado aprendizagem.
No contexto do pensamento do professor, ao pensar sobre o ensino, o
professor acessa as lembranas de diferentes momentos que marcaram a sua
trajetria pessoal e profissional.
As histrias da nossa infncia e da nossa escolarizao so revisitadas no sentido das referncias construdas: temos recursos experienciais e tambm representaes sobre escolhas, influncias, modelos, formao de gostos e estilos, o que significativo para a reflexo sobre o que somos hoje e para as possibilidades autopoticas que nos singularizam como pessoas e professores. (Oliveira, 2006, p. 184)
nesse mesmo processo complexo e dinmico que conecta pensamento,
memria e linguagem que tambm potencializada a aprendizagem docente em
msica. Assim, atravs do aporte metodolgico da histria oral temtica (Meihy,
2005) e da realizao de entrevistas narrativas (Jovchelovitch e Bauer, 2008) em
duas etapas, Souza (2012) observou que as relaes tecidas com a flauta doce ao
longo da formao pr-profissional e acadmico-profissional dos participantes da
pesquisa foram imprimindo formas de pensar sobre o instrumento musical e sobre
a docncia em msica a partir do mesmo.
Ao pensarem sobre o seu fazer pedaggico-musical, os professores de
msica recordaram a importncia que o aprendizado da flauta doce teve em suas
infncias, como expresso pelas entrevistadas Maria Lucia e Vera; e o significado
-
Cludia R. Bellochio e Zelmielen A. Souza Aprendizagem docente em msica: pensando com professores
________________________________________________________________________________
36
que foi sendo construdo com o instrumento no curso de Licenciatura em Msica,
conforme narrado por Luis Henrique e Bernardo. Os significados edificados pelos
professores de msica atravs das vivncias com a flauta doce relacionam-se,
principalmente, aos laos afetivos tecidos em seus percursos pessoais e
profissionais com o instrumento, movendo os seus pensamentos e as suas prticas
pedaggico-musicais no contexto do ensino de msica.
Nesse percurso com a flauta doce, por estudarem o instrumento, os
participantes, antes de atuarem com a docncia, foram construindo uma imagem
de flautistas ao redor de si. Embora, em um primeiro momento, essa imagem no
lhes fosse familiar, ou seja, eles no se viam como flautistas, ela influenciou os
seus pensamentos, ao passo que tambm promoveu as suas primeiras inseres
com o ensino de flauta doce. Na medida em que foram se envolvendo mais em
atividades docentes com a flauta doce, foi sendo internalizada a imagem de
flautista e construda a imagem de professor de flauta doce.
Junto a essa imagem de professor de flauta doce, destaca-se tambm o
aparecimento de docentes que influenciaram, de maneira relevante, a trajetria
dos entrevistados enquanto estudantes de instrumento e da graduao em Msica,
seja por constiturem-se em um modelo de professor, seja pelo papel que
desempenharam na construo de uma relao significativa com a flauta doce.
Desse modo, esses docentes exerceram um papel fundamental na forma como os
professores teceram os seus primeiros pensamentos e aes com o ensino de
msica.
Essas vivncias foram possibilitando a construo de conhecimentos sobre, para e na docncia com a flauta doce; a produo de representaes sobre o cotidiano de uma aula, individual ou coletiva, de instrumento e sobre a dinmica dos espaos socioeducativos; a criao de valores, crenas e perspectivas quanto ao aprendizado da flauta doce e suas implicaes (identificao, entrega, dedicao e estudo); a sedimentao de teorias, implcitas e explcitas, sobre o ensino; e a aprendizagem sobre os alunos e sobre ser professor de msica com a flauta doce. (Souza, 2012, p. 135)
Souza (2012) observou que, nos pensamentos e nas aes narradas pelos
professores de msica com o ensino de flauta doce, assim como em seus objetivos
-
msica em perspect iva v.6 n.1, julho 2013 p. 25-42 ________________________________________________________________________________
37
pedaggico-musicais para ensinar, entrelaam-se razo e emoo (Baggio e
Oliveira, 2008); e que a motivao para ensinar flauta doce e para continuar
ensinando est, como expressa Marcelo (2012, p. 16), [...] fortemente ligada
satisfao por conseguir que os alunos aprendam, desenvolvam capacidades,
evoluam e cresam. Nas palavras dos professores entrevistados, ensinar flauta
doce : dar oportunidade de o aluno descobrir um instrumento que o complete,
que o ajude a desenvolver o potencial que tem e o ajude a ser mais feliz (Maria
Lucia); incentivar, mostrar o mundo da flauta doce tambm (Luis Henrique);
contribuir de alguma maneira para eles [os alunos], possibilitando, ao aluno,
uma maneira de se expressar com um instrumento musical (Vera); a atividade,
que no momento, traz-me muita satisfao de trabalhar com os alunos
(Bernardo).
Dessa forma, na narrativa dos professores de msica ficou evidente o
desejo de que seus alunos tambm vivenciem momentos significativos com a
flauta doce, como aqueles por eles vividos no passado (Souza, 2012, p. 137).
Nesse contexto, percebemos que muitas das vivncias dos professores com a flauta
doce acabaram constituindo-se em experincias fundadoras e atuando como
recordaes-referncias para o ensino desse instrumento musical.
A recordao-referncia significa, ao mesmo tempo, uma dimenso concreta ou visvel, que apela para nossas percepes ou para as imagens sociais, e uma dimenso invisvel, que apela para emoes, sentimentos, sentidos ou valores. A recordao-referncia pode ser qualificada de experincia formadora, porque o que foi aprendido (o saber-fazer e os conhecimentos) serve, da para a frente, quer como acontecimento existencial nico e decisivo na simblica orientadora de uma vida. So as experincias que podemos utilizar como ilustrao numa histria para descrever uma transformao, um estado de coisas, um complexo afetivo, uma ideia, como tambm uma situao, um acontecimento, uma atividade ou um encontro. (Josso, 2010, p. 37)
As recordaes-referncias atuam como fontes das quais os professores de
msica embasam-se e refletem sobre a prtica docente com a flauta doce. No
entanto, no so estticas, mudam com o processo de pensar e repensar o ensino,
-
Cludia R. Bellochio e Zelmielen A. Souza Aprendizagem docente em msica: pensando com professores
________________________________________________________________________________
38
bem como com as vivncias que vo se somando na trajetria desses professores
nos diferentes contextos de atuao profissional.
Desse modo, a pesquisa sublinhou que os professores de msica
constituem-se em profissionais reflexivos que pensam cotidianamente sobre as
suas aes pedaggico-musicais. Esse pensar, o qual se articula aos seus construtos,
crenas, conhecimentos, representaes, etc., presentes em suas recordaes-
referncias para ensinar flauta doce, guia as suas aes docentes em msica e
tambm promove reflexes sobre a prpria atuao profissional. Ao suscitar
reflexes sobre a atuao como professores, desenrola-se uma parte importante
do processo formativo docente do professor de msica, na qual o pensar tambm
produz o fazer e o ser docente (Souza, 2012, p. 140, grifos da autora).
Entrelaando as pesquisas e refletindo sobre a aprendizagem docente em msica
As pesquisas apresentadas abordam estudos que envolvem o pensamento
de alunos e egressos do curso de Licenciatura em Msica da UFSM, tanto no que
tange construo das primeiras representaes sobre a docncia, a partir do ES,
quanto relao entre o pensar e o fazer docente dirio de professores que atuam
com o ensino de flauta doce.
Nessas pesquisas, observamos que as aprendizagens concernentes a ser
professor so discutidas a partir de sua complexidade, evidenciando aes que so
estabelecidas em processos interativos com o contexto social nos quais acontecem.
Desse modo, na Teoria das Representaes Sociais, destacam-se os processos de
ancoragem e de objetivao, pelos quais as representaes de ES e docncia vo
sendo construdas, reconstrudas e transformadas ao longo da formao
acadmico-profissional e das prticas docentes dos licenciandos em Msica no
espao escolar. Essas transformaes tambm so abordadas atravs do referencial
sobre o Pensamento do Professor, no entanto, o foco encontra-se na dinmica do
pensar em sua relao com a memria e a linguagem, em um processo constante
de reconstruo e reinveno. O pensamento, nesse contexto, articula sentidos em
-
msica em perspect iva v.6 n.1, julho 2013 p. 25-42 ________________________________________________________________________________
39
suas esferas enquanto funo psicolgica superior; ao de pensar; e produto
constitudo por ideias, imagens, construtos, crenas, perspectivas, projees, etc.
(Souza, 2012, p. 144). Em ambas as pesquisas, as vivncias pessoais decorrem de
processos internalizados construdos na e fora da docncia.
Na pesquisa realizada sobre o pensamento do professor, as
representaes so entendidas como produes da ao de pensar no processo de
interao com o universo da docncia com a flauta doce. Nesse processo, crenas
dos professores sobre o ensino do instrumento e o que significa ser professor de
flauta doce, a partir de recordaes da poca em que eram estudantes e de
diferentes experincias musicais vividas, so revisitadas e refletidas, de modo a
produzir problematizaes e a busca por solues sobre o prprio fazer docente
em msica. Com relao s representaes da docncia no ES, Bellochio (2011)
tambm observa que, em sua origem, as representaes combinam-se, em uma
relao pessoal e social, com os saberes e as experincias musicais e pedaggico-
musicais que vo sendo tecidas no curso de Licenciatura em Msica.
Nesse sentido, percebemos que os dois referenciais tericos trazidos pelas
pesquisas relatadas entrelaam-se de diferentes formas. Enquanto um discute as
representaes como construes da interao social com mundo, o outro enfatiza
o processo do pensar que produz essas representaes, somando contribuies
para a compreenso acerca do processo de aprendizagem docente e a reflexo
sobre a formao de professores, tanto no contexto da formao acadmico-
profissional quanto ao longo da vida.
Desse modo, na primeira pesquisa, ao sublinhar o processo inicial da
construo de sentidos sobre a futura atuao profissional com a docncia, a partir
das representaes do ES, e na segunda, ao discutir o significado da reflexo
acerca das vivncias e experincias fundadoras atravs do processo de pensar
sobre as recordaes-referncias, destacada a importncia dos cursos de
Licenciatura em Msica em constiturem-se como um espao de formao
acadmico-profissional, abrangendo todas as disciplinas do curso e no apenas o
ES; e em um lugar onde as trajetrias pessoais dos licenciandos sejam discutidas e
refletidas, potencializando reflexes e prticas engajadas com o ensino de msica.
-
Cludia R. Bellochio e Zelmielen A. Souza Aprendizagem docente em msica: pensando com professores
________________________________________________________________________________
40
Referncias
ALVES-MAZZOTTI, A. J. Representaes Sociais: Aspectos Tericos e Aplicaes Educao. Revista Mltiplas Leituras, So Paulo, v.1, n. 1, p. 18-43, jan./jun. 2008.
ARRUDA, A. Teoria das representaes sociais e teorias de gnero. Cadernos de Pesquisa, So Paulo, n. 117, p. 127-147, 2002.
AZEVEDO, M. C. C. Os saberes docentes na ao pedaggica dos estagirios em msica: dois estudos de caso. 2007. 437 f. Tese (Doutorado em Msica)-Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Ps-Graduao em Msica, Porto Alegre, 2007.
BAGGIO, A.; OLIVEIRA, V. F. A complexidade do imaginrio tolerante e procedimentos educativos. Cadernos de Educao: FaE/PPGE/UFPel, Pelotas, n.31, p. 133 - 147, jul/dez. 2008.
BELLOCHIO, C. R. Representaes sociais na construo da docncia: um estudo com estagirias da Msica-licenciatura. In: CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAO BRASILEIRA DE EDUCAO MUSICAL, 19., 2010. Goinia. Anais... Goinia: ABEM, 2010. p. 2211-2121.
________. Representaes de estagirias de msica: transformando crenas e valores da docncia na formao acadmico-profissional. In: CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAO BRASILEIRA DE EDUCAO MUSICAL, 20., 2011. Vitria. Anais... Vitria: ABEM, 2011. p. 2216-2226.
________. Representando a docncia, vou me fazendo professora: uma pesquisa com estagirias de licenciatura em Msica. Prxis Educativa, Ponta Grossa, v. 7, n. 1, p. 227-252, jan./jun. 2012. p. 227- 252.
BRAZ, A. M. G. Teorias Implcitas dos estudantes de Pedagogia sobre a docncia nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 2006. 162 f. Tese (Doutorado em Educao)Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Departamento de Educao do Centro de Cincias Sociais Aplicadas. Programa de Ps-Graduao em Educao, Natal, 2006.
BUCHMANN, L. A construo da docncia em msica no estgio supervisionado: um estudo na UFSM. 2008. 147 f. Dissertao (Mestrado em Educao)-Universidade Federal de Santa Maria, Programa de Ps-Graduao em Educao, Santa Maria, 2008.
DINIZ-PEREIRA, J. E. A formao acadmico-profissional: compartilhando responsabilidades entre universidades e escolas. In: EGGERT, E. et al. Trajetria e processos de ensinar e aprender: didtica e formao de professores. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2008. p. 253-266.
FERNANDES, C. B; SILVEIRA, D. Formao inicial de professores: desafios do estgio curricular supervisionado e territorialidade na licenciatura. In: REUNIO
-
msica em perspect iva v.6 n.1, julho 2013 p. 25-42 ________________________________________________________________________________
41
ANUAL DA ASSOCIAO NACIONAL DE PS-GRADUAO E PESQUISA EM EDUCAO, 30., 2007. Caxambu. Anais... Caxambu: Anped, 2007. CD- ROM.
FAIRSTEIN, G. A.; GYSSELS, S. Como se aprende? So Paulo: Edies Loyola, 2005.
JOVCHELOVITCH, S.; BAUER, M. W. Entrevista Narrativa. In: BAUER, M. W.; GASKELL, G. (Ed.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prtico. 7. ed. Petrpolis: Vozes, 2008. p. 90-113.
JOSSO, M.-Ch. Experincias de Vida e Formao. 2. ed. Natal: EDUFRN; So Paulo: Paulus, 2010.
KULKSAR, R. O estgio supervisionado como atividade integradora. In: PICONEZ, S. B. A prtica de ensino e o estgio supervisionado. 11. ed. Capinas/SP: Papirus, 2005. p. 63-74.
LIMA, M. S. L. et al. A hora de prtica: reflexes sobre o estgio supervisionado e ao docente. 3. ed. Fortaleza: Edies Demcrito Rocha, 2003.
MARCELO, C. O professor iniciante, a prtica pedaggica e o sentido da experincia. Formao Docente, Belo Horizonte, v. 03, n. 03, p. 11-49, ago./dez. 2010. Disponvel em: . Acesso em: 17 jan. 2012.
MEIHY, J. C. S. B. Manual de Histria Oral. 5. ed. So Paulo: Edies Loyola, 2005.
MOSCOVICI, S. Representaes sociais: investigaes em psicologia social. 3. ed. Petrpolis: Vozes, 2007.
OLIVEIRA, V. F. Narrativas e Saberes Docentes. In: OLIVEIRA, V. F. (Org.). Narrativas e Saberes Docentes. Iju: Ed. Uniju, 2006. p. 169-190.
PACHECO, J. A. O Pensamento e a Aco do Professor. Porto: Porto Editora, 1995.
PICONEZ, S. B. A prtica de ensino e o estgio supervisionado. 11. ed. Campinas: Papirus, 2005.
PIMENTA, S. G. O estgio na formao de professores. Unidade teoria e prtica? 2. ed. So Paulo: Cortez, 1995.
PIMENTA, S. G.; LIMA; M. S. Estgio e docncia. So Paulo: Cortez, 2004.
REIGOTA, M. Meio Ambiente e representao social. 5. ed. So Paulo: Cortez, 2002.
SOUZA, Z. A. Construindo a docncia com a flauta doce: o pensamento de professores de msica. 2012. 170 p. Dissertao (Mestrado em Educao)-Universidade Federal de Santa Maria, Programa de Ps-Graduao em Educao, Santa Maria, 2012.
TARDIF, M. T.; RAYMOND, D. Saberes, tempo e aprendizagem do trabalho no magistrio. Educao & Sociedade, Campinas, v. 21, n.73, p. 209-244, dez. 2000.
-
Cludia R. Bellochio e Zelmielen A. Souza Aprendizagem docente em msica: pensando com professores
________________________________________________________________________________
42
VIGNAUX, G. As Cincias Cognitivas. Traduo de Maria Manuela Guimares. Lisboa: Epistemologia e Sociedade, 1991.
VYGOTSKY, L. S. Pensamento e Linguagem. Traduo de Jefferson Luiz Camargo. 4. ed. So Paulo: Martins Fontes, 2008.
WERLE, K. A msica no estgio supervisionado da pedagogia: uma pesquisa com estagirias da UFSM. 2010. 128 f. Dissertao (Mestrado em Educao)-Universidade Federal de Santa Maria, Programa de Ps-Graduao em Educao, Santa Maria, 2010.
WIELEWICK, H. G. Prtica de ensino e formao de professores: um estudo de caso sobre a relao universidade-escola em cursos de li