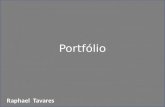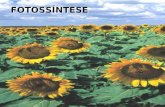2014 d Raphael
-
Upload
elis-regina-castro-lopes -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
Transcript of 2014 d Raphael
-
7/24/2019 2014 d Raphael
1/58
1
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CINCIAS HUMANAS E FILOSOFIA
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MESTRADO EM PSICOLOGIA
Polticas da Narrativa. Resduos da Experincia
Raphael Vaz Rocha
Orientador: Prof. Dr. Marcelo Santana Ferreira
Niteri, dezembro de 2014
-
7/24/2019 2014 d Raphael
2/58
2
Polticas da Narrativa. Resduos da ExperinciaRaphael Vaz RochaDissertao de Mestrado do Programa de PsGraduao em Psicologia do departamento dePsicologia da Universidade Federal
Fluminense.
__________________________________________________________
Prof. Dr. Marcelo Santana Ferreira (orientador)
__________________________________________________________
Profa. Dra. Analice Palombini (UFRGS)
__________________________________________________________
Prof. Dr. Luis Antnio Baptista (UFF)
-
7/24/2019 2014 d Raphael
3/58
3
Agradecimentos
Ao Davi, Franco, Maria Liberacy, Jaciara, Maria de Lourdes, Georgina, Arlindo,
Roberto, Ricardo, Flvio e Arquibaldo, pela coautoria desta pesquisa.
Ao Romeo que me fez reaprender a dar risadas.
Cris pelas pequenas revolues desde que a conheci em Paracambi.
Universidade Federal Fluminense pela acolhida.
Fundao Capes pelo financiamento desta pesquisa
Ao professor Marcelo pelo seu testemunho do processo.
Ao professor Luis Antnio por compartilhar o caminho do seu pensamento e pela
coragem das suas palavras.
professora Analice, um bom encontro.
-
7/24/2019 2014 d Raphael
4/58
4
Sumrio
Apresentao ...........................................................................................................7
Um..........................................................................................................................13
Dois.........................................................................................................................20
Trs.........................................................................................................................24
Quatro.....................................................................................................................24
Cinco.......................................................................................................................28
Seis.........................................................................................................................30
Sete.........................................................................................................................30
Oito.........................................................................................................................34
Nove........................................................................................................................37Dez..........................................................................................................................40
Onze.......................................................................................................................44
Doze........................................................................................................................47
Treze.......................................................................................................................50
Quatorze.................................................................................................................51
Concluso...............................................................................................................53
Bibliografia..............................................................................................................57
-
7/24/2019 2014 d Raphael
5/58
5
Resumo
As famlias de um condomnio em Jacarepagu (RJ), estavam resistentes
quanto chegada de quatro mulheres egressas do manicmio. A posio das
famlias que moravam no prdio era coerente ao imaginrio popular sobre a loucura,
ocupado pelo sentido da violncia. Apesar disso, o cotidiano produziu caminhos que
desacomodaram a experincia confinada em seu sentido.
Havia chegado o dia da mudana e, no porto do condomnio, o caminho
de moblia pedia passagem. O sndico do prdio estava de prontido e no teve
dvidas: colocou-se em frente ao caminho, proibindo o acesso da loucura. O que
poderia acontecer ao condomnio de classe mdia com a circulao das pacientes?
Ao percorrer as casas ocupadas pelos egressos de internao psiquitrica opsiclogo deparou-se com a seguinte questo: Como traduzir as experincias, de
forma que se possa explicitar aquilo que foi vivido?
Palavras-chaves:narrativas, desinstitucionalizao, loucura, Walter Benjamin
-
7/24/2019 2014 d Raphael
6/58
6
Muitos signos so emitidos sem que jamais sejam decifrados. O que existe
muito mais o trabalho de travessia, de prova, de escuta, de explorao tateante de
um imenso territrio desconhecido.
Proust
-
7/24/2019 2014 d Raphael
7/58
7
Apresentao
Alguns anos depois de concludo o curso universitrio, os caminhos do
psiclogo se encontram aos de homens e mulheres, egressos de internao
psiquitrica. Entre os anos de 2008 e 2012, havia participado do processo de
desinstitucionalizao dos manicmios Casa de Sade Doutor Eiras (Paracambi-
RJ) e Colnia Juliano Moreira (Rio de Janeiro-RJ). Dessa convivncia proliferam
imagens, gestos, texturas, fotografias e histrias. O desejo de escrever foi se
engendrando lentamente, como possibilidade de articulao deste conjunto variado
e disperso; e como tentativa de composio de um texto que pudesse dialogar com
este acmulo.
Mas, como traduzir esses acontecimentos?As referncias bibliogrficas utilizadas para abordar a discusso metodolgica
so anunciadas no captulo um. Durante a maior parte do texto, o leitor encontrar
citaes de Walter Benjamin, devido aproximao entre as questes formuladas
pela pesquisa e o pensamento do filsofo alemo. Em especial, buscamos conhecer
e apropriarmo-nos da posio crtica do autor, em relao produo do sujeito e
do objeto do conhecimento, assim como, da discusso, a respeito da transmisso
da histria.
A importncia de uma pesquisa que se ocupa dos resduos da experincia
com a loucuraconsiste em sua articulao com o campo da tica e da esttica,
naquilo que entendemos como uma perspectiva de provocao da alteridade e da
visibilidade. Isto dito, considerando o isolamento da loucura devido s prticas de
internao psiquitrica, que no cessaram com o fechamento dos manicmios, pois
o isolamento tambm est relacionado hegemonia do saber cientfico, em
detrimento dos saberes e tradies populares. medida que a pesquisa rene
imagens da loucura, captadas a partir de cenas triviais, e re-significa essas imagens,
atravs das narrativas, o que a pesquisa vislumbra a abertura de novos sentidos
e a possibilidade de um reposicionamento tico, diante desta alteridade
interrompida pelo isolamento.
-
7/24/2019 2014 d Raphael
8/58
8
No decorrer do texto, deparamo-nos com imagens que fazem proliferar novos
sentidos para as experincias aprisionadas no cotidiano. A este respeito, fazemos
referncia, no captulo sete, s meninas da Colniano prdio de classe mdia em
Jacarepagu; e no captulo oito, imagem do caminhante diante do desconhecido
na estao de trem Central do Brasil.
Neste sentido, possvel dizermos que existe uma relao de proximidade
entre a pesquisa e o trabalho do fotgrafo alemo, August Sander, relatado por
Benjamin (1994), no ensaio Pequena Histria da fotografia.
Sander publicou em 1929, um lbum de retratos com rostos humanos
representando todas as camadas sociais - do campons ao homem ligado a terra.
A rigor, no se tratava de um trabalho artstico, como, via de regra, era cultivado
pelos fotgrafos de sua poca; mas, eminentemente, um trabalho poltico, nosentido, de conduzir o observador - pequeno burgus - a olhar para fora de si.
Numa sociedade que procura reconhecer-se, em tudo que v; e que desde
cedo aprendeu a admirar a imagem que reflete no espelho, mais do que a prpria
obra de arte, o mrito do trabalho de Sander consiste nesta tentativa de provocar o
reconhecimento da alteridade.
Em sintonia com a perspectiva de que as fronteiras do eu possam ser
transtornadas, a pesquisa busca refazer o caminho percorrido por Sander, ou seja,
atravs das narrativas, atingir a visibilidade capaz de implodir o universo carcerrio
do cotidiano e dos modelos identitrios.
Os resduos da experincia com a loucura, de que trata o enunciado da
pesquisa, consiste no trabalho de rememorao do pesquisador, a respeito do que
foi vivido com os egressos do manicmio. Trata-se do que ficou de um tempo e um
espao, por vezes esquecido, por vezes preenchido por formas aparentemente
secundrias. Ora ocupado por gestos desprovidos de sentido e imagens sem
contorno, ora por objetos fora de uso, traos biogrficos e lembranas
involuntrias1.
Walter Benjamin nos diria, que os fenmenos que so, para alguns, desvios,
para outros, orientam o percurso(GAGNEBIN, 2011, p.87).
1Trata-se de uma referncia a Marcel Proust e sua obra Em busca do tempo perdido.
-
7/24/2019 2014 d Raphael
9/58
9
A questo dos resduos que orientam o percurso fica mais evidente no decorrer
da pesquisa, medida que percebemos um modo de olhar movido mais pelas
sensaes, do que pela identificao de formas existentes.
Em Rua de mo nica, no aforismo intitulado, Estas plantas so recomendadas
proteo do pblico,Walter Benjamin dir que o amor se aninha nas rugas do
rosto2(BENJAMIN, 1995, p.18). A imagem causa-nos espanto, pois, aprendemos a
procur-lo em outros lugares. Ao dizer que o amor no est l, onde imaginvamos,
mas refugia-se nas manchas hepticas, roupas gastas e no andar torto; a
inestimvel contribuio do pensador alemo forjar uma sensibilidade para o
universo imperceptvel das coisas que se aninhamno cotidiano; deslocando olhares
e saberes dos seus devidos lugares. Neste sentido, Benjamin se apossa destes
elementos para a construo de um caminho, na direo da produo doconhecimento.
Os olhos de Benjamin para as rugas e roupas gastasexpressam a reverncia
do autor questo do tempo, mais especificamente, a relao que se estabelece
entre o presente e o passado; fazendo emergir o inacabamento e a vitalidade do
passado. O aforismo serve-nos de alerta para os riscos do conformismo do olhar
cristalizado da atualidade (MURICY, 1998).
2O que solucionado? Todas as questes da vida vivida no ficam para trs, como uma ramagemque nos impedissem a viso? Em desbast-la, em ilumin-la sequer, dificilmente pensamos.Seguimos adiante, a deixamos atrs de ns, e da distncia ela sem dvida abarcvel, masindistinta, sombria e, nessa medida, mais enigmaticamente enredada.Comentrio e traduo esto para o texto assim como estilo e mimese esto para a natureza: omesmo fenmeno sob diferentes modos de considerar. Na rvore do texto sagrado so ambosapenas as folhas eternamente sussurrantes, na rvore do texto profano so os frutos que caem notempo certo.Quem ama no se apega somente aos defeitos da amada, no somente aos tiques e fraquezas deuma mulher; a ele, rugas no rosto e manchas hepticas, roupas gastas e um andar torto prendem
muito mais duradoura e inexoravelmente que toda beleza. H muito tempo se notou isso. E por qu?Se verdadeira uma teoria que diz que a sensao no se aninha na cabea, que no sentimosuma janela, uma nuvem, uma rvore no crebro, mas sim naquele lugar onde as vemos, assimtambm, no olhar para a amada, estamos fora de ns. Aqui, porm, atormentadamente tensos earrebatados. Ofuscada, a sensao esvoaa como um bando de pssaros no esplendor da mulher.E, assim como os pssaros buscam proteo nos folhosos esconderijos da rvore,refugiam-se assensaes nas sombrias rugas, nos gestos desgraciosos e nas modestas mculas do corpo amado,onde se acocoram em segurana, no esconderijo. E nenhum passante adivinha que exatamenteaqui, no imperfeito, censurvel, aninha-se a emoo amorosa, rpida como uma seta, do adorador(BENJAMIN, 1995, p.18).
-
7/24/2019 2014 d Raphael
10/58
10
Alinhando esta sensibilidade com a defesa do sentido poltico e epistemolgico
da produo de narrativas, a pesquisa vai se constituindo de acordo com a abertura
de espaos de enunciao e audincia de histrias. Ao caminhar pelas ruas com
Davi, com Franco, com Arlindo e com Liberacy, tornamos-nos testemunhos de
acontecimentos que no seriam vistos e que no seriam contados; pois o sentido
atribudo loucura encobre a viso destas imagens. Ao narr-los, o fazemos no
sentido de compartilharmos estes acontecimentos, que fazem transtornar modos de
vidas hegemnicos e prescritivos. Fazemo-lo tambm com o intuito de construirmos
outros sentidos para estas histrias, que ficaram imobilizadas nas pginas dos
pronturios. Portanto, as narrativas despontam como uma sada tica para a
elaborao de outra poltica de pesquisa, que no sucumba informao e
tcnica.Quando referimo-nos ao testemunho, o fazemos a partir de Jeanne Marie
Gagnebin e sua releitura do sonho de Primo Levi, no campo de extermnio de
Auschwitz3. Para Gagnebin, o testemunho aquele que no vai embora, mesmo
diante de uma situao insuportvel (GAGNEBIN, 2006).
Sobre a importncia da cidade e de caminhar pelas ruas, h de se buscar o
entendimento, a que servem estas imagens na pesquisa?
Se nos contos e romances, a descrio minuciosa do espao fsico utilizada
para justificar a ao que se desenvolver sucessivamente, pode-se dizer que o uso
paisagstico das imagens percorre o sentido inverso proposta da pesquisa.
A aposta poltica e epistemolgica que a pesquisa faz na cidade e no ato de
caminhar pelas ruas est em sua capacidade de produo de alteridade. A respeito
da heterogeneidade dos fenmenos que nos fazem mover e retirar-nos de um plano
estvel, apresentamos, no captulo trs, a imagem do cego mascando chicletes, de
Clarice Lispector (1983), e, no captulo onze, o gesto de Maria Liberacy em direo
agncia bancria.
A relao entre o deslocamento da rigidez da identidade e a cidade
apresentada por Baudelaire, em A perda da aurola, ao descrever um anjo
3Osonho de Primo Levi e a discusso de Gagnebin sero apresentados no captulo treze.
-
7/24/2019 2014 d Raphael
11/58
11
amedrontado com os cavalos e veculos, apressado, saltando pelas poas de lama
e incgnito dentro de um bar.
Ora, ora, meu caro! O senhor! Aqui! Em um lugarmal afamado um homem que sorve essncias,
que se alimenta de ambrosia! De causar assombro,em verdade. Meu caro, sabe do medo que mecausam cavalos e veculos. H pouco estava euatravessando o boulevar com grande pressa, e eisque, ao saltar sobre a lama, em meio a este caosem movimento, onde a morte chega a galope detodos os lados ao mesmo tempo, minha aurola,em um movimento brusco, desliza de minha cabeae cai no lodo do asfalto. No tive coragem deapanh-la. Julguei menos desagradvel perderminhas insgnias do que me deixar quebrar osossos. E agora, ento, disse a mim mesmo, oinfortnio sempre serve para alguma coisa. Possoagora passear incgnito, cometer baixezas eentregar-me s infmias como um simples mortal.Eis-me, pois, aqui, idntico ao senhor, como v! Osenhor deveria ao menos mandar registrar a perdadessa aurola e pedir ao comissrio que arecupere. Por Deus! No! Sinto-me bem aqui.
Apenas o senhor me reconheceu. De resto,entedia-me a dignidade. Alm disso apraz-me opensamento que um mau poeta qualquer aapanhar e se enfeitar com ela, sem nenhumpudor. Fazer algum ditoso - que felicidade!Sobretudo algum que me far rir! Imagine X ou Y!No, isto ser burlesco! (BENJAMIN, 1994b,p.144).
***
Alguns pressupostos epistemolgicos do movimento surrealista francs4
sero apresentados, pois exercem influncia sobre a concepo de escrita a que a
pesquisa se filiou. A filiao a que nos referimos de compartilhamos a crtica
centralidade e ao predomnio da razo, na produo do conhecimento.
O surrealismo como paradigma esttico e epistemolgico privilegia a imagem
em detrimento do conceito, pois atravs das imagens seria possvel abrir caminhos,
4Em especial, referimo-nos ao Manifesto Surrealista,de Louis Breton (1924) e aos ensaios de WalterBenjamin: Rua de Mo nica (1995),Imagens do Pensamento(1995), Infncia em Berlim(1995) eO Surrealismo (1994a).
-
7/24/2019 2014 d Raphael
12/58
12
que conduzam a territrios, onde a razo ainda no consegue transitar(MURICY,
1993, p.670). a partir de um contexto de preocupao com a forma de exposio
do pensamento que Walter Benjamin ir declarar: No tenho nada a dizer. Somente
a mostrar(BENJAMIN apud MURICY, 1993, p.670). Em consonncia com estes
enunciados, a pesquisa busca atingir e ser atingida pela experincia sensvel, das
imagens do dia-a-dia. A este respeito, duas imagens so bastante significativas: o
uniforme do porteiro, no captulo sete e as fotos do Ricardo, no captulo quatorze.
No campo da escrita, a diluio do sentido implica a produo de textos com
menos pretenso em explicar, definir e acomodar as coisas nos seus devidos
lugares. Para Walter Benjamin, a arte do narrador tambm a arte de contar sem
a preocupao em explicar, reservando aos acontecimentos a sua fora secreta
(GAGNEBIN, 1982, p.70). Decorre desse pressuposto, a opo metodolgica deincorporar, redao do texto, toda sorte de fenmenos que cruzarem o campo
perceptivo, em oposio perspectiva de tom-los como o rebotalho da reflexo.
No posfcio do livro O Campons de Paris, de Louis Aragon (1996), Jeanne Marie
Gagnebin (1996) dir que a incluso destes fenmenos habitualmente
negligenciados pelo saber cientfico - pois se constituem como desvioa saber, os
pensamentos instantneos, os fatos da vida cotidiana, os sonhos, as reminiscncias
e as lembranas da infncia; so para os surrealistas, vias de acesso privilegiado
ao conhecimento.
Um dos pressupostos da critica ao historicismo, na obra de Benjamin
(1994a), a descontinuidade da histria. Retomado pelos surrealistas, a
justaposio das diferentes imagens - do presente atravessado pelo passado - ir
compor um mosaico que incidir sobre a escrita, no sentido de operar uma
modificao na forma como o pensamento se constitui.
-
7/24/2019 2014 d Raphael
13/58
13
Um
A partir da chamada modernidade5, o progresso cientfico atingiu o seu
patamar mais elevado: tornou-se a principal matriz do conhecimento e assumiu o
estatuto de verdade incontestvel. Em consonncia, assistimos a marginalizao e
o esquecimento dos saberes e tradies populares. Este processo foi se
prolongando pelo sculo XX, at o desaparecimento da multiplicidade de narrativas.
Com isto, a hegemonia do saber cientfico encerrou-nos numa nica verso para os
acontecimentos, e pouca abertura para novas possibilidades de significados. Neste
sentido, ao referirmo-nos s experincias com a loucura, o fazemos a partir de
definies previamente ocupadas de sentido.
Em uma poca em que os fatos j chegam acompanhados de sentido eexplicao (BENJAMIN 1994a), como traduzir as experincias?
Por traduo, referimo-nos busca pelas palavras que pudessem explicitar a
travessia entre o que foi vivido - e o que possvel transmitir, daquilo que foi vivido.
medida que fazemos passar pelo fio da linguagem o universo infinito dos
afetos, das imagens e dos gestos, muitas vezes o que se materializa
irreconhecvel do ponto de vista daquilo que seria o sentido pretensamente original.
Segundo Calvino (1985), a linguagem diz sempre menos que a totalidade do
experimentvel. Entretanto - diz o autoristo no deve ser motivo para utilizarmos
a linguagem de modo aproximativo, casual e descuidado(CALVINO, 1985, p.88).
Italo Calvino apresentou esta discusso aos alunos da Universidade de Cambridge
(Massachussets, EUA) em 1985, atendendo a uma encomenda para que
ministrasse um ciclo de seis conferncias. As conferncias pretendiam definir
alguns valores literrios que mereciam ser preservados no curso do prximo
milnio. Na conferncia intitulada Exatido, Calvino diz que devemos exigir das
palavras o esforo para dar conta, com maior preciso possvel, do aspecto sensvel
das coisas.
5Por modernidade, referimo-nos dissoluo do carter nico e incomparvel dos fenmenos e significao de cada coisa, fixada pelo preo (DANGELO 2006, p.55).
-
7/24/2019 2014 d Raphael
14/58
14
A respeito do que se materializa irreconhecvel, Jeanne Marie Gagnebin diz
o que se desenrola entre o incio e o fim de uma escrita no nos pertence
(GAGNEBIN, 2011, p.84). Neste sentido, escrever no diferente de uma viagem,
avalia a autora, referindo-se s inmeras situaes que surgem e obrigam tomada
de desvios.
Ao permitir que uma palavra que tomou de assalto o texto produza um
descompasso ou imprima um novo ritmo; que uma lembrana inesperada6conduza
a escrita para outra direo, mesmo reticente deste caminho, o autor, destronado
de sua autoridade, estar constituindo uma poltica de escrita.
A experincia de descentralizao da narrativa constitui para a pesquisa uma
aposta poltica, de fazer reverberar a polifonia da cidade. Diramos tambm que, ao
retirar o narrador do seu lugar de soberania e autoridade sobre os acontecimentos,estamos recolocando o problema do eu, presente na discusso da filosofia7.
Portanto, esta posio no se configura apenas como um recurso lingstico ou
estilstico, mas ir constituir-se como um contraponto ao isolamento do sujeito
narrativo, eminentemente ocupado com a esfera privada (BENJAMIN, 1994a).
A produo de um texto marcado pelo rompimento com a linearidade e com a
temporalidade dos acontecimentos tem, como contraponto, uma tradio de fazer
pesquisa e produzir conhecimento mantendo a invisibilidade dos distintos
acontecimentos e aes que atravessam a escrita.
A dificuldade em narrar aquilo que foi vivido no se limita escolha das
palavras adequadas, mas, sobretudo, em encontrar algum que esteja disposto a
escutar. Se as pessoas esto sem tempo para histrias, conforme se costuma
repetir, parece-nos que a resposta que produzimos foi habituarmo-nos a reduzir o
tempo de fala e de escuta, a exemplo do que fez a mdia, com a inveno da notcia.
6Trata-se de uma referncia a infinitude da lembrana, na obra de Marcel Proust.7A compreenso de como se constitui o verdadeiro eu, aparece na formulao Conhece-te a timesmo, que, para Nietzsche est relacionado a uma exterioridade, ou seja, busca peloconhecimento de todas as coisas. Faze repassar sob teus olhos toda a srie de objetos veneradose talvez, pela sua natureza e sucesso, eles te revelem uma lei, a lei fundamental de teu verdadeiroeu: compara esses objetos entre eles, v como (...) formam uma escala graduada que serviu parate elevares ao teu eu(MURICY, 1993, p.665).
-
7/24/2019 2014 d Raphael
15/58
15
No devemos contentar-nos com uma nica justificativa para a indisponibilidade de
escuta, mas, buscarmos tambm o conhecimento de outros fatores.
Em Experincia e pobreza, Walter Benjamin (1994a) dir, que tornamo-nos
mais pobres em experincias comunicveis de boca em boca, devido ao
desenvolvimento da tcnica. Em sintonia com os marxistas, Benjamin previu
profundas transformaes sociais, a partir da substituio de um modelo coletivo de
produo pelo modelo que fragmenta a atividade e organiza o trabalho, com base
no desempenho isolado do indivduo. Isto significa que, na esteira das
transformaes do trabalho, tambm foi subtrada uma gama de experincias
compartilhadas, entre elas: ouvir e contar histrias. A respeito do declnio da
experincia, podemos pens-lo como a liquidao de uma tradio compartilhada
por uma comunidade humana, tradio retomada e transformada, em cada gerao,na continuidade de uma palavra transmitida de pai para filho(GAGNEBIN, 2006,
p.50).
Retomando a questo da dificuldade em encontrar algum que esteja disposto
a nos escutar, poderamos dizer que o fato das experincias no serem mais vividas
coletivamente contribui com este desinteresse?
Parece-nos que sim, contudo, Walter Benjamin nos incita a ir mais longe. Ainda
que encontrssemos uma pessoa que viesse a se tornar nossa ouvinte, o que
diramos? Considerando a barbrie imposta aos milhares de soldados, que
ocuparam as trincheiras da Primeira Guerra; e o extermnio de quatro milhes de
judeus pelos nazistas nos campos de Auschwitz, o que possvel transmitir?
Parece-nos que estes acontecimentos produziram um abalo na linguagem e um
silncio que ainda no fomos capazes de elaborar. Neste sentido, o que se ope
narrativa o desaparecimento da esperana (GAGNEBIN, 1982).
***
Para Benjamin, ao descrever o que foi vivido importante que a escrita esteja
vulnervel ao presente, e que as palavras possam transmitir o apelo para que o
futuro seja diferente (GAGNEBIN, 1982). Nos seus postulados, lamos que a escrita
da histria deve incluir os relatos das manifestaes da vida humana , e que o
-
7/24/2019 2014 d Raphael
16/58
16
intrprete deve se desviar das camadas de sentido com que a tradio o envolveu.
(GAGNEBIN, 1982, p.64). Benjamin reclamava da falta de reflexo crtica e do
conformismo daqueles que descreviam a histria universal (GAGNEBIN, 1982).
Para Benjamin, a escrita da histria no deveria ser uma descrio do
passado, tal como os acontecimentos se deram. O historiador que busca a
fidelidade dos acontecimentos, perde a dimenso da histria como superfcie de
luta, contada sob a perspectiva dos vencedores. Para Benjamin, o principal
compromisso que devemos assumir com a escrita da histria, fazer emergir as
esperanas no realizadas desse passado, inscrevendo em nosso presente um
apelo por um futuro diferente (GAGNEBIN, 1982).
***Considerando a questo da traduo da experincia, medida que o
pesquisador busca as palavras para contar o que viveu, pode-se dizer, tambm,
que busca a melhor distncia para realizar a narrativa, de forma que o texto consiga
transmitir a violncia e o susto do acontecimento8.
No ensaio sobre a obra de Nikolai Leskov9, a questo da distncia entre o
narrador e a experincia caracterizada pelo enunciado: a transmisso repassada
de uma pessoa outra, mais rica do que as narrativas escritas (BENJAMIN,
1994a, p.198). No mesmo ensaio, uma segunda referncia sobre a relao entre a
narrativa e a distncia. Desta vez sobre aquele que vem de longe: Quem viaja tem
muito que contar(BENJAMIN, 1994a, p.198).
Ora mais prximo, de forma que a transmisso pouco se distinga da narrativa
oral; ora mais distante, a exemplo daquele que encontra uma pegada e supe que
8Esta definio de narrativa foi apresentada pelo professor Luis Antnio Baptista, no debate
intitulado A tica do annimo, ocorrido em outubro de 2012 na Casa de CinciaRJ.9O escritor russo Nikolai Leskov considerado um dos grandes narradores de sua poca. O ensaiosobre o escritor foi uma encomenda da revista Orient et Occident Walter Benjamin, podendo ser
justificado pelo questionamento: Por que to raro atualmente encontrar um narrador? As narrativasde Leskov tratam de acontecimentos vividos nas cidades que ele conheceu em suas viagensrealizadas na Rssia, mas tambm de coisas banais e cotidianas que lhe foram repassadasoralmente, mas que, ao recont-las, o escritor foi enriquecendo estas histrias. Com astransformaes da vida moderna nas grandes cidades, caracterizadas pelo anonimato, peloisolamento, pela rapidez dos processos de trabalho, pela inveno da imprensa e o aparecimentode outros gneros literrios, como o romance; a arte de narrar tornou-se um exerccio em extino.
-
7/24/2019 2014 d Raphael
17/58
17
algum passou por ali; escrever uma tomada de distncia que impe ao narrador
a renncia do seu posto, onde repousa. Do contrrio, corre-se o risco de ficar
perseguindo uma projeo de si mesmo, iluso sedutora que nos convida a
reencontrarmo-nos at mesmo no outro (GAGNEBIN, 1982, p.45).
A forma como iremos constituir o manejo do ir e vir est entrelaado noo
de pausa. Aprendemos com Baudelaire que, para enxergar, em algum momento
preciso abandonar, por um instante, o microscpio e tentar retomar uma distncia
maior do objeto do texto, como da prpria atividade de elaborao textual
(BAUDELAIRE apud GAGNEBIN, 1996, p. 257).
Mas, a prpria percepo de proximidade e distncia sofreu transformaes.
Nas cidades com grande nmero de habitantes, o excesso de proximidade tornou
as pessoas cada vez mais distantes. (GAGNEBIN, 2007). J as imagens que nosremetiam ao longnquo e ao sagrado, perderam esta dimenso de profundidade,
medida que o desenvolvimento das tcnicas de reproduo tornou estas imagens
disponveis e manipulveis (GAGNEBIN, 2007).
Dito isto, como transmitir as modulaes e nuances da experincia, se a
diminuio da distncia e o desaparecimento do longnquo, perfilaram-nas em uma
mesma superfcie lisa, lado-a-lado com outros objetos? Um desdobramento desta
questo passarmos a buscar o longnquo, no abismo de uma interioridade sem
fundo (GAGNEBIN, 2007).
Esta no uma questo exclusivamente do campo esttico, no sentido de
termos perdido as referncias que nos tornam capazes de perceber as diferenas
entre os fenmenos, mas, sobretudo um problema do campo da tica, pois
passamos a perseguir a semelhana no mundo, mesmo diante do fenmeno nico
(BENJAMIN, 1995, p.170).
***
E o que dizer dos narradores que penetram a experincia? No ensaio de 1924,
Livros infantis antigos e esquecidos, Walter Benjamin diz que a criana no se limita
a descrever as imagens, mas a escrev-las, referindo-se ao contato da criana com
os livros de gravuras e a imperiosa exigncia de descrever, contida nessas
-
7/24/2019 2014 d Raphael
18/58
18
imagens (BENJAMIN, 1995, p.241). Mas, o que ele observa dessa experincia
sensvel que a criana penetra na imagem e redige dentro dela.
Em Esconderijos10,aforismo de Infncia em Berlim, o mesmo autor dir que a
criana que se esconde atrs da porta torna-se a prpria porta (BENJAMIN, 1995,
p.91). Benjamin insiste no acesso privilegiado da criana linguagem, onde as
palavras no so instrumentos de comunicao, mas cavernas a serem exploradas,
nas quais se envolve e desaparece (GAGNEBIN, 2011, p.82).
Ao apresentarmos os dois fragmentos com experincias de mmesis, no o
fazemos com o intuito de sugerir que a separao entre o sujeito e o objeto seja
abolida, mas, para pensar o comportamento mimtico como uma experincia que
visa o conhecimento e instaura uma relao reconciliada entre sujeito e objeto, no
qual conhecer no significa mais dominar, mas, atingir, tocar, e ser atingido e tocadode volta. (ADORNO apud GAGNEBIN, 2006, p. 80).
***
O tema do esconderijo reaparece em O coelho da pscoa descoberto ou
Pequeno guia dos esconderijos (BENJAMIN, 1995, p.237). Este e outros aforismos
de Walter Benjamin demonstram uma afinidade com o movimento Surrealista
francs e foram escritos para o ensaio Imagens do pensamento (BENJAMIN, 1995).
10Conhecia todos os esconderijos do piso e voltava a eles como a uma cama na qual se tem a
certeza de encontrar tudo sempre do mesmo jeito. Meu corao disparava, eu retinha a respirao.Aqui, ficava encerrado num mundo material que ia se tornando fantasticamente ntido, que seaproximava calado. S assim que deve perceber o que corda e madeira aquele que vai serenforcado. A criana que se posta atrs do reposteiro se transforma em algo flutuante e branco, numespectro. A mesa sob a qual se acocora transformada no dolo de madeira do templo, cujas colunasso as quatro pernas talhadas. E atrs de uma porta, a criana a prpria porta; como se a tivessevestido com um disfarce pesado e, como bruxo, vai enfeitiar a todos que entraremdesavisadamente. Por nada nesse mundo podia ser descoberta. Se faz caretas, lhe dizem que s
o relgio bater e seu rosto vai ficar deformado daquele jeito. O que havia de verdadeiro nisso pudevivenciar em meus esconderijos. Quem me descobrisse era capaz de me fazer petrificar como umdolo debaixo da mesa, de me urdir para sempre s cortinas como um fantasma, de me encantar portoda a vida como uma pesada porta. Por isso expulsava com um grito forte o demnio que assim metransformava, quando me agarrava aquele que me estava procurando. Na verdade, no esperavasequer este momento e vinha ao encontro dele com um grito de autolibertao. Era assim que mecansava da luta contra o demnio. Com isso, a casa era um arsenal de mscaras. Uma vez ao ano,porm, em lugares secretos, em suas rbitas vazias, em sua bocas hirtas, havia presentes; aexperincia mgica virava cincia. Como se fosse seu engenheiro, eu desencantava aquela casasombria procura de ovos de Pscoa. (BENJAMIN, 1995, p. 237)
-
7/24/2019 2014 d Raphael
19/58
19
Ao passarmos das questes referentes infncia para o movimento
Surrealista; o fazemos, no sentido de entendermos que estas duas experincias
constroem caminhos que apontam para a abertura do que est aprisionado. A
professora Martha D`ngelo faz uma sntese dessa relao: os surrealistas
penetram em domnios onde s os loucos e as crianas costumam circular
(D`ANGELO, 2006, p.90).
Retomando o aforismo, Benjamin dir que os melhores esconderijos so
aqueles que esto mais expostos a todos os olhares, e que os ovos de pscoa so
escondidos de modo que sejam descobertos sem que nada tenha sido removido
do lugar (BENJAMIN, 1995, p.237). Por ltimo, dir que as pessoas fitam em
primeiro lugar o que est altura dos olhos; depois olham para cima e s por ltimo
se preocupam com o que est a seus ps (BENJAMIN,1995, p.237).No nos parece evidente que os lugares mais acessveis aos olhos, reservem
lugares que possam se tornar bons esconderijos. O pensamento mais corriqueiro
seria buscarmos os esconderijos em locais pouco iluminados e distantes do nosso
olhar. A estranha associao entre esconderijo e cotidiano fica menos enigmtica
medida que aproximamo-nos dos pressupostos do movimento surrealista, a saber,
que os homens vivem com os olhos fechados para as cenas triviais, para as coisas
que esto ao seu redor e embaixo dos ps. Nesta perspectiva o cotidiano tido
como impenetrvel. Se existem coisas escondidas por baixo, por detrs ou
entrelaado ao cotidiano, o que o movimento surrealista ir vislumbrar poder
extra-las.
Nas teses Sobre o conceito de histria, Walter Benjamin (1994a), ir dizer que
os homens vivem com os olhos no passado, ancorados no entendimento de que,
l, repousa a salvao. Para Benjamin, passado e presente no esto dissociados.
Ainda segundo o autor, apropriar-se do passado reconhecer os apelos que ele
dirige ao presente. Afinal, No existem, nas vozes que escutamos, ecos de vozes,
que emudeceram?(BENJAMIN, 1994a, p.223).
Neste sentido, a dificuldade em reconhecer o cotidiano pode ser entendida
como a impossibilidade de olhar para estes apelos.
-
7/24/2019 2014 d Raphael
20/58
20
Dois
Subiu os degraus da escada acompanhado do temor de que algum
impedimento adiasse a entrega da declarao. Como era costume, o pedido estava
carregado de urgncia. Prximo secretaria acadmica, interrompeu os passos. As
palavras no mural atraam a ateno dos seus olhos. O corredor estava vazio, logo,
no precisou dividir o espao de leitura com outras pessoas. Olhava atentamente,
o ttulo de uma das folhas fixadas na parede: Resultado da prova escrita -
Candidatos aprovados.
Os olhos acompanhavam os resultados, linha por linha. No chegou a
terminar a lista. Por volta do quinto colocado, interrompeu a leitura. Provavelmente
havia perdido o interesse. Os olhos migraram para a lista ao lado. E alipermaneceram. Leu-a de cima para baixo e de baixo para cima. Demorou-se, tantas
vezes percorreu o nome dos candidatos reprovados na prova escrita.
Aparentemente a imagem no tinha importncia. O que se pode dizer que
os alunos aprovados no constituam a sua rea de interesse. Definitivamente os
pdios e altares estavam ocupados pela embriaguez da dominao (BENJAMIN,
1995, p.39). Tampouco possvel dizermos que o curso da escrita partiria da
experincia dos candidatos reprovados.
A cena teria sido deixada de lado, mas fez lembr-lo dos muros. Ao encontrar
a loucura fora dos manicmios, deparou-se com os resduos do confinamento em
muitos lugares. Dentro de uma residncia teraputica viu talheres e copos
atualizarem a diviso entre eles e ns. Enquanto os moradores11usavam talheres
e copos de plstico, as pessoas responsveis pelo cuidado, utilizavam talheres de
metal e copos de vidro. No Caps12encontrou banheiros para pacientes e banheiros
para os trabalhadores.
Interrogava-se sobre a cidade que no cessava de produzir dois lados; e
decidiu conhecer o estatuto dessa diviso.
11Por moradores, referimo-nos aos egressos de internao psiquitrica que moram nos ServiosResidenciais Teraputicos.12Centro de Ateno Psicossocial
-
7/24/2019 2014 d Raphael
21/58
21
Em Dialtica do Esclarecimento Adorno faz uma anlise da gnese do
pensamento antissemita e fascista, buscando elucidar o que ocorreu em Auschwitz
(ADORNO apud GAGNEBIN, 2006, p.85). Em linhas gerais, Adorno ir pensar o
nazismo como expresso de uma sociedade de classes, com papis e identidades
rgidas, organizada em torno da produo capitalista, submetida a uma sexualidade
familiar e higinica e com forte rejeio a todos os grupos que desviassem deste
modelo identificatrio. Essa sociedade encontra na figura de um lder racional, duro
e intransigente, o representante para declarar a perseguio, a excluso e o dio
aos grupos que ameaam este modelo.
A respeito do funcionamento desta engrenagem, Gagnebin ir dizerque a
sua eficcia est atrelada, sobretudo, construo da figura do inimigo. O inimigo
pode ser entendido como aquele que representa a angstia e o medo, de que ascoisas escapem ao controle. Sendo assim, alm dos judeus, que exerciam uma
certa ameaa ao modelo capitalista, foram mandados para os campos de extermnio
de Auschwitz: homossexuais, bastardos, preguiosos e vagabundos. (ADORNO
apud GAGNEBIN, 2006, p.85).
***
Em direo ao campo de extermnio, a velocidade do caminho era controlada.
No deveria ir to rpido, de forma que os judeus pudessem chegar vivos; nem to
lento, de forma que o prximo embarque de judeus vindos dos guetos da Europa
atrasasse.
O caminho da morte, como foi descrito pelos sobreviventes do nazismo, no
filme Shoah, de Claude Lanzmann (1985), era equipado para o extermnio. Durante
a partida, um tubo, com uma das extremidades conectada ao escapamento do
motor e a outra extenso da extremidade conectada ao ba, asfixiava as oitenta
pessoas que estavam de p e espremidas.
O veculo comparado aos caminhes que entregam cigarros, relembra um
sobrevivente. Segundo os poloneses que moravam em casas prximas Igreja,
onde os judeus aguardavam o embarque nos caminhes, os comboios operavam
o dia todo e mesmo noite(LANZMANN,1985).
-
7/24/2019 2014 d Raphael
22/58
22
***
Apesar das questes retornarem e de alguns elementos se repetirem, uma
parte do que retorna recolocado de outra forma, ficando irreconhecvel do ponto
de vista de uma correspondncia entre o passado e o presente e do que faz disparar
as aes de dio, violncia e separao.
A questo da sexualidade dividida entre uma orientao considerada normal e
outra anormal foi apresentada por Baptista em O cientista e o pastor entre btulas
e amoladores de facas: genocdios da diferena (grifo nosso). No texto, somos
surpreendidos pelo brutal assassinato do vereador Renildo Jos dos Santos, na
cidade de Coqueiro Seco, em Alagoas, em 1993, praticado por um fazendeiro e dois
policiais. Diziam que veado desgraadotem que morrer (BAPTISTA, 2013, p.64).
Em um programa de TV, um pastor e um cientista discutem sobre as causasda homossexualidade. O pastor diz que devemos amar da mesma forma o gay e
o bandido. J o cientista apresenta dados cientficos que indicam o componente
gentico como um fator importante na escolha dos parceiros (BAPTISTA, 2013,
p.62). Os assassinos de Renildo e os nazistas dos campos de Auschwitz no
participaram do programa de TV, mas tambm buscavam a plenitude do significado
e no suportavam o transtorno da ambigidade das formas (BAPTISTA, 2013,
p.65).
Retomando a discusso de Jeanne Marie Gagnebin (2006), sobre as
engrenagens que movimentam a rigidez dos modelos hegemnicos, os autores da
violncia homofbica na cidade de Coqueiro Seco, em Alagoas, identificam, como
inimigo, o desejo que no sabe dizer o seu nome(BAPTISTA, 2013, p.65).
***
Novamente retomamos a questo do esforo dos homens em erguerem
estruturas que dividem dois lados e a violncia correspondente ameaa de que
estas fronteiras sejam desmanchadas. Por mais que se dediquem manuteno
deste empreendimento, parece-nos que, ainda assim, no conseguiro fazer
desaparecer a precariedade deste projeto totalitrio.
-
7/24/2019 2014 d Raphael
23/58
23
Em um de seus aforismos, de Rua de mo nica,intitulado Material Escolar13,
Walter Benjamin dir, que por uma pequena brecha no muro, cai um raio de luz no
gabinete do alquimista e faz relampejar cristais, esferas e tringulos(BENJAMIN,
1995, p.30).
Benjamin ir retomar o tema da porosidade em um aforismo, de Imagens do
Pensamento,intitulado Npoles: O feriado penetra sem resistncia qualquer dia de
trabalho. A porosidade a lei inesgotvel dessa vida a ser redescoberta. Um gro
do domingo se esconde em todo dia de semana, e quantos dias de semana nesse
domingo!(BENJAMIN, 1995, p. 150).
Walter Benjamin no somente um representante dos perseguidos polticos,
dos exilados e refugiados, mas tambm algum que passou a vida buscando estas
frestas, tentando se equilibrar em termos financeiros, afetivos e com as exignciasda prpria sade. Os ltimos sete anos de sua vida foram especialmente difceis,
devido aos problemas financeiros e de sade, alm da perseguio empreendida
pelos nazistas aos judeus. Diante da frgil condio de refugiado judeu na Frana,
s vsperas da Segunda Guerra, Benjamin buscava escapar das tropas alems,
seguindo em direo Espanha (GAGNEBIN, 1982).
13 Princpios dos catataus ou a arte de fazer livros grossosI- O desenvolvimento inteiro tem de ser entretecido pela permanente exposio palavrosa do projeto.II- Devem ser introduzidos termos para conceitos que fora dessa definio mesma no aparecemmais no livro inteiro. III- As distines conceituais laboriosamente conquistadas no texto devem, nasnotas s passagens correspondentes, ser novamente apagadas. IV- Para conceitos sobre os quaiss se trata em sua significao geral devem ser dados exemplos:onde, por exemplo, se falar demquinas devem ser enumeradas todas as espcies delas. V- Tudo aquilo que est firmado a priorisobre um objeto deve ser confirmado com uma abundncia de exemplos. VI- Correlaes que podemser expostas graficamente tm de ser desenvolvidas em palavras. Em lugar, por exemplo, dedesenhar uma rvore genealgica, todas as relaes de parentesco devem ser pormenorizadas edescritas. VII- De vrios oponentes aos quais comum a mesma argumentao, cada um deve serrefutado individualmente. A obra mdia do cientista de hoje quer ser lida como um catlogo. Masquando se chegar ao ponto de escrever livros como catlogos? Se o interior ruim penetrou no
exterior dessa forma, surge ento um excelente texto, em que o valor das opinies cifrado, semque com isso elas fossem postas venda. A mquina de escrever s tornar alheia caneta a modo literato quando a exatido das formaes tipogrficas de seus entrar imediatamente naconcepo de seus livros. Provavelmente sero necessrios ento novos sistemas, comconfigurao de escrita mais varivel. Eles colocaro a inervao dos dedos que comandam no lugarda mo cursiva. Um perodo que, metricamente concebido, posteriormente perturbado em seuritmo, em uma nica passagem, faz a mais bela frase em prosa que se pode pensar. Assim, por umapequena brecha no muro, cai um raio de luz no gabinete do alquimista e faz relampejar cristais,esferas e tringulos (BENJAMIN, 1995, p.30).
-
7/24/2019 2014 d Raphael
24/58
24
Apesar de todas estas ameaas que o rondavam, escreve as teses Sobre o
conceito de histria. O ltimo trabalho de Benjamin o testemunho de um
pensamento que se esquivou da exigncia de cunhar o definitivo.
Sendo assim, a questo da porosidade, para Benjamin, no se constitui
apenas como um recurso esttico, mas, sobretudo, uma posio tica. Percorrer os
escombros e as runas expresso de sua desconfiana em relao viso
progressista da tradio teleolgica, tanto da filosofia quanto da histria.
Trs
Pelas frestas do cotidiano que Ana pde sentir que algo havia se
desprendido do lugar. Quem nos conta esta histria Clarice Lispector (1983), noconto Amor.A autora apresenta as inquietaes da personagem Ana e as suas
tentativas de estabilidade, que se mantm por um mnimo equilbrio. Clarice
Lispector descreve-a como uma mulher diante do esforo em afastar-se do perigo
de viver; ou, ainda, algum numa tentativa de suplantar a ntima desordem.
Sentada nos bancos do bonde, em direo ao Humait, Ana depara-se com
um cego mascando chicletes. No corpo da dona de casa, o gesto do cego produz a
sensao de que algo havia se desprendido do lugar. As inquietaes provocadas
pela imagem do cego vo percorrendo as frestas da montagem do que Ana nomeou
o seu cotidiano: os sonhos, a casa, o marido e os filhos.
O que vivido como desconforto pela personagem encontra, nas palavras
da autora, a sua mais bela sntese: O que o cego desencadeara caberia nos seus
dias? (LISPECTOR, 1983, p.30).
Quatro
Dentro do nibus um rdio de pilha altera a monotonia da viagem. Trnsito
bom nas imediaes do estdio Maracan. O motorista que est saindo de casa
para o trabalho deve evitar a rua Conde de Bonfim, devido o grande fluxo de carros
em direo ao centro da cidade: o congestionamento vai da Rua Uruguai at o Largo
-
7/24/2019 2014 d Raphael
25/58
25
da Segunda-feira. Prximo praa da Bandeira, o trnsito transcorre com pequenas
retenes. Os motoristas esto sendo obrigados a fazer um desvio, pois a pista est
com lama e galhos de rvore. Outros pontos da cidade tambm esto obstrudos,
devido s fortes chuvas que ocorreram na madrugada de quinta-feira, na cidade do
Rio de Janeiro. Em direo prefeitura e estao de trem Leopoldina, o trnsito
lento. Prximo ao prdio do antigo Jornal do Brasil, um acidente envolvendo um
caminho e um carro obstruiu duas faixas da avenida. O motorista dever dirigir
com ateno. O Corpo de Bombeiros est no local prestando socorro s vtimas.
Em direo ponte, trnsito intenso no sentido Niteri.
Os carros que seguiam em direo ao trabalho faziam o passageiro lembrar-
se de Paracambi. A cidade no possua veculos suficientes para formar
congestionamentos. Os caminhos que fizeram-no rememorar o municpio se derampor outra via.
Em 1874, a fbrica inglesa Brasil Industrial iniciava as suas atividades em
solo fluminense. A rea escolhida para a atividade txtil foi um latifndio com uma
importante nascente de gua, na descida da Serra das Araras, em direo capital
do Rio de Janeiro. A propriedade localizava-se no municpio de Vassouras (RJ). Em
1960, a vila de casas que havia se formado prximo fbrica emancipou-se,
tornando-se Paracambi.
Diminuir a distncia entre a moradia e o trabalho sem dvida era uma
comodidade para os milhares de trabalhadores da fbrica txtil. Apenas mais tarde
cogitou-se a hiptese de que a construo da avenida dos operrios como ficou
conhecida a vila de casas - constitua uma estratgia de controle sobre a vida dos
trabalhadores, afinal, o maquinrio ingls no podia parar de funcionar.
Durante noite e dia, os operrios produziam tecido. A sirene marcava o
instante do incio e do trmino das atividades. Do lado de fora da fbrica tambm
era possvel escutar o som da sirene. Nas torres de estilo gtico, os alto-falantes
conduziam o som da sirene por toda a cidade. Por mais que as pessoas estivessem
assistindo televiso, cozinhando, regando as plantas ou brincando com os filhos,
eram interrompidas dentro de suas casas. Trs vezes ao dia, os moradores
-
7/24/2019 2014 d Raphael
26/58
26
escutavam o som vindo da fbrica. Para alguns, a sirene indicava o incio da jornada
de trabalho. Para outros, o fim. E assim, sucessivamente os anos foram se
passando, at que a sirene passou a regular o cotidiano dos habitantes. A fbrica
que funcionava vinte quatro horas por dia produzia tecidos e uma nova sensibilidade
na cidade: modos de vida fragmentados pelo alarme sonoro.
Na dcada de 80, os portes da fbrica foram abruptamente fechados. Os
produtores de tecido fluminense no suportaram a concorrncia com o mercado
chins. O desemprego alterou a rotina de Paracambi.
No lbum de fotografias em preto e branco, vamos pequenos grupos de
trabalhadores posarem perfilados em frente imponente fabrica inglesa. Diante da
lente da mquina fotogrfica, formavam duas fileiras: aqueles que se colocavam na
fileira da frente posicionavam-se levemente abaixados, de forma que aqueles quehaviam se posicionado na fileira de trs, tambm pudessem ser visualizados.
Estavam com o uniforme de trabalho e exibiam um sorriso discreto.
Com o fechamento da fbrica, homens e mulheres passaram a ocupar as
fileiras do seguro-desemprego e do auxlio-doena. Toda uma gerao de teceles
e trabalhadores que exerciam funes especficas no maquinrio da fbrica de
tecidos no conseguia trabalho na cidade. Muitas famlias tiveram que sair de
Paracambi para procurar emprego. Foi um perodo de muito adoecimento e grande
incidncia de depresso, uso abusivo de bebidas alcolicas e ansiolticos.
Principalmente entre os chefes de famlia.
Aps alguns anos, passada a fase mais difcil, os moradores descobriram
que sentiam mais saudades da sirene do que da linha de produo fabril, pois um
grande silncio havia se abatido sobre a cidade.
Na metrpole moderna, as sirenes que regulam o fluxo de trabalhadores so
mais silenciosas. A ameaa da perda do trabalho e os efeitos devastadores do
desemprego - neste modelo de vida, ancorado no poder econmico - tornaram
obsoletos os alarmes sonoros. O trabalho tornado mercadoria e a explorao do
trabalhador - que passa cada vez mais tempo dentro das fbricas e escritrios -
esvaziam outras dimenses da vida. Neste contexto, as ruas tornam-se passagem;
via de acesso entre a casa e o trabalho.
-
7/24/2019 2014 d Raphael
27/58
27
***
O radialista interrompe as notcias do trnsito e passa a transmitir o noticirio
da cidade. Apesar dos mltiplos rudos que disputavam a ateno com o rdio,
escutvamos a notcia de um incndio na zona sul. O jornalista conta que o fogo
havia destrudo uma cobertura no bairro da Lagoa e o proprietrio do imvel havia
sido hospitalizado.14O radialista informa que a vtima do incndio era o Secretrio
de Sade do governo do Estado do Rio de Janeiro. No programa de rdio ouvamos
que os familiares do secretrio protagonizaram cenas de constrangimento e
tumulto. Diz o radialista que, ao encontrarem Sergio Crtes dentro da ambulncia
dos bombeiros, os familiares proibiram que ele fosse conduzido para um hospital
pblico. Os militares recusaram-se a atender ao pedido da famlia, ou seja, conduzir
a vtima para um hospital da rede privada. Diante do impasse, o governador doEstado foi acionado. Imediatamente ordenou que o protocolo das viaturas que
realizam o pronto socorro fosse quebrado. O Secretrio de Sade foi conduzido
pelos militares para uma clnica em Botafogo.
Pela janela do nibus, o olhar pretensamente desinteressado assistia s
engrenagens da cidade em movimento. Um homem de meia idade varrendo a
calada; os sacos de lixo escorados no poste de luz e os carros apressados. Mais
uma vez, rel a frase pintada nos muros de Santa Teresa: Ningum manda no que
a rua diz. Apesar de buscar refgio naquelas imagens, tinha a sensao que
percorria o tempo e no as ruas.
Duas passageiras conversavam ao lado. O tema desperta-lhe a ateno.
Falavam sobre o recolhimento compulsrio das pessoas em situao de rua15.
Devido distncia do ouvido para as falantes, precisou fazer esforo para escutar.
Disseram que a prefeitura do Rio de Janeiro com apoio da Polcia Militar iria
intensificar a operao de recolhimento das pessoas em situao de rua, durante a
14 Incndio atinge cobertura de Secretrio Srgio Cortes, no Rio. G1.Globo.com, 26/10/2012.
Disponvel em:
-
7/24/2019 2014 d Raphael
28/58
28
conferncia mundial Rio + 20. A conferncia iria reunir os principais chefes de
Estado mundiais para a discusso sobre o futuro do planeta. Elas diziam que as
pessoas recolhidas seriam conduzidas para um abrigo pblico. Contam que a
prefeitura no havia informado a localizao do abrigo.
O passageiro imaginou que o abrigo no se localizava em Botafogo, prximo
clnica que atendeu ao Secretrio de Sade. O protocolo para os pobres que
incomodam o modelo de cidade que persegue o desenvolvimento que sejam
conduzidos para algum lugar distante. Longe dos olhos dos chefes de Estado. Este
protocolo no seria quebrado.
Durante a descida pelo bairro de Santa Teresa, o passageiro olhava para a
cidade que produz rotas para ricos e pobres.
Salta do nibus. O peso do corpo passando do calcanhar ponta dos dedos,dispara inmeras sensaes. Antes mesmo do contato dos ps com o cho, j
estava em movimento.
Neste processo de substituir o nibus pelos passos foi fazendo algumas
descobertas. Tantas vezes modificou o seu itinerrio; tantas vezes deparou-se com
o inesperado; tantas vezes perdeu-se pelo caminho. Andar a cu aberto o fez
perceber que poderia se descolar dos movimentos montonos que aprisionam a
experincia cotidiana. A descoberta conferiu ao caminhante o sentimento de
emancipao diante das rotas previsveis da cidade.
Cinco
Costuma-se dizer que o mais difcil na travessia o primeiro passo.
Possivelmente. Sair do lugar haver-se com o risco do desequilbrio. Da
experincia com a loucura, o caminhante tem vivido a inquietao do encontro com
a cidade e com o morar. Pequenas distncias entre o limite e as incertezas de
caminhar por um territrio fronteirio. A casa e a rua, o trabalho e a amizade, a
clnica e a poltica.
-
7/24/2019 2014 d Raphael
29/58
29
Em 2009, andava pelas ruas de Paracambi16com Davi, procura de uma
padaria para sentar, conversar e se recuperar dos efeitos da tarde de sol: - Me
conta como anda a sua vida, o que voc est fazendo?. Iriam prosseguir em
direo senhoria de Davi, pois era o dia de pagamento do aluguel. Ao sarem da
padaria, com duas latas de refrigerante e mais recompostos do calor, o caminhante
teve uma surpresa: ele no sabia abrir a latinha.
Habilit-lo a apropriar-se dos cdigos da cultura produzidos durante o longo
perodo em que esteve internado seria percorrer o caminho proposto por Lancetti:
a travessia se faz pelo limiar que vai do exlio cidadania (LANCETTI, 2011). Nos
percursos que experimentamos, sutis ramificaes se apresentam escapando ao
contorno da cidadania.
Seguindo os passos do professor Luis Antnio Baptista, no seu encontro comFranco Fuzzi na Itlia, deparamo-nos com trilhas que no esto no mapa. Apesar
de estar fora do Lolli17 desde 1982, Franco no consegue fazer amigos.
cumprimentado nas ruas, recebe elogios, freqenta o bar, mas vive s: gostaria de
sair com amigos para comer uma pizza ou quem sabe jogar baralho, comer um bom
churrasco. (BAPTISTA, 2001, p. 75).
O que o no-saber de Davi e Franco faz estilhaar na cidade saturada de
sentidos18?
16Paracambi tornou-se uma referncia em sade mental, devido localizao no seu territrio domaior manicmio privado da Amrica Latina. Fundado em junho de 1963, a Casa de Sade Dr. Eiras,
mantinha 2.550 leitos psiquitricos. Em 2011, aps dez anos sob interveno tcnica e gerencial dasSecretarias Municipal e Estadual de Sade e da Coordenao Nacional de Sade Mental, a CSDE fechada. As denncias de desnutrio, maus-tratos, torturas e morte de pacientes, alinhados poltica nacional de desinstitucionalizao da loucura, foram disparadores desse processo. Oprograma de desinstitucionalizao do municpio de Paracambi formou uma rede de assistncia,composta por trs Centros de Ateno Psicossocial (CAPS) e vinte Servios ResidenciaisTeraputicos, que acolhem 160 egressos do manicmio.17Franco Fuzzi viveu 32 anos internado no hospital psiquitrico Lolli em mola, Itlia.18 Questo inspirada no livro O veludo, o vidro e o plstico. Desigualdade e diversidade nametrpolede Luis Antnio Baptista (2009).
-
7/24/2019 2014 d Raphael
30/58
30
Seis
Um homem vem me pedir dinheiro. No para comer. Quero dinheiro para o
aluguel. Para pagar o aluguel do meu apartamento, porque eu no quero morrer
na rua19(LANZMANN, 1985).
Adam Czerniakow comeou a escrever na primeira semana da guerra - antes
da entrada dos alemes em Varsvia - e continuou a faz-lo diariamente at tarde
do dia em que deu fim a sua vida. No seu caderno deixou registrado o que lhe
acontecia no dia-a-dia. Podia falar do tempo, de onde tinha ido de manh ou de
qualquer coisa que acontecesse, por mais que parecesse insignificante.
O que o narrador, seno esta espcie de cronista dos acontecimentos, que
no distingue entre os grandes e os pequenos, mas levando em conta que nada doque um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a histria (BENJAMIN,
1994a, p.223).
Sete
A perspectiva de que somos transportados por caminhos previamente
definidos est presente no pensamento de Walter Benjamin. Para o filsofo, o
homem moderno conduzido a percorrer a marcha dos vencedores, pois, para
esta direo que existe o maior nmero de documentos e testemunhas
(GAGNEBIN, 1982). Benjamin defendia o rompimento desta servido e a renncia
perspectiva que vislumbra o desenvolvimento. Criticava o historicismo por atribuir
ao tempo uma direo nica e linear. Por isto, a sugesto do autor era a composio
de uma concepo de histria a contrapelo.
A respeito do tempo que desponta em uma direo nica e linear, a
acomodar os acontecimentos, segundo os interesses dos vencedores; importante
dizermos que este modo de pensar o tempo - apesar de hegemnico - no se
constitui nico.
19 O registro do homem que no queria morrer nas ruas ocorreu no gueto de Varsvia, onde viviamos judeus perseguidos pelo nazismo, antes de serem transportados para os campos de extermnio.
-
7/24/2019 2014 d Raphael
31/58
31
No sculo XVI, o desejo mais profundo de alguns jovens franceses
integrantes de movimentos revolucionrios era interromper o curso do tempo.
Durante o movimento que se tornou conhecido como a revoluo de julho foram
disparados, ao mesmo tempo, tiros contra relgios de torres, em vrios pontos de
Paris20. A segunda imagem que expressa a pretenso de interromper o tempo
submetido ao capitalismo descrita por Walter Benjamin (1994b p.193), no captulo
sobre o Flneur, de Charles Baudelaire: Em 1839, era elegante levar consigo uma
tartaruga ao passear. Isso dava uma noo do ritmo do flanar nas galerias.
O poeta Baudelaire tambm percorreu o caminho inverso velocidade
imposta pela industrializao. Um de seus personagens mais citados, o Flneur,
andava pelas galerias de Paris e ocupava um tempo no contabilizado pelas
exigncias do capitalismo. Apesar da reurbanizao de Paris, cujo mote era odesenvolvimento e o progresso, e do crescente consumo das mercadorias expostas
nas vitrines, os passos do Flneur no eram capturados por estes apelos. O
caminhar deste personagem era investido apenas de curiosidade e ociosidade.
Neste sentido, os passos imprimiam o tempo das coisas. Baudelaire sabia que este
tempo estava ameaado e cada vez mais extinto.
O labirinto tambm era uma expresso deste tempo submetido aos
acontecimentos. Para o Flneur, a mudana de sua trajetria estava associada
percepo de que a multido tinha impulsos prprios e alma prpria(BENJAMIN,
1994b).Baudelaire e seus personagensum pouco heris e um pouco marginais -
conheciam bem os impulsos para a libertinagem, para o jogo, para as revoltas, para
a vagabundagem, para a embriaguez e para a prostituio.
***
O ato de pr-se em movimento e a relao com as imagens produzidas neste
caminhar traziam consigo a possibilidade de deslocamento das prprias narrativas.
Os passos faziam-no percorrer distncias, mas tambm lhe transportavam para
20A professora Analice Palombini faz uma associao deste acontecimento com os disparos emdireo ao relgio, que uma emissora de televiso colocou em diversas cidades brasileiras, pararealizar a contagem do tempo que antecedia um grande evento esportivo. O episdio relatado pelaprofessora Analice ocorreu na cidade de Porto Alegre, em 2000.
-
7/24/2019 2014 d Raphael
32/58
32
outro lugar. Independente do seu itinerrio estava sempre a caminhar, em mais de
uma direo.
Andando pelas ruas, o caminhante comeou a se interessar pelas cores,
formas e objetos pelo cho. Depois surgiu o interesse pelas cenas e histrias.
medida que entrava em contato com a polifonia da cidade desmanchava-se o
projeto contemporneo do indivduo investido de certezas, impermevel em relao
s prprias verdades e refratrio ao que se localiza fora dos limites do eu. E, assim
como a criana que, ao se esconder atrs da porta, torna-se a prpria porta
(BENJAMIN, 1995), ao caminhar, tambm era percorrido pelas ruas, caladas,
becos e encruzilhadas.
Se as coisas e objetos so as fronteiras do homem, ao caminhar, os limites
dos seus contornos eram redefinidos (MURICY, 1993). Ao escutar conhece-te!, ocaminhante recusou tomar o apelo como um mergulho na interioridade do eu. Ao
contrrio, entendeu que deveria se relacionar com as coisas do mundo. Dizia
Nietzsche que, para fazer filosofia, era preciso pernas fortes. (MURICY, 1993).
***
Ao percorrer as casas ocupadas pelos egressos de internao psiquitrica,
surpreendeu-se com a multiplicidade de usos do espao. Deparou-se com
expresses artsticas e experimentou outras intensidades para o tempo. Apesar do
esforo em domesticar a heterogeneidade de acontecimentos, o sentimento de
estranhamento ainda no havia lhe abandonado. Durante o encontro com a loucura
muitas vezes foi surpreendido com cenas e gestos. Reagiu com desconfiana
quando descobriu que o desconhecido que havia consertado o sifo do tanque de
lavar roupas, de uma das casas que ele visitava, era o vizinho.Achava que vizinho
era uma destas palavras condenadas a desaparecer, como alfaiate, olerite etc.
Embora o sculo XXI ainda conhea o significado da palavra, o sentido j havia sido
esvaziado h muito tempo.
Os vizinhos tambm foram os protagonistas de um acontecimento investido de
surpresas.
-
7/24/2019 2014 d Raphael
33/58
33
As famlias de um condomnio em Jacarepagu estavam resistentes quanto
chegada de quatro mulheres vindas da Colnia Juliano Moreira. A posio das
famlias que moravam no prdio era coerente ao imaginrio popular sobre a loucura,
ocupado pelo sentido da violncia. Apesar disso, o cotidiano produziu caminhos que
desacomodaram a experincia confinada em seu sentido.
Havia chegado o dia da mudana. No porto do condomnio, o caminho com
a moblia pedia passagem. O sndico do prdio estava de prontido e no teve
dvidas: colocou-se em frente ao caminho, proibindo o acesso da loucura. O que
poderia acontecer ao condomnio de classe mdia com a circulao das pacientes?
Aps muita negociao conseguiram cruzar o porto e as moradoras puderam
ocupar o apartamento que havia sido alugado.
Algum tempo depois, o porteiro do prdio e o psiclogo se encontraram.Conversaram sobre o ocorrido e o porteiro relatou um acontecimento que havia
modificado a sua opinio sobre as moradoras recm-chegadas. Contou ao
psiclogo que a sua esposa estava grvida e que havia colocado uma lista de
fraldas na portaria do prdio. Disse que trabalha no condomnio h mais de dez
anos e que conhece todos os moradores. No entanto, as nicas pessoas que
compraram um presente para o seu filho foram as meninas da Colnia.
Mais do que confirmar a possibilidade de uma convivncia pacfica, o presente
ao filho do porteiro fez estremecer a rigidez da identidade conhecida. A delicadeza
do gesto contrastava com o sentido historicamente atribudo loucura. Mas, a
importncia da cena que ela faz aparecer a rigidez de outras identidades.
As meninas da Colnia no eram as nicas que estavam encobertas por um
sentido. O homem que h dez anos abria e fechava as portas do prdio havia se
tornado pai, mas ningum conseguia olhar para isto. S para o uniforme. Apesar do
apelo, os moradores do prdio no puderam enxerg-lo de outro modo. Aquele
uniforme era impermevel a outras possibilidades do olhar.
-
7/24/2019 2014 d Raphael
34/58
34
Oito
Sobre a perspectiva de uma metamorfose da percepo, o caminhante se
lembrou de um acontecimento que fez o eu se desacomodar de sua morada
conhecida.
Diante do mapa de lugares e trajetos percorridos regularmente, o caminhante
localiza a estao de trem Central do Brasil. O prazer de passear pelas ruas do
centro histrico da cidade do Rio de Janeiro no era o nico motivo da itinerncia
pela regio. Fazia-o tambm devido utilizao dos trens, no caminho de volta para
a casa.
Na centenria estao de trem, viveu o descompasso entre o olho e o seu
destino previsvel.Todos os dias milhares de pessoas passam pela Central do Brasil. Em sua
maioria, trabalhadores vindos da periferia em direo aos diversos pontos da cidade
do Rio de Janeiro. Ao desembarcarem nos ptios da Central, concluem a primeira
parte do trajeto. A segunda etapa consiste na caminhada em direo s ruas
paralelas estao de trem, onde se localizam as linhas de nibus que realizam as
conexes. A partir das 17:00 horas, o fluxo na estao de trem se inverte e
progressivamente, com o passar das horas, uma multido de pessoas apressadas
realiza o caminho de volta.
Certa vez, ao percorrer o ptio da Central do Brasil, o caminhante deparou-se
com uma pessoa acenando as mos. O gesto do desconhecido atraa o olhar das
pessoas prximas lanchonete. Aps alguns instantes de observao - apesar da
distncia entre os dois - no teve dvidas a respeito da motivao que estava
impressa naquele movimento: o desconhecido desejava que algum lhe trouxesse
algo para comer, da lanchonete. No se tratava de um pedinte, ao contrrio, tinha
os traos daquele que vive do seu trabalho. Possivelmente estava disposto a pagar
pelo alimento que iria ser consumido.
O desconhecido havia atravessado o limite que separa o ptio e o setor de
embarque. Um esclarecimento indispensvel a todos aqueles que conhecem
vagamente a geografia da Central do Brasil, para que a histria no se torne
-
7/24/2019 2014 d Raphael
35/58
35
incompreensvel. Ao retornar para a casa, quanto mais prximo o trabalhador estiver
das portas do trem mais chances de conquistar um banco e realizar a viagem
sentado. Por isso, ao comprar o bilhete de viagem, os passageiros logo ultrapassam
a roleta que divide os dois espaos. Antes de cruzar a roleta, localizam-se os
quiosques de alimentao, a farmcia, o jornaleiro e as lanchonetes. Tendo
ultrapassado este limite, perde-se o acesso a estes servios.
Embora o caminhante tenha visto o gesto do desconhecido, no conseguiu
encontrar a sua melhor fora21, ou seja, aquela que o faria opor-se ao empuxo para
o futuro. Passou pela cena do desconhecido e deixou-a para trs.
21Madame Ariane, segundo ptio esquerdaQuem pergunta pelo futuro a benzedeiras abre mo, sem o saber, de um conhecimento interior doque est por vir, que mil vezes mais preciso do que tudo o que lhe dado ouvir l. Guia-o mais apreguia que a curiosidade, e nada menos semelhante ao devotado embotamento com que elepresencia o desvendamento de seu destino que o golpe de mo perigoso, gil com que o corajosope o futuro. Pois presena de esprito seu extrato; observar com exatido o que se cumpre emcada segundo mais decisivo que saber de antemo o mais distante. Signos precursores,pressentimentos, sinais atravessam dia e noite nosso organismo como batidas de ondas. Interpret-los ou utiliz-los, eis a questo. Mas ambos so inconciliveis. Covardia e preguia aconselham oprimeiro, sobriedade e liberdade o outro. Pois antes que tal profecia ou aviso se tenha tornado algoimediato, palavra ou imagem, sua melhor fora j est morta, a fora com que ela nos atinge nocentro e nos obriga, mal sabemos como, a agir de acordo com ela. Se deixamos de faz-lo, ento,e s ento, ela se decifra. Ns a lemos. Mas agora tarde demais. Da, quando inopinadamenteirrompe fogo ou de um cu sereno vem uma notcia de morte, no primeiro o pavor mudo umsentimento de culpa, a informe censura: No fundo voc no sabia? Da ltima vez que falou do morto,no soava diferente o nome dele em sua boca? No lhe faz sinal, do meio das chamas, a noite deontem, cuja linguagem s agora voc entende? E se um objeto que voc amava se perdeu, nohavia j, horas, dias antes, um halo, zombaria ou tristeza em torno dele, que o traa? Como raiosultravioletas a lembrana mostra a cada um, no livro da vida, uma escrita que, invisvel, na condiode profecia, glosava o texto. Mas no impunemente que se intercambiam as intenes, que seentrega a vida ainda no vivida a cartas, espritos, astros, que em um timo a vivem e gastam, paradevolv-la a ns ultrajada; no se defrauda impunemente o corpo do poder que ele tem de medir-secom os fados sobre sua prpria base e vencer. O instante o jugo de Caudium sob o qual o destinose curva a ele. Transformar a ameaa do futuro no agora preenchido, este nico milagre telepticodigno de ser desejado, obra de corprea presena de esprito. Tempos primordiais, em que tal
procedimento fazia parte da economia cotidiana do homem, davam-lhe, no corpo nu, o mais confivelinstrumento divinatrio. Ainda a Antiguidade conhecia a verdadeira prtica, e Cipio, quase pisa osolo de Cartago tropeando, exclama, abrindo amplamente os braos na queda, a senha de vitria:Teneo te, Terra Africana! Aquilo que quis tornar-se signo terrfico, imagem de infortnio, ele ligacorporalmente ao segundo e faz de si mesmo o facttum de seu corpo. Justamente nisso, desdesempre, os antigos exerccios ascticos do jejum, da castidade, da viglia celebraram seus mais altostriunfos. O dia jaz cada manh como uma camisa fresca sobre nossa cama; esse tecidoincomparavelmente fino, incomparavelmente denso, de limpa profecia, assenta-nos como uma luva.
A felicidade das prximas vinte e quatro horas depende de que ns, ao acordar, saibamos comoapanh-lo. (BENJAMIN, 1995, p. 63)
-
7/24/2019 2014 d Raphael
36/58
36
***
No alto da torre, o relgio marcava 23h15min. Preocupado com a partida do
ltimo trem, o caminhante entra pela Central do Brasil com o passo acelerado. Aps
comprar o bilhete no guich, atravessa a roleta em direo aos vages. Antes,
dirige-se at o gradil que separa os passageiros. Ensaiando solicitar ao primeiro
que se aproximasse que lhe trouxesse algo para comer, buscava o gesto que
revelasse a sua inteno. Prximo lanchonete e separado pela grade, um susto:
algo ali havia acontecido. Pequenos vestgios do homem que acenava com as
mos.
A imagem imobilizada diante da grade o fez sentir-se como aquele que chega
em casa e encontra as luvas ou o regalo de uma mulher, que o visitou em sua
ausncia, e deixou-as numa cadeira (BENJAMIN, 1995). Isto porque adescontinuidade do encontro entre o passado e o presente havia provocado um
enorme embarao: o que havia acontecido antes, e o que havia acontecido depois?
Alm disto, sentia-se constrangido por no ter atendido ao pedido do desconhecido,
quando este lhe acenava.
Walter Benjamin faz muitas referncias a este fenmeno; em especial, utiliza
a metfora do relmpago que perpassa veloz, para caracterizar a fugacidade desta
imagem (BENJAMIN, 1994a). A importncia do acontecimento consiste na
perspectiva de que o passado dirige um apelo ao presente: o dom de despertar as
centelhas da esperana (BENJAMIN, 1994a, p.224). Evidentemente este apelo no
deve ser rejeitado.
Em Infncia em Berlim, no aforismo Notcias de uma morte,Walter Benjamin
(1995) ir questionar o uso da expresso djvu; referindo-se as situaes em que
um estranho acontecimento tem o poder de nos convocar desprevenidos ao frio
jazigo do passado(Benjamin, 1987, p.89). No aforismo, Walter Benjamin conta-nos
sobre a noite que o pai lhe visitou em seu quarto, quando Benjamin tinha em torno
de cinco anos de idade, para comunicar a morte de um parente distante. Benjamin
conta que apenas anos mais tarde veio ter conhecimento que o pai silenciara,
naquele quarto, que o parente havia morrido de sfilis.
-
7/24/2019 2014 d Raphael
37/58
37
EmAlegorias da dialtica,Ktia Muricy (1998) realiza uma discusso sobre o
conceito de imagens dialticas, a partir da obra de Walter Benjamin. A proposta de
Muricy pensar as imagens dialticas, como as imagens do passado, atravessadas
pelos signos de um acontecimento vivido no presente(MURICY, 1998, p.216). Ao
retomarmos o aforismo, Notcias de uma morte, o fazemos a partir de Muricy, to
somente para reafirmar que as lembranas do acontecimento vivido na infncia, ao
vir tona, quando o autor depara-se com o seu quarto de infncia, sero tratadas
por Walter Benjamin como imagens dialticas.
Utilizamos o conceito ao referimo-nos aos apelos do homem separado pela
grade, reconhecido no momento posterior, quando o passado se fixou como uma
imagem (MURICY, 1998). Mais importante do que nomear o acontecimento
entender a tarefa imposta ao presente: resgatar os apelos do passado que ficaramsem reposta e libert-los, isto , reconhec-los, de forma que o futuro possa ser
diferente (BENJAMIN, 1994).
O apelo do homem que acenava diante da grade e no pde ser visto
novamente coloca-nos diante da questo do professor Luis Antonio Baptista, sobre
o campo de Auschwitz e o assassinato do vereador Renildo Jos dos Santos: O que
acontecer ao nosso presente quando restos de corpos da Polnia ou de Alagoas
responderem ao nosso olhar?(BAPTISTA, 2013, p. 65).
Nove
Os trabalhadores de Sade Mental implicados com o processo de
desinstitucionalizao dos manicmios estavam em silncio. Mas, o silncio que
viviam no era ausncia de palavras. Ao contrrio, o progresso cientfico havia
ampliado o vocabulrio sobre a loucura. Desde O Alienista, publicado em 1882, a
loucura havia se capilarizado tanto que, no sculo XXI, encontrvamos uma
enxurrada de nomes para referirmo-nos experincia descrita por Machado de
Assis. O silncio dos trabalhadores que retiravam os pacientes da Casa de Sade
Dr. Eiras e da Colnia Juliano Moreira era de histrias. Como contar as histrias da
-
7/24/2019 2014 d Raphael
38/58
38
loucura, aps o que Walter Benjamin (BENJAMIN, 1994a, p.197) nomeou o fim da
narrativa e o declnio da experincia?
Quando a mulher cruzou o porto de sada do manicmio apenas com as
roupas do corpo, pouco se sabia sobre ela. A primeira vista parecia-nos algum
alienado de sua humanidade. No tinha documentos ou uma certido de
nascimento. Consigo apenas vestgios da sua histria. Dentro de uma pasta
arquivada no armrio de ferro, informaes desarticuladas constituam a memria
oficial do que havia acontecido: o nmero da matrcula, anotaes sistemticas de
procedimentos e consultas, o diagnstico de esquizofrenia e a prescrio de
medicamentos.
Se nos manicmios o apagamento da histria uma prtica instituda, somos
levados a acreditar que isto se deve menos perversidade dos trabalhadores queprotagonizam estes atos do que reverncia que os homens do nosso tempo
prestam tcnica. Apesar do risco de que a idia possa transmitir um certo
reducionismo, em linhas gerais, o enunciado faz referncia questo da
desvalorizao da experincia, entendida como a transmisso repassada de uma
pessoa outra; e a sua gradativa substituio pelo conhecimento tcnico
(GAGNEBIN, 1982,). Neste sentido que se pretende estabelecer a conexo entre
a inexistncia de narrativas que pudessem contar a histria da mulher e um modo
de produzir cincia que opera mensurando e codificando as histrias singulares, a
partir de tipologias clnicas que transformam as experincias humanas em
informao sobre a doena e diagnstico.
Um fato ocorrido em um CAPS do Rio de Janeiro22ir recolocar este problema.
Durante a reunio de equipe, os participantes so informados que o paciente Jorge
da Silva23havia sido internado em uma emergncia psiquitrica. As expresses do
grupo no deixavam dvida: ignoravam quem era o referido. Algum pede o
pronturio. Abrem e procuram o CID24, impresso nas primeiras pginas e lem o
22O fato foi narrado por um aluno da Universidade Federal Fluminense (UFF) em 2012, durante ocurso de ps-graduao em Psicologia.23Nome fictcio24Classificao Internacional das Doenas
-
7/24/2019 2014 d Raphael
39/58
39
diagnstico. A equipe logo o identifica: aquele paranico que faz uso de drogas,
lembram?. O espanto seguinte ainda maior: o pronturio tinha a foto do paciente.
A partir destes enunciados e imagens, tomaremos a fabricao de corpos sem
materialidade e sem histria como um resduo da tcnica cientfica (BAPTISTA,
2000).
No manicmio judicirio Heitor Carrilho (RJ), outro episdio ir compor o
extenso espectro de acontecimentos onde o predomnio da tcnica se impe em
detrimento da experincia (BENJAMIN,1994a). A psicloga buscava conhecer a
histria de um paciente, com longo regime de institucionalizao. Durante a leitura
do pronturio25, ela conta que apenas uma informao lhe saltou aos olhos: ele
gostava de fotografar. Todo o restante das pginas havia sido preenchido com
informaes repetitivas, que no lhe diziam nada sobre aquela pessoa.Do silncio das histrias de vida - transformadas em informaes sobre a
doena e diagnstico - passando pelo silncio dos saberes e tradies populares
sobre a loucura - soterrados pelo triunfo da psiquiatria e da psicologia, - possvel
dizermos que a modernidade havia reduzido a loucura a uma experincia cientfica.
Neste sentido, tornvamo-nos cada vez mais pobres em histrias, pois os fatos j
chegavam acompanhados de explicaes (BENJAMIN, 1994a, p.203) e eram
apresentados em verso nica.
***
No livro Fbrica de Interiores (BAPTISTA, 2000), o leitor conduzido a uma
reunio clnica do Hospital Psiquitrico Pedro II (RJ), onde uma estagiria do curso
de psicologia descreve, ao supervisor, as suas impresses sobre a paciente durante
a entrevista diagnstica. Aps fazer a dissertao do atendimento, a aluna
surpreendida com a pergunta do supervisor: Qual a cor dos olhos da paciente?
Uma vez confinadas pela rigidez do enquadramento e dos papis previamente
definidos; parece-nos que o supervisor buscou nos olhos da paciente a porosidade
da cena: uma tentativa de recolocar o que havia de inacabado naquele encontro.
Assim como um gro do domingo se esconde em todo dia de semana(BENJAMIN,
25KNIJNIK,C. Cacos urbanos: gesto, cidade e narrao. Dissertao de Mestrado (UFF), 2009.
-
7/24/2019 2014 d Raphael
40/58
40
1995, p.150), os olhos eram a fresta, encoberta pelos fluxos centrados na tcnica e
nos procedimentos. Em outras palavras, o que poderia ser extrado daquele
encontro, alm do que j estava estabelecido?
Antes do desenvolvimento dos transportes pblicos modernos, nem se podia
imaginar a possibilidade de ficarmos longos minutos, talvez longas horas, perto de
outra pessoa, de poder olh-la o tempo todo sem que esse olhar fosse respondido
e correspondido (SIMMEL apud BENJAMIN, 1994b).
Para onde os olhos da paciente levariam as convices cientficas, produtoras
de invisibilidade?
Dez
Em um pequeno restaurante na Lapa, o caminhante sentou-se mesa aps
escolher os alimentos e a quantidade que iriam ao prato. No almoo self-service
havia arroz, feijo, carne assada, batata-frita, legumes e notcias do telejornal. Alm
de sua presena nas residncias brasileiras, os televisores tornaram-se item
obrigatrio nos estabelecimentos que comercializam comida.
Entre uma garfada e outra assistia as imagens da tv, naquela tarde de sol. O
apresentador do telejornal anuncia:Alm da mendicncia, da prostituio, do roubo,
da violncia e das manifestaes populares, os moradores de Copacabana tero
que se preocupar com a queda de corpos pela janela. O apresentador conta que
dois cachorros foram atirados pela janela de um apartamento, no sexto andar, por
volta das 18:00 horas26. Diz que os corpos dos animais poderiam ter atingido
crianas e idosos que caminham pela calada neste horrio. No telejornal o
apresentador diz que os moradores do prdio, ao chegarem em casa, foram
surpreendidos com os cadveres de um pastor alemo e de um poodle, estirados
na calada, prximo portaria. Os ces pertenciam me do homem que atirou os
animais pela janela. O apresentador diz que o episdio foi registrado na delegacia
26 Mdico joga dois ces do sexto andar de prdio. Veja.com, 23/05/2013. Disponvel
em:.Acesso: 01/08/2014.
-
7/24/2019 2014 d Raphael
41/58
41
de polcia do bairro; e que, no depoimento, o mdico que atirou os ces pela janela
alegou problemas mentais.
O caminhante levantou-se em direo ao caixa para pagar a sua refeio.
Enquanto revirava a carteira simultaneamente sacudia a cabea em sinal de
reprovao. O caminhante no acreditava que os cachorros atirados pela janela
constituam uma ameaa para as pessoas que andavam pelas ruas. Pensou que o
maior risco representado pelos ces ainda era uma mordida. Lembrou de outras
matrias apresentadas pela mdia, caracterizando as ruas como um espao
perigoso. Digo, muito perigoso27. No entanto, inegvel que estvamos diante de
uma questo importante: a conscincia da fragilidade da existncia.
Atribuir s ruas este sentido algo to antigo quanto a prpria histria da
formao das cidades. Um relatrio policial de 1798 sobre a cidade de Paris faz aseguinte indicao: quase impossvel manter os bons costumes numa populao
amontoada, onde cada um , por assim dizer, desconhecido de todos os demais, e
no precisa enrubescer diante dos olhos de ningum(BENJAMIN, 1994b, p.187).
Em Charles Baudelaire: um lrico no auge do capitalismo, de Walter
Benjamin, encontramos, no captulo sobre o Flneur, uma valiosa descrio do
entrecruzamento de foras produzidas em uma cidade:
IO inferno uma cidade muito semelhante a LondresUma cidade, populosa e fumacenta;Com todos os tipos de pessoas arruinadasE pouca ou nenhuma diversoPouca justia e ainda menos compaixo.
IIL existe um palcio e uma canalizaoUm tal de Cobbett e um tal de Castlereagh
Toda sorte de corporaes desonestasCom toda sorte de artifcios contraCorporaes menos corruptas que elas.
27Durante uma temporada no Rio de Janeiro, a mdia ocupou os noticirios com a questo dasbalas perdidas, dos bueiros que explodiam e da epidemia do crack.
-
7/24/2019 2014 d Raphael
42/58
42
IIIL h um....que perdeu o juzoOu o vendeu, no se sabe a quemEle circula devagar como um fantasma curvadoE embora quase to sutil quanto a fraude
Torna-se sempre mais rico e mais horrvel.IVL existe uma chancelaria; um rei;Uma malta industrial; uma corjaDe ladres, eleitos por si prpriosPara representar ladres parecidos;Um exrcito; e uma dvida pblica.
VUm esquema de papel moedaQue simplesmente quer dizer:
Abelhas guardai vossa cera- dai-nos o melE no vero plantaremos floresPara o inverno.
VIL h grandes rumores de revoluoE grandes perspectivas para o despotismoSoldados alemes-acampamentos-confusoTumulto-loterias-fria-fantasmagoriaGin-suicdio e metodismo
VIIImpostos tambm sobre vinho e poE carne e cerveja e queijo e chCom os quais so mantidos nossos patriotas,Que antes de cair na cama,Engolem dez vezes mais que todos os outros.
IXL esto advogados, juzes, velhos beberresMeirinhos, chanceleresBispos, grandes e pequenos vigaristasVersejadores, panfletistas, especuladores da BolsaHomens com glrias guerreiras
XFiguras cujo ofcio encostar-se s damasE flertar com elas, transfigur-las e sorrir para elas
At que tudo o que divino numa mulher
-
7/24/2019 2014 d Raphael
43/58
43
Se torne atroz, ftil, insinuante e desumanoCrucificado entre um sorriso e um choro(BENJAMIN,1994b, p. 228-229).
O homem diante de uma cidade populosa e fumacenta, com pessoas
arruinadas, soldados alemes, e no meio fria e ao tumulto das ruas, enxerga dois
modelos para seguir: assiste distncia o que se passa nas ruas, conforme o conto
de Hoffmann, intitulado Ajanela de esquina do primo; ou vive os acontecimentos da
rua como expresso da alteridade, conforme o conto O homem na multido, de
Edgar Allan Poe.
O primeiro observador, instalado em seu ambiente domstico, examina a
multido com seu par de binculos. O personagem que encarna o primo se sente
acima desta multido, conforme sugere seu posto de observao no apartamento.A posio do primo em relao aos acontecimentos que acontecem do lado
de fora da janela nos faz lembrar a posio das pessoas diante da televiso.
Sentado em sua poltrona, possvel acompanhar tudo o que se passa ao redor do
mundo, sem precisar abandonar o