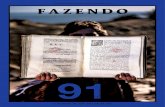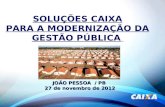27-91-1-PB
-
Upload
tiago-nascimento-souza -
Category
Documents
-
view
15 -
download
0
Transcript of 27-91-1-PB

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos>
103
O cinema: da construção à queda do muro de Berlim
Nilo André Piana de Castro*
Nosso objetivo na Guerra Fria não é a conquista de territórios nem a subjugação pela força, explicou o presidente Eisenhower numa coletiva de imprensa. ‘Nosso objetivo é mais sutil, mais penetrante e mais completo. Estamos tentando levar o mundo, através de meios pacíficos, a acreditar na verdade. Essa verdade é que os norte-americanos querem um mundo de paz, um mundo em que todas as pessoas tenham oportunidade do máximo de de-senvolvimento individual. Os meios que empregamos para dis-seminar essa verdade são comumente chamados de “psicológi-cos”. Não tenham medo desse termo, simplesmente por ele ser uma palavra de cinco dólares e cinco sílabas. A ‘guerra psicoló-gica’ é a luta pela mente e pela vontade dos homens. (Eisenhower, falando sobre como vencer a terceira guerra mundial sem travá-la: SAUNDERS, 2207, p. 167.)
Resumo Este artigo apresenta um vasto panorama da filmografia, especialmente Ocidental, sobre a divisão da Alemanha, a construção do Muro de Berlim, sua queda e sobre a reunificação do país. A análise explora os conceitos de propaganda ideológica que caracterizou grande parte da produção cinematográfica durante a Guerra Fria. Por fim, comenta cada um dos filmes citados, do ponto de vista tanto artístico como político.
Palavras-chave: Cinema. Guerra Fria. Propaganda ideológica. Muro de Berlim.
O muro de Berlim foi fruto da competição travada entre os membros da coalizão vencedora da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Ainda em 1936 havia sido formado o pacto anti-komintern, que uniu Alemanha, Itália e Japão, formando o Eixo. Entretanto, a forma-lização da aliança entre Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética (os Aliados) só se deu durante a Segunda Guerra Mundial (II GM), na Conferência de Teerã, em 1943. Em grande medida isso se deveu às des-confianças mútuas existentes entre os aliados, devido às diferenças entre seus regimes sociopolíticos.
* Professor de História no Colégio de Aplicação da UFRGS. Doutorando em Ciência Políti-ca pela UFRGS.

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos> 104
Ilustra o fato a exigência de que a III Internacional Comunista fosse dissolvida para que a Aliança se formalizasse. Ainda durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939), as diferenças entre os futuros aliados impedi-ram uma linha de ação comum. Para muitos, na Inglaterra (Grupo de Cli-veden), a expansão da Alemanha e do Eixo (1936) era uma oportunidade de conter ou livrar-se da União Soviética (URSS). Foi o que levou à política de apaziguamento (Munique, 1938), que referendou a anexação da Áustria e permitiu a ocupação da Tchecoslováquia por Hitler. Receoso da penetra-ção nazista na Finlândia (feita sob beneplácito das potências ocidentais) e alarmado com Munique, Stalin firmou com a Alemanha um pacto de não agressão em 1939. Tentava ganhar tempo enquanto protegia o flanco norte da URSS. Foi com esse propósito que a URSS desencadeou, em 1940, uma guerra preemptiva com a Finlândia (que havia feito parte da URSS e na qual, anos antes, havia sido travada uma guerra civil que, com apoio inglês e alemão, aniquilou os comunistas). Em 1940, os Estados Unidos e Inglater-ra prontificaram-se a enviar ajuda à Finlândia, naquela época já completa-mente sob influência da Alemanha de Hitler. Assim, nem a invasão da França em 1940 conduziu a aproximação entre os aliados. Somente a agres-são nazista à URSS e a declaração de guerra da Alemanha aos EUA estabe-leceram certa unidade na ação. Todavia, a formalização de um compromis-so, de uma visão comum acerca das condições em que se enfrentaria a Alemanha e se faria a paz (fórmula da rendição incondicional) só foram estabelecidos , como referido, mediante, em 1943, a dissolução da Interna-cional Comunista. Desse modo, o comunismo e o anticomunismo sempre permearam as relações internas no campo aliado, e a própria guerra, em certa medida, era vista como a preparação de uma nova contenda, feita entre as democracias ocidentais e a URSS. Em virtude disso a abertura da segunda frente foi procrastinada ao máximo e, mesmo durante a guerra, surgiram mostras de que os aliados pretendiam usar a força contra a ex-pansão do campo socialista. Foi o caso do bombardeio de Dresden e do lançamento das bombas atômicas sobre o Japão.
A União Soviética sempre esteve em desvantagem. País mais atra-sado da Europa, a Rússia viu-se mergulhada na guerra civil de 1917 até 1920, e isolada pelo “cordão sanitário” entre os anos 1920 e 1930. Na II GM coube à URSS sustentar o maior peso da máquina de guerra nazista, que custou a morte de 28 milhões e incapacitação de mais de 50% da popu-lação economicamente ativa, além da destruição quase completa de sua porção ocidental.
Entre 04 e 11 de fevereiro de 1945, se deu a Conferência de Yalta, ponto mais alto de ajuda mútua e entendimento entre as forças aliadas contra o Eixo. Em pouco tempo, o quadro de colaboração entre as potên-cias ocidentais capitalistas, sobretudo EUA e Inglaterra, em relação à URSS mudou de forma acentuada. Fatos em rápida sucessão colaboram para o estabelecimento de uma tensão que perdurou ao longo de muitos anos e influenciou diretamente na configuração dos blocos da Guerra Fria.

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos>
105
Logo depois de encerrada a Conferência de Yalta, os acertos come- çam a mudar. O ataque do comando de bombardeios (anglo-estaduni- dense) à cidade alemã de Dresden, iniciado em 13/02/1945,1 aponta para uma demonstração de força aos exércitos soviéticos que chegariam à cidade alguns dias depois. Em Potsdam, entre 17/07-02/08/1945, as con-dições estabelecidas apenas seis meses antes tornaram-se fatores de dis-córdia. Quatro dias depois de encerrada a conferência, foi lançada a bomba sobre Hiroxima, dando início à era atômica. O roteiro da constru-ção do muro antecedeu a própria queda de Berlim.
A Guerra Fria
O recrudescer dos movimentos de libertação nacional, em sua maioria com a participação dos comunistas ou por eles hegemonizados (Iugoslávia, Grécia, Albânia, China) ressuscitou os fantasmas adormeci-dos da guerra civil espanhola e criou nos aliados a percepção de uma conspiração comunista mundial e de uma agressão soviética dissimulada em guerra revolucionária.
O início de 1946 é marcado por uma postura enfática de lideranças britânicas com intenção de empurrar de volta para o Leste o comunismo. Churchill, em visita aos Estados Unidos, diante de câmeras cinematográ-ficas, fez o famoso discurso de Fulton,2 que deu a direção a ser seguida. Em um primeiro momento, é considerado duro demais até mesmo por Truman. Entretanto, devido à revolução grega,3 ele mesmo adota uma
1 Entre 13 e 14 de fevereiro de 1945, foram lançadas sobre Dresden 10.000 bombas explosi-vas, centenas de bombas de fragmentação, 650.000 bombas incendiárias e 15.000 bidons de fósforo e petróleo de 100 litros cada um. A cidade foi completamente varrida por uma tempestade de fogo. O número de mortos, em sua maioria civis, sequer pode ser contado. O ataque ainda não teve toda sua dimensão retratada no cinema, mas é mencionado nos filmes: Matadouro 5 (Slaughterhouse Five, EUA 1972, dir. George Roy Hill), O Mapa do Coração (The Map of Human Heart, Canadá/ França/ Austrália, 1992, dir. Vicent Ward) e diretamente em Dresden O Inferno, (Dresden, Alemanha 2006, dir. Roland Suso Ritcher). 2 Em 05 de março de 1946, no Westminster College em Fulton, Missouri, terra natal do Presidente Truman, Churchill faz uso de um termo criado por Goebbels, a cortina de ferro: “Desde Stettin, no Báltico até Trieste no Adriático uma cortina de ferro caiu sobre todo o continente. Atrás dessa linha as antigas capitais dos Estados da Europa Central e Oriental. Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sofia. Todas essa cidades famosas e as populações que as cercam estão de baixo do que eu tenho que denominar esfera soviética. Exceto na commonwealth britânica e nos Estados Unidos, onde o comunismo não está muito desenvolvido, os partidos comunistas e as quintas colunas constituem um desafio cada vez maior e um perigo para civilização cristã. Quaisquer que sejam as conclu-sões desses fatos, os fatos existem, e esta não é a Europa liberada pela qual lutamos. Nem sequer contém os elementos essenciais para uma paz permanente.” 3 A guerra civil na Grécia se estenderia de 1946 a 1949, deixando um saldo de destruição enorme. Em 1947, a Inglaterra, vivendo dificuldades internas, retirou sua ajuda militar e econômica à Grécia. Truman solicitou ao Congresso a autorização do envio de 400 milhões

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos> 106
política agressiva em relação aos soviéticos nos meses seguintes, lançan-do a Doutrina Truman. Nem mesmo a indiferença soviética às revoluções em andamento nestes países, em estrito cumprimento ao estabelecido em Yalta, foi capaz de convencer os ocidentais de que não havia um plano comunista para conquista do mundo.
A Doutrina Truman (março 1947), seguida do Plano Marshall (anunciado em junho), visava a colocar os países europeus sob sua in- fluência econômica direta.4 Os soviéticos responderam com o discurso Jdanov (1947), o Kominform (1947), e o COMECON (1948). A Internacio- nal Comunista não chegou a ser reconstruída, mas, em 1947, foi estabele-cido o Kominform, com o propósito de coordenar a propaganda soviética através dos Partidos Comunistas. A disputa de mentes e corações teria um papel de destaque no novo tipo de conflito que se seguiria.
Nos EUA, ainda em 1938, havia sido constituído o Comitê de In- quérito para Atividades Antiamericanas (HUAC -House of Un-American Activities Committee) que então teve suas atividades reorientadas para investigar uma possível infiltração nazista, passava a fiscalizar as ativi-dades dos comunistas e prefigurava o Macartismo. Profundamente im-plicada e relacionada com seu contexto, seja na projeção mundial seja no controle social interno, a máquina dos sonhos de Hollywood começava a operar sobre as questões. Vencido o nazismo na Europa, a guerra interna entre a frente popular de Roosevelt e a direita conservadora do establish-ment estadunidense foi declarada. A famosa caça às bruxas começou em 1947, quando foram reativadas as investigações do HUAC. Os principais alvos foram os movimentos civis (pacifistas, direitos civis, liberais, socia-listas, comunistas, etc.) e o cinema.
O fato de as produções cinematográficas terem entrado na pauta da “purificação” ideológica justifica-se por dois aspectos. Em primeiro lugar, o próprio reconhecimento de que em Hollywood se disputava bem mais do que bilheterias, e que, através de sua educação informal, difundiam-se valores morais, sociais e políticos que precisavam ser mantidos sob estrito de dólares até junho de 1948, para a Grécia e Turquia. Pela primeira vez Truman apresentou como argumento um combate entre a liberdade e a tirania, entre o Ocidente e comunismo. Durante o Plano Marshall, os EUA despejaram 700 milhões de dólares somente na Grécia – abasteceram de combustível, alimentos e roupas a nação Grega, até mulas foram importa-das do Missouri. A idéia era manter os russos afastados de suas reivindicações de influência sobre os estreitos de Bósforo e Dardanelos e o mais longe possível do canal de Suez. 4 A economia soviética também precisava desesperadamente de inversões de capital para recuperar-se da guerra – teoricamente o plano Marshall estava aberto também aos russos. Mas, na verdade, apenas queria conquistar as democracias orientais e tirá-las da esfera soviética. Como esclareceu o diretor adjunto do plano, Richard Bissell: “Antes mesmo da eclosão da Guerra da Coreia, estava bem claro que o plano Marshall nunca tivera a intenção de ser uma coisa inteiramente altruísta. A esperança era que o fortalecimento da economia dos países da Europa Ocidental ampliasse seu valor como integrantes da aliança da OTAN, acabando por obrigá-los a assumir uma responsabilidade de defesa em apoio aos esforços de guerra”. SAUNDERS, Frances Stonor. Quem pagou a conta?: a CIA na guerra fria da cultu-ra. Rio de Janeiro: Record, 2008. p. 41.

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos>
107
controle do establishment. Em segundo lugar, uma evidente publicidade para tal comitê, comandado por alguns obscuros políticos conservadores. A necessidade interna de mobilização e policiamento teve no cinema um fator-chave para dar início a uma histeria. Foi preciso caracterizar um peri-go interno, forjado com largo desrespeito à constituição e aos direitos dos cidadãos. Era preciso, antes de exportar o medo da expansão comunista,5 deflagrar esse medo no interior do próprio país. A extrema direita ameri-cana estava a postos, e não perdeu tempo, lançando mão de tudo que esta-va ao seu alcance para divulgar a ameaça ao “sistema de vida americano”, que estava em marcha através da conspiração comunista.
A Guerra Fria nas imagens: pavimentando caminho para o Muro
Inicia-se então o movimento que depois virá a se transformar nu- ma onda cinematográfica de filmes políticos: A Cortina de Ferro (1948, The Iron Curtain, dir. William A. Wellman), denunciando um esquema de espionagem soviético desmembrado no Canadá; Sofia (1948, Sofia, dir. John Reinhardt), que mostra os comunistas como ineptos até mesmo em aspectos básicos da espionagem, e o clássico inglês financiado pelo pro- dutor hollywoodiano David Selznick: O Terceiro homem (The Third Men, ING/EUA 1948, dir. Carol Reed). Rodado nos esgotos de Viena ocupada e dividida, com fotografia esplêndida e clima noir, esse filme romantizou a partilha da Europa no pós-guerra e revelou a crueldade dos agentes clandestinos que infestavam cidades, tornando-se imenso sucesso. Po- rém, Marc Ferro, ao analisar o filme, descreve essa tragédia política, escri- ta no espírito da Guerra Fria, como uma peça violentamente anticomunis- ta embora nem sempre explícita, portanto, muito bem realizada. 6
O ano de 1948 ainda seria marcado pela eclosão da crise de Ber-lim.7 Enquanto os soviéticos reivindicavam a manutenção dos acordos de Yalta, os seus antigos aliados começavam a formular a contenção do co-munismo com o estado germânico ocidental forte. A unificação de três zonas ocupadas pela França, Inglaterra e Estados Unidos ao mesmo tem-po em que unificavam também uma nova moeda para essa região. Como
5 Em fevereiro de 1948, contrariando a sedução do Plano Marshall, os comunistas sobem ao poder na Tchecoslováquia, contribuindo para aumentar a ideia de avanço contínuo da influência soviética. Porém, em contrapartida, a Iugoslávia, que se havia declarado comu-nista por si, mantinha uma posição cada vez mais independente, acaba excluída do Komin-form, solicita ajuda dos EUA, e em 1950 emerge do outro lado dos blocos, recebendo 150 milhões de dólares de ajuda. 6 FERRO, Marc. Um combate no filme o terceiro homem. In: FERRO, Marc. Cinema e história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. p. 53-59. 7 Bloqueio de Berlim entre 22/06/1948 e 12/05/1949.

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos> 108
resposta Stalin e Partido Socialista Unificado alemão criam uma moeda própria para a porção da Alemanha sobre controle socialista. A dispari-dade em condições materiais desproporcionais lançou o marco ocidental com um valor cinco vezes maior que o oriental.
Na tentativa de reverter essas medidas, os soviéticos bloquearam os acessos dos aliados, por vias terrestres, a Berlim. Situada a cerca de duzentos quilômetros no interior da zona soviética, a cidade também estava dividida em quatro zonas de ocupação. Porém, foram mantidos três corredores aéreos de 30 km para os dois aeroportos de Berlim, pelo tratado estabelecido desde 1945, o que permitiu o abastecimento aéreo da porção ocidental, que conseguiu superar a crise – vitória que foi retratado no cinema, de forma quase documental, em Ilusão perdida (The Big Lift, EUA, 1950, dir. George Seaton).8
Berlim passou a ser a linha de frente do conflito entre os dois blocos na então “Guerra Fria”. Dividida em zonas de ocupação: americana, fran-cesa, inglesa e soviética, polo do atrito e vitrine do capitalismo para o leste empobrecido, a cidade foi reconstruída em velocidade e formas bastante diferentes nas suas duas metades (Ocidental/Oriental): a República Fede-ral da Alemanha (1949 – RFA – Alemanha Ocidental) contando com amplo apoio econômico dos EUA e demais potências ocidentais, e a República Democrática Alemã (1949 – RDA – Alemanha Oriental) atrelada ao então bloco soviético junto às democracias populares do leste europeu, que não contava com essa pujança financeira.
No início de 1949, ao passo que a situação de Berlim se resolvia pacificamente, a produção de filmes engajados à Guerra Fria aumentava. Culpado de traição (Guilty of Treason, dir. Felix Feist), no qual um inimi-go do regime da URSS, o cardeal húngaro Josef Mindszenty, é barbara-mente torturado e depois drogado para confessar, teve recepção razoável. O Danúbio vermelho (The Red Danube, dir. George Sidney), uma tentati-va de copia do êxito de O terceiro homem, também ambientado em Vie-na, faz crítica da repatriação forçada promovida pelos russos. A ameaça vermelha (The Red Manece, dir. R. G. Springsteen) traz a formação de uma célula comunista com vários estereótipos de desavisados jovens que po-deriam ser atraídos pela ideologia marxista: um ex-combatente, um estu-dante negro, uma moça histérica, um padre de pouca fé, um poeta revo-lucionário, grupo heterogêneo que logo se desiludem com o comunismo e são perseguidos ao tentarem abandonar a seita comunista.
Outros filmes teriam alguns problemas de recepção. O traidor (Conspirator, dir. Victor Saville), filme britânico financiado por produtores estadunidenses, além da pouca bilheteria nos EUA, foi recebido no Brasil como uma obra de cunho reacionário, provocando inclusive uma represá-
8 Em 2006, uma versão para TV alemã muito romanceada dessa ponte aérea foi realizada pelo diretor israelense Dror Zahavi em O plano de guerra (Die Luftbrücke – Mur der Himmel war frei – Air Lift).

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos>
109
lia violenta com apedrejamento do cinema no Rio de Janeiro.9 Os filmes seguiam a linha de enquadrar os comunistas como nazistas, tentando ree-ditar os passos da pré-segunda guerra, inclusive nos títulos originais: I Married a Comunist, emulando o antigo filme antinazista I Married a Nazi, de 1940. A resistência do público levou o estúdio RKO a tentar lançar o filme com outros dois títulos Beautiful But Dangerous e The Woman on Pier 13. No Brasil foi batizado de Nuvens de tempestade. Conta a história de agitadores comunistas que organizavam revoltas de trabalhadores do por-to de San Francisco.
A desintegração das relações entre as ditas superpotências tomava um ritmo de crescimento contínuo, com a explosão da primeira bomba atômica soviética, em 29 de agosto de 1949 e a vitória comunista na guerra civil da China, em primeiro de outubro do mesmo ano. Por parte dos ame- ricanos soou como o aviso final. Foi como se o horizonte ficasse repleto das mais negras nuvens. A confirmação do poderio atômico soviético e alguns casos de espionagem10 colaboraram de maneira decisiva para a instauração de um clima de histeria forjado pelo Estado, pela extrema-direita e pelos setores mais conservadores no seio da sociedade estadunidense.11 Foi um período que se caracterizou pela perseguição das oposições, pela castração das liberdades políticas e sociais, pelo cerceamento da cidadania, numa tentativa de uniformizar a sociedade de uma maneira um tanto fascista, a histeria macartista.12 De maneira mais que rápida, a produção hollywoo- diana adaptava aos novos vilões o mesmo tratamento que havia sido ante-riormente dispensado na criação de estereótipos aos japoneses e alemães (assassinos, sem caráter ou escrúpulos, etc.). Os russos passaram a ser mos-trados, como ateus escravizadores que tudo faziam para privar o Ocidente da liberdade. Em seguida, os chineses seriam representados como mons-tros amarelos por fora e vermelhos por dentro. Completando o quadro da
9 Uma avaliação sobre a recepção no Brasil de vários desses filmes de cunho anticomunista pode ser vista no trabalho de VALIN, Alexandre Busko. Imagens vigiadas: uma história social do cinema no alvorecer da Guerra Fria, 1945-1954. 2006. Tese (Doutorado) – Univer-sidade Federal Fluminense, Niterói. 10 Acusações de espionagem contra Alger Hiss, Julius Rosenberg e Ethel Rosenberg ajuda-ram a criar um profundo receio, nos Estados Unidos, de que uma conspiração comunista estava próxima. 11 Em junho de 1940, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o Alien Registration Act. A lei tornava ilegal para qualquer pessoa no país articular ou manifestar oposição franca e aberta ao governo. Em 1949, essa lei foi usada contra os dirigentes do Partido Comunista nos EUA, e onze deles foram condenados por violá-la. 12 McCarthy foi presidente do Comitê de Investigação de Atividades Anti-Americanas do Senado dos Estados Unidos, criado, em 1952, como uma subseção do Comitê de Negócios Governamentais e Segurança Nacional do Senado dos Estados Unidos. O macartismo foi tolerado enquanto cumpria uma função política apreciada pelos detentores do poder, só sendo derrubado ao confrontar-se com o exército, numa “queda de braço” muito previsível. Porém, seus reflexos na sociedade americana prevaleceram durante longos anos, incluso ai o cinema, que foi privado de uma porção de seus intelectuais.

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos> 110
desintegração dessas relações, eclodiu a Guerra da Coreia, iniciada em vinte e cinco de julho de 1950.13
A colaboração da grande imprensa tanto na construção da histeria, através de matérias sensacionalistas, quanto na submissão à inquisição que se seguiu, foi a mesma dos grandes estúdios de cinema que aceitaram a imposição das listas de quem poderia trabalhar e dos que estavam banidos. Atores, diretores e roteiristas estavam vinculados aos estúdios. Ao nega-rem-se a delatar qualquer atividade “antiamericana”, estavam sumaria-mente demitidos, passando ainda a figurar na lista negra dos que não po-diam trabalhar em Hollywood.
Uma enxurrada de filmes anticomunistas invadiu as telas, e o lema passou a ser “melhor morto que vermelho”.14 A mensagem explícita de Eu fui comunista para o FBI (I Was Comunist for FBI, 1951, dir. Gordon Dou-glas), baseado em um livro de denúncia, foi transformado em novela de rádio e, finalmente, em filme – embora ficção, indicado para o Oscar de melhor documentário daquele ano. Cruéis dominadores (The Whip Hand, 1951, dir. William Cameron Menzies), um filme que teve a produção con-trolada por Howard Hughes, que mudou o roteiro original e direcionou a denúncia que tratava de cientistas nazistas no pós-guerra,15 colocando-os a serviço dos comunistas num plano pra dominar o mundo. Em A grande aventura (Big Jim McLain, 1952, dir. Edward Ludwing) John Wayne prati-camente encarnava MaCarthy como membro do HUAC caçando “comu-nas” no Havaí. Quando o farol ilumina o leste (Walk East on Bacon, 1952, dir. Alfred Welker) foi baseado no livro do diretor do FBI Edgar Hoover, o Crime do Século. Não desonres teu sangue (My Son John, 1952, dir. Leo McCarey) tinha uma linha mais melodramática e apelativa da contamina-ção de um filho pela ideologia. Invasão dos EUA (Invasion, U.S.A., 1953, dir. Alfred Green) colocava os russos invadindo os Estados Unidos da América através de forças aerotransportadas e paraquedistas. Tratava-se de um aviso do tipo se não fosse construído e consolidado um grande ar-senal de armas atômicas, os estadunidenses poderiam esperar que os rus-sos caíssem do céu a qualquer dia.16
13 Entre 1950 e 1954, foram feitos mais de trinta filmes sobre a Guerra da Coreia e temas correlatos, como a China comunista. A produção continuou até o inicio dos anos 1960. 14 A vinheta better dead than red surgiu como mais uma cópia do nazismo. A frase original provavelmente foi criada como slogan pelo ministro de propaganda nazista Joseph Goeb-bels no auge da II GM, quando da invasão da URSS: “lieber tot als rot". 15 Magnata ligado à indústria de aviação e cinema, posteriormente dono da Hughes Aircraft, indústria ligada ao complexo militar industrial, comprou o Estúdio RKO em 1948 e produziu uma série de filmes anticomunistas. Politicamente de extrema direita, Hughes lutava contra qualquer possível simpatia pela esquerda em qualquer produção em que estivesse envolvido. THOMAS, Tony. Howard Hughes em Hollywood. Rio de Janeiro: Frente, 2004. 16 BRODE, Douglas. Lost films of the fifties. New York: Citadel, 1988. p. 70. A história foi reutilizada em duas produções do período da segunda guerra fria, nos anos Reagan.

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos>
111
Sucesso nos EUA, entretanto, esses filmes eram identificados pelo público europeu justamente como peças intolerantes – ao estilo da propaganda nazista –, recebendo pouco público e pouca repercussão. A maior parte dos espectadores europeus estava cansada de guerra e queria de Hollywood justamente os sonhos, os devaneios e a possibilida-de de fugir de uma realidade desagradável, portanto muito mais interes-sada em romances adocicados e desenhos de Walt Disney.17
Na pauta do cinema engajado entram os filmes de ficção científica com a humanidade sendo ameaçada de por seres misteriosos, inamisto-sos e hostis. Pairavam sobre a Terra os invasores vindos de mundos dife-rentes, inclusive de Marte, o planeta vermelho. O perigo da contaminação ideológica proporcionada pelo alienígena traduzia o medo das ideias que vinham de fora: tudo que viesse dos outros era antiamericano. Já em 1950, com Destino Lua (Destination Moon, dir. Irvin Pichel), o espaço é abordado como mais um território a ser disputado com os russos. No mesmo ano, The Flying Soucer (dir. Mikel Conrad) foi o primeiro filme a usar a expressão disco voador, mas trata-se de um artefato terrestre, um disco inventado pelos cientistas estadunidenses que é roubado pelos inimigos soviéticos. Em 1951, O homem do Planeta X (The Man From Planet X, dir. Edgar Ulmer), filme B, tinha um enredo no qual uma nave cai na terra, e seu tripulante é capturado por um astrônomo. Apesar de pacífico, o alienígena tem poderes telepáticos de dominação, podendo transformar os mais inescrupulosos cientistas em inocentes vegetais. É o criador do que depois seriam clichês quanto à possível invasão da terra.18 Ainda em 1951, viria O monstro do Ártico (The Thing from Another World, dir. Christian Nyby), ameaça de invasão russa pelo Alaska e alegoria sobre a guerra fria, através de uma criatura, e termina advertindo para o perigo que vem do céu. Os filmes de ficção científica seguiram, por anos de produção constante, em grau diferente de engajamento.19 Exportar o tema do anticomunismo para outros gêneros, ainda que de forma alegó-rica ou difusa, era a garantia de pautar a audiência com uma mesma mensagem disfarçada.
17 SAUNDERS, Frances Stonor. Quem pagou a conta?: a CIA na guerra fria da cultura. Rio de Janeiro: Record, 2008. p. 312. 18 Em 1961 também foi lançado o clássico O dia em que a Terra parou (The Day The Erth Stood Still, dir. Robert Wise), uma produção classe A, de apelo pacifista no qual o ser do espaço somente reage à violência dos terráqueos, baseado no conto “Farewell to the Máster”, do escritor Harry Bates. Refilmado em 2008, com discurso da ameaça ao meio ambiente. 19 O planeta Vermelho (Red Planet Mars, 1952, dir. Harry Horner), Os invasores de Marte (Invaders from Mars, 1953, dir. William Cameron Menzies), Guerra dos mundos (The War of Worlds,1953, dir. Byron Haskin), A Ilha da Terra (This Island on Earth, 1955, dir. Joseph M. Newman), Invasão dos discos voadores (Earth Vs. The Flaying Saucers, 1956, dir. Fred F. Sears). Porém, houve espaço para ambigüidade: Vampiros de almas (Ivasion of Body Snat-chers, 1956, dir. Don Sigel) e até mesmo para críticas ao macartismo como em Veio do espa-ço (It came from Outer Space, 1958, dir. Jack Arnold).

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos> 112
Entre 1952 e 1955, várias providências foram tomadas. O Estado Maior das Forças Armadas dos EUA convocou reuniões com dirigentes dos estúdios de Hollywood para que eles explorassem a “liberdade mili-tante” como tema recorrente em seus filmes, criando um contraste entre o valor da liberdade norte-americana e as propostas estrangeiras. Também foi pedida uma pauta que evitasse trabalhar com fatos sórdidos da socie-dade, como a pobreza e o racismo,20 e colocar personagens estadunidenses com desvio de caráter ou como consumidores excessivos de álcool, num tipo de propaganda de imagem positiva.21
O ano de 1953 ficou marcado pela posse de Eisenhower na presi-dência dos EUA, eleito depois de uma campanha na qual acusava os de-mocratas de terem feito muitas concessões aos comunistas e prometendo trazer os garotos de volta da guerra da Coreia. Na URSS, morria Stalin e o processo de ruptura com o stalinismo começou quase que de imediato. Entretanto, o final da guerra da Coreia e seu saldo de pelo menos três mi-lhões e meio de vidas servia como advertência para a situação de Berlim.
A antiga capital do Reich, que já havia sido transformada, na reali-dade e nas telas, na cidade dos espiões, desde 1947, é pano de fundo para filmes como O outro homem (The man between, 1953, Inglaterra. dir. Carol Reed), uma cópia pobre de O terceiro homem, rodado em locações na cidade e completado em estúdio, que não teve grande repercussão. À sombra da noite (Night People, EUA, 1954, dir. Nunnally Johnson), tinha a cidade como cenário onde os soviéticos se esgueiravam à noite pelas ruínas sequestrando um soldado americano. A história se concentra em contar os esforços da inteligência estadunidenses em salvar o jovem solda-do dos malignos russos.
O cinema operava também outra missão importante no contexto in-ternacional: recuperar a imagem dos outrora terríveis inimigos alemães (pelo menos dos ocidentais), em filmes como A Raposa do Deserto (Desert Fox, EUA, 1954, dir. Henry Hathway), no qual era cultuado o mito do ge-neral Irwin Rommel como um cavalheiro profundamente antinazista, quando se sabe que foi justamente a proximidade com Hitler que oportu-nizou a Rommel uma carreira meteórica no exército alemão; em A raposa do mar (The Enemmy Below, EUA, 1957, dir. Dick Powell), um submarino alemão trava um duelo com um destróier da marinha dos EUA no Atlântico Sul, no qual o comandante alemão, além de muito habilidoso
20 Parte do plano era plantar figurantes negros em vários filmes para passar a idéia de integração social. Uma das principais denúncias dos soviéticos contra os EUA eram as relações raciais. No filme K-19 (K-19 The Widowmaker, 2003, dir. Kathryn Bigelow), sobre o primeiro submarino nuclear russo, em uma seqüência, o comissário político do barco, res-ponsável pela moral da tripulação, mostra filmes sobre os Estados Unidos, salientando a propaganda de Tio Sam: “Vocês vão ver que todos têm carro e são muito ricos e felizes. Mas por trás disso, se esconde a realidade” adverte ele, mostrando em seguida cenas de distúrbios raciais ocorridos no início dos anos 1960, e da Klu Klux Kan, em rituais racistas. 21 SAUNDERS, Frances Stonor. Quem pagou a conta?: a CIA na guerra fria da cultura. Rio de Janeiro: Record, 2008. p. 309-317.

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos>
113
e extremamente antinazista, faz críticas abertas a Hitler e ao oficial político do partido. Em Mares violentos (The Sea Chase, 1955, dir. John Farrow), ninguém menos do que John Wayne22 é Karl Ehrlich comandante de um navio alemão que ama seu país, mas odeia Hitler. Sua missão é furar o cerco dos britânicos e levar o navio da Austrália ao Reich.23
Um capítulo à parte foi a produção de filmes baseados nas obras de George Orwell. Obras como A revolução dos bichos e 1984 foram supervi-sionadas e viabilizadas pela CIA. A revolução dos bichos (Animal Farm, 1956, dir. Boy Batchelor e John Halas), desenho animado feito na Inglater-ra, com dois anos de produção, teve os direitos autorais comprados da viúva Sonia Orwell através de negociações que envolveram até mesmo um encontro dela com seu ídolo Clark Gable. A primeira versão cinematográfi-ca de 198424 (dir. Michael Anderson) foi lançada no mesmo ano. Ambas as obras receberam uma revisão acurada para que ficassem limpas de qual-quer crítica original contra o capitalismo. A difusão desse filmes foi vista como uma peça angular na propaganda contra a URSS e o comunismo nos anos 1950.25
Em 1956, depois das denúncias do stalinismo no XX Congresso do Partido Comunista, eclodia a revolta húngara contra o alinhamento com URSS. O quadro é grave, e, em conjunto com as reivindicações de liberda-de, são cometidos linchamentos, queima de símbolos oficiais do partido comunista. Os rebeldes húngaros tentam declarar-se neutros e fora do Pac-to de Varsóvia.26 A revolta foi incentivada pela rádio Europa Livre e por agentes do Ocidente que lhes prometiam armas e apoio, mesmo sabendo
22 John Wayne era um republicano ferrenho, considerado um símbolo do americanismo e do anticomunismo em Hollywood. Curiosamente ele seria uma vítima da Guerra Fria, pois, ao rodar um filme sobre a vida de Gengis Kan, Sangue de bárbaros (The Conqueror, 1956, dir. Dick Powell), em uma região desértica que teria servido para realização de testes atômi-cos anos antes, ele e o resto da equipe do filme foram contaminados por radiação, todos vindo posteriormente a contrair câncer. Sobre o tema de contaminação nos EUA ver O preço da traição (Mulholland Falls, 1996, dir. Lee Tamahori). 23 Se os planos para a reconstrução da Alemanha foram mudados rapidamente com idéia de conter o comunismo na Europa, na Ásia a Revolução Chinesa e a Guerra da Coreia foram decisivas para uma mudança em relação ao Japão. Sua reconstrução acelerada entra na ótica da vitrine do capitalismo para Ásia e base estadunidense para operações no Extremo Orien-te. Recuperar os japoneses através de filmes foi mais complicado, pois a propaganda feita contra eles durante a II GM teve um forte teor racista. Mas Hollywood tentou: Todos são valentes (Go for Broke, 1951, dir. Robert Pirosh), Three Stripes and Sun (1955, dir. Richard Murphy) e O rei dos mágicos (The Geisha Boy, 1958, Frank Tashlin) , entre outros. 24 Adaptado para a TV pela BBC, em 1954, BBC Sunday-night Theatre, dirigido por Rudolph Cartier, e no próprio ano de 1984 foi refilmado para o cinema (Inglaterra, dir. Michael Radford). 25 SAUNDERS, Frances Stonor. Quem Pagou a Conta?: a CIA na guerra fria da cultura. Rio de Janeiro: Record, 2008. p. 318-326. 26 O Pacto de Varsóvia foi uma aliança estabelecendo um compromisso de ajuda mútua em caso de agressões militares que reunia os países do Leste Europeu: RDA, Bulgária, Romê-nia, Tchecoslováquia, Polônia, Hungria e URSS. Foi efetuado como contra medida à Orga-nização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), firmada em 1949 e que aglutinava as po-tências ocidentais contra o socialismo. A RFA foi aceita como membro em 09/05/1955.

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos> 114
que um enfrentamento traria uma guerra que nenhum dos lados queria. No final, os húngaros são abandonados para o acerto de contas com os soviéticos. Alguns anos depois Hollywood abordou o tema em dois filmes: A fera de Budapeste (The Beast of Budapest, 1958, dir. Harmon Jones), uma produção B, mostrando os casos de tortura e o velho maniqueísmo da li-berdade contra a opressão, do bem contra o mal; Crepúsculo vermelho (The Journey, 1959, dir. Anatole Litvak), uma produção classe A, que colo-cava uma delegação de ocidentais querendo sair da Hungria, ao passo que é investigada por um major russo, que busca por húngaros rebeldes infil-trados, e termina por ajudá-los à custa de um alto preço.
Em 04/10/1957, a URSS vencia a primeira prova da corrida espacial ao colocar em órbita o primeiro satélite artificial. Com o Sputnik, os soviéti-cos iniciavam uma nova era. O fato teve reflexos diretos nos EUA, pois seu predomínio militar não estava mais inalcançável. Os críticos de Eisenho-wer foram enfáticos, atacando a ineficiência do programa espa- cial estadunidense. A solução foi recorrer a Werner Von Braum27 para co-ordenar o projeto espacial. Para resgatar sua figura pública, foi produzido Na rota das estrelas (I am at the Stars, EUA, 1960, dir. J. Lee Thompson), no qual ele é mostrado como um cientista antinazista que apenas tentava atin-gir as estrelas, mas que, segundo um comentário inglês na época do lan-çamento do filme “acertava em Londres”, numa clara referência aos fogue-tes V2 projetados por Von Braun e disparados durante a guerra.
Em março de 1958, em Memphis, no Tennessee, Elvis Aron Presley presta juramento ao Exército Americano diante das câmeras dos noticiá-rios de cinema dos EUA, e depois segue para a Alemanha, onde vai ser-vir o exército na terceira unidade de tanques. Ele fez um filme no qual é um sargento estadunidense na própria unidade em que serviu: Saudades de um pracinha (G.I. Blues, dir. Norman Taurog).28 Elvis, na Alemanha, foi parte de uma glamorização da zona oeste. O investimento massivo de verbas para reconstruir a RFA chegava ao auge, e não existia possibilida-de de competição. Porém, muito mais perigoso para existência da RDA e do socialismo era o fato de que, desde 1955, os EUA treinavam um novo exército alemão ocidental, inclusive com armas nucleares.
27 Von Braun era ex-major da SS. Mesmo que a CIA tenha feito um bom trabalho recolhen-do todas as suas fotos de uniforme negro da SS, existiam testemunhas de que ele havia coordenado um programa que envolvia trabalhadores escravos no final da II GM (Mittel-werk). Um grande número de ex-nazistas trabalhava para os EUA, até mesmo o responsável pelo novo serviço de segurança da RFA, um nazista de alto escalão, o general Gehlen. Sobre a importação dos nazistas, ver Pesadelo na Rua Caroll (The House on Caroll Street, 1988, dir. Peter Yates). 28 Além ganhar publicidade para o exército e para a presença norte-americana, o filme era parte de uma estratégia de apresentar um Elvis mais sério, menos rebelde, menos desafia-dor, com um ar e uma aparência mais conservadora para o mercado interno nos EUA. Tratava-se de acalmar a rebeldia do rock.

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos>
115
O ano de 1959 inicia com triunfo da Revolução Cubana “sob as barbas” de Eisenhower,29 e o alarme sou mais alto do que nunca. Khrush-chev visitou os EUA, em setembro, e um dos lugares que fez questão de visitar foi Hollywood. Existia expectativa para a reunião que ocorreria no ano seguinte, em Paris, marcada para 16 de maio. Porém, outro fato rou-bou a cena: no dia primeiro de maio, um avião estadunidense U2 foi aba-tido sobre a URSS. O piloto Francis Gary Powers30 foi escolhido para decolar do Paquistão e cruzar toda a Rússia tentando localizar bases de mísseis numa operação conjunta da Força Aérea dos Estados Unidos e da CIA.31
O Muro
Na eleição para presidência da república nos EUA, decidida em 07 de novembro de 1960, John F. Kennedy saiu vencedor. Fazendo um uso estudado de sua boa imagem através da televisão, ele fez toda sua cam-panha atacando os republicanos que deixaram o comunismo se instalar no “quintal” dos EUA.32
Em 1961, na iminência da construção do Muro, Billy Wilder roda-va uma comédia na qual um agressivo executivo da Coca-Cola (Jammes Cagney), tentava conquistar o mercado e se deparava com um comunista 29 Em 03/01/1959, um regime que desafia aos EUA a menos de 200 km da costa das EUA. Além do combate ao comunismo na Europa e na Ásia, naquele momento existia um exem-plo local para outros povos da América Latina. Eisenhower já havia, através de um golpe reacionário, derrubado o governo da Guatemala, em 1954, alegando influência comunista nas medidas de Jacobo Arbenz. Os governos que sucederam Arbenz custaram ao país mais de 140.000 mortos e desaparecidos. 30 Posteriormente, em 1976, foi feito um filme para televisão, A história de Francis Gary Powers (Francis Gary Powers: The True Story of the U-2 Spy Incident, 1976, dir. Delbert Mann). Em Moscou o julgamento de Powers por espionagem teve grande cobertura e o piloto foi condenado a dez anos de trabalhos forçados. Nos EUA ele foi muito criticado por não usar o equipamento de autodestruição do U2 e o alfinete envenenado que levava com ele para se suicidar. 31 O U2 foi detectado pelo radar e estava fora do alcance dos caças soviéticos Mig, mas acabou abatido por um míssil S-75. Com o avião desaparecido o presidente dos EUA teria que fazer um comunicado. A história inventada pela assessoria de imprensa de Eisenhower foi patética e divulgada pelo próprio Presidente em cadeia de TV: o avião desaparecido era um aparelho meteorológico e estava a grande altura, tendo desviado de sua rota original por uma falha no equipamento de oxigênio do piloto que desmaiado teria violado o espaço aéreo soviético acidentalmente. Khrushchev lançou uma armadilha e pegou os EUA, pois restos do avião e o piloto foram capturados. Khrushchev exigia desculpas dos EUA. O que não ocorreu e levando-o a abandonar reunião em Paris. 32 Além disso, vários de seus discursos calcavam-se num suposto desequilíbrio de mísseis em favor da URSS, quando, como revelou mais tarde seu próprio Secretário de Defesa, Robert McNamara: “se havia um desequilíbrio ele era ao nosso favor”. Kennedy insistia em que a América devia estar preparada para enfrentar o desafio comunista expandindo suas fronteiras.

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos> 116
alemão: O Cupido não tem bandeira (One, Two, Three, EUA), com tema principal mostrando o contraste entre o consumismo da rica América versus o pobre comunismo.O filme foi fracasso de bilheteria, mas apre-sentava uma leitura demolidora sobre os dois lados do conflito, satiri-zando o que parecia soturno na RDA e capa da democracia da RFA, onde tudo podia ser comprado e os ex-nazistas estavam em toda parte. O rotei-ro desenvolvido por Wilder abusava da situação de tensão e, ao mesmo tempo em que destaca as vantagens do Ocidente, humanizava o ingênuo comunista oriental, submetido a uma chantagem psicológica e material o tempo todo, esperando-se que ele desertasse de uma vida de sacrifícios idealistas e fugisse para um mundo de prazeres ilimitados. A síntese do plano para desestabilizar as fronteiras diferentes foi executada no filme pelo personagem de Cagney que, apenas por coincidência, chamava-se McNamara.
Se no cinema a tensão pôde ser caricaturada de forma brilhante, no plano real ela vinha crescendo de forma abrupta. O comércio de produtos alimentares, comprados na RDA e vendidos na RFA, era muito lucrativo para pessoas que viviam ou trabalhavam em Berlim Oeste, mas enfraque-cia o sistema de economia planificada. Mas muito pior era o estímulo à deserção entre 1953 e 1961. Estima-se que 2.800 alemães orientais passaram para o lado ocidental, entre eles muitos cientistas e técnicos especializados, principalmente os jovens, gerando um prejuízo de 30 bilhões de marcos.33 Na RFA fazia-se o máximo esforço e investimentos para receber e acomo-dar bem os fugitivos. Segundo Visentini34, mais dinheiro foi investido em Berlim Ocidental no período do que em toda a América Latina.
Na RDA foi desenvolvida a indústria pesada em detrimento dos bens de consumo. O país era pequeno, e a escassez de produtos obrigava a grandes esforços. Somente o apoio soviético mantinha a economia viva. Atendendo aos pedidos dos dirigentes da RDA, os soviéticos aceitaram bloquear o acesso a Berlim ocidental.35 Primeiro foram intensificados os controles nas fronteiras. Então, no dia 12 de agosto, as forças soviéticas e alemãs orientais se mobilizaram, e, às 24 horas, a fronteira foi fechada. Em 13 de agosto, começou a construção do alambrado. Foi também uma tenta-tiva de minimizar as possibilidades de conflito. Os alemães orientais ha- viam resolvido seu problema de deter as fugas sem infringir os direitos ocidentais. Para os aliados, o fechamento da fronteira estabilizava a tensa situação de Berlim.
33 MAN, John. Bloqueio de Berlim. Rio de Janeiro: Renes, 1979. p. 130 34 VISENTINI, Paulo Fagundes. História do Século XX. Porto Alegre: Novo Século, 1998. p. 136. 35 Em julho de 1961, Kennedy fez um discurso em que só referia aos direitos de Berlim Ocidental, deixando subentendido que não interviria em ações que se passassem no lado Oriental. O pronunciamento foi entendido pelos soviéticos como um sinal verde em relação à intervenção do seu lado de Berlim. Os estadunidenses e seus aliados sabiam que, nas últimas semanas daquele mês, milhares de pessoas haviam cruzado a fronteira. Era impos-sível não haver uma reação da RDA.

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos>
117
Nos dias seguintes foram tomadas algumas medidas para parecer que os EUA reagiam. Kennedy ordenou deslocamento de forças com comboios que cruzavam as autopistas da RDA, para testar o livre acesso à cidade. Eles foram parados, contados e depois puderam passar.36 O que antes era uma das principais zonas de tensão aos poucos ganhava uma normalidade. É fato que houve muitos dramas pessoais e traumas, mas a ameaça de um choque que levaria a conflito termonuclear estava dissipa-da em Berlim.
No ano seguinte, o mundo inteiro prendeu a respiração com a cri-se dos mísseis em Cuba.37 O medo gerado por esses acontecimentos teve um reflexo direto na leitura do cinema, primeiro enaltecendo a segurança proporcionada pelo Strategic Air Comand (SAC) 38 com o filme apologético Águias em alerta (A Gathering of Eagles, 1963, dir. Delbert Mann), sobre a dedicação e o heroísmo dos homens que voavam dia e noite até o limite do espaço aéreo soviético carregados de bombas. A história mostra o quanto era duro essa preparação e todos os sacrifícios que foram feitos para manter os pilotos e as tripulações sempre alertas. Porém, no ano seguinte, quase simultaneamente, chegavam às telas dois filmes de enre-do muito parecido: a comédia de humor negro Doutor Fantástico (Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964, dir. Stanley Kubrik) e o drama Limite de segurança (Fail-Safe, 1964, dir. Sidney Lumet). Enquanto o filme de Kubrick obteve uma enorme repercussão, o de Lumet passou quase despercebido.
A comédia ácida de Kubrick mostrava o grau de insensatez do programa de bombardeios estratégicos, que gastava uma fortuna por dia, voando permanentemente. Também havia o risco de algo dar errado, e a guerra termonuclear ser iniciada. Abordava ainda o desgaste da URSS pela corrida armamentista, que os levava ao projeto da máquina do juízo final, um mecanismo definitivo, projetado pelos soviéticos, que em caso de ataque estadunidense desencadearia uma reação que extinguiria a vida na superfície da terra. Isso apenas para reduzir o gasto com armas e poder introduzir os bens de consumo em seu regime. Mostrava também a caricatura dos cientistas nazistas a favor dos EUA.39
36 O vice-presidente Johnson foi até Berlim e declarou, em nome de Kennedy, a firmeza do compromisso com a segurança e os acessos de Berlim Ocidental. 37 Em outubro de 1962, a tensão foi transferida para a disputa pela capacidade de Mútua de Destruição Assegurada (MAD – Mutually Assured Destruction). Filmes sobre o tema: Os mísseis de outubro (Missiles Of October, 1974, dir. Anthony Page), Topázio (Topaz,1969, dir. Alfred Hitchcock), Matinee, uma sessão muito louca (Matinee, 1993, dir. Joe Dante) e Treze dias que abalaram o mundo (Thirteen Days, 2000, dir. Roger Donaldson). 38 O SAC já havia sido enaltecido em pelo menos dois filmes da década de 1950: Comandos do ar (Strategic Air Command, 1955, dir. Anthony Mann) e Esperança angustiosa (Bomber B52, 1957, dir. Gordon Douglas). 39 Em Sob a névoa da guerra (The Fog of War: Eleven lessons from the Life of Robert S. McNa-mara, EUA, 2003), que é um documentário baseado numa longa entrevista com Robert

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos> 118
Em meados dos anos 1960, alguns produtores e roteiristas aprovei-taram a barreira erguida pelos alemães orientais para rodar, na sua som-bra, uma série de filmes em que a cortina de ferro se transformou em con-creto. No ano de 1966, foram lançadas três produções com enfoques dife-rentes sobre o muro e suas imediações, assim como, sobre a política dos dois lados. Em Cortina rasgada (Turn Curtain), o mestre do suspense Hitchcock não esconde seu anticomunismo. Apesar das boas cenas conce-bidas de maneira original, o maniqueísmo é constrangedor. É um dos fil-mes mais fracos da carreira do diretor, só ficando atrás de Topázio, outra peça de propaganda, desta vez baseado em um livro de Leon Uris, sobre a crise dos mísseis em Cuba.
O diretor inglês Guy Hamilton, entre um 007 e outro,40, resolve fa-zer uma leitura diferente do Muro em Funeral em Berlim (Funeral In Ber-lin). Nessa produção, o enfoque do Muro passa pela sua utilidade para os dois lados. O serviço secreto britânico tem que conviver com uma organi-zação usada para retirar pessoas de Berlim Oriental, num duelo com o chefe de segurança russo. Com muitas imagens do Muro, o filme mostra que quem trabalhava para os aliados nessas missões eram ex-nazistas pre-ocupados apenas com o dinheiro que ganhavam, usando métodos brutais e despreocupados com a tal democracia. O Muro também possibilitava ne-gócios interessantes para empresários do Oeste, como o comércio de câme-ras fotográficas e outros produtos do leste.
A produção com ar mais pesado foi realizada na Inglaterra, por Martin Ritt,41 O espião que saiu do frio (The Spy Who Came in From The Cold), baseada no romance de John Le Carré, que retrata a espionagem sem McNamara e aborda, entre outros fatos, a Crise dos Mísseis Cubanos. Suas revelações são surpreendentes: desde dados como 90 ogivas táticas soviéticas que já estavam em Cuba, indo até a proximidade que se chegou do Armagedon. Segundo McNamara, mesmo após a retirada dos mísseis da Ilha de Cuba, ainda existiu perigo – o general Curtis LeMay insistia: “Vamos invadir, vamos acabar com eles hoje”. O general tinha certeza de que o enfrenta-mento com armas nucleares entre EUA e URSS iria acontecer e queria fazê-lo com superio-ridade de mísseis. Definitivamente, o filme revela, sem deixar dúvidas, que LeMay foi a inspiração de Stanley Kubrick para o personagem interpretado por George C. Scott em Dr. Fantástico, general Turgidson, e sua famosa frase sobre o conflito nuclear: “não digo que não nos chamuscaremos um pouco, mas as chances são boas”. O clima insano segue com McNamara exemplificando a loucura paranoica dos militares que temiam que os russos realizassem testes com armas nucleares no lado escuro da lua, mais uma prova de que o genial filme de Kubrick é também um documento de época. 40 O personagem 007, baseado nos romances de Ian Fleming, foi lançado no clima da guerra fria e, ao longo de três décadas, teve uma série de filmes com protagonistas diferentes. Nos anos 1960 destaque para Sean Conery, como o agente de sua majestade que tem permissão para matar, nos seguintes filmes: 007 contra o stânico Doutor No (Doctor No, 1962, dir. Terence Young), Moscou contra 007 (From Russia with Love, 1963, dir. Terence Young), 007 contra Goldfinger (Goldfinger, 1964, dir. Gay Hamilton), 007 contra a chantagem atômica (Thunderball, 1965, dir. Terence Young), Com 007 só se vive duas vezes (You only live twice, 1967, dir. Lewis Gilbert), 007 os diamantes são eternos (Diamonds are Forever, 1971, dir. Guy Hamilton). 41 Diretor estadunidense que foi posto na lista negra do macartismo no início dos anos 1950, em 1973 filmou Testa de ferro por acaso (The Front), que atacava a histeria do período.

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos>
119
glamour, como um negócio sórdido, e sem diferença de ideais entre o ale-mão oriental e o agente inglês. Foi um dos primeiros filmes a levantar a possibilidade de que a tal luta do bem contra o mal não estava sendo reali-zada por anjos, mas por demônios, e de que as propostas desenvolvidas através de políticas criadas para defender o Ocidente dos comunistas esta-riam, na verdade, minando os países ocidentais por dentro, destruindo os valores que eles diziam defender.
Em 1963, Kennedy foi assassinado nos EUA, depois de ter iniciado uma escalada no Vietnã que seria seguida pelo seu sucessor Lyndon Johnson e se tornaria um problema com a oposição da sociedade no final dos anos sessenta, além dos gastos gigantescos. Além disso, os EUA da-vam suporte para uma série de golpes na América Latina que colocavam no poder ditaduras baseadas no binômio segurança nacional e anticomu-nismo. Paulatinamente, o cinema estadunidense se libertou de sua censu-ra pelo código Hays e passou a abordar temas sociais e de contracultura, distanciando-se da guerra fria.
Em 1969, tomava posse nos EUA o Presidente Richard Nixon, an-tigo caçador de bruxas da época do macartismo, interessado em dar tér-mino à guerra do Vietnã, e promover a détente. A tensão se havia consoli-dado entre China e URSS. As relações entre as duas Alemanhas ganha-ram ar de normalidade em dezembro de 1972, quando elas estabeleceram relações diplomáticas. Em 1973, o impeachment do presidente Nixon, se-guido da derrota no Vietnã em 1975, mudaram o clima interno dos EUA. Gerald Ford cumpriu o resto do mandato, sendo substituído por Carter, um democrata, que estabeleceu a cartilha dos direitos humanos para, inclusive, atacar regimes que haviam sido auxiliados pelos EUA, como era o caso do Brasil.
A Segunda Guerra Fria
Em 1981, Reagan42 era o presidente dos EUA e representa a volta ao poder do conservadorismo moldado no calor histérico do pós-guerra.43 Como destacou o cientista político Michael Rogin, Reagan go-
42 Foi eleito para vencer o que havia restado do establishment vigente desde o New Deal nos Estados Unidos, retomando caminhos mais antigos: acabar com a seguridade social e a sobrecarga de impostos; construir uma América voltada para os ricos; beber na fonte dos Pilgrim Fathers; retomar a grandeza do destino manifesto norte americano; recuperar a força, livrando-se da recessão industrial, da crise econômica, da humilhação exterior (reféns no Irã), da desconfiança nos políticos (Watergate), da síndrome de derrota do Vietnã; afinal de contas a “América está com Deus”. Todas essas idéias estavam no Discurso da Vitória, de Reagan. LOPEZ, Luiz Ignacio. Adiós Mr. Reagan. Buenos Aires: Ediciones B, 1988. p. 36-38. 43 Entre 1947-1954, a associação dos atores de Hollywood era presidida pelo ator de segun-da linha Ronald Reagan, dedo-duro que fazia carreira política municiando listas do FBI com nomes de prováveis comunistas e simpatizantes vermelhos.

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos> 120
vernou utilizando como meio de comunicação o recurso de velhos rotei-ros cinematográficos. 44
Em 23/03/1983, o presidente dos EUA proferiu seu famoso dis-curso “Star Wars”, ou “Strategic Defense Initiative”. Os gastos de defesa dos EUA subiram de forma vertiginosa,45 e o cinema se engajava outra vez. Na verdade, desde meados dos anos 1970, havia uma retomada de temas de americanismo e otimismo, histórias de vencedores para afastar o peso da crise. Entretanto, o Muro não foi a pauta principal, mas o Viet-nã e uma política de intervenção reforçando o discurso da Casa Branca, ao mesmo tempo em que a política de Gorbatchev (1985-1991), secretá-rio-geral do Comitê Central do Partido Comunista da URSS, parecia capitular durante o segundo mandato de Reagan.46
Algumas produções traziam os alemães orientais como agressores primeiro com uma quase reedição de Invasão U.S.A. (Invasion, U.S.A., 1952, dir. Alfred E. Green): Amanhecer violento (Red Dawn, 1984, dir. John Milius), como parte de uma coalizão maligna que domina os EUA. Comunistas russos, alemães orientais, cubanos e nicaraguenses invadem os EUA e são combatidos pelos jovens e heróicos guerrilheiros estaduni-denses. Em 1987, uma minissérie da rede ABC, chamada Amerika (dir. Donald Wrye), apresenta coalizão de comunistas nos mesmos moldes. Dessa vez a história se passava no futuro, em 1997, depois de 10 anos de domínio, e contava um levante de cidadania e patriotismo contra os cruéis opressores. A série foi exibida pela TV Globo, no Brasil, em 1988.
Na nova investida cinematográfica vieram também Dramática travessia (Night Crossing, EUA e ING, 1981, dir. Delbert Mann), sobre uma fuga de balão da RDA; Enigma (ING e FRA,1982, dir. Jeannot Szwarc), sobre infiltração e espionagem na RDA, repleto de clichês; Got-cha! Uma arma do barulho (Gotcha!, EUA, 1985, dir. Jeff Kanew), comé-dia para o público adolescente que mostra Berlim Oriental como um lu-gar sombrio e soturno, povoado por pessoas de mau humor.
Imediatamente após a queda do Muro, quando se acreditava, de fato, no fim da história, não foi necessário investir em filmes sobre a RDA ou as diferenças entre as sociedades da Alemanha unificada. Porém, na medida em que as promessas da reunificação permanecem não cumpri-das, as articulações de partidos de oposição começam a ganhar espaço na Alemanha e torna-se necessário exumar o passado, estabelecendo a
44 ROGIN, Michael. Ronald Reagan, the Movie. Berkley: Univesity Of California Press, 1987. 45 Dentro de um ano, um esforço descomunal estava sendo feito para desenvolver todo tipo de armas antimísseis de alta tecnologia e de feixe de energia. O orçamento secreto para armamentos cresceu de 892 milhões de dólares, em 1981, para 8,6 bilhões, no ano fiscal de 1987. PATTON, Phill. Dreamland. São Paulo: Conrad, 2000. p. 228. 46 Para uma análise detalhada das circunstâncias que levaram à queda do Muro, bem como suas consequências no cenário mundial, ver VISENTINI, Paulo Fagundes. Os dez anos que abalaram o mundo. Porto Alegre: Novo Século, 1999.

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos>
121
“verdade ofical”. A história da RDA deve ser apagada ou ser associada ao nazismo. A edição seletiva das memórias impede que, até hoje, a Ale-manha tenha consciência de sua identidade. É o que demonstra como regra, a cinematografia do período.
Em 1993, é lançado O inocente (The Inocent: ... Und Der Himmel Steht Still, ING e ALE, dir. John Schlesinger), cuja história se passa na Berlim de meados dos anos 1950, com um desfecho trágico para um casal de apaixonados que voltam a encontrar-se no exato momento em que o muro está sendo derrubado. É um filme bastante interessante, que aborda espionagem e as inter-relações mantidas por alemães orientais, alemães ocidentais, americanos e ingleses, inclusive pautando as vantagens que os americanos levaram sobre seus aliados ingleses e alemães no período.
Na Alemanha surgiram filmes sobre o tema: A Igreja do Nicolau (Nikolaikirche, 1995, dir. Frank Bayer), história de três gerações de uma família abordando a emancipação e a contestação diante do Estado da RDA; Alameda do Sol (Sonnenallee, 1999, dir. Leander Haussmann), filme sobre a juventude da RDA no início dos anos setenta, que critica o regi-me, mas trabalhando com ironias, pois apresenta uma visão muito simpá-tica dos jovens orientais, em contrapartida aos ocidentais, explorando a sedução cultural através do rock. O túnel (Der Tunnel, 2001, dir. Roland Suso Richter) trata da história de uma grande fuga de Berlim Oriental com muitos patrocinadores inclusive um canal de TV dos EUA; Paixão além do Muro (Wie Feuer und Flamme, 2001, dir. Connie Walter) sobre uma jovem alemã ocidental que se apaixona por um punk e tem que es-perar a queda do Muro para tentar localizá-lo.
Adeus Lênin! (Good Bye, Lenin!, 2003, dir. Wolfganger Becker) foi um sucesso internacional. Dentre os filmes mencionados, é o que mostra uma RDA descontente com a falta de liberdade, mas, ao mesmo tempo, um pequeno país habitado por pessoas pensantes, com sonhos e aspira-ções que não estavam em sintonia com RFA. Estudos recentes da Univer-sidade Livre de Berlim apontam que a visão da RDA, principalmente entre os jovens na Alemanha, é a de um país pequeno e atrasado, porém com mais seguridade social, garantia de acesso à educação, excelentes escolas e creches e um povo mais solidário. A pesquisadora Monika Deutz-Schroeder diz que "Filmes como Adeus, Lênin! fazem a Alemanha Oriental parecer inofensiva". "Os estudantes ficam com a impressão de que a Alemanha Oriental era apenas um país atrasado e simpático. Seria melhor se eles assistissem A vida dos outros".47 Parece deixar claro que Adeus Lênin!, apesar de ter amenizado o papel do personagem que foge para o Ocidente, mesmo ao custo de sua linha narrativa sofrer uma visível ruptura, pela revelação das cartas, diminuindo a covardia de sua deserção e seu individualismo, gerou desconfroto para um modelo único,
47 Disponível em: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3009102,00.html.

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos> 122
pois exibia a vida do outro lado do muro, e mostra que na RDA também existiam uma cultura e uma história.
A vida dos outros (Das Leben der Anderen, 2006, dir. Florian Henckel von Donnersmarck) foi um filme premiado, e, dentre suas qua-lidades, a que se destaca é uma visão do mundo das polícias secretas – no caso, a Stasi. Possui uma narrativa bem encadeada e voltada para um dos temas de sucesso atual: a perspectiva de observar a vida alheia como entretenimento. Porém, abusa do maniqueísmo e das manipula-ções, figurando como peça de propaganda que omite a existência, no Ocidente, da contrapartida para a Stasi, contando com muito mais infra-estrutura e potencial para espionar a todos na RFA.48 Em Um amor além do Muro (Der Rote Kakadu, 2006, dir. Dominik Graf), a história se passa em Dresden, mas transita por Berlim. Serve para avaliar a des-proporção material entre os dois lados, mas, ao poucos, vai tomando o mesmo rumo de filme produzido para ser memória oficial, transferindo toda culpa ao lado derrotado.49
Quando o Muro veio abaixo, em novembro de 1989, esperava-se uma total reunificação germânica; afinal, a história chegava ao seu fim e o capitalismo havia triunfado. Apenas esqueceram que as diferenças estruturais e sociais sob as quais as duas sociedades foram edificadas permaneceram profundamente arraigadas nos alemães de ambos os lados. E mesmo que o cinema alemão recente tente apagar a história e imputar todos os problemas à RDA, a verdade permanece outra. Como disse Peter Burke, em 1999, dez anos depois da queda, se a liberdade estava de um lado, a igualdade e a fraternidade estavam do outro. O muro invisível é muito mais difícil de ser destruído, ou mesmo retra-tado pelo cinema.
Recebido em novembro de 2009. Aprovado em dezembro de 2009.
48 A Organização Gehlen, serviço de inteligência e espionagem da RFA, contava com dez mil homens e mulheres de quase cinquenta diferentes nacionalidades, e estavam por toda parte, espionando e informando não apenas sobre o potencial inimigo mais também sobre amigos e concidadãos. WHITING, Charles. Gehlen: um gênio da informação. Rio De Janeiro: Bibliex, 1986. p. 130. 49 Em 2007, próximo do aniversário da queda do Muro de Berlim, o Der Spiegel fez uma pesquisa com mil alemães que cresceram nos dois lados do país dividido até 9 de novembro de 1989. A conclusão, para desespero do semanário alemão, é que, mesmo depois de 18 anos da queda do muro, 92% dos germânicos orientais, de 35 a 50 anos, ainda preferiam o regime comunista ao capitalista. Já 60% dos jovens, de 14 a 24 anos que moram no Leste, lamentavam que nada tivesse restado do comunismo na sua pátria.

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos>
123
Cinema: from the Construction to the Fall of Berlin Wall
Abstract This article presents a vast view of the filmography, especially the West German production, on the separation of Germany, construction of the Berlin Wall, its fall, and on the reunification of the country. This analysis explores the concepts of ideological propaganda that characterized much film production during the Cold War. Finally, each film is commented, both in terms of artistic and political view.
Keywords: Cinema. Cold War. Ideological Propaganda. Berlin Wall.
Referências
BARSON, Michael. Better Dead Than Red: A Nostalgic Look at the Golden Years of Russiaphobia, Red-Baiting, and Other Commie Madness. Scran-ton: Hyperion, 1992.
BRODE, Douglas. Lost films of the fifties. New York: Citadel, 1988.
CARNES, Mark C. O passado imperfeito: a História no cinema. Rio de Ja-neiro: Record, 1995.
CASTRO, Nilo André Piana de. O cinema e o macartismo. Folha da Histó-ria, Porto Alegre, a. III, n. 20, p. 11, out., 1998.
CONTE, Arthur. Yalta, ou a partilha do mundo. Rio de Janeiro: Bibliex, 1986.
DRAZIN, Charles. In Search of the Third Man: New York: Limelight, 2004.
FERRO, Marc. Cinema e história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
FURMAR, Leif; ISAKSSON, Folke. Cinema e política. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.
GEHLEN, Reinhard. O serviço secreto. Rio de Janeiro: Bibliex; Artenova, 1972.
LOPEZ Luiz Ignacio. Adiós Mr. Reagan. Buenos Aires: Ediciones B, 1988.
MAN, John. Bloqueio de Berlim. Rio de Janeiro: Renes, 1979.
MEE, Charles L. Jr. O Encontro de Potsdam. São Paulo: Circulo do Livro; Record, [s.d.].

Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 46, p. 103-124, jul./dez. 2009 Disponível em: <http://seer1.fapa.com.br/index.php/arquivos> 124
MOKHIBER, Russel. Crimes corporativos. São Paulo: Scritta, 1995.
PATTON, Phill. Dreamland São Paulo: Conrad, 2000.
RESS, Laurence. Vende-se política. Rio de Janeiro: Revan, 1995.
ROGIN, Michael. Ronald Reagan, the Movie. Berkley: Univesity of Califor-nia Press, 1987.
SHERWOOD, Robert. Roosevelt e Hopkins. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; Brasília: Faculdade da Cidade, Editora Universidade de Brasília, 1998.
SAUNDERS, Frances Stonor. Quem pagou a conta?: a CIA na guerra fria da cultura. Rio de Janeiro: Record, 2007.
THOMAS, Tony. Howard Hughes em Hollywood. Rio de Janeiro: Frente, 2004.
TULARD, Jean. Dicionário de cinema: os diretores. Porto Alegre: L&PM, 1996.
VALIN, Alexandre Busko. Imagens vigiadas: uma história social do cinema no alvorecer da Guerra Fria, 1945-1954. 2006. Tese (Doutorado) – Univer-sidade Federal Fluminense, Niterói.
VIRILIO, Paul. Guerra e cinema. São Paulo: Scritta, 1993.
VÁRIOS. Guerra na paz. Rio de Janeiro: Rio Gráfica, 1984.
VISENTINI, Paulo Fagundes. Da Guerra Fria à crise. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 1990.
______. História do Século XX. Porto Alegre: Novo Século, 1998.
______. Dez anos que abalaram o mundo. Porto Alegre: Novo Século, 1999.
WILLS, Garry. Reagan’s America: Innocents at Home. New York: Penguin, 2000.
WHITING, Charles. Gehlen: um gênio da informação. Rio de Janeiro: Bi-bliex, 1986.
WOLF, Markus; McELVOY, Anne. O homem sem rosto. Rio de Janeiro: Record, 2008.