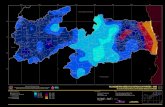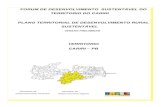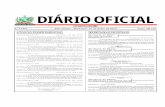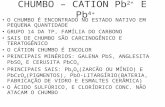2878-11027-1-PB
-
Upload
dea-cortelazzi -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of 2878-11027-1-PB
-
175
Em Aberto, Braslia, v. 25, n. 88, p. 175-189, jul./dez. 2012
Clima escolar e resilincia: a escola como lugar de paz em tempo integralFernando Czar Bezerra de Andrade
Resumo
A relao entre clima escolar e promoo da resilincia, em situaes
traumticas caracterizadas pela violncia, analisada a partir do primeiro caso de
assassinatos em srie numa escola brasileira. O clima escolar interfere na constituio
de resilincia para o alunado, sobretudo em escolas em tempo integral, desde que
num modelo que propicie a reflexo sobre o cotidiano escolar como fator de
aprendizagem diante de adversidades e situaes traumticas.
Palavras-chave: clima escolar; resilincia; trauma; violncia; escola em tempo
integral.
-
176
Em Aberto, Braslia, v. 25, n. 88, p. 175-189, jul./dez. 2012
AbstractScholl climate and resilience: the school as a full time place of peace
This article discusses the relationship between school climate and resiliences
promotion, in traumatic situations derived from violence, by the analysis of the first
serial murders case in a Brazilian school. It is argued that the school climate interferes
with the formation of students resilience, especially in full time schools, but only when
this model provides an environment propitious to reflection about the school routine,
considered being a learning factor to cope with trauma and adversity.
Keywords: school climate; resilience; trauma; violence; full time school.
A letra da msica Faz escuro, mas eu canto, de Monsueto e Thiago de Mello,
inspirada no poema Madrugada camponesa, do prprio Thiago de Mello, fala de
esperana na transformao de um contexto difcil, sofrido e desesperador:
Faz escuro, mas eu canto,porque a manh vai chegar.Vem ver comigo, companheiro,vai ser lindoa cor do mundo mudar.Vale a pena no dormirpara esperara madrugada cantar.J vem vindo o dia, com a luz da liberdade,vai lavar de amor o cho malvado.Quem sofre fica acordadodefendendo o coraoMadrugada da esperana,j estou vendo uma crianatrazendo a aurora na mo.
Os versos desse poema-cano recorrem a metforas sempre renovadas por
sua fora expressiva: a noite que se muda em dia traz cores e msica, luz, liberdade
e amor para lavar o cho malvado. Nesse poema, o eu lrico pe-se de frente para
os primeiros sinais do novo dia, aos quais se agarra com a fora dos sobreviventes
a um perodo de desamparo, solido e dor representado pela ausncia de viso
prpria ao escuro da noite (faz escuro, mas eu canto/porque a manh vai chegar).
A noite do sofrimento e o dia da alegria so oposies que na metfora so articuladas
por um eu que convida outros iguais a ele (vem ver comigo, companheiro) a
ultrapassar o momento presente em razo de uma diferena que se avizinha (quem
sofre fica acordado/defendendo o corao/Madrugada de esperana). a criana,
por fim, o smbolo que, vindo na direo de quem espera, traz o novo dia e tudo o
que ele comporta de novo e bom (j estou vendo uma criana/trazendo a aurora na
mo).
-
177
Em Aberto, Braslia, v. 25, n. 88, p. 175-189, jul./dez. 2012
Ao proclamar a esperana, essa poesia sugere um tema importante: o da
resilincia, entendida como a capacidade humana para enfrentar, vencer e ser
fortalecido ou transformado por experincias de adversidade (Grotberg, 2005, p. 15).
Ante a escurido, a feira e a maldade, o poeta canta e alimenta a esperana, afirmando,
como que para transmitir aos que sofrem, essa sua capacidade de resistir e aprender
com a dor: quem sofre fica acordado/defendendo o corao. Melillo (2001, p. 11)
lembra que tal poder de resistncia resulta, na histria individual marcada pela dor,
do apoio irrestrito de algum adulto significativo, familiar ou no.
V-se, ento, a importncia, em episdios de violncia, de que adultos capazes
de alimentar a esperana em si mesmos acolham crianas e adolescentes marcados
pela violncia seja de modo sistemtico, seja de modo circunstancial, mas
fortemente doloroso , para que essas crianas e adolescentes possam superar o
traumatismo inerente situao (lavar de amor o cho malvado).
Na escola, a resilincia em contextos sistemticos ou ocasionais de violncia
pode ser promovida mediante o clima escolar, o que tem mais oportunidade de
ocorrer num regime de escola em tempo integral, desde que essa escola corresponda
a certos critrios ideais para a formao da democracia. Esta a ideia central deste
texto, que discute a capacidade humana de superar traumas a partir do contexto
escolar pensado como espao para a elaborao do sofrimento, quando exercita,
por meio de dispositivos pedaggicos, o reconhecimento, pela fala, do sofrimento e
sua superao atravs de ritos rotineiros.
Este artigo se divide em trs partes: na primeira, apresentam-se os conceitos
de clima escolar, resilincia e violncia na escola. Adiante, luz desses conceitos,
discutem-se os provveis efeitos, sobre o clima escolar, de um caso de violncia fsica
extrema, como o do massacre de alunas e alunos na escola Tasso da Silveira, to
recente quanto brutal. A partir dessa ilustrao, so apresentados alguns princpios
de ao que podem, em contextos semelhantes, ser empregados como orientadores
para a definio de estratgias de reconstituio de uma atmosfera de paz nas escolas.
Por fim, esses princpios servem como mote para uma relao que apenas sugerida
e se mantm aberta, como um tema a desenvolver-se em outra ocasio: a da relao
entre propiciao de condies para a resilincia e a escola em tempo integral.
Clima institucional e violncia na escola
Toda instituio supe uma teia de relaes em torno das quais processos
grupais so estabelecidos: vnculos afetivos, padres de interao social (como
competio, colaborao) e identificaes so alguns entre eles. Dessas relaes
produz-se a partir de uma rotina de aes conjuntas, mais ou menos orquestradas
em torno de objetivos compartilhados e de uma disciplina para a convivncia o
clima institucional, capaz de determinar os rumos individuais dos integrantes da
instituio e, consequentemente, afetar a prpria instituio.
Cunha e Costa (2009, apud Brito e Costa, 2010, p. 501) apresentam uma
definio que resume o antes afirmado: o clima de uma instituio consiste num
-
178
Em Aberto, Braslia, v. 25, n. 88, p. 175-189, jul./dez. 2012
conjunto das expectativas recprocas compartilhadas pelos indivduos em um
ambiente institucional. Cornejo e Redondo (2001, p. 16) so mais minuciosos quando
conceituam: o que define o clima social de uma instituio a percepo que tm
os sujeitos acerca das relaes interpessoais que estabelecem no contexto escolar
(em nvel de aula ou de toda escola) e o contexto ou marco em que estas interaes
do-se.
Com a escola no diferente. O clima escolar est associado aos modelos de
relacionamento em contatos sociais (muitas vezes aprendidos fora da escola), aos
tipos de percepo sobre o espao, o tempo e as atividades (a organizao escolar),
s condies materiais (infraestrutura, tamanho do prdio, posse e uso do material
de consumo e de recursos audiovisuais, disponibilidade de merenda para o intervalo
etc.), no sentido que se d a essas aes na escola (a percepo e as expectativas
antes citadas). Em uma instncia ideal, esse clima deve caracterizar-se um bom
relacionamento coletivo, produtivo e prazeroso (Rocha, Perosa, 2008, p. 431).
Reconhece-se, portanto, que o clima escolar efeito determinado tanto por
elementos objetivos quanto por outros de natureza intersubjetiva e mesmo subjetiva.
Estes dois ltimos fatores dizendo respeito, particularmente, qualidade das
interaes podem ser capazes de compensar eventuais (ou mesmo sistemticas)
falhas materiais e so promovidos, no cotidiano, por pequenas e constantes aes
orientadas pelos educadores e educadoras, tanto mais quanto conseguirem trabalhar
em grupo.
Uma vez cobertas de uma dotao mnima de recursos, so os processos psicossociais e as normas que caracterizam as interaes desenvolvidas na instituio escolar (considerada como um sistema social dinmico, com uma cultura prpria) o que realmente diferencia umas escolas de outras, em sua configurao e nos efeitos obtidos sobre a aprendizagem. (Cornejo, Redondo, 2001, p. 13).
Ora, aqui se trata da cultura escolar e de seu contedo, de que, para autores
como Schein (apud Hernndez y Hernndez, Sancho Gil, 2004), o clima escolar a
expresso mais imediata. Ainda que o clima escolar diga de uma atmosfera psicolgica
e a cultura de prticas rotineiras, muitas vezes inconscientes e capazes de promover
a unidade do grupo, ambos esto intrinsecamente ligados. Alguns indicativos de um
bom clima escolar so, portanto:
O respeito s opinies do corpo docente, em estruturas escolares no autoritrias; o compromisso; a vocao; a liderana pessoal; o apoio individual ao aluno; o compartilhamento das responsabilidades; demonstraes de afeto e tratamento pessoal; baixo grau de flutuao de professores (ou seja, manuteno do mesmo professor durante todo o perodo letivo) e as altas expectativas em relao aos alunos foram elementos-chave das escolas bem sucedidas. (Gomes, 2005, p. 290).
Como se v, o clima escolar medido pelo grau de bem-estar experimentado
por quem trabalha ou estuda na escola. Mas, cabe lembrar, escolas com bom clima
tambm se abrem comunidade e s famlias do seu alunado e se tornam lugar de
convivncia entre amigos. Do lado dos discentes, esse conjunto ideal de fatores promove
consequncias positivas sobre sua aprendizagem: uma escola que oferece um bom
clima permite melhor desenvolvimento socioemocional do alunado; mais chances para
-
179
Em Aberto, Braslia, v. 25, n. 88, p. 175-189, jul./dez. 2012
a assimilao e memorizao de contedos novos, garantindo um rendimento mais
alto que aquele em outras condies (Cornejo, Redondo, 2001, p. 17).
Tudo isso efeito da interveno docente e tambm do trabalho de outros
profissionais que, atuando na escola, colaboram para a constituio dessa espcie
de estima positiva pelo lugar de trabalho: Do ponto de vista do ensino (no da
aprendizagem), os efeitos dos colegas, tanto ao nvel da escola quanto da turma,
afetam apenas a probabilidade de diversas alternativas de ensino-aprendizagem
ocorrerem e, ainda assim, tais efeitos seriam indiretos (Gomes, 2005, p. 297).
ainda o prprio Gomes quem lista algumas das intervenes habituais para contribuir
com um clima escolar favorvel: clareza de metas e normas, clareza do ensino
(segundo o nvel cognitivo do alunado), flexibilidade do planejamento, motivao,
capacidade autocrtica, criatividade para oportunizar momentos motivadores e
participativos para o alunado, administrao adequada de consequncias ao
comportamento de alunos.
bvio, ento, que o clima escolar possa ser afetado por variaes eventuais
desses componentes materiais, sociais e psquicos. Isso ainda mais verdadeiro
quando se trata de situaes de violncia mais ostensiva.
De um lado, deve-se reconhecer com diversos autores (Abramovay, Rua, 2002;
Adorno, 2002; Charlot, 2002; Waiselfisz, 2004, entre outros) que a sociedade
brasileira marcada, historicamente, pela violncia, por sua impunidade e clara
tolerncia a ponto de ter sido ela invisvel por muito tempo na maior parte dos
domnios sociais (inclusive na escola). Parte dessa violncia, caracterizada como
padro social para resoluo de conflitos numa cultura desigual, competitiva e
armada, invade periodicamente a escola: o caso da violncia na escola, como a
define Charlot (2002), prpria a invases de traficantes e assaltantes, por exemplo,
ou ainda de comportamentos agressivos, fsica e verbalmente, aprendidos fora da
escola e no seu interior reproduzidos, com vista delimitao de lugares de poder.
Assim se d com o bullying e com outros tipos de agresso, no s entre alunos,
mas entre adultos e profissionais.
De outro lado, a literatura aponta para ocorrncias em que a violncia
intencionalmente dirigida contra a escola, a fim de impedir seu funcionamento,
afetando-lhe parcial ou inteiramente: a depredao do patrimnio, a agresso a
profissionais e alunos que l trabalham e estudam. Esse tipo de situao, antes mais
rara, repete-se com mais frequncia nas ltimas dcadas para muitos autores,
como Debarbieux (2001) e Peralva (1997) por conta da depauperao material e
simblica da instituio escolar, diante da defasagem entre as demandas atuais do
capitalismo e a capacidade da escola em responder eficazmente a tais exigncias.
Por fim, a violncia da prpria escola, identificada e criticada por autores como
Foucault (1993), Bourdieu e Passeron (1982), aquela pela qual a instituio, por
sua prpria lgica interna, implicitamente promove o adestramento individual e a
seleo social, impedindo variaes comportamentais que fujam ao padro esperado
e preparando para a diviso social e econmica. Nessa categoria, encontram-se
tambm as violncias simblicas praticadas por profissionais da escola contra o
alunado como agresses verbais, ofensas e humilhaes.
-
180
Em Aberto, Braslia, v. 25, n. 88, p. 175-189, jul./dez. 2012
Se necessrio entender, a partir dessas trs categorias descritivas, que a
violncia fez e faz parte da escola, sem dvida tambm se deve admitir que a escola,
em geral, no foi ou lugar de episdios de extrema agresso fsica como aquele
ocorrido na Escola Municipal Tasso da Silveira, no dia 7 de abril de 2011, em que
12 crianas foram assassinadas e mais de 20 pessoas foram feridas, a partir da
investida solitria de um ex-aluno, Wellington Oliveira, que, suficientemente armado,
atirou para matar a queima roupa tantas pessoas quantas pudesse.
Se histrias semelhantes j so conhecidas em pases como os Estados Unidos
(onde mais de um morticnio j ocorreu), a Alemanha e a Finlndia, no Brasil esse
massacre fez abrirem-se os olhos para o fato de que nenhum lugar em que haja
condies infraestruturais de acesso s armas e a endereos com aglomerao de
pessoas est isento do risco de exploses de fria que s se explicam por crises de
evidente psicopatologia.
Por sua extenso, intensidade e subitaneidade, esse provavelmente foi o mais
traumtico de que se tem notcia, em se tratando de violncia fsica armada no Brasil,
com consequncias que perduraro por anos, particularmente nas vidas tanto de
quem conseguiu escapar morte quanto de quem perdeu algum nessa tragdia.
Trauma e clima escolar: sofrimento e resilincia
A psicologia explica o trauma como um evento no qual uma pessoa
testemunha ou vivencia uma ameaa a sua prpria vida ou segurana fsica ou a de
outros e experimenta medo, terror ou impotncia, de modo que desafiam a viso
do mundo de um indivduo como lugar justo, seguro e previsvel, particularmente
os causados por comportamento humano (American Psychological Association, 2010,
p. 992). Ele geralmente se transforma em gerador de uma doena psquica, de um
distrbio emocional (Braconnier, 2006).
Tal , exatamente, o caso vivido por alunos, alunas, professoras e professores
da Escola Tasso da Silveira: os dados coletados e divulgados pela imprensa sobre a
sequncia de aes do atirador demonstram a preciso e a intencionalidade que
caracterizam a violncia em seu mais alto grau, quando a outra pessoa transformada
em puro objeto e destituda de sua alteridade (no exemplo, transformada em alvo
para os tiros). Mantidas impotentes, fugiam as que podiam, jogavam-se ao cho as
que no podiam fugir, diante do homem que no queria refns, mas o reconhecimento
por meio da vingana. Suas vidas foram ameaadas e as de 12 colegas foram tiradas,
pondo no s essas crianas e adolescentes em altssimo grau de risco, mas
provocando toda a sociedade a discutir as causas e consequncias da matana, cujo
horror foi especialmente acentuado pelo cenrio em que se deu uma escola de
paz, tradicionalmente ainda associada a um lugar protegido.
Ora, interessa aqui entender o trauma no que ele ameaou as identidades do
alunado, do professorado e, de certo modo, de toda a sociedade. No que diz respeito
ao alunado e ao professorado, vrios depoimentos noticiados pela imprensa j
apontam para os efeitos deletrios sobre suas vidas. Alguns alunos no conseguem
-
181
Em Aberto, Braslia, v. 25, n. 88, p. 175-189, jul./dez. 2012
falar, outros no conseguem se entregar ao sono, outros no se alimentam, no saem
de casa ou no conseguem esquecer as cenas sanguinolentas em que viram morrer
seus colegas, outros ainda no conseguem voltar escola de que gostariam de
afastar-se ao mximo todas essas reaes num esforo psquico repetido de
controlar, minimamente que seja, os efeitos subjetivos que a situao provocou:
num primeiro tempo, ameaa integridade de suas vidas; depois, ameaa a seu
psiquismo, a seus autoconceitos e, finalmente, sua prpria condio de alunos e
professores.
Os alunos, mais que seus professores, estiveram expostos fora do
acontecimento, dada sua imaturidade psquica, mas no se pode pretender que os
adultos no estejam marcados profundamente quem perdeu filhas e filhos, como
Noeli Rocha, me de Mariana assassinada aos 12 anos, no consegue ver sentido na
retomada das atividades pela escola: No me deram conforto, nem tranquilidade
[na primeira reunio de pais e mestres aps a tragdia]. [...] Se eu tivesse poder, eu
derrubava essa escola (Volta s aulas na Escola Tasso da Silveira preocupa pais,
2011).
Mas claro que educadores e funcionrios presentes na escola no momento
da mortandade tambm experimentaram a impotncia e a vulnerabilidade, sendo
afetados. Esses profissionais tiveram posta em questo sua funo de transmissores
do saber s vidas de seus alunos e alunas, ante a fora bruta que anula, ao menos
temporariamente, a validade da mediao simblica dos conflitos pelo saber. Em
outras palavras, no s a integridade fsica correu risco, mas a autoimagem
profissional pode ter sido duramente ferida. Alm disso, viram-se penosamente
ameaados em seu lugar de trabalho, de modo a estarem sujeitos ao estresse ps-
traumtico laboral como o caso de uma professora que chora e se sente culpada
por ter autorizado a entrada de Wellington na escola, em razo das palestras de
ex-alunos pelo quadragsimo aniversrio da instituio. Por isso, todos vm
recebendo apoio psicolgico e foram envolvidos na tarefa de reconstituir a imagem
da escola, drasticamente afetada junto a alunos e seus familiares (Leal, 2011;
Moratelli, 2011).
A populao, por sua vez, reagiu perguntando-se pelas causas que permitiram
tanta dor. Isso s foi antecedido pelo dio dos moradores vizinhos escola, que
queriam linchar o atirador (e que, estando ele j morto, depredaram por dois dias
seguidos sua casa). O assassino rapidamente foi tachado de monstro, num esforo
imaginrio de diferenci-lo de todo o resto por sua loucura e, ao mesmo tempo,
por sua aparente semelhana que no levou ningum a prever o mal que se praticaria.
Bom exemplo da repulsa coletiva encontra-se na fala do coveiro que enterrou o corpo
do psictico, ao descobrir ter sido designado para essa tarefa: O sentimento foi de
dio. Acho que um cara desses no merecia ser enterrado (Lorenzi, 2011).
Considerando que o enterro simbolicamente o representante de um cuidado
para com algum que teve certa dignidade quando vivo, esse dio claramente
assumido expressa a mistura de impotncia diante do absurdo da ao que, em
ltima instncia, permanecer impune (j que o autor est morto) com demonizao
de Wellington Oliveira, para rapidamente o desumanizar. Certamente que no sentido
-
182
Em Aberto, Braslia, v. 25, n. 88, p. 175-189, jul./dez. 2012
mais elogioso o assassino no foi humano, mas no sentido antropolgico e psicolgico
ele no era seno humano e os motivos da ignomnia de seu ato no podem ser
afastados do mais recndito interior da subjetividade humana, comum a todos.
No entanto, algo muito importante deve ser considerado, na contramo do que
poderia levar a um discurso determinista e fatalista: diante do sofrimento provocado
pelo trauma, muitas pessoas conseguem ser resilientes, ou seja, so capazes de se
restabelecerem psquica e socialmente diante de uma experincia de sofrimento,
intenso ou, seno, duradouro, sem adoecerem de modo permanente ou grave durante
esse processo e mantendo vnculos sociais saudveis e produtivos. So capazes,
igualmente, de aprenderem com essa experincia, de modo a criarem dispositivos e
estratgias que, de um lado, previnam a reduo do risco de novamente serem expostas
a situaes traumticas e, de outro, promovam o aumento das condies para resistirem
bem ao trauma se o sofrimento for, em ltima instncia, impossvel de controlar-se
em todas as suas variveis causais (Assis, Pesce, Avanci, 2006; Grotberg, 2005).
A resilincia, segundo especialistas, recente, mas o fenmeno to antigo
quanto o manejo do sofrimento humano. Nomeada a partir de uma noo oriunda
da Fsica, no campo psicossocial a capacidade de metamorfosear as adversidades
da vida (Assis, Pesce, Avanci, 2006, p. 17) entendida pelo prisma da preservao
da sade e da aprendizagem diante do sofrimento. Como lembra Grotberg (2005),
a resilincia depende, sobretudo, do momento da vida em que o sofrimento vivido
pela pessoa envolvendo, em diferentes etapas, habilidades, motivaes e
sentimentos decorrentes de processos como o desenvolvimento da autoconfiana,
da autonomia, da iniciativa e da identidade ; das mudanas ocorridas nas condies
adversas eventualmente causadoras de trauma; e da rede de relacionamentos
socioafetivos em que se insere a pessoa traumatizada (suporte social).
Consequentemente, a resilincia caracteriza-se como um processo muito
aberto, interativo e dinmico, mas tambm relativamente mensurvel e previsvel,
associado no s ao sofrimento mas, em seu sentido mais amplo, prpria sade
mental, de modo a ser possvel identificar trs elementos-chave para o reconhecimento
dessa capacidade (Infante, 2005, p. 26): a situao adversa, a adaptao positiva
situao (ou mesmo a superao dessa situao) e o processo prprio dinmica
entre mecanismos emocionais, cognitivos e socioculturais que influem no
desenvolvimento humano.
Reconhecendo, ento, que o suporte social um componente decisivo para
promover a resilincia, pode-se compreender o valiosssimo papel da escola nesse
processo. Condio social compulsria para crianas e adolescentes, as instituies
de ensino constituem-se em ncleos de convivncia cujo clima pode propiciar algumas
condies fundamentais para a resilincia ou, por outro lado, negligenci-las. J se
destacou a relevncia de um bom clima escolar para a aprendizagem, parecendo
lgico associar igualmente bom clima escolar e resilincia. Sobre a relao entre
esta e educao, afirma Melillo (2005, p. 88) que
os pais constroem resilincia quando mantm com crianas ou adolescentes uma relao baseada no amor incondicional (o que no significa falta de limites adequados), que se expressa em seus atos, quando favorecem a autoestima e a autonomia, estimulam a
-
183
Em Aberto, Braslia, v. 25, n. 88, p. 175-189, jul./dez. 2012
capacidade de resolver problemas e de manter um bom astral em situaes adversas e instalam um clima de afeto e alegria. Tambm acontece no caso de professores [...], quando incluem em sua tarefa condutas como as mencionadas, quando se preocupam, mais do que com seu trabalho, com os destinatrios.
O enfoque no cultivo de uma boa qualidade da relao com o alunado
fundamental: Dessa maneira, instaura-se um tipo de relao com o aluno,
estimuladora da sua autoestima, ponto de partida para a construo da resilincia
(Melillo, 2005, p. 100). Alm desse cuidado basilar, para o clima escolar promotor
de resilincia, tambm necessrio considerar a organizao da escola e a incluso
da vida e dos conhecimentos discentes no processo de ensino, envolvendo familiares
e comunidade na unidade de ensino. Organizao institucional, abertura pedaggica
e curricular e suporte social so os eixos que na escola promovem a resilincia, como
resume Bonnie Benard (apud Melillo, 2005, p. 100-101):
Quando as escolas so lugares onde h apoio, respeito e a sensao de pertencer a um grupo, fomenta-se a motivao para a aprendizagem. O carinho mtuo e as relaes baseadas no respeito so fatores crticos e determinantes para o estudante aprender ou no, os pais comearem e continuarem envolvidos com a escola, um programa ou estratgia surtir efeito positivo, uma mudana educativa ser de longo prazo e, por ltimo, para que um jovem sinta que tem um lugar especial na sociedade. Quando uma escola redefinir sua cultura, construindo uma viso com um compromisso que se estenda comunidade escolar inteira e que se baseia nesses fatores crticos de resilincia, ter fora para ser um escudo protetor para todos os seus alunos e um guia para a juventude de lares em perigo e/ou comunidades pobres.
Se esse escudo protetor no capaz de impedir que todo tipo de adversidade
penetre na escola, poder reduzir o impacto de experincias aversivas. As escolas
que promovem tais condies em seu espao institucional no esto imunes a
conflitos, como a violncia, nem conseguem poupar inteiramente que seu alunado
os experimente pois os alunos pertencem a famlias e comunidades que so por
vezes alvos de situaes de violncia (podendo tambm nela estar implicados,
inclusive, como seus autores) , mas tais instituies de ensino tero mais chances
de reagir positivamente aos efeitos deletrios do trauma.
Podem servir como exemplo disso, em relao a situaes de violncia, as
experincias escolares apresentadas por Abramovay et al. (2003), que argu-
mentam: quanto mais escolas integrarem estratgias de interveno em face da
violncia de modo sistemtico no seu cotidiano, agindo inclusive para o
melhoramento do clima escolar, maiores as chances de sucesso na gesto de
situaes. Essas so as escolas boas, nos discursos de alunos, reproduzidos
em itlico pelos autores:
Quem consegue arranjar uma escola boa tem mais oportunidade do que os outros, que acabam entrando nas drogas. Ainda que tal opinio merea ser relativizada, possvel reconhecer que traduz, de alguma forma, um sentimento de que caberia em grande parte escola a responsabilidade pelo destino daqueles que por ela passam. A existncia de um bom clima transparece em observaes que destacam a sintonia entre a expectativa dos alunos e o cumprimento da funo de ensinar da escola, como aponta um entrevistado que, ao ouvir de jovens estudantes de estabelecimentos de outros bairros que havia colegas que portavam armas, retrucou: Nossa, na minha escola no, o pessoal leva um livro, caderno... (Abramovay et al, 2003, p. 325).
-
184
Em Aberto, Braslia, v. 25, n. 88, p. 175-189, jul./dez. 2012
O rumo adotado por uma escola no manejo de seus conflitos e, em particular,
das situaes de violncia determina, assim, se a instituio promover ou no mais
resilincia entre seus alunos e alunas. Se as aes forem pontuais, por exemplo,
tendero a perder de vista o carter processual que define tanto o trauma quanto a
resilincia (j que ambos so complexos, dependem das significaes dadas pelos
envolvidos e mudam ao longo do tempo). J se as estratgias implicarem o
envolvimento da estrutura institucional e dos atores escolares direo, corpo
tcnico, docentes, todos articulados aos discentes, suas famlias e comunidades
haver mais chances de que as prticas pedaggicas modifiquem o clima escolar
para melhor ou, se no, o conservem suficientemente forte para elaborar os abalos
decorrentes de situaes traumticas.
A (re)constituio da escola como lugar de paz: em tempo integral?
Como se pode identificar os esforos no sentido da resilincia, diante do vivido
pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Tasso da Silveira s voltas com o
problema de retomar o trabalho e fazer face horrvel matana de seus alunos e
alunas? A mdia (Caetano, Vieira, 2011; Giraldi, 2011; Vieira, 2011) tem acompanhado
vrias iniciativas adotadas na unidade de ensino que podem ser classificadas em
trs grupos, cujas metas esto imbricadas: a parada inicial, o retorno s atividades
e o apoio psicossocial s pessoas envolvidas tratando de promover o luto, a
elaborao da dolorosa memria e a reorganizao do cotidiano e da imagem da
prpria escola atingida.
A parada da escola, diante do choque, por dez dias, foi automtica, inevitvel
e, depois, assumida como necessria para uma mnima recomposio dos afetos e
da tranquilidade, bem como para que se inicie um tipo de luto pela perda da imagem
de segurana que parecia haver entre os seus membros. Aps a imediata e abundante
divulgao de notcias e a explorao, pela mdia, de possveis razes para o ocorrido,
a repercusso da tragdia levou vrias instncias oficiais a marcarem esse luto, que
na escola apenas comeou a ser vivido muito gradualmente, mediante cerimnias
e ritos que lembraram os mortos (flores, oraes, usos de cartazes) e que insistiram,
alguns dias aps, na preservao da unidade de ensino como no abrao escola,
dois dias depois das mortes.
J o retorno s atividades foi pensado por meio de estratgias que envolveram
o uso de um prdio reformado, em que algumas marcas fsicas foram alteradas
nova pintura, novo emprego das salas em que as crianas e adolescentes foram
mortos e outros espaos foram criados para comear a narrar-se outra histria
um mural, um grande aqurio , sempre com a preocupao de sugerir a superao
gradual do sofrimento e a revalorizao do espao fsico da escola, na recuperao
da rotina. O passado tem que ficar para trs nas nossas mentes. O importante
pensar no hoje para ter um futuro melhor. Quero voltar a estudar e ter uma vida
normal, afirmou um aluno de 10 anos, presente na escola durante o massacre.
Tambm os gestos prvios ao retorno s aulas como os discursos em prol da
-
185
Em Aberto, Braslia, v. 25, n. 88, p. 175-189, jul./dez. 2012
continuidade do funcionamento da escola e a recepo aos alunos, no ltimo dia
18 de abril, por professores e professoras, para atividades no curriculares, foram
organizados em funo da revitalizao institucional: dois meses de readaptao so
previstos, com atividades artsticas e ldicas.
Por sua vez, o cuidado com as pessoas direta ou indiretamente envolvidas
com as atividades da instituio mostrou-se a partir da garantia governamental em
dispor, na escola, para alunos e familiares, assistentes sociais, psiclogos e outros
profissionais de apoio; as pessoas encontram-se tanto para lembrar os mortos como
para planejar a nova direo dada a suas vidas e prpria escola. Alm disso,
interromperam-se as atividades na rede municipal, por duas horas, no dia 13 de
abril, para discutir o futuro de todas as escolas. No retorno, em 18 de abril, alm
dos professores, uma centena de pessoas buscou receber os alunos s portas da
escola.
Como entender as medidas adotadas para a proteo e a retomada da escola?
Tanto o luto das perdas humanas, materiais e simblicas quanto o reinvestimento
da imagem escolar, por meio do cuidado das pessoas, acompanhado, em parte, pela
reconfigurao, em parte pelo restabelecimento de rotinas de trabalho, so garantidos
por momentos de fala e escuta, de expresso do prprio sofrimento e do desejo de
recomear, assim como pelo gesto e pela valorizao dos vnculos entre aqueles e
aquelas que sobreviveram ao trauma e tm a tarefa de aprender com ele.
Da perspectiva psicolgica, portanto, todas essas providncias orientam-se
pelo esforo de dar algum sentido ao horror e novo significado rotina escolar e ao
trabalho por ela organizado. Evidentemente, isso depender das identificaes
mtuas que as pessoas conseguirem em funo de terem sido submetidas aos
mesmos impactos, mas tambm dos ideais que as vinculam escola em questo.
Ora, uma das alternativas que incentivam a formao dessa identificao pode
estar na escola em tempo integral. Como em boa parte dos pases desenvolvidos, o
alunado que passa mais tempo numa escola com bom clima escolar tem mais chances
de ser protegido e de tornar-se resiliente, j que essa escola tende a tornar-se, de
fato, um lugar de formao mais ampla no apenas no plano intelectual, mas
tambm relacional e afetivo.
Mas para tanto, como adverte Cavaliere (2007), necessrio que essa escola
se diferencie da convencional. Estudar numa escola em tempo integral que tenha
um clima escolar aversivo estender os fatores de risco violncia, sobretudo aquela
que se d entre iguais. Por isso a pergunta: que escola pretender em tempo integral?
E, mais especificamente em relao ao problema deste artigo, que escola em tempo
integral pode promover um bom clima, capaz de garantir condies para a formao
pacfica segundo critrios que tambm sejam democrticos e democratizantes?
Afirma essa autora:
Numa escola de tempo integral, as atividades ligadas s necessidades ordinrias da vida (alimentao, higiene, sade), cultura, arte, ao lazer, organizao coletiva, tomada de decises so potencializadas e adquirem uma dimenso educativa. Diferentemente, a rotina otimizada e esvaziada de opes em uma escola em turno parcial, imediatamente centrada nos contedos escolares, dificilmente pode propiciar esse tipo de vivncia. Nesse sentido, ou seja, entendendo-se mais tempo como oportunidade de uma outra
-
186
Em Aberto, Braslia, v. 25, n. 88, p. 175-189, jul./dez. 2012
qualidade de experincia escolar, que a escola de tempo integral pode trazer alguma novidade ao sistema educacional brasileiro. (Cavaliere, 2007, p. 1023).
Numa perspectiva mais emancipatria e menos assistencialista e autoritria,
essa concepo de escola em tempo integral a que mais se aproxima, na prtica,
das condies favorveis constituio de um clima escolar motivador e propcio
aprendizagem e convivncia.
[...] a estabilidade de uma instituio organizada, rica em atividades e vivncias o que pode fazer da escola um ambiente de formao para a democracia. Nesse modelo, o espao escolar o centro de referncia, mesmo que eventualmente algumas atividades sejam feitas fora dele. Os professores pertencem escola, da mesma forma que os alunos. H um corpo social, h uma instituio com identidade prpria, com objetivos compartilhados e que pode se fortalecer com o tempo integral e com uma proposta de educao integral. (Cavaliere, 2007, p. 1031)
.
No toa que a escola em tempo integral converge para as pretenses de
uma instituio cujo clima concorra para a resilincia e a paz. Se tal clima pode ser
constitudo em escolas com apenas um turno, mais verdade ainda na escola em
tempo integral acima caracterizada, pois no mesmo prdio no haver trs escolas
distintas (uma por turno), mas uma somente. Ainda que esse modelo integral deva-
se em parte provavelmente a outros fatores no especificamente pedaggicos
(Cavaliere, 2007), suas razes pedaggicas so mais fortes e melhores que as do
modelo brasileiro tradicional.
Se aquelas estratgias forem pensadas no modelo da escola democrtica
deweyana, compreende-se a afirmao anterior: o tempo dedicado escola por
discentes e docentes serve como substrato para reforar ainda mais os vnculos
interpessoais. Quanto mais tempo se passa junto, mais se pode conhecer o outro,
envolver-se com ele, aprender a partir da convivncia a resolver pacificamente
conflitos tudo isso concorrendo, entre o alunado, para a valorizao dos vnculos
escolares. Para os educadores, em particular, esse tempo, num paradigma ideal,
aumenta as chances de que se possa dar ateno individualizada aos alunos, conhec-
los, alm de trabalhar em grupo e pensar as dificuldades de cada aluno e turma num
espao coletivo; foro mediador para aprendizagem de estratgias e posturas a serem
adotadas por todos em situaes de conflito. Se essa escola no est isenta de expor-
se violncia mais brutal, nesse enquadre, o luto, a elaborao de novos sentidos
para a escola e o atendimento a necessidades individuais e grupais, certamente,
ficam bem mais possveis.
No parece ser por acaso, afinal, que seja a extenso do uso das escolas e de
seu tempo em atividades extraescolares (esportivas, artsticas etc.) e a abertura do
espao escolar comunidade nos finais de semana o que caracteriza vrias
experincias bem-sucedidas de gesto da violncia e de constituio de um bom
clima institucional (Abramovay et al, 2003), um pouco na direo daquilo que
Cavaliere (2007) denomina concepo multissetorial de educao integral ou
seja, uma escola que se multiplica em outros turnos, com atividades complementares,
ou mesmo em lugares complementares de acesso cultura (museus, estdios etc.),
com todos os riscos e ganhos que essa proposta traz consigo.
-
187
Em Aberto, Braslia, v. 25, n. 88, p. 175-189, jul./dez. 2012
Numa situao ideal, e a partir das experincias consideradas, pode-se afirmar
ser essa escola, at agora, a mais favorecedora das identificaes que tecem a rede
relacional que, por ter mais tempo, d suporte aos atores escolares em ocasies
traumticas, de modo a permitir que quem veja, em momentos de escurido, a
aurora, ainda delicada como uma criana, possa manter-se em p, para ajudar
companheiros a ficarem acordados e defenderem o corao, cantando juntos.
Referncias bibliogrficas
ABRAMOVAY, M. et al. Escolas inovadoras: experincias bem-sucedidas em escolas pblicas. Braslia: Unesco, 2003.
ABRAMOVAY, M.; RUA, M. G. (Org.). Violncias nas escolas. Braslia: Unesco, 2002.
ADORNO, S. Adolescentes, crime e violncia: contribuio ao debate tica e Violncia (01.06.98). In: ABRAMO, Helena W.; FREITAS, Maria V.; SPOSITO, Marlia P. (Orgs). Juventude em debate. So Paulo: Cortez, 2000. p. 97-110.
AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. Dicionrio de Psicologia. Porto Alegre: Artmed, 2010.
ASSIS, S. G.; PESCE, R. P.; AVANCI, J. Q. Resilincia: enfatizando a proteo dos adolescentes. Porto Alegre: Artmed, 2006.
BOURDIEU, P.; PASSERON, J. C. A reproduo. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1982.
BRACONNIER, A. Traumatismo. In: DORON, R.; PAROT, F. Dicionrio de Psicologia. So Paulo: tica, 2006. p. 766.
BRITO, M. de S. T.; COSTA, M. Prticas e percepes docentes e suas relaes com o prestgio e clima escolar das escolas pblicas do municpio do Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Educao, Campinas, v. 15, n. 45, p. 500-510, set./dez. 2010. Disponvel em: .
CAETANO, E.; VIEIRA, I. Voluntrios arrumam Escola Tasso da Silveira para volta s aulas na segunda-feira. Agncia Brasil, Rio de Janeiro, 16 abr. 2011. Disponvel em . Acesso em: 22 abr. 2011.
CAVALIERE, A. M. Tempo de escola e qualidade na educao pblica. Educao & Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100 Especial, p. 1015-1035, out. 2007. Disponvel em: .
CHARLOT, Bernard. A violncia na escola: como os socilogos franceses abordam essa questo. Sociologias, Porto Alegre, v. 4, n. 8, p. 432-443, jul./dez. 2002. Disponvel em: .
-
188
Em Aberto, Braslia, v. 25, n. 88, p. 175-189, jul./dez. 2012
CORNEJO, R.; REDONDO, J. M. El clima escolar percibido por los alumnos de enseanza media: una investigacin en algunos liceos de la Regin Metropolitana. Ultima Dcada, CIDPA, Via del Mar, n. 15, p. 11-52, oct. 2001. Disponvel em: .
DEBARBIEUX, E. A violncia na escola francesa: 30 anos de construo social do objeto (1967-1997). Educao e Pesquisa, So Paulo, v. 27, n. 1, p. 163-193, 2001. Disponvel em: .
FOUCAULT, M. Vigiar e punir. 10. ed. Petrpolis, RJ : Vozes, 1993.
GIRALDI, R. Escola Tasso da Silveira reabre depois de 11 dias da tragdia que matou 12. Agncia Brasil, Rio de Janeiro, 18 abr. 2011. Disponvel em . Acesso em: 22 abr. 2011.
GOMES, C. A. A escola de qualidade para todos: abrindo as camadas da cebola. Ensaio: Avaliao e Polticas Pblicas em Educao, Rio de Janeiro, v. 13, n. 48, p. 281-306, jul./set. 2005. Disponvel em: .
GROTBERG, E. H. Introduo: novas tendncias em resilincia. In: MELILLO, A.; OJEDA, E. N. S. et al. Resilincia: descobrindo as prprias fortalezas. Porto Alegre: Artmed, 2005, p. 15-22.
HERNNDEZ Y HERNNDEZ, F.; SANCHO GIL, J. M. El clima escolar en los centros de secundaria: ms all de los tpicos. Madrid: Ministrio de Educacin y Cincia, Centro de Investigacin y Documentacin Educativa, 2004.
INFANTE, F. A resilincia como processo: uma reviso da literatura recente. In: MELILLO, A.; OJEDA, E. N. S. et al. Resilincia: descobrindo as prprias fortalezas. Porto Alegre: Artmed, 2005. p. 23-38.
LEAL, L. N. Escola reabre para as aulas j no dia 18; at l, professores tero ajuda psicolgica. Estado.com.br. So Paulo, 11 abr. 2011. Disponvel em: . Acesso em: 22 abr. 2011.
LORENZI, S. Sentimento foi de dio, diz coveiro que enterrou corpo. Ig ltimo Segundo. Rio de Janeiro, 22 abr 2011. Disponvel em . Acesso em: 22 abr 2011.
MELILLO, A. Prefcio. In: MELILLO, A.; OJEDA, E. N. S. et al. Resilincia: descobrindo as prprias fortalezas. Porto Alegre: Artmed, 2005. p. 11-13.
MONSUETO; MELLO, Thiago de. Faz escuro mas eu canto [1964]. Intrprete: Virgnia Rosa. Baita nego. So Paulo: Selo Sesc, 2008. 1 CD. Faixa 10.
MORATELLI, V. Em depoimentos, professores contam detalhes do massacre no Rio. Ig ltimo Segundo. Rio de Janeiro, 7 abr. 2011. Disponvel em . Acesso em: 22 abr. 2011.
-
189
Em Aberto, Braslia, v. 25, n. 88, p. 175-189, jul./dez. 2012
PERALVA, Angelina. Escola e violncia nas periferias urbanas francesas. Contemporaneidade e Educao, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 7-25, 1997.
ROCHA, M. S. P. M. L.; PEROSA, G. S. Notas etnogrficas sobre a desigualdade educacional brasileira. Educao & Sociedade, Campinas, v. 29, n. 103, p. 425-449, maio/ago. 2008. Disponvel em: .
VIEIRA, I. Alunos retomam atividades na Escola Tasso da Silveira. Agncia Brasil, 18 abr. 2011. Disponvel em . Acesso em: 22 abr. 2011.
VOLTA s aulas na Escola Tasso da Silveira preocupa pais. ltimo Segundo. Rio de Janeiro, 14 abr. 2011. Disponvel em: Acesso em: 22 de abr. 2011
WAISELFISZ, J. J. Mapa da violncia IV: os jovens do Brasil. Braslia: Unesco, 2004.
Fernando Czar Bezerra de Andrade, doutor em Educao pela Universidade
Federal da Paraba, docente nessa universidade.