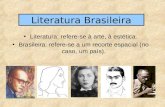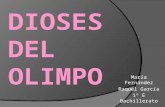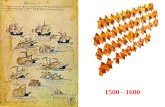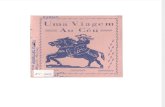3 TERC 8 LIT 051a100 - Anglo Sistema de Ensino · De qualquer luta ou descanso eu sempre me...
Transcript of 3 TERC 8 LIT 051a100 - Anglo Sistema de Ensino · De qualquer luta ou descanso eu sempre me...

51LITERATURA TERCEIRÃO 8
Terc
eir
ão –
Cad
ern
o 8
– C
ód
igo
: 83
03
85
81
3
1 Introdução
Embora tenha nascido na Ucrânia, Clarice Lispector (1920 -1977) sempre se
considerou brasileira e pernambucana. Com sua família, chegou ao Brasil com
um ano e dois meses de idade e fixou-se primeiramente em Maceió. Não se
adaptando à cidade, mudaram-se para Recife, onde a caçula foi criada e perma-
neceu até os 15 anos, quando passaram a viver no Rio de Janeiro.
Clarice escreveu seu primeiro romance – Perto do coração selvagem – com ape-
nas 20 anos de idade. O livro foi publicado logo depois e recebido com surpresa
e admiração pela crítica especializada. Formada em Direito – profissão que nunca
exerceria – casou-se com seu colega de classe Maury Gurgel Valente, que se tornaria
diplomata, com quem teve dois filhos. Juntos, viajaram pelo mundo, morando em
vários países da Europa e também nos Estados Unidos, sem nunca parar de escrever.
Foi, entretanto, ao se separar em 1959 e voltar ao Rio de Janeiro com os filhos, que a
escritora passou a trabalhar como jornalista e desenvolveu mais sua carreira literária.
Logo após a publicação de seu último livro – A hora da estrela – Clarice mor-
reu, vítima de um câncer no ovário, em 1977, no Rio de Janeiro.© F
olh
apre
ss
LITERATURA
CLARICE LISPECTOR
Professor:
Aula 55 AD
TM
TC
(pág. 73)
Aula 56 AD
TM
TC
(pág. 79)
Aula 57 AD
TM
TC
(pág. 87)
Aula 58 AD
TM
TC
(pág. 93)
Aula 51 AD
TM
TC
(pág. 51)
Aula 52 AD
TM
TC
(pág. 55)
Aula 53 AD
TM
TC
(pág. 61)
Aula 54 AD
TM
TC
(pág. 64)
ÍNDICECONTROLE DE ESTUDO
3_TERC_8_LIT.indd 51 9/9/13 10:51 AM

52TERCEIRÃO 8 LITERATURA
Pode-se dizer que as principais personagens de
Clarice Lispector são mulheres. A escritora especia-
lizou-se em investigar os dramas internos de suas
criações e acompanhá-las em seu processo de trans-
formação. O crítico Affonso Romano de Sant’anna
dividiu a estrutura dos contos da autora em quatro
grandes etapas.
Num primeiro momento, a personagem é apre-
sentada em uma dada situação. A preparação de um
evento que romperá essa situação corresponde à
segunda etapa. A seguir, temos a ocorrência do
evento (terceira etapa) e os desdobramentos que ele
traz à personagem (quarta etapa).
2 O fluxo de consciência e o monólogo interior
Fluxo de consciência é um conceito de natureza
psicológica, que nomeia os múltiplos aspectos da
atividade mental que, por meio de associações livres,
muda de foco com frequência. Monólogo interior
é a técnica literária de apreensão e apresentação des-
se fluxo. Por meio dela, o leitor é colocado em conta-
to direto com o universo íntimo da personagem.
Outro aspecto muito recorrente no trabalho de
Clarice Lispector é a utilização do tempo psicológi-
co em detrimento do cronológico. Isso significa que
as narrativas não obedecem à cronologia porque o
tempo que as organiza é aquele que transcorre no
interior da personagem, de acordo com sua imagi-
nação, seus desejos, angústias e ansiedades. Esse
tempo pode se alongar ou se encurtar de acordo
com o estado de espírito de cada um. Passado e fu-
turo se fundem normalmente sem obedecer a ne-
nhuma ordem.
Perto do coração selvagem (1943)
Não, nenhum Deus… Quero estar só. E um dia virá
sim, um dia virá em mim a capacidade tão vermelha e
afirmativa quanto clara e suave. Um dia o que eu fizer
será cegamente, seguramente, inconscientemente pisan-
do em mim e na minha verdade. Tão integramente lança-
da no que fizer que seja incapaz de falar. Um dia virá em
que todo o meu movimento será só criação e nascimen-
to. Eu romperei todos os nãos que existem dentro de mim
e provarei a mim mesma que nada há a temer. Que tudo
que eu for será sempre onde haja uma mulher com o
meu princípio. Erguerei dentro de mim o que sou e a um
gesto meu minhas vagas se levantarão poderosas – água
pura submergindo a dúvida, a consciência. E quando eu
falar serão palavras não pesadas e lentas, não levemente
sentidas, não cheias de vontade de humanidade, não o
passado corroendo o futuro! O que eu disser soará fatal e
inteiro. Não haverá nenhum espaço dentro de mim para
eu saber que existe tempo e nem para eu saber sequer
que estou criando porque então viverei! Só então viverei
maior do que na infância, serei brutal e malfeita como
uma pedra, serei leve e vaga como o que se sente e não
se entende. E que tudo venha e caia sobre mim porque
basta me cumprir e então nada impedirá o meu caminho
até a morte-sem-medo. De qualquer luta ou descanso eu
sempre me levantarei forte e bela como um cavalo novo.LISPECTOR, Clarice. Perto do coração selvagem.
Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1992.
O trecho anterior trata de um exemplo concreto
de utilização do monólogo interior. Joana, narradora
e protagonista do livro, conta sua vida em dois pla-
nos diferentes: a infância e o início da vida adulta,
refletindo sobre si mesma e substituindo o tempo
cronológico pelo psicológico. Sua consciência de-
senvolve um movimento que leva a própria subjeti-
vidade a uma crise, uma vez que seus desejos e
decisões se confundem constantemente.
3 O existencialismo
O existencialismo é uma linha filosófica de pensa-
mento desenvolvida entre os séculos XIX e XX, popula-
rizada na obra do autor francês Jean-Paul Sartre
(1905 -1980). Para ele, "a existência precede e governa a
essência". Todos possuímos uma essência que pode ser
transformada e redefinida pelas experiências da vida.
Em A paixão segundo G.H., obra de grande impor-
tância, Clarice exercita seu existencialismo literário ao
compor uma personagem bem-sucedida profissional-
mente, que não conhece profundamente a si mesma e
que, numa rápida incursão pelo quarto da empregada
que se demitira, vê uma barata saindo do armário. A
partir desse acontecimento banal, G.H. percebe-se
completamente sozinha no mundo.
A paixão segundo G.H. (1964)
Então, de novo, mais um milímetro grosso de ma-
téria branca espremeu-se para fora. Santa Maria, mãe
de Deus, ofereço-vos a minha vida em troca de não ser
verdade aquele momento de ontem. A barata com a ma-
téria branca me olhava. Não sei se ela me via, não sei
o que uma barata vê. Mas ela e eu nos olhávamos, e
também não sei o que uma mulher vê. Mas se seus olhos
não me viam, a existência dela me existia – no mun-
do primário onde eu entrara, os seres existem os outros
como modo de se verem. E nesse mundo que eu estava
3_TERC_8_LIT.indd 52 9/9/13 10:51 AM

53LITERATURA TERCEIRÃO 8
conhecendo, há vários modos que significam ver: um
olhar o outro sem vê-lo, um possuir o outro, um comer
o outro, um apenas estar num canto e o outro estar ali
também: tudo isso também significa ver. A barata não
me via diretamente, ela estava comigo. A barata não me
via com os olhos mas com o corpo.
E eu – eu a via. Não havia como não vê-la. Não ha-
via como negar: minhas convicções e minhas asas se
crestavam rapidamente e não tinham mais finalidade. Eu
não podia mais negar. Não sei o que é que não podia
mais negar, mas já não podia mais. E nem podia mais
socorrer, como antes, de toda uma civilização que me
ajudaria a negar o que eu via.
Eu a via toda, a barata.
A barata é um ser feio e brilhante. A barata é pelo
avesso. Não, não, ela mesma não tem direito nem aves-
so: ela é aquilo. O que nela é exposto é o que em mim
eu escondo: de meu lado a ser exposto fiz o meu avesso
ignorado. Ela me olhava. E não era um rosto. Era uma
máscara. Uma máscara de escafandrista. Aquela gema
preciosa ferruginosa. Os dois olhos eram vivos como
dois ovários. Ela me olhava com a fertilidade cega de
seu olhar. Ela fertilizava a minha fertilidade morta. Se-
riam salgados os seus olhos? Se eu os tocasse – já que
cada vez mais imunda eu gradualmente ficava – se eu os
tocasse com a boca, eu os sentiria salgados?
LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H. 16. ed., Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1991.
No excerto, ao olhar detalhadamente o inseto que
encontrara, a personagem procura a si mesma e, de
certa forma, passa a se confundir com a barata. Ao
observá-la e defini-la em sua feiura e estranhamento,
é a si mesma que observa e define. O ápice da narra-
tiva seria a fusão dos dois seres na boca de G.H.,
numa atitude desesperada de compreensão de sua
existência para transformação de sua essência.
A hora da estrela (1977)
Clarice Lispector exercita a metalinguagem em
muitas de suas obras, mas é em A hora da estrela que
desenvolve mais profundamente a questão da cons-
trução da narrativa. Isso se dá porque Rodrigo S.M.,
um narrador criado pela autora, se prepara para
contar a história de Macabéa, uma datilógrafa nor-
destina, que tenta ganhar a vida no Rio de Janeiro. O
livro acaba contendo tanto a história do narrador
como a da personagem, mas destaca significativa-
mente o processo de construção da obra.
A personagem é concebida como um exemplo de
insignificância e falta de glamour. Sonha, de forma
pueril, em ser artista de cinema e ouve, encantada,
em um radinho que mantém sob o travesseiro, anún-
cios que não entende na Rádio Relógio. Depois de
ser despedida, conhece o metalúrgico Olímpico de
Jesus, também nordestino, ambicioso para se inte-
grar à realidade do Sul e tornar-se deputado. Embo-
ra não conseguissem estabelecer um diálogo efetivo,
tornaram-se namorados. Logo, porém, ele reconhe-
ce a incompetência e feiura de Macabéa, trocando-a
por Glória, uma amiga dela.
Aconselhada pela própria Glória, Macabéa pro-
cura uma cartomante, que resolve animar a moça
com a perspectiva de um futuro sorridente, profeti-
zando que a nordestina encontraria um estrangeiro
alourado de “olhos azuis ou verdes ou castanhos ou
pretos”, muito rico e com quem se casaria. Macabéa
que “nunca tinha tido coragem de ter esperança”, sai
feliz da consulta, pois “a cartomante lhe decretara
sentença de vida”. Na sequência, ao atravessar a rua
distraidamente, é atropelada por um automóvel
Mercedes. Várias pessoas observam a moribunda, o
que ainda não acontecera enquanto vivia. Alguém
coloca uma vela acesa junto ao seu corpo. Desta ma-
neira, Macabéa alcança, com a própria morte, a sua
hora de maior destaque, sua hora de estrela.
Ela nascera com maus antecedentes e agora parecia uma
filha de não-sei-o-quê com ar de se desculpar por ocupar
espaço. No espelho distraidamente examinou as manchas
do rosto. Em Alagoas chamavam-se “panos”, diziam que
vinham do fígado. Disfarçava os panos com grossa camada
de pó branco e se ficava meio caiada era melhor que o par-
dacento. Ela toda era um pouco encardida pois raramente
se lavava. De dia usava saia e blusa, de noite dormia de
combinação1. Uma colega de quarto não sabia como avi-
sar-lhe que seu cheiro era murrinhento. E como não sabia,
ficou por isso mesmo, pois tinha medo de ofendê-la. Nada
nela era iridescente2, embora a pele do rosto entre as man-
chas tivesse um leve brilho de opala. Mas não importava.
Ninguém olhava para ela na rua, ela era café frio.
Assoava o nariz na barra da combinação. Não tinha
aquela coisa delicada que se chama encanto. Só eu a
vejo encantadora. Só eu, seu autor, a amo. Sofro por ela.
LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
1. Roupa íntima feminina que, numa só peça, faz as vezes de saia e de corpete.
2. Cujas cores são as do arco-íris ou que reflete essas cores.
A apresentação de Macabéa em seu aspecto físico
mais simples está diretamente relacionada à existên-
cia de Rodrigo S.M. Sem meias palavras, o narrador
revela as fragilidades da nordestina que não se lava-
va, cobria as manchas da pele com pó branco e não
se importava com nada. Era apenas café frio.
3_TERC_8_LIT.indd 53 9/9/13 10:51 AM

54TERCEIRÃO 8 LITERATURA
1. (UEL-PR – Adaptada) A questão a seguir refere-se à pas-
sagem transcrita do conto “Feliz aniversário” (Laços de
família, 1960), de Clarice Lispector (1920 -1977).
Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de coca-cola, o bolo desabado, ela era a mãe. A aniver-sariante piscou. Eles se mexiam agitados, rindo, a sua família. E ela era a mãe de todos. E se de repente não se ergueu, como um morto se levanta devagar e obriga mudez e terror aos vivos, a aniversariante ficou mais dura na cadeira, e mais alta. Ela era a mãe de todos. E como a presilha a sufocasse, ela era a mãe de to-dos e, impotente à cadeira, desprezava-os. E olhava-os piscando. Todos aqueles seus filhos e netos e bisne-tos que não passavam de carne de seu joelho, pensou de repente como se cuspisse. Rodrigo, o neto de sete anos, era o único a ser a carne de seu coração. Rodri-go, com aquela carinha dura, viril e despenteada, cadê
Rodrigo? Rodrigo com olhar sonolento e intumescido
naquela cabecinha ardente, confusa. Aquele seria um
homem. Mas, piscando, ela olhava os outros, a aniver-
sariante. Oh o desprezo pela vida que falhava. Como?!
como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles se-
res opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Ela,
a forte, que casara em hora e tempo devidos com um
bom homem a quem, obediente e independente, res-
peitara; a quem respeitara e que lhe fizera filhos e lhe
pagara os partos, lhe honrara os resguardos. O tronco
fora bom. Mas dera aqueles azedos e infelizes frutos,
sem capacidade sequer para uma boa alegria. Como
pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos fracos, sem
austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Uns
comunistas, era o que eram; uns comunistas. Olhou-os
com sua cólera de velha. Pareciam ratos se acotove-
lando, a sua família. Incoercível, virou a cabeça e com
força insuspeita cuspiu no chão.
LISPECTOR, Clarice. Feliz aniversário. In: Laços de família.28. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995. p. 78-79.
A problemática da terceira idade é o tema principal do
conto “Feliz aniversário”. Na história, sentada à cabeceira
da mesa preparada para a comemoração de seu octogé-
simo nono aniversário, D. Anita:
� a) vê, horrorizada, sua descendência constituída por se-
res mesquinhos.
b) lembra-se, saudosa, da época em que seu marido era
vivo e com ele dividia as dificuldades cotidianas.
c) contempla seu neto, Rodrigo, a trazer-lhe ao presente
a imagem do falecido marido quando jovem.
d) rememora, com rancor, sua vida de mulher, seja enquan-
to esposa, seja enquanto mãe, mostrando-se indignada
com a atual falta de afeto de filhos, netos e bisnetos.
e) mistura presente e passado, deixando emergir a sau-
dade que há tempo domina seu cotidiano.
2. Em A hora da estrela, o narrador apresenta a seguinte
reflexão: "Pois na hora da morte a pessoa se torna bri-
lhante estrela de cinema, é o instante de glória de cada
um e é quando como no canto coral se ouvem agudos
sibilantes". Com base nela, explique:
a) Por que o romance leva esse título?
Porque narra a história de Macabéa, que sonhava em
se tornar uma estrela de cinema. O clímax da obra é
a morte da protagonista, o que, segundo o narrador,
pode ser considerado um instante de glória, a hora
em que todos nos tornamos estrelas.
b) Por que é irônica a relação entre o título e a história
de Macabéa?
Toda a história de Macabéa é marcada pela falta de
brilho e por sua insignificância. Ao contrário de seus
sonhos pueris, a protagonista não desperta a aten-
ção e nem o interesse de ninguém. Ela é, assim, o
oposto do glamour indicado no título. Nessa oposi-
ção é que reside a ironia.
3. (Fuvest-SP)
Será que eu enriqueceria este relato se usasse al-
guns difíceis termos técnicos? Mas aí é que está: esta
história não tem nenhuma técnica, nem de estilo,
ela é ao deus-dará. Eu que também não mancharia
por nada deste mundo com palavras brilhantes e fal-
sas uma vida parca como a da datilógrafa. LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela.
Em A hora da estrela, o narrador questiona-se quanto ao
modo e, até, à possibilidade de narrar a história. De acor-
do com o trecho acima, isso deriva do fato de ser ele um
narrador:
a) iniciante, que não domina as técnicas necessárias ao
relato literário.
b) pós-moderno, para quem as preocupações de estilo
são ultrapassadas.
c) impessoal, que aspira a um grau de objetividade má-
xima no relato.
d) objetivo, que se preocupa apenas com a precisão
técnica do relato.
� e) autocrítico que percebe a inadequação de um estilo
sofisticado para narrar a vida popular.
3_TERC_8_LIT.indd 54 9/9/13 10:51 AM

55LITERATURA TERCEIRÃO 8
TAREFA MÍNIMA
t� Leia o texto da aula.
Caderno de Exercícios
t� Faça os exercícios 1 a 3.
TAREFA COMPLEMENTAR
Caderno de Exercícios
t� Faça os exercícios 4 a 6.
1 Construtivismo
Contraposição de dissonâncias, de Theo Van Doesburg, 1924.
O Construtivismo foi uma proposta artística surgida
logo após a difusão das vanguardas europeias do início
do século XX. Trata-se da radicalização de algumas
propostas vanguardistas, na direção de uma pintura
geométrica e antifigurativa que resultaria na Arte Abs-
trata. Os construtivistas buscavam aplicar à sua arte o
mesmo rigor técnico empregado por engenheiros e
arquitetos em suas obras. Em João Cabral de Melo Ne-
to, o construtivismo se manifesta no racionalismo de
uma poesia avessa a qualquer expansão sentimental.
João Cabral de Melo Neto
(1920 -1999) nasceu no Reci-
fe (Pernambuco), onde fez os
estudos primários. Transferiu-
-se para o Rio de Janeiro nos
anos 1940, período em que
publica seus primeiros livros,
mesma época em que inicia
sua carreira diplomática, que o leva a países como Ingla-
terra, França, Suíça, Portugal e, por diversas vezes, Espa-
nha, cuja cultura deixou marcas profundas em sua arte.
Aposentou-se em 1990 e faleceu no Rio de Janeiro.
© H
om
ero
Sé
rgio
/Fo
lhap
ress
2 O “poeta engenheiro”
“[...] a maior influência que sofri foi a de Le Cor-
busier. Aprendi com ele que se podia fazer uma arte
não com o mórbido, mas com o são, não com o es-
pontâneo, mas com o construído. [...] A partir de ‘O
engenheiro’, optei pela luz em detrimento da treva e
da morbidez.”Entrevista a Antônio Carlos Secchin. In: João Cabral, a poesia do
menos. São Paulo: Livraria Duas Cidades; Brasília: INL, Fundação Nacional Pró-Memória, 1985, p. 301.
Essas palavras de João Cabral sintetizam aspec-
tos fundamentais de sua obra. A referência ao arqui-
teto suíço Le Corbusier (1887 -1965) e a reafirmação
de uma arte feita “com o construído”, isto é, de forma
planejada, indicam o racionalismo da poesia cabrali-
na. De fato, o poeta declarou certa vez que buscava
“o predomínio da inteligência sobre o instinto”. Com
isso, pretendia estabelecer o primado da lucidez na
abordagem do mundo, mostrando os objetos em sua
pureza conceitual, desprovida de qualquer arroubo
subjetivo.
Esse rigor na elaboração formal do poema, além
do fato de começar a publicar nos anos 1940, permi-
tiu uma aproximação um tanto apressada com a
Geração de 45. Mas o poeta revelou desde logo que
sua preocupação ia muito além da forma. Sua con-
cepção da construção poética – que lhe fez merece-
dor do apelido de poeta engenheiro – incluía a
sensibilidade à flor da pele, com os olhos atentos
voltados para o mundo à sua volta.
O engenheiro
A luz, o Sol, o ar livre
envolvem o sonho do engenheiro.
O engenheiro sonha coisas claras:
superfícies, tênis, um copo de água.
JOÃO CABRAL DE MELO NETO
© H
aag
s G
em
ee
nte
mu
seu
m, T
he
Hag
ue
, Ho
lan
da
3_TERC_8_LIT.indd 55 9/9/13 10:51 AM

56TERCEIRÃO 8 LITERATURA
O lápis, o esquadro, o papel;
o desenho, o projeto, o número:
o engenheiro pensa o mundo justo,
mundo que nenhum véu encobre.
(Em certas tardes nós subíamos
ao edifício. A cidade diária,
como um jornal que todos liam,
ganhava um pulmão de cimento e vidro.)
A água, o vento, a claridade
de um lado o rio, no alto as nuvens,
situavam na natureza o edifício
crescendo de suas forças simples.MELO NETO, João Cabral de. In: Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.
Nas duas primeiras estrofes, o poema trata mais
diretamente da figura do engenheiro. A expressão
“mundo justo” (verso 7) diz respeito à precisão geo-
métrica e à exatidão matemática com que o enge-
nheiro pensa e concebe as coisas que cria. Nas
duas estrofes seguintes, o poeta se insere no texto
(“nós subíamos”), para sugerir que seu trabalho
artístico consiste em retirar da “natureza” as “coi-
sas simples”, isto é, exatas, precisas, claras, trans-
parentes.
3 A palavra-pedra
O título do primeiro livro de João Cabral, Pedra
do sono, publicado em 1942, já traz a imagem da pe-
dra, que acompanharia toda a sua obra. Nele, a ex-
pressão sono remete ao Surrealismo que marcaria o
início da carreira do poeta. Com o tempo, a atmosfe-
ra onírica seria abandonada, restando a contundên-
cia da palavra agressiva e impactante, feita para
despertar e nunca para anestesiar.
Em 1966, ao publicar o livro A educação pela pe-
dra, João Cabral oferece uma síntese de seu projeto
poético:
A educação pela pedra
Uma educação pela pedra: por lições;
para aprender da pedra, frequentá-la;
captar sua voz inenfática, impessoal
(pela de dicção ela começa as aulas).
A lição de moral, sua resistência fria
ao que flui e a fluir, a ser maleada;
a de poética, sua carnadura concreta;
a de economia, seu adensar-se compacta:
lições da pedra (de fora para dentro,
cartilha muda), para quem soletrá-la.
Outra educação pela pedra: no Sertão
(de dentro para fora, e pré-didática).
No Sertão a pedra não sabe lecionar,
e se lecionasse, não ensinaria nada;
lá não se aprende a pedra: lá a pedra,
uma pedra de nascença, entranha a alma.MELO NETO, João Cabral de. In: Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.
A reflexão sobre a pedra conduz o poeta a um
aprendizado sobre a própria arte, em seu esforço de
apreensão da realidade concreta. A “voz inenfática”
sugere a impessoalidade de sua poesia, que rejeita o
sentimentalismo. A “resistência” da pedra corres-
ponde à força que deve ter a palavra poética, para
resistir a tudo que tenta torná-la fluida, fraca, sopo-
rífera. Mas a principal lição da pedra é a de “econo-
mia”: seu “adensar-se compacta” indica o caminho
de uma linguagem concisa, seca, que será a pedra de
toque da arte cabralina.
4 Do Nordeste à Espanha
João Cabral manteve em sua vida – e em sua obra
– duas paixões: a terra natal e a condição de viajante
imposta por suas atividades diplomáticas. A aparen-
te incompatibilidade entre esses dois amores o levou
a revelar, certa vez, que gostaria de que Pernambuco
se tornasse independente do Brasil, para que ele
pudesse servir ali como embaixador, satisfazendo
seus dois desejos díspares.
A verdade, porém, é que João Cabral conseguiu
unir o Nordeste às culturas que conheceu, principal-
mente a espanhola, apreendida nas experiências vi-
vidas quando morou em Barcelona, Sevilha e Madri.
Morte e vida severina (1954 -1955), por exemplo, é
inspirada em autos medievais ibéricos. E em muitos
outros momentos de sua obra João Cabral presta
homenagem explícita à Espanha.
Lições de Sevilha
Tenho Sevilha em minha cama,
eis que Sevilha se fez carne,
eis-me habitando Sevilha
como é impossível de habitar-se.
Nada há em volta que me lembre
a Sevilha cartão-postal,
a que é turístico-anedótica,
a que é museu e catedral.
Esta é a Sevilha trianera*,
Sevilha fundo de quintal,
Sevilha de lençol secando,
a que é corriqueira e normal.
3_TERC_8_LIT.indd 56 9/9/13 10:51 AM

57LITERATURA TERCEIRÃO 8
É a Sevilha que há nos seus poços,
se há poço ou não, pouco importa;
a Sevilha que dá às sevilhanas
lições de Sevilha, de fora.MELO NETO, João Cabral de. In: Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.
* Referência a Triana, tradicional bairro sevilhano.
Mais uma vez, o poeta se dispõe a aprender com
o mundo. Aqui, as lições são dadas pela cidade espa-
nhola de Sevilha. No entanto, assim como em “A
educação pela pedra” a lição era dada “para quem
soletrá-la”, isto é, para quem se dispusesse ao apren-
dizado, aqui também se exige concentração para o
que só pode ser observado com atenção, por estar
além da paisagem convencional (“Sevilha cartão-
-postal”, “turístico-anedótica”), nos “poços” da cida-
de, isto é, nas suas entranhas.
5 Metalinguagem
Os poemas transcritos até aqui evidenciam um
traço fundamental da poética de João Cabral: a ten-
dência a refletir sobre a arte. Esse interesse o condu-
ziria para além de seus próprios versos, como
mostram os textos que escreveu a respeito do artista
plástico espanhol Joan Miró (1893 -1983).
Em João Cabral, o exercício da metalinguagem
funcionou como reforço da inclusão de sua poesia no
mundo e no tempo. Seus versos rejeitam o isolamen-
to da torre de marfim, o distanciamento social, e
buscam decididamente a comunicação, o contato
com o leitor. O esforço para corresponder a esse de-
sejo vale a pena, pois a poesia de João Cabral trans-
mite ao leitor as lições que aprende: jamais voltar-se
para o superficial, preferindo sempre a imersão ver-
tical, para captar o que permanece, o que resiste –
exatamente como a pedra.
O estilo enxuto da poesia de João Cabral, que
buscava evitar o sentimentalismo, tinha suas raízes
na obra do escritor Graciliano Ramos, cuja herança
o poeta reconhecia explicitamente.
Graciliano Ramos:
Falo somente com o que falo:
com as mesmas vinte palavras
girando ao redor do sol
que as limpa do que não é faca:
de toda uma crosta viscosa,
resto de janta abaianada,
que fica na lâmina e cega
seu gosto de cicatriz clara.
Falo somente do que falo:
do seco e de suas paisagens,
Nordeste, debaixo de um sol
ali do mais quente vinagre:
que reduz tudo ao espinhaço,
cresta o simplesmente folhagem,
folha prolixa1, folharada,
onde possa esconder-se na fraude.
Falo somente por quem falo:
por quem existe nesses climas
condicionados pelo sol,
pelo gavião e outras rapinas:
e onde estão os solos inertes
de tantas condições caatinga
em que só cabe cultivar
o que é sinônimo de míngua.
Falo somente para quem falo:
quem padece sono de morto
e precisa de um despertador
acre2, como o sol sobre o olho:
que é quando o sol é estridente,
a contrapelo3, imperioso,
e bate nas pálpebras como
se bate numa porta a socos.
MELO NETO, João Cabral de. In: Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.
1. Que usa palavras em demasia.
2. Que tem sabor amargo, ácido, azedo.
3. Desfavorável, adverso.
Os dois-pontos que se seguem ao nome de Graci-
liano Ramos, no título do poema, insinuam que os
versos se dirigem ao escritor, reproduzem uma fala
sua ou, ainda, servem para defini-lo. Seja como for,
o poeta afirma uma mesma coisa: ao falar do outro,
está também falando de si mesmo. O poeta alinha
aqui quatro fatores que condicionam tanto sua fala
poética quanto a prosa de Graciliano: “com o que
falo” (estrofes 1 e 2) sugere a linguagem que busca a
precisão expressiva e que evita o excesso dispensá-
vel; “do que falo” (estrofes 3 e 4) indica uma temática
mais forte nos dois autores, a da seca; “por quem
falo” (estrofes 5 e 6) explicita a disposição de traduzir
a alma sertaneja; “para quem falo” (estrofes 7 e 8)
escancara a necessidade de denunciar as mazelas
sociais para comover (e mover) quem entra em con-
tato com a obra dos dois escritores.
3_TERC_8_LIT.indd 57 9/9/13 10:51 AM

58TERCEIRÃO 8 LITERATURA
6 Morte e vida severina (1954 -1955)
Morte e vida severina tem como subtítulo: Auto
de natal pernambucano. Auto por se tratar de uma
peça de teatro curta (apenas um ato), e escrita em
versos, seguindo uma tradição ibérica de origem
medieval; natal por fazer referência a um nascimen-
to; e, finalmente, pernambucano por ter Pernam-
buco como cenário. Os versos curtos remetem ainda
aos textos teatrais da Idade Média, como os do por-
tuguês Gil Vicente.
Nos anos 1960, a peça foi encenada por um grupo
de jovens atores do Tuca (Teatro da Universidade Ca-
tólica de São Paulo) com uma novidade: os versos de
João Cabral foram musicados por um compositor ini-
ciante, Chico Buarque de Hollanda. O título da peça
chama a atenção ao promover uma curiosa inversão
entre vida e morte, colocando esta última em primeiro
lugar. O enredo da peça explica essa mudança. Além
disso, a expressão severina é neologismo, um nome
próprio transformado em adjetivo. Esse procedimento
sugere que a personagem em torno do qual girará o
auto, o retirante Severino, funciona como síntese de
todos aqueles que migram para as cidades, fugindo às
dificuldades da seca nordestina.
O retirante explica ao leitor quem é e a que vai
– O meu nome é Severino
não tenho outro de pia.
Como há muitos Severinos,
que é santo de romaria,
deram então de me chamar
Severino de Maria;
como há muitos Severinos
com mães chamadas Maria,
fiquei sendo o da Maria
do finado Zacarias.
Mas isso ainda diz pouco:
há muitos na freguesia,
por causa de um coronel
que se chamou Zacarias
e que foi o mais antigo
senhor desta sesmaria.
Como então dizer quem fala
ora a Vossas Senhorias?
Vejamos: é o Severino
da Maria do Zacarias,
lá da serra da Costela,
limites da Paraíba.
Mas isso ainda diz pouco:
se ao menos mais cinco havia
com nome de Severino
filhos de tantas Marias
mulheres de outros tantos,
já finados Zacarias,
vivendo na mesma serra
magra e ossuda em que eu vivia.
Somos muitos Severinos
iguais em tudo na vida:
na mesma cabeça grande
que a custo é que se equilibra,
no mesmo ventre crescido
sobre as mesmas pernas finas,
e iguais também porque o sangue
que usamos tem pouca tinta.
E se somos Severinos
iguais em tudo na vida,
morremos de morte igual,
mesma morte severina:
que é a morte de que se morre
de velhice antes dos trinta,
de emboscada antes dos vinte,
de fome um pouco por dia
[...]MELO NETO, João Cabral de. In: Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.
Com essa fala inicial, Severino se apresenta aos
leitores/espectadores. Note-se que, ao fazê-lo, tenta
se particularizar, mas acaba por demonstrar que,
como ele, existem muitos outros: “Somos muitos
Severinos / iguais em tudo na vida”. A partir desse
ponto, ele traça um perfil dos nordestinos submeti-
dos às dificuldades de sobrevivência que acaba por
levar à “velhice antes dos trinta”.
Fugindo da seca, Severino busca a vida. Porém,
trava, ao longo de sua jornada, uma sucessão de en-
contros com a morte: um defunto que é conduzido ao
cemitério; mulheres que choram a morte de um mora-
dor local; o desaparecimento do próprio rio que ele
segue em sua jornada rumo ao litoral, e que também é
vítima da seca; e, ainda, o funeral de um lavrador.
Assiste ao enterro de um lavrador de eito1 e ouve o que
dizem do morto os amigos que o levaram ao cemitério
– Esta cova em que estás
com palmos medida
é a conta menor
que tiraste em vida.
– É de bom tamanho,
nem largo nem fundo,
é a parte que te cabe
deste latifúndio.
– Não é cova grande,
é cova medida,
é a terra que querias
ver dividida.
3_TERC_8_LIT.indd 58 9/9/13 10:51 AM

59LITERATURA TERCEIRÃO 8
– É uma cova grande
para teu pouco defunto,
mas estarás mais ancho2
que estavas no mundo.
– É uma cova grande
para teu defunto parco3,
porém mais que no mundo
te sentirás largo.
– É uma cova grande
para tua carne pouca,
mas a terra dada
não se abre a boca.MELO NETO, João Cabral de. In: Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.
1. Trabalho de limpeza de uma plantação.
2. Largo, espaçoso.
3. Minguado, escasso, magro.
O trecho transcrito reafirma a luta pela terra que
marca a vida do sertanejo nordestino. É sugerido aqui
que a seca é apenas um dos fatores a expulsá-lo de seu
ambiente. A exploração do latifúndio e a batalha desi-
gual que ele trava contra os grandes proprietários aca-
bam também por fazer dele uma vítima: seja com a
morte, seja com o abandono do lugar. O trecho traz a
nota do humor amargo, ácido, que está presente na lin-
guagem da peça, na ironia da situação do lavrador que,
morto, recebe finalmente a terra pela qual tanto lutou.
O embate entre a vida buscada e a morte encontra-
da continua até mesmo no destino final do retirante, a
cidade do Recife. Ao descobrir que as perspectivas de
vida, ali, são igualmente nulas, Severino oscila entre
manter-se vivo e entregar-se à morte. José, um mestre
carpina (isto é, carpinteiro) tenta demovê-lo da opção
pela morte, apresentando como argumento a reafir-
mação da vida representada pelo nascimento de seu
filho, que acaba de ocorrer. Depois de celebrar a che-
gada da criança, o mestre carpina se dirige a Severino.
O carpina fala com o retirante que esteve de fora,
sem tomar parte em nada
Severino retirante,
deixe agora que lhe diga:
eu não sei bem a resposta
da pergunta que fazia,
se não vale mais saltar
fora da ponte e da vida;
nem conheço essa resposta,
se quer mesmo que lhe diga;
é difícil defender,
só com palavras, a vida,
ainda mais quando ela é
esta que vê, severina;
mas se responder não pude
à pergunta que fazia,
ela, a vida, a respondeu,
com sua presença viva.
E não há melhor resposta
que o espetáculo da vida:
vê-la desfiar seu fio,
que também se chama vida,
ver a fábrica que ela mesma,
teimosamente, se fabrica,
vê-la brotar como há pouco
em nova vida explodida;
mesmo quando é assim pequena
a explosão, como a ocorrida;
mesmo quando é uma explosão
como a de há pouco, franzina;
mesmo quando é a explosão
de uma vida severina.MELO NETO, João Cabral de. In: Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.
Essa é a fala final da peça, e nela se explicita a luta
entre o desespero, representado pela dúvida do reti-
rante diante das possibilidades da vida e da morte, e a
esperança, consubstanciada no recém-nascido. O nas-
cimento (que explica a classificação da peça como um
auto de natal) justifica a inversão do título: depois de
tantos encontros com a morte, finalmente Severino
encontra a vida. A cena transmite uma mensagem de
esperança: a possibilidade de vitória da resistência
contra a persistência da morte.
TEXTO PARA A QUESTÃO 1
1
5
10
15
Tecendo a manhã
Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.
E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.MELO NETO, João Cabral de. In: Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.
3_TERC_8_LIT.indd 59 9/9/13 10:51 AM

60TERCEIRÃO 8 LITERATURA
1. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o poema anterior:
a) Na primeira estrofe, as rimas são formadas pela repeti-
ção de uma mesma palavra, alternada em singular/plu-
ral; essa alternância já convoca o tema da união a partir
de um canto que é individual, mas que se coletiviza.
b) Na segunda estrofe, temos rimas consoantes, contando
ainda com a exploração da homofonia entre “todos” e
“toldos”; as rimas finais em “ão”, propositadamente po-
bres, contribuem para criar a imagem do balão inflado.
c) Trata-se de uma apologia da comunhão, aqui alegori-
zada na imagem dos galos que, com seus gritos anun-
ciadores do sol, parecem tecer a manhã, até construir
um toldo formado pelo cruzamento dos cantos.
d) Os versos 3 a 10 formam um único período, como a
representar um espaço para fazer caber todos os ga-
los, promovendo a incorporação formal do tema da
solidariedade.
� e) A primeira estrofe apresenta o elogio da ação indivi-
dual, e a segunda indica a reação dos seguidores,
formando um grupo coeso em torno do indivíduo; o
poema pode ser interpretado, assim, como uma ale-
goria da liderança política.
2. (ENCCEJA)
E se somos muitos Severinos
iguais em tudo na vida,
morremos de morte igual,
mesma morte severina,
que é a morte de que se morre
de velhice antes dos trinta,
de emboscada antes dos vinte,
de fome um pouco por dia
(de fraqueza e de doença
é que a morte severina
ataca em qualquer idade,
e até gente não nascida).MELO NETO, João Cabral de. Morte e vida severina.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999.
As repetições de palavras e de estruturas presentes nes-
te trecho de Morte e vida severina são recursos expressi-
vos que pretendem mostrar que:
a) a vida no sertão nordestino é diferente de pessoa
para pessoa.
b) Severino conhece muitas pessoas com o mesmo no-
me que o seu.
c) há muitas mulheres com o nome de Severina no ser-
tão nordestino.
� d) a fome e a miséria atingem muitos habitantes do
sertão nordestino.
3. (Fuvest-SP)
Mas não senti diferença
entre o Agreste e a Caatinga,
e entre a Caatinga e aqui a Mata
a diferença é a mais mínima.
Está apenas em que a terra
é por aqui mais macia;
está apenas no pavio,
ou melhor, na lamparina:
pois é igual o querosene
que em toda parte ilumina,
e quer nesta terra gorda
quer na serra, de caliça,
a vida arte sempre com
a mesma chama mortiça.MELO NETO, João Cabral de. Morte e vida severina.
Neste excerto, o retirante, já chegado à Zona da Mata,
reflete sobre suas experiências, reconhecendo uma dife-
rença e uma semelhança entre as regiões que conhece-
ra ao longo de sua viagem. Considerando o excerto no
contexto da obra a que pertence,
a) explique sucintamente em que consistem a diferença
e a semelhança reconhecidas pelo retirante.
O retirante se refere à Zona da Mata qualificando-a
como terra “mais macia” e “terra gorda”, contras-
tando com a secura e a magreza associadas à Caa-
tinga. No entanto, há, sob essas diferenças, uma
forte identidade na mesma condição “severina”, isto
é, nas mesmas dificuldades enfrentadas pelos habi-
tantes dos dois espaços.
b) Depois de chegar ao Recife, o retirante mudará subs-
tancialmente o julgamento que expressa neste excer-
to? Justifique brevemente sua resposta.
Não. Ao chegar ao Recife, o retirante encontrará a
mesma falta de esperança e de perspectiva que já
conhecia e enfrentava desde o início de sua viagem.
TAREFA MÍNIMA
t� Leia o texto da aula.
Caderno de Exercícios
t� Faça os exercícios 1 e 2.
TAREFA COMPLEMENTAR
Caderno de Exercícios
t� Faça os exercícios 3 a 5.
3_TERC_8_LIT.indd 60 9/9/13 10:51 AM

61LITERATURA TERCEIRÃO 8
1 Concretismo
Continuidade, de Max Bill, 1986.
O escultor suíço Max Bill (1908 -1994) é tido como
um dos mais influentes designers do século XX, conhe-
cido também por ser um artista que abraçou o conceito
de arte concreta que se desenvolveu na Europa a partir
da década de 1930, em oposição às propostas de arte
abstrata. A escultura acima é uma das muitas criadas
pelo artista que trabalham variações da ideia do infini-
to, representada ali por intermédio da indeterminação
do início e do fim da figura, o que sugere um movimen-
to contínuo.
Com a proposta de buscar a pureza e o rigor for-
mal na ordem harmônica do universo, Max Bill foi
muito influenciado pelas ideias da escola Bauhaus (a
mais importante expressão do Modernismo no de-
sign e na arquitetura) e defendia em seu trabalho que
a matemática é o meio mais eficiente para o conheci-
mento da realidade objetiva e que uma obra plástica
deve ser ordenada pela geometria e pela clareza da
forma.
A vertente literária da arte concreta teve início no
Brasil em 1956. A Exposição Nacional de Arte Concre-
ta, ocorrida em São Paulo, ficou marcada como o lan-
çamento da poesia concreta brasileira.
2 A poesia concreta no Brasil
Os jovens intelectuais paulistas – Augusto de Cam-
pos (1931), Décio Pignatari (1927 -2012) e Haroldo de
Campos (1929 -2003) – já buscavam possibilidades re-
novadoras para a poesia desde o lançamento, em 1952,
da revista Noigandres (palavra tirada de um texto do
poeta norte-americano Ezra Pound).
Em pleno apogeu desenvolvimentista de São
Paulo, os autores propunham uma expressão artísti-
ca que significasse uma reação à poesia intimista e
estetizante dos anos 1940. A poesia concreta buscava
levar às últimas consequências certos processos es-
truturais que marcaram o Futurismo, o Dadaísmo e,
em parte, o Surrealismo. A grande inspiração, po-
rém, era o poeta Oswald de Andrade, principalmen-
te pela economia linguística de seus poemas-pílula
que marcaram época na década de 1920.
O cerne das propostas dos concretistas é a supera-
ção do verso como unidade rítmico-formal, procu-
rando estruturar o texto poético a partir de seu
suporte, sendo ele a página do livro em branco ou
não. Além disso, o concretismo na poesia gerou uma
série de inovações que contribuíram para o desenvol-
vimento de uma nova maneira de se pensar poesia.
© E
du
ard
o K
nap
p/F
olh
apre
ss
Décio Pignatari entre os irmãos Campos (Augusto e Haroldo): os primei-
ros componentes do grupo concretista brasileiro.
3 As inovações propostas pela poesiaconcreta
Para o crítico Alfredo Bosi, os concretistas têm
como ponto de partida de sua poética o simbolista
francês Mallarmé, que teria sido o autor do primeiro
poema em que a comunicação não se faz no nível do
tema, mas no da própria estrutura verbo-visual. De-
pois disso, nomes como Maiakovski (poeta russo),
Marinetti (idealizador do futurismo italiano), além de
Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade e
João Cabral de Melo Neto, também teriam sido im-
portantes no desenvolvimento das inovações da poe-
sia concreta.
POESIA CONCRETA
© H
aag
s G
em
ee
nte
mu
seu
m, T
he
Hag
ue
, Ho
lan
da
3_TERC_8_LIT.indd 61 9/9/13 10:51 AM

62TERCEIRÃO 8 LITERATURA
Inovação semântica
Há, no poema concreto, a busca pela comunica-
ção visual, não verbal, imediata. O poema funciona
como um ideograma que possui um significado nele
mesmo.
Psiu!
© A
ug
ust
o d
e C
amp
os
CAMPOS, Augusto de. Psiu!. In: Viva Vaia –
Poesia 1949 -1979. São Paulo: Brasiliense, 1986.
A proposta gráfica do poema – associada à leitura
das palavras que cercam os lábios vermelhos –
transmite a ideia de circularidade e intenso movi-
mento. Os termos sobrepostos com diferentes tipos
e tamanhos de letras dão a impressão de vida e ba-
rulho. O título sugere um chamado “psiu!” e tudo
parece atrair a atenção do interlocutor. Outra leitura
possível é que a vida, sugerida pelo vermelho da
boca, é oprimida por tanta informação e notícia. As-
sim, o “psiu” pode ser entendido como um alerta
para que a vida não se esvaia completamente.
Inovação sintática
Os tradicionais laços sintáticos (preposições, con-
junções e pronomes, por exemplo) são eliminados
do texto, o que gera uma poesia objetiva, composta
principalmente de substantivos e verbos.
Pós-Tudo, poema concreto de Augusto de Campos.
A partir dos verbos mudar e querer, Augusto de
Campos constrói um texto que aborda a questão do
desejo da mudança e a perplexidade frente ao novo,
que se percebe diferente e não sabe exatamente como
agir. Importante observar a ambiguidade da palavra
final: ao mesmo tempo em que sugere silêncio e imo-
bilidade frente à novidade, também pode ser a conju-
gação do verbo mudar em primeira pessoa, o que
indica a continuidade da mudança.
Inovação lexical
O poema concreto utiliza neologismos frequente-
mente, explorando muitas vezes também a força ex-
pressiva de palavras oriundas de outros idiomas
(estrangeirismos) e termos técnicos (tecnicismos).
durassolado solumano
petrificado corpumano
amargamado fardumano
agrusurado servumano
capitalienado gadumano
massamorfado desumanoJosé Lino Grunewald
Composto quase totalmente com palavras criadas
por justaposição, o poema propõe uma reflexão sobre
o peso da vida marcada pelo trabalho e pela alienação
política. O termo humano é várias vezes transforma-
do, percorrendo uma trajetória que vai de “corpuma-
no” até “desumano”, substantivos que ganham mais
força e sentido pela aproximação de neologismos co-
mo “servumano” e “capitalienado”.
Inovação morfológica
A desintegração das palavras, separando sufixos,
prefixos e radicais, também é um procedimento co-
mum nos poemas concretos, o que propõe uma nova
leitura da palavra como unidade de significado e,
consequentemente, das ideias expressas no texto.
Epitáfio para um banqueiro
n e g ó c i oe g o
ó c i oc i o
0José Paulo Paes
Considerando o significado da palavra epitáfio
(algo que se escreve sobre um túmulo) compreende-
-se que o poema faz uma síntese da vida de um ban-
queiro. Tendo o negócio como motivação principal,
a palavra do primeiro verso é desmembrada para
compor os outros versos e, por isso, é chamada de
palavra-valise. Dentro dela encontram-se o ego, o
ócio e o cio que terminam compondo uma operação
© A
ug
ust
o d
e C
amp
os
3_TERC_8_LIT.indd 62 9/9/13 10:51 AM

63LITERATURA TERCEIRÃO 8
aritmética que tem zero (0) como resultado, o que
aponta para a conclusão de que a vida do banqueiro
acabou completamente anulada.
Inovação fonética
A formação de jogos sonoros por meio de figuras
de repetição como aliterações e assonâncias também
é uma constante.
Patacoada
A pata empata a pata
porque cada pata
tem um par de patas
e um par de patas
um par de pares de patas.
Agora, se se engata
pata a pata
cada pata de um par de pares de patas,
a coisa nunca mais desata
e fica mais chata
do que pata de pataJosé Paulo Paes
O poema é marcado pela assonância da vogal a e
pela repetição da palavra pata. Além disso, a consoan-
te t também é repetida em palavras como empata,
engata, desata e chata, o que atribui ao texto uma
sonoridade muito particular. Trata-se de um exemplo
de poesia para crianças e sua leitura rápida também
vale como um divertido exercício de trava-língua.
Inovação tipográfica
Uma das propostas mais radicais do grupo con-
cretista é a abolição do verso, trabalhando com a
utilização dos espaços brancos como parte constitu-
tiva dos textos. O poema concreto funciona como
uma obra de arte visual e, na maioria das vezes,
prescinde, inclusive, de sinais de pontuação.
© A
ug
ust
o d
e C
amp
os
Eis os amantes
Eis os amantes, poema concreto de Augusto de Campos.
O texto faz parte de um grupo de poemas do au-
tor intitulado “poetamenos”, em que a relação entre
as cores primárias e secundárias é a base da estrutu-
ração dos textos. Neste poema, em especial, as cores
azul (primária) e laranja (complementar) represen-
tam a figura do poeta e da amada. Como o poema
está alinhado a partir do centro da página, pode-se
dizer que os amantes possuem um eixo de força cen-
tral e que o texto se estrutura, espacial e cromatica-
mente, na fusão dos dois elementos. Mais uma vez
aparecem aqui as palavras-valise que contribuem
para a sensação de fusão entre as palavras e entre os
amantes.
TEXTO PARA AS QUESTÕES 1 E 2
© A
ug
ust
o d
e C
amp
os
Pluvial, poema concreto de Augusto de Campos.
1. Em sua fase ortodoxa, a vanguarda brasileira postulou
uma poética rigorosa, na qual o poema deveria ser cons-
truído de forma sintético-ideogrâmica. A realização des-
sa inovadora poética se deu pela utilização do branco da
página como constituinte ativo do poema e pela estru-
turação dos poemas por meio das formas geométricas.
Explique como a proposta formal contribui para a com-
preensão do sentido do texto.
O fato de a palavra pluvial aparecer na parte superior
do texto escrita verticalmente sugere o movimento da
chuva que, ao cair, transforma-se na palavra fluvial,
representada na horizontal a partir do meio do poema.
A forma final do texto, com a união das duas palavras,
representa a transformação da água das chuvas em
rios que posteriormente evaporam e voltam a se tornar
chuva.
3_TERC_8_LIT.indd 63 9/9/13 10:51 AM

64TERCEIRÃO 8 LITERATURA
2. À parte a inovação tipográfica, que propõe a eliminação
do verso, aponte outra característica inovadora da poe-
sia concreta que se materializa neste texto. Explique.
O fato de o poema ser composto apenas pelos adjetivos
pluvial e fluvial já pode ser compreendido como uma ino-
vação. Não há verbos nem sinais de pontuação no
texto. A síntese absoluta é mais um dos pressupostos
a partir dos quais se constroem poemas concretos.
3. (Enem) O poema a seguir pertence à poesia concreta bra-
sileira. O termo latino de seu título significa "epitalâmio",
poema ou canto em homenagem aos que se casam.
Considerando que símbolos e sinais são utilizados geral-
mente para demonstrações objetivas, ao serem incorpo-
rados no poema "Epithalamium – II", tais símbolos:
� a) adquirem novo potencial de significação.
b) eliminam a subjetividade do poema.
c) opõem-se ao tema principal do poema.
d) invertem seu sentido original.
e) tornam-se confusos e equivocados.
1 A Bossa Nova
O projeto desenvolvimentista do presidente Juscelino Kubitschek (1956 -1961) buscou modernizar a indústria
brasileira. O Brasil foi varrido por uma sede do novo, que se manifestaria também em algumas designações de
movimentos artísticos da época, como o Cinema Novo, a Nova Arquitetura e a Bossa Nova.
A Bossa Nova foi o resultado do encontro de três artistas: o poeta Vinicius de Moraes, o compositor Tom
Jobim e o violonista João Gilberto. Três virtuoses que estavam igualmente abertos para influências diversas
– como o jazz norte-americano e a tradição musical brasileira. João Gilberto deu voz à delicadeza das com-
posições de Tom e Vinicius, com uma execução vocal suave, minimalista, quase em sussurro, que seria a
marca registrada da Bossa Nova.
O primeiro álbum de João Gilberto, Chega de saudade, de 1959, trazia uma das músicas mais emblemáti-
cas do movimento, “Desafinado”.
ANOS 1960 MÚSICA E ARTES PLÁSTICAS
TAREFA MÍNIMA
t� Leia o texto da aula.
Caderno de Exercícios
t� Faça os exercícios 1 e 2.
TAREFA COMPLEMENTAR
Caderno de Exercícios
t� Faça os exercícios 3 e 4.
© P
ed
ro X
isto
/EN
EM
20
04
3_TERC_8_LIT.indd 64 9/9/13 10:51 AM

65LITERATURA TERCEIRÃO 8
Desafinado
Tom Jobim / Newton Mendonça
Se você disser que eu desafino amor
Saiba que isto em mim provoca imensa dor
Só privilegiados têm o ouvido igual ao seu
Eu possuo apenas o que Deus me deu
Se você insiste em classificar
Meu comportamento de antimusical
Eu mesmo mentindo devo argumentar
Que isto é Bossa Nova que isto é muito natural
O que você não sabe nem sequer pressente
É que os desafinados também têm um coração
Fotografei você na minha Rolley-Flex*
Revelou-se a sua enorme ingratidão
Só não poderá falar assim do meu amor
Este é o maior que você pode encontrar
Você com a sua música esqueceu o principal
Que no peito dos desafinados
No fundo do peito bate calado
Que no peito dos desafinados também bate um coraçãoJoão Gilberto. Chega de saudade. LP Odeon, 1959.
* Marca de máquina fotográfica da época.
Na canção, o emissor reclama do desprezo da
amada: colocada como um dos “privilegiados” que
possui ouvido capaz de perceber a afinação, a moça
não consegue perceber que o que ela toma por “com-
portamento antimusical” é, na verdade, a proclama-
ção de um novo estilo, marcado pela naturalidade
(“Isto é Bossa Nova, isto é muito natural”), entendida
como o instrumento ideal para expressar a sincerida-
de do sentimento (“no peito dos desafinados também
bate um coração”). O novo estilo nada tem de desafi-
nado, ao contrário do que pensa a ouvinte que o des-
preza: trata-se de uma elaboração melódica sofisticada.
2 Os Festivais da Canção
Edu Lobo vence o Festival de 1967 com “Ponteio”.
O advento da televisão trouxe modificações profun-
das na difusão da música brasileira. Os Festivais da
Canção veiculados por emissoras como a Excelsior e a
Record tornaram-se oportunidades de extravasamento
juvenil, tanto de artistas como do público, no momento
em que o país vivia o forte cerceamento das liberdades
civis provocado pela ação dos militares que assumiram
o governo após o golpe de 1964.
A composição vencedora do III Festival da Música
Popular Brasileira, em 1967, transmitido pela TV Record,
de São Paulo, foi “Ponteio”, de Edu Lobo e Capinam.
Ponteio*
Edu Lobo / Capinam
Era um, era dois, era cem
Era o mundo chegando e ninguém
Que soubesse que eu sou violeiro
Que me desse ou amor ou dinheiro
Era um, era dois, era cem
Vieram pra me perguntar:
“Ô, você, de onde vai, de onde vem?
Diga logo o que tem pra contar”
Parado no meio do mundo
Senti chegar meu momento
Olhei pro mundo e nem via
Nem sombra, nem sol, nem vento
Quem me dera agora
Eu tivesse a viola pra cantar
Quem me dera agora
Eu tivesse a viola pra cantar
Era um dia, era claro, quase meio
Era um canto calado sem ponteio
Violência, viola, violeiro
Era morte em redor, mundo inteiro
Era um dia, era claro, quase meio
Tinha um que jurou me quebrar
Mas não lembro de dor nem receio
Só sabia das ondas do mar
Jogaram a viola no mundo
Mas fui lá no fundo buscar
Se eu tomo a viola ponteio
Meu canto não posso parar, não
Quem me dera agora
Eu tivesse a viola pra cantar
Quem me dera agora
Eu tivesse a viola pra cantar
Era um, era dois, era cem
Era um dia, era claro, quase meio
Encerrar meu cantar já convém
Prometendo um novo ponteio
Certo dia que sei por inteiro
© A
cerv
o U
H/F
olh
apre
ss
3_TERC_8_LIT.indd 65 9/9/13 10:51 AM

66TERCEIRÃO 8 LITERATURA
Eu espero não vá demorar
Este dia estou certo que vem
Digo logo o que vim pra buscar
Correndo no meio do mundo
Não deixo a viola de lado
Vou ver o tempo mudado
E um novo lugar pra cantarIn: 3o Festival da Música Popular Brasileira. LP Philips, 1967.
* Ato de tocar instrumento de corda.
Em “Ponteio”, o cantador insiste em entoar seu
canto, a despeito do ambiente desfavorável (“Era
morte em redor, mundo inteiro”) e das ameaças que
recebe (“Tinha um que jurou me quebrar”). Em seu
gesto de resistência (“Meu canto não posso parar”)
está a esperança da chegada do tempo de liberdade
(“Este dia estou certo que vem”), que deverá ser um
“tempo mudado”, isto é, diferente daquele que se
vive – clara referência à situação política do país na-
quele momento.
3 MPB
Chico Buarque (segundo à direita) e o conjunto vocal MPB 4.
Nos anos 1940, a expressão música popular
brasileira designava a produção musical de raízes
populares. Já nos anos 1960, o termo passou a ser
sintetizado na sigla MPB e associado a uma postura
de defesa do patrimônio cultural genuinamente bra-
sileiro, contra o que se considerava uma invasão de
guitarras elétricas e sonoridades oriundas do rock
americano ou inglês.
Embora não tenha se envolvido diretamente nes-
se ataque aos instrumentos modernos, o compositor
Chico Buarque se transformou, ao longo do tempo,
em um dos principais ícones da chamada MPB. A
canção “Roda viva”, terceiro lugar no Festival de 1967
(o mesmo de “Ponteio”), foi um de seus grandes su-
cessos na época.
Roda-viva
Chico Buarque
Tem dias que a gente se senteComo quem partiu ou morreuA gente estancou de repenteOu foi o mundo então que cresceuA gente quer ter voz ativaNo nosso destino mandarMas eis que chega a roda-vivaE carrega o destino pra lá
Roda mundo, roda-giganteRodamoinho, roda piãoO tempo rodou num instanteNas voltas do meu coração
A gente vai contra a correnteAté não poder resistirNa volta do barco é que senteO quanto deixou de cumprirFaz tempo que a gente cultivaA mais linda roseira que háMas eis que chega a roda-vivaE carrega a roseira pra lá
Roda mundo…
A roda da saia, a mulataNão quer mais rodar, não senhorNão posso fazer serenataA roda de samba acabouA gente toma a iniciativaViola na rua, a cantarMas eis que chega a roda-vivaE carrega a viola pra lá
Roda mundo...
O samba, a viola, a roseiraUm dia a fogueira queimouFoi tudo ilusão passageiraQue a brisa primeira levouNo peito a saudade cativaFaz força pro tempo pararMas eis que chega a roda-vivaE carrega a saudade pra lá
Roda mundo...Chico Buarque de Hollanda – volume 3. RGE Discos, 1968.
Originalmente, a música foi composta para a peça
homônima, escrita pelo próprio compositor, que nar-
rava a história de um cantor popular engolido pelos
meios de comunicação de massa que então se instala-
vam no país. No entanto, o alcance da música se am-
plia, tratando da angústia do indivíduo que não con-
segue ter nas mãos as rédeas do próprio destino.
© E
dit
ora
Ab
ril
3_TERC_8_LIT.indd 66 9/9/13 10:51 AM

67LITERATURA TERCEIRÃO 8
4 Música de protesto
Geraldo Vandré.
Alguns representantes da Bossa Nova, como Car-
los Lyra, defendiam um envolvimento maior do mo-
vimento com as questões sociais. Após o golpe
militar de 1964, essa tendência se acentuou no meio
musical, fazendo surgir um conjunto de canções que
tinham como aspecto comum a temática social e a
expressão de revolta contra a opressão.
O maior representante dessa corrente foi Geraldo
Vandré, autor da música que se tornaria um verda-
deiro hino da resistência ao golpe de 1964 no âmbito
da música popular, “Pra não dizer que não falei das
flores”, mais conhecida como “Caminhando”.
Pra não dizer que não falei das flores
Geraldo Vandré
Caminhando e cantando e seguindo a canção
Somos todos iguais, braços dados ou não
Nas escolas, nas ruas, campos, construções
Caminhando e cantando e seguindo a canção
Vem, vamos embora, que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer
Pelos campos há fome em grandes plantações
Pelas ruas marchando indecisos cordões
Ainda fazem da flor seu mais forte refrão
E acreditam nas flores vencendo o canhão
Há soldados armados, amados ou não
Quase todos perdidos de armas na mão
Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição
De morrer pela pátria e viver sem razão
Nas escolas, nas ruas, campos, construções
Somos todos soldados armados ou não
Caminhando e cantando e seguindo a canção
Somos todos iguais, braços dados ou não
Os amores na mente, as flores no chão
A certeza na frente, a história na mão
Aprendendo e ensinando uma nova lição
In: A era dos festivais – CD que acompanha o livro A era dos festivais, de Zuza Homem de Mello. São Paulo: Editora 34, 2003.
Não por acaso, Vandré se tornou um dos principais
alvos das perseguições militares na classe artística.
“Caminhando” se coloca como uma convocação geral
dirigida a estudantes (“escolas”), trabalhadores rurais
(“campos”) e urbanos (“construções”) e, enfim, a todos
os que protestam “nas ruas”. O motivo da convocação
é explicitado: “quem sabe faz a hora, não espera acon-
tecer” – brado de revolta e estímulo à ação transforma-
dora. Uma transformação que se pretende inevitável, já
que quem a promove tem “a certeza na frente, a histó-
ria na mão”. A referência aos militares é feita com iro-
nia e força: “Nos quartéis lhes ensinam uma antiga
lição / De morrer pela pátria e viver sem razão”.
5 Jovem Guarda
A televisão tam-
bém foi palco do sur-
gimento de outro fe-
nômeno de massa, a
Jovem Guarda, de Ro-
berto Carlos e seu par-
ceiro Erasmo Carlos.
Fundando-se em uma
vertente do rock deno-
minada iê-iê-iê, surgi-
da a partir do pop eu-
ropeu (inglês e italia-
no), o movimento obteve sucesso consagrador, prin-
cipalmente após o lançamento de “Quero que vá tu-
do pro inferno”, no programa Jovem Guarda, da TV
Record, em 1965.
Quero que vá tudo pro infernoRoberto Carlos / Erasmo Carlos
De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar
Se você não vem e eu estou a lhe esperar
Só tenho você em meu pensamento
E a sua ausência é todo o meu tormento
Quero que você me aqueça nesse inverno
E que tudo o mais vá pro inferno
De que vale a minha boa vida de playboy
Se entro no meu carro e a solidão me dói
Onde quer que eu ande tudo é tão triste
Não me interessa o que de mais existe
Quero que você me aqueça nesse inverno
E que tudo o mais vá pro inferno
Não suporto mais você longe de mim
Quero até morrer do que viver assim
Só quero que você me aqueça nesse inverno
E que tudo o mais vá pro infernoRoberto Carlos, Jovem Guarda. LP CBS, 1965.
Roberto Carlos.
© A
rqu
ivo
/Ag
ên
cia
O G
lob
o
© T
eix
eir
a/C
PD
OC
JB
3_TERC_8_LIT.indd 67 9/9/13 10:51 AM

68TERCEIRÃO 8 LITERATURA
A canção exemplifica a simplicidade das músicas
da Jovem Guarda, elaboradas a partir de conceitos
básicos facilmente assimiláveis; no caso, trata-se do
conquistador que se rende ao amor verdadeiro. Do
ponto de vista formal, também há o recurso a luga-
res-comuns do vocabulário de matriz romântica,
como “céu azul” e “sol sempre a brilhar”.
6 Tropicalismo
Capa do disco Tropicalia ou panis et circencis.
Oriundos dos Festivais, mas percorrendo um cami-
nho alternativo independente, os baianos Caetano Ve-
loso e Gilberto Gil fundaram o movimento tropicalista,
de que faziam parte artistas como Gal Costa, Tom Zé e
os componentes da banda Os mutantes (Rita Lee e os
irmãos Arnaldo Baptista e Sérgio Dias). O Tropicalismo
retomava a perspectiva da Antropofagia do modernista
Oswald de Andrade para realizar, em palcos e apresen-
tações repletas de simbologia e efeitos plásticos e dra-
máticos, a união entre a informação estrangeira do rock
e a busca da expressão moderna da brasilidade.
Tropicália
Caetano Veloso
Sobre a cabeça os aviões
Sob os meus pés, os caminhões
Aponta contra os chapadões, meu nariz
Eu organizo o movimento
Eu oriento o Carnaval
Eu inauguro o monumento no planalto central
Do país
Viva a bossa, sa, sa
Viva a palhoça, ça, ça, ça, ça
O monumento é de papel crepom e prata
Os olhos verdes da mulata
A cabeleira esconde atrás da verde mata
O luar do sertão
O monumento não tem porta
A entrada é uma rua antiga, estreita e torta
E no joelho uma criança sorridente, feia e morta,Estende a mãoViva a mata, ta, taViva a mulata, ta, ta, ta, ta
No pátio interno há uma piscinaCom água azul de AmaralinaCoqueiro, brisa e fala nordestina e faróisNa mão direita tem uma roseiraAutenticando eterna primaveraE no jardim os urubus passeiam a tarde inteiraEntre os girassóisViva Maria, ia, iaViva a Bahia, ia, ia, ia, ia
No pulso esquerdo o bang-bangEm suas veias corre muito pouco sangueMas seu coraçãoBalança a um samba de tamborimEmite acordes dissonantes
Pelos cinco mil alto-falantes
Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes
Sobre mim
Viva Iracema, ma, ma
Viva Ipanema, ma, ma, ma, ma
Domingo é o fino da bossa
Segunda-feira está na fossa
Terça-feira vai à roça
Porém, o monumento é bem moderno
Não disse nada do modelo do meu terno
Que tudo mais vá pro inferno, meu bem
Que tudo mais vá pro inferno, meu bem
Viva a banda, da, da
Carmen Miranda, da, da, da da, da da daCaetano Veloso. Philips, 1990 (remasterização do LP de 1967).
“Tropicália” apresenta uma imagem do Brasil em
que a tradição e o arcaico (“palhoça”, “fala nordestina”)
se juntam ao moderno (“aviões”, “caminhões”, “pisci-
na”, “faróis”). A letra da canção abre a possibilidade
para uma leitura política. A “mão direita” figura o po-
der que, sob a máscara da pureza (sugerida na referên-
cia a uma cantiga infantil: “Na mão direita tem uma
roseira / Que dá flor na primavera"), esconde o trágico
e o grotesco (“E nos jardins os urubus passeiam a tarde
inteira entre os girassóis”). No “pulso esquerdo”, o
“bang-bang” pode ser uma referência à luta armada
conduzida por setores mais radicais, cuja fragilidade é
indicada no “pulso”, que contrasta com a força associa-
da à direita, que usa a “mão”. A despeito de sua moder-
nidade (“o monumento é bem moderno”), o país é visto
de maneira negativa, pessimista, sem possibilidade de
redenção – o que vem sugerido por imagens como:
“urubus”, “criança sorridente, feia e morta”.
© D
ivu
lgaç
ão
3_TERC_8_LIT.indd 68 9/9/13 10:51 AM

69LITERATURA TERCEIRÃO 8
7 Artes plásticas nos anos 1960
Nas artes plásticas, os anos 1960 marcam o início
da chamada era pós-moderna. Uma das principais
características desse momento artístico é a exploração
dos mais diversos elementos materiais para a criação
artística. Isso é o que torna categorias consagradas
como “pintura” ou “escultura” imprecisas quando se
tenta definir a arte contemporânea. Uma das maiores
influências desse período foi a chamada Pop Art, que
levou os artistas a se apropriarem livremente de ima-
gens e ideias advindas das modernas formas de comu-
nicação, como a televisão, a publicidade, os jornais e
as revistas em quadrinhos. A intenção é produzir uma
arte cada vez mais próxima do grande público. Nesse
sentido, o abstracionismo que predominou nos anos
1950 perde força em favor de uma retomada da figu-
ração, em propostas contestadoras intimamente anco-
radas na realidade histórica nacional.
Um dos marcos da arte do período foi a mostra
Nova Objetividade Brasileira, ocorrida em abril de
1967 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
(MAM-RJ), que reuniu diversas vertentes da vanguar-
da brasileira. A proposta mais importante era a busca
de soluções autenticamente nacionais, superando a
ideia do chamado “quadro de cavalete” para invocar o
espectador a participar intensamente da obra de arte,
de maneira não apenas visual, mas de uma forma que
envolvesse toda a sua corporalidade. É o que se verifi-
ca na obra Adoração, apresentada a seguir:
© N
els
on
Le
irn
er/
MA
SP
Adoração (Altar para Roberto Carlos). Catraca
de ferro, veludo, montagem de imagens reli-
giosas, tela pintada e neon, 1966.
Nessa obra, Nelson Leirner se apropria de ele-
mentos religiosos e populares de modo a questionar
a relação do público com os seus ídolos. A imagem
de Roberto Carlos – ícone da música jovem nos anos
1960 – é apresentada com os contornos em lâmpadas
neon, em meio a imagens religiosas. Tudo isso em
um ambiente introspectivo, cercado por cortinas.
Contudo, para entrar nesse espaço de “adoração”, é
necessário passar por uma catraca, objeto que con-
trola a acesso de pessoas, mediante pagamento. Isso
sugere o interesse mercantil no culto às celebridades.
Hélio Oiticica e a Tropicália
Hélio Oiticica (1937 -1980)
foi um dos mais influentes
artistas dos anos 1960. Suas
obras exploravam o que ele
chamava de antiarte, pois
buscavam desmistificar o
conceito de arte como algo
afastado do mundo real e
cotidiano. Para isso, o artista
esperava que os espectado-
res tivessem uma participa-
ção ativa na construção do significado de suas obras,
abandonando a posição de observação contemplati-
va para vivenciar a obra de arte numa experiência
multissensorial, seja penetrando-a – no caso dos
ambientes –, seja vestindo-a, como no caso dos seus
famosos parangolés, espécie de capas coloridas
com inscrições de poesias.
Oiticica foi um artista polêmico. Ele expunha suas
convicções de maneira criativa, sempre despertando a
curiosidade e a reflexão do público. Fascinado pelo
Carnaval carioca, o artista mergulhou na cultura do
samba e dos morros da cidade. Em 1965, foi expulso
de uma exposição de Arte Moderna e, em represália,
trouxe membros da escola de samba Mangueira –ves-
tidos com parangolés – para protestar em frente ao
Museu de Arte Contemporânea do Rio de Janeiro. Em
1968, em plena época de endurecimento das repres-
sões na ditadura, Oiticica chocou a opinião púbica
nacional com o estandarte “Seja Marginal, Seja Herói”.
Tropicália, de Hélio Oiticica, 1967.
© C
lau
dio
Oit
icic
a©
Cla
ud
io O
itic
ica
Hélio Oiticica.
3_TERC_8_LIT.indd 69 9/9/13 10:51 AM

70TERCEIRÃO 8 LITERATURA
Tropicália é uma instalação (ambiente artístico
criado em galerias ou museus) apresentada pela pri-
meira vez em 1967. Uma espécie de labirinto, com
areia e pedras pelo chão, que remetia aos becos e
ruelas das favelas cariocas. Nas passagens penetrá-
veis de Tropicália havia diversas referências à cultura
tropical brasileira, como araras, plantas, pedras, so-
noridades típicas. Segundo o seu criador, tratava-se
de um ambiente que “ruidosamente apresenta ima-
gens”. Caetano Veloso compôs uma canção com o
mesmo nome da obra de Oiticica, que acabou por
dar nome ao movimento “Tropicalismo”.
Lygia Clark e a dessacralização da arte
A artista mineira Lygia Clark (1920 -1988), depois
de participar do movimento concretista, seguiu um
caminho menos racionalista da produção artística. A
superação dos papéis preestabelecidos entre produ-
tor/obra/espectador é uma das bases de seu experi-
mentalismo. Assim como Oiticica, a artista incentivava
a arte a se tornar uma vivência de apropriação não
apenas de caráter intelectual, mas, também, física.
Para isso, criou, por exemplo, esculturas livremente
moldáveis, de maneira a que cada espectador pudes-
se fazer, a partir de sua própria vontade e inspiração,
formas novas.
© L
ygia
Cla
rk
Obra mole, de Lygia Clark.
Para Lygia, a inovação deve ser um elemento
constituinte do objeto artístico. A artista criava for-
mas em materiais maleáveis e as pendurava em es-
cadas ou paredes. A imprevisibilidade da forma final
fazia parte do jogo criativo. Outra de suas composi-
ções explorava formas rígidas unidas por dobradi-
ças. O espectador podia manipulá-las como bem
entendesse, criando um jogo de invenção que diluía
o conceito de autor na obra de arte.
Dois nomes paralelos na arte dos anos 1960:
Tomie Ohtake e Frans Krajcberg
Embora os nomes de Tomie Ohtake e Frans Krajc-
berg não sejam associados imediatamente à arte dos
anos 1960 – talvez porque continuem ativos até os dias
de hoje –, seus trabalhos desenvolveram característi-
cas próprias que merecem ser aqui lembradas.
Tomie Ohtake
© C
leo
Ve
lled
a/Fo
lhap
ress
A razão sobre a emoção: Tomie Ohtake.
Tomie Ohtake nasceu no Japão em 1913 e naturali-
zou-se brasileira nos anos 1940. Seu trabalho segue um
caminho muito particular no quadro da arte da década
de 1960, recusando a figuração e as referências ao mun-
do real ao explorar o abstracionismo em profundos estu-
dos de forma e de cor. A artista também se notabilizou
pela construção de grandes esculturas, que hoje enri-
quecem o espaço público de várias cidades brasileiras.
© In
stit
uto
To
mie
Oh
take
, São
Pau
lo
Sem título, 1968.
Ohtake explora a cor e as formas em seu estado
puro, sem nenhuma intenção figurativa. A aparente
simplicidade de suas telas esconde pensamentos com-
plexos e um domínio paciente da linha e das várias
camadas de cores – o que faz lembrar a arte oriental da
caligrafia. Diz a pintora: “Eu nunca pintei com o emo-
cional. Sempre pintei mais friamente. É sempre colo-
3_TERC_8_LIT.indd 70 9/9/13 10:51 AM

71LITERATURA TERCEIRÃO 8
cando camada, camada, camada. Colocando muitas
cores, camada, camada até chegar onde eu quero. O
gesto era bem mais calmo, caía sempre sobre a tela e
seguia uma direção que era mais mental”. Muitas de
suas obras nem sequer apresentam títulos, numa recu-
sa à palavra, que indica a predominância da imagem
sobre qualquer outro tipo de discurso.
A consciência revoltada do planeta: Frans Krajcberg
O polonês Frans Krajcberg nasceu em 1921. Com
27 anos, transferiu-se para o Brasil após perder a
família em campos de concentração durante a Se-
gunda Guerra Mundial. Seu trabalho esteve desde
sempre ligado à defesa e preservação da natureza,
mesmo quando o discurso ecológico não estava tão
em voga como nos dias de hoje. Para Krajcberg, a
natureza não funciona apenas como tema, mas como
matéria-prima de seu processo criativo: o artista
busca materiais calcinados depois de queimados e
os reaproveita, incorporando neles cores e formas.
© F
ran
s K
rajc
be
rg
Floração, de Krajcberg,
1968, feita a partir
de relevo em flores e
madeira pintada.
Em depoimentos, Frans Krajcberg afirma que a
terrível experiência da guerra o desiludiu dos seres
humanos, o que o levou a buscar refúgio em am-
bientes naturais. Mas o contato com ecossistemas
brasileiros apresentou outra faceta terrível da ação
humana na Terra: o desmatamento e as queimadas.
A recolha de troncos queimados de madeira e o seu
reaproveitamento artístico fez de Krajcberg um dos
artistas mais expressivos e atuantes do cenário cul-
tural brasileiro. Seu empenho e valor artístico são
reconhecidos internacionalmente.
1. (Fuvest-SP) Leia os seguintes versos de “Alegria, alegria”,
de Caetano Veloso, e, em seguida, os dois comentários
em que os autores explicam por que essa canção é uma
de suas prediletas.
Alegria, alegria
Caminhando contra o vento
Sem lenço e sem documento
No sol de quase dezembro
Eu vou
O Sol1 se reparte em crimes
Espaçonaves, guerrilhas,
Em Cardinales2 bonitas
Eu vou
Em caras de presidentes
Em grandes beijos de amor
Em dentes, pernas, bandeiras
Bomba e Brigitte Bardot3
[...]
Ela pensa em casamento
E eu nunca mais fui à escola
Sem lenço e sem documento
Eu vou
Eu tomo uma coca-cola
Ela pensa em casamento
Uma canção me consola
Eu vou
Por entre fotos e nomes
Sem livros e sem fuzil
Sem fome, sem telefone
No coração do BrasilCaetano Veloso. In: <www.caetanoveloso.com.br>.
1. Jornal de vanguarda, à época.
2. Referência a Claudia Cardinale, atriz italiana.
3. Famosa atriz francesa.
I. “A linguagem era nova, cheia de referências visuais,
e tudo estava ali, combinando temas que nem
sempre precisam combinar: despreocupação, en-
gajamento político, tecnologia, lirismo...” (Laura de
Mello e Souza. Adaptado.)
a) Transcreva um verso que ilustre, de modo mais ex-
pressivo, o que está destacado nesse comentário.
Justifique sua escolha.
O verso “Espaçonaves, guerrilhas” reúne os dois ele-
mentos destacados no comentário, isto é, tecnolo-
gia (“espaçonaves”: referência à corrida espacial que
então se iniciava) e política (“guerrilhas”: uma das
estratégias de luta contra o regime militar instaura-
do em 1964).
3_TERC_8_LIT.indd 71 9/9/13 10:51 AM

72TERCEIRÃO 8 LITERATURA
II. “A canção era importante pela força mágica de afir-
mar a potência criativa da vida em meio à fragmenta-
ção do mundo”. (Jurandir Freire Costa. Adaptado.)
b) Transcreva um verso que exemplifique, de modo
mais evidente, o que está destacado nesse comentá-
rio. Justifique sua escolha.
Os versos que evidenciam mais fortemente a visão
fragmentada são: “Em dentes, pernas, bandeiras” e
“Bomba e Brigitte Bardot”. Neles, misturam-se a
referência erótica (“dentes”, “pernas” e “Brigitte
Bardot”) e política (“bandeiras” – evidência do na-
cionalismo engendrado pelo golpe de 1964 – e “bom-
bas” – referência, no plano externo, à corrida arma-
mentista e, no interno, ao enfrentamento do regime
pelas ações da guerrilha armada).
2. (Fuvest-SP)
[...]
Num tempo
Página infeliz da nossa história
Passagem desbotada na memória
Das nossas novas gerações
Dormia
A nossa pátria mãe tão distraída
Sem perceber que era subtraída
Em tenebrosas transações
[...]“Vai passar”, de Chico Buarque e Francis Hime.
a) É correto afirmar que o verbo dormia tem uma cono-
tação positiva, tendo em vista o contexto em que ele
ocorre? Justifique sua resposta.
Não. Dormia tem conotação negativa no trecho, já
que serve para denunciar a distração da “nossa pá-
tria mãe”, incapaz de perceber a ocorrência de “tene-
brosas transações”.
b) Identifique, nos três últimos versos, um recurso ex-
pressivo sonoro e indique o efeito de sentido que ele
produz. Não considere a rima “distraída” / “subtraída”.
A aliteração da consoante /s/ sugere a atmosfera
de surdina em que ocorrem as “tenebrosas transa-
ções”. Além disso, a repetição da consoante /t/ su-
gere a agressividade própria do regime autoritário
que dominava o país no tempo da canção.
IMAGEM E TEXTO PARA A QUESTÃO 3
Bandeira-poema Seja marginal, seja herói, de Hélio Oiticica, 1968.
A arte contemporânea é intervenção crítica na cul-
tura, convidando a uma experiência de subversão – e,
eventualmente, de reflexão sobre o sujeito e o mundo
[...].RIVERA, Tania. A criação crítica: Oiticica com Lacan. Disponível em:
<www.uva.br/trivium/edicoes/edicao-i-ano-ii/artigos-tematicos/ar-tem1-oiticica-com-lacan.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2013.
3. Considerando o comentário crítico anterior, de que ma-
neira a obra “Seja marginal, seja herói” pode ser conside-
rada uma “experiência de subversão” no contexto social
brasileiro do final dos anos 1960?
Certamente a obra de Oiticica proporcionava essa “ex-
periência de subversão”. Propõe-se uma “intervenção
crítica” na sociedade, pois Oiticica considera o marginal
(entendido como um sujeito delinquente, um “fora da
lei”) um herói, ou seja, um modelo de comportamento.
Tal mensagem “subversiva” é acentuada ainda pela cor
vermelha do estandarte, o que seria facilmente asso-
ciado à cor do comunismo, no período da Guerra Fria.
TAREFA MÍNIMA
t� Leia o texto da aula.
Caderno de Exercícios
t� Faça os exercícios 1 e 2.
TAREFA COMPLEMENTAR
Caderno de Exercícios
t� Faça os exercícios 3 e 4.
© D
ivu
lgaç
ão
3_TERC_8_LIT.indd 72 9/9/13 10:51 AM

73LITERATURA TERCEIRÃO 8
1 Breve histórico do cinema brasileiro no início do século XX
A produção do cinema nacional iniciou-se nos
anos 1930, mas efetivou-se nos anos 1950, com a im-
plantação de grandes estúdios de produção cinema-
tográfica que acompanhou a euforia de uma ideologia
nacional-desenvolvimentista que acreditava na possi-
bilidade de crescimento do cinema nacional. O ritmo
de produção do cinema brasileiro atingiu então um
esquema industrial, principalmente em São Paulo, em
filmes que valorizavam manifestações de cunho fol-
clórico, como O cangaceiro (1953), por exemplo.
Ainda no início da década de 1950, algumas ideias
com potencial transformador começaram a ganhar
força nos meios de produção cinematográfica. O cine-
asta Nelson Pereira dos Santos defendia uma produ-
ção voltada para a reflexão em torno da realidade
nacional.
Nelson Pereira dos Santos
© P
atrí
cia
San
tos/
Folh
apre
ss
Nelson Pereira dos Santos (1928) é o primeiro ci-
neasta brasileiro a ocupar uma cadeira na Academia
Brasileira de Letras.
Iniciou um processo de transformação do cinema
brasileiro desde seu primeiro longa-metragem, Rio 40
graus, de 1955, que apresentava a vida difícil nas fave-
las cariocas em contraste com a futilidade da zona sul.
É o responsável pela criação de um dos filmes mais
premiados de todo o cinema nacional, considerado
uma obra-prima: Vidas secas, finalizado em 1963,
adaptação do romance de Graciliano Ramos.
Glauber Rocha
Baiano de Vitória da Con-
quista, Glauber Rocha (1939-
-1981) fundou, ao lado de
seus amigos, em 1956, a
Coo pe rativa Cinematográfi-
ca Yemanjá, e era visto pela
ditadura militar como um
elemento subversivo. Reali-
zou três filmes fundamentais
para a história do cinema nacional, nos quais uma
crítica social feroz se alia a uma forma de filmar que
pretendia cortar radicalmente com o estilo america-
no: Deus e o Diabo na terra do sol (1964), Terra em
transe (1967) e O dragão da maldade contra o Santo
Guerreiro (1969).
Embora Glauber tenha sido um cineasta contro-
vertido e incompreendido no seu tempo, tornou-se
internacionalmente conhecido pelos prêmios que
conquistou: o de Crítica, do Festival de Cannes; o Luis
Buñuel, na Espanha; o Melhor filme, do Locarno In-
ternational Film Festival; e o Golfinho de Ouro de
melhor filme do ano, no Rio de Janeiro, todos por
Terra em transe.
ANOS 1960 CINEMA E TEATRO
Cartaz do filme O Ébrio,
de Gilda de Abreu (1946).
Pôster do filme O descobrimento do
Brasil, de Humberto Mauro (1937).
© D
ivu
lgaç
ão
Cartaz do filme Orfeo Negro
(ou Orfeo do Carnaval),
de Marcel Camus (1958).© D
ivu
lgaç
ão
© P
aulo
Mo
reir
a /
Ag
ên
cia
O G
lob
o
© D
ivu
lgaç
ão
3_TERC_8_LIT.indd 73 9/9/13 10:51 AM

74TERCEIRÃO 8 LITERATURA
Há alguns momentos históricos em que certos
acontecimentos parecem convergir conveniente-
mente para o desenvolvimento de novas tendências
e manifestações artísticas, que reflitam a maneira de
pensar de determinado período. O movimento do
Cinema Novo, por exemplo, propunha uma fuga dos
padrões luxuosos de produção norte-americanos,
com a adoção do lema “uma câmera na mão e uma
ideia na cabeça”. Além disso, adotava uma postura
crítica diante da situação política brasileira.
Três obras de temática marcadamente rural, que
abordavam especificamente a pobreza da região
Nordeste, Vidas secas (Nelson Pereira dos Santos),
Deus e o Diabo na terra do sol (Glauber Rocha) e Os
fuzis (Ruy Guerra), são os primeiros títulos do Cine-
ma Novo, produzidos até o golpe militar de 1964.
Com o golpe de 1964, ficou cada vez mais difícil
discutir explicitamente a realidade política e social do
Brasil. O Cinema Novo passou então a desenvolver
uma tendência autocrítica e metalinguística que colo-
cava em foco sua própria atuação como agente social
de uma classe média urbana, cuja atuação política
começa a ser focalizada de forma crítica. Alguns
exemplos dessa tendência são filmes como O desafio
(Paulo Cesar Saraceni, 1965), O bravo guerreiro (Gus-
tavo Dahl, 1969) e Macunaíma (Joaquim Pedro de
Andrade, 1969).
É, porém, Terra em transe, de Glauber Rocha, o
exemplo mais significativo do Cinema Novo depois
do golpe de 1964. Com uma narrativa completamen-
te fragmentada, o filme trata de uma revisão crítica
dos acontecimentos anteriores ao golpe. No enredo,
Eldorado é um país imaginário onde os interesses do
povo são manipulados por políticos demagogos. O
filme faz críticas em relação à esquerda e ao populis-
mo da política brasileira, anterior ao golpe onde
operários e camponeses aparecem como massa de
manobra, pois só podiam agir quando o espaço po-
lítico lhes era oferecido de maneira paternalista.
Leia a seguir um trecho do roteiro da obra de
maior destaque de Glauber Rocha:
Terra em transe
LAMARTINE
(Lamartine se exalta, o Cardeal a seu lado.)
— Precisamos fundar novas cidades, abrir grandes
estradas, construir escolas! Os detratores não sabem que
Juscelino fez o mais importante Governo do Brasil: cons-
truiu Brasília, desfraldou a bandeira do nacionalismo, Três
Marias, Furnas – a força do desenvolvimento, a aurora do
nacionalismo nasceu deste homem cujos erros tinham a
mesma grandeza de seus acertos... Precisamos de trezentas
cidades no Amazonas, precisamos restaurar o espírito dos
bandeirantes, o espírito do Pe. Antônio Vieira!
As vacas começam a berrar. Os vaqueiros cercam as
vacas, montando nos seus cavalos. Começa um aboio Jor-
dan e o Piloto levam Lamartine para o helicóptero. Bisquê
idem. Silvino observa ao fundo. Sanfonas, movimento – di-
vertem-se. Paulo sente calor, alheio àquilo, bebe cerveja.
Ouve o barulho do helicóptero. O helicóptero sobe, Silvi-
no olha, Bisquê vem ao fundo, corre em direção a Silvino.
BISQUÊ
— Grande homem, o Dr. Lamartine!
O Embaixador fixa Silvino, assustado. Silvino o abraça.
O barulho do helicóptero.
SILVINO
— O senhor vai servir onde agora?
BISQUÊ
— Gostaria de servir no México...
2 O Cinema Novo no Brasil
Rio, 40 graus, de Nelson Pe-
reira dos Santos, 1955. Vidas secas, de Nelson Pereira
dos Santos, 1963. Terra em transe, de Glauber Rocha,
1967.
© D
ivu
lgaç
ão
© D
ivu
lgaç
ão
© D
ivu
lgaç
ão
3_TERC_8_LIT.indd 74 9/9/13 10:52 AM

75LITERATURA TERCEIRÃO 8
SILVINO
— Qual sua posição política?
BISQUÊ
— Um liberal conservador, ou melhor, um conservador
liberal...
Silvino dá uma bruta gargalhada e bate na barriga do
Embaixador. O helicóptero neste momento passa sobre
eles, levanta o vento e espalha o ruído. Bisquê foi por terra,
sob o vento, tenta se compor, Silvino sorri, Paulo entra em
campo com o copo de cerveja, Silvino grita.
SILVINO
— Embaixador, pra se subir no Governo Federal é pre-
ciso ser de esquerda. Comunista não, veja bem... De es-
querda!
CAM sobe com música. TRAV aéreo. Os vaqueiros
cercam a boiada que se movimenta. O americano, no
jipe, descreve um círculo, buzinando gritando como um
cowboy. CAM afasta-se, estoura uma música carnavales-
ca. CORTE.
Sequência 6
TRAV. DESCONTÍNUO. Mulheres fantasiadas dançan-
do histéricas. Estamos num baile de Carnaval, num Clube
pequeno. Animação. Uma mulher loura dá um longo beijo
em Paulo. Paulo fantasiado simplesmente, de marinheiro,
afasta-se, um pouco bêbado e se dirige ao bar. Confusão
generalizada. Consegue disputar um uísque. Subitamente
atacam Paulo de lança-perfume e gritos e beijos. São Mari-
na e Álvaro. Paulo, feliz com a descoberta, os beija.
TRAVS DESCONTÍNUOS. Corre o Carnaval. Paulo,
Marina e Álvaro se divertem, felizes. Detalhes de um prés-
tito, clima de sonho. Sucedem-se os préstitos, trombetas. A
Escola de Samba desfila, insólita e agressiva. Oscilam ban-
deiras. Estoura o Baile do Municipal. São sequências rápi-
das e fortes, dando a passagem de tempo do Carnaval.
TRAV LATERAL, veloz, passa levando Paulo, Marina e
Álvaro, alegres, confundem-se com outros foliões, cresce.
ROCHA, Glauber. Terra em transe (primeiro tratamento). In: Roteiros do Terceiro Mundo. Organização: Orlando Senna.
Rio de Janeiro: Editorial Alhambra, 1985.
Não é difícil perceber o caráter fragmentário do ro-
teiro de Glauber Rocha, na medida em que as falas não
constituem exatamente um diálogo linear e Lamartine
fala sozinho e Silvino e Bisquê parecem não se enten-
der. Além disso, há a presença da ironia na resposta de
Bisquê, que não quer se posicionar politicamente e
simplesmente se declara um liberal conservador ou um
conservador liberal, expressões que não esclarecem
nada. As rubricas que fazem menção a um rebanho de
vacas, ao calor, a helicópteros e ao Carnaval sugerem
uma grande movimentação que aproxima o urbano e o
rural, os homens e as vacas, como se todos fossem sem-
pre sujeitos à manipulação de alguém.
3 O papel do teatro
Montagem de Vestido de noiva, de Nelson Rodrigues, encenado
pelo grupo Os comediantes.
É consenso absoluto entre críticos e estudiosos do
teatro no Brasil que Vestido de noiva, de Nelson Ro-
drigues, é o marco do moderno teatro brasileiro. A
encenação realizada pelo grupo Os comediantes, em
1943, dirigida pelo encenador polonês Ziembinski, en-
traria para a história das artes dramáticas do país. Divi-
dindo o palco em três planos (memória, alucinação e
realidade), o espetáculo acompanhava o delírio de Alaí-
de, uma mulher casada com Pedro, por sua vez desejado
pela irmã dela: Lúcia. A protagonista, após sofrer um
atropelamento, se encontra em sua alucinação com a
lendária prostituta Madame Clessi, que a ajuda a re-
constituir sua trajetória até aquele ponto da vida.
Foi necessário algum tempo para que novos dra-
maturgos da mesma importância de Nelson Rodrigues
surgissem na cena brasileira depois do fenômeno Ves-
tido de noiva. Com o olhar voltado para o universo das
fazendas e da família tradicional do interior do Brasil, o
paulista Jorge Andrade desenvolveu sua dramatur-
gia. A peça A moratória estreou em 1954 e também se
tornou um marco no trabalho de análise da formação
da sociedade paulista e brasileira, focalizando a deca-
dência dos valores patriarcais no Brasil, principalmen-
te durante o período do ciclo do café.
4 O teatro brasileiro da década de 1960 – movimentos e artistas
Muitas manifestações diferentes marcavam o de-
senvolvimento do teatro brasileiro no início dos anos
1960: novos dramaturgos, diretores que propunham
uma nova visão de encenação, grupos que inovaram
a expressão teatral, tanto como arte quanto como ato
político. Nessa cena, dois grupos e seus trabalhos no
período se destacaram significativamente.
© C
arlo
/Ce
do
c/Fu
nar
te
3_TERC_8_LIT.indd 75 9/9/13 10:52 AM

76TERCEIRÃO 8 LITERATURA
Teatro de Arena
Fundado em São Paulo
no ano de 1953, o Teatro
de Arena transformou-se,
em pouquíssimo tempo,
em sinônimo de teatro en-
gajado e comprometido
com questões políticas e
sociais. Realizando suas
apresentações em peque-
nos clubes, fábricas e sa-
lões, o grupo conseguiu
ter seu próprio teatro no final de 1954, uma pequena
sala localizada à rua Teodoro Baima, no centro da cida-
de, onde se localiza até hoje.
Augusto Boal, diretor teatral recém-chegado de
uma temporada em Nova York, uniu-se ao grupo
para apresentar o método de interpretação realista
do russo Stanislavski, que aprendera nos Estados
Unidos. Foi o trabalho com o encenador que acabou
por dar à companhia um caráter de esquerda que
possibilitou o desenvolvimento do método do Tea-
tro do Oprimido, em que o público pode participar
do espetáculo, abordando e buscando compreender
melhor seus conflitos internos e relacionais por meio
do teatro. A participação de dramaturgos como
Gianfrancesco Guarnieri e Oduvaldo Vianna Filho
foi responsável por grandes sucessos da companhia
como Eles não usam black tie (1958) e Chapetuba
Futebol Clube (1959).
Foi, porém, em 1965, que o grupo encontrou uma
maneira muito particular de expressar suas ideias
acerca do cenário político brasileiro e da história do
Brasil, criando o conhecido sistema “coringa”, no
qual todos os atores se revezam para representar
todas as personagens. O sucesso estrondoso de Are-
na conta Zumbi (1965) se repete em Arena conta Tira-
dentes (1967), ambos realizados pela parceria de
sucesso entre Guarnieri e Augusto Boal.
Teatro Oficina
Criado no diretório acadêmico XI de Agosto da
Faculdade de Direito do Largo São Francisco, o Tea-
tro Oficina se profissionalizou em 1961, quando ad-
quiriu o Teatro Novos Comediantes, onde funciona
até hoje.
Em 1964, durante o golpe militar, estava em car-
taz a montagem realista Os pequenos burgueses, de
Máximo Gorki. Depois de um incêndio em 1966, o
grupo fez remontagens de antigos sucessos para
levantar fundos para a reconstrução do teatro até
alcançar grande notoriedade e reconhecimento in-
ternacional em 1967, com a montagem do texto de
Oswald de Andrade, O rei da vela.
As montagens de Galileu Galilei em 1968 e Na
selva das cidades, em 1969, ambas de Bertolt Brecht,
coroam esse movimento ascensional e são conside-
radas perfeitas recriações brasileiras do universo do
autor alemão.
Entre tantos artistas e estudiosos de teatro surgi-
dos no período, dois dramaturgos merecem desta-
que especial: Gianfrancesco Guarnieri e Oduvaldo
Vianna Filho, também conhecido como Vianinha.
Oduvaldo Vianna Filho
Filho de Oduvaldo Vianna, também figura impor-
tante do teatro brasileiro, Vianinha (1936 -1974) es-
treou como dramaturgo em 1959, ao escrever
Chapetuba Futebol Clube. Participou como ator do fil-
me Cinco vezes favela em 1962, importante represen-
tante do Cinema Novo e, junto de Armando Costa,
criou e dirigiu, na Rede Globo de Televisão, uma das
séries humorísticas de maior sucesso na TV brasilei-
ra: A grande família, que voltaria a ser apresentada
na mesma emissora. Sua peça mais elogiada pela
crítica é Rasga coração, que ele terminou de escrever
poucos dias antes de falecer, vitimado por um cân-
cer pulmonar, com apenas 38 anos de idade.
Gianfrancesco Guarnieri
Gianfrancesco Guar-
nieri (1934 -2006) foi cria-
do em São Paulo, cidade
onde chegou de Milão
com a família no início
dos anos 1950. Foi líder
estudantil desde a ado-
lescência e começou a
fazer teatro amador com
Oduvaldo Vianna Filho,
com quem criou, em 1955, o Teatro Paulista do Estu-
dante, que, no ano seguinte, uniu-se ao Teatro de
Arena.
Sua peça de estreia, como dramaturgo, foi Eles
não usam black tie, em 1958, pelo Teatro de Arena. A
peça, dirigida por José Renato, contou com um elen-
co de grandes talentos que começavam a despontar
no teatro brasileiro. Programada para encerrar o
trabalho do grupo, que vivia uma crise financeira,
alcançou sucesso imenso, sendo um dos marcos da
renovação do teatro brasileiro da época.
Ao longo de sua jornada, Guarnieri escreveu ou-
tros textos importantes, como Gimba e A semente, e
participou de montagens fora do Teatro de Arena
O diretor Augusto Boal (1931 -2009).
© D
adá
Car
do
so/F
olh
apre
ss
© L
éo
Dru
mo
nd
/Fo
lhap
ress
3_TERC_8_LIT.indd 76 9/9/13 10:52 AM

77LITERATURA TERCEIRÃO 8
com Maria Della Costa e também no Teatro Brasilei-
ro de Comédia, TBC, até retornar como ator e como
autor em sucessos emblemáticos na história do gru-
po como Arena conta Zumbi (1965) e Arena conta
Tiradentes (1967), textos em que utiliza uma lingua-
gem metafórica e alegórica devido ao complicado
panorama político do momento.
Gianfrancesco também se tornou um ator conhe-
cido na televisão brasileira, tendo atuado em séries e
inúmeras telenovelas.
Eles não usam black tie – os operários em cena no tea-
tro brasileiro
Primeira peça de Gianfrancesco Guarnieri, Eles
não usam black tie, de 1958, foi muito importante na
revisão da forma de se fazer teatro no final da década
de 1950, que influenciaria toda a dramaturgia dos
anos 1960. No lugar de cenários grandiosos e figuri-
nos luxuosos, ficaram apenas os elementos de cena
indispensáveis. Ao invés de personagens ricas e no-
bres, operários e moradores do morro tomaram o
palco. Pela primeira vez, conflitos básicos da realida-
de operária brasileira ganhavam espaço na drama-
turgia nacional.
A ação da peça se desenrola em uma favela, nos
anos 1950, e tem como tema a greve de uma indústria
em que trabalhavam juntos pai (Otávio) e filho (Tião).
O mote principal do texto é o choque entre os dois,
com posições ideológicas opostas, diante da situação
de greve. O pai tem um espírito sonhador e idealista,
tendo exercido várias lideranças e sofrido algumas
prisões, o que o tornou um dos principais membros
do movimento grevista. Já o filho, criado na cidade
com os padrinhos, nunca conviveu com esse mundo
de luta e reivindicação da classe operária.
Depois de adulto e morando no morro com os
pais, Tião vive um dos maiores conflitos de sua vida.
Não quer aderir à greve, pois acha que essa é uma
luta inglória, sem resultados para a classe, e preten-
de se casar com Maria, moça simples, porém deter-
minada e leal ao seu povo, que está esperando um
filho seu. No momento da greve, Tião está mais
preocupado com o seu futuro do que com a luta de
seus companheiros, que considera utópica.
Leia a seguir o trecho final da obra.
TIÃO (a Otávio)
Eu queria conversá com o senhor!
OTÁVIO
Comigo?
TIÃO (firme)
É.
OTÁVIO
Minha gente, vocês querem dá um pulo lá fora; esse
rapaz quer conversá comigo.
ROMANA
Eu preciso mesmo recolhê a roupa!
JOÃO
Já vou indo, então. Até logo, seu Otávio, e parabéns!
OTÁVIO
Obrigado! (Saem. Tião e Otávio ficam a sós.) Bem,
pode falá.
TIÃO
Papai…
OTÁVIO
Me desculpe, mas seu pai ainda não chegou. Ele deixou
um recado comigo, mandou dizê pra você que ficou muito
admirado, que se enganou. E pediu pra você tomá outro
rumo, porque essa não é casa de fura-greve!
TIÃO
Eu vinha me despedir e dizer só uma coisa: não foi por
covardia!
OTÁVIO
Seu pai me falou sobre isso. Ele também procura acre-
ditá que num foi por covardia. Ele acha que você até que
teve peito. Furou a greve e disse pra todo mundo, não fez
segredo. Não fez como o Jesuíno que furou a greve saben-
do que tava errado. Ele acha, o seu pai, que você é ainda
mais filho da mãe! Que você é um traidô dos seus compa-
nheiro e da sua classe, mas um traidô que pensa que tá cer-
to! Não um traidô por covardia, um traidô por convicção!
TIÃO
Eu queria que o senhor desse um recado a meu pai…
OTÁVIO
Vá dizendo.
TIÃO
Que o filho dele não é um “filho da mãe”. Que o filho
dele gosta de sua gente, mas que o filho dele tinha um
problema e quis resolvê esse problema de maneira mais
segura. Que o filho é um homem que quer bem!
OTÁVIO
Seu pai vai ficá irritado com esse recado, mas eu digo.
Seu pai tem outro recado pra você. Seu pai acha que a
culpa de pensá desse jeito não é sua só. Seu pai acha que
tem culpa...
TIÃO
Diga a meu pai que ele não tem culpa nenhuma.
OTÁVIO (perdendo o controle)
Se eu te tivesse educado mais firme, se te tivesse mos-
trado melhor o que é a vida, tu não pensaria em não ter
confiança na tua gente…
3_TERC_8_LIT.indd 77 9/9/13 10:52 AM

78TERCEIRÃO 8 LITERATURA
TIÃO
Meu pai não tem culpa. Ele fez o que devia. O proble-
ma é que eu não podia arriscá nada. Preferi tê o desprezo
de meu pessoal pra poder querer bem, como eu quero que-
rer, a tá arriscando a vê minha mulhé sofrê como minha
mãe sofre, como todo mundo nesse morro sofre!
OTÁVIO
Seu pai acha que ele tem culpa!
TIÃO
Tem culpa de nada, pai!
OTÁVIO (num rompante)
E deixa ele acreditá nisso, senão ele vai sofrê muito
mais. Vai achar que o filho dele caiu na merda sozinho.
Vai achar que o filho dele é safado de nascença. (Acal-
ma-se repentinamente.) Seu pai manda mais um recado.
Diz que você não precisa aparecê mais. E deseja boa
sorte pra você.
TIÃO
Diga a ele que vai ser assim. Não foi por covardia e
não me arrependo de nada. Até um dia. (Encaminha-se
para a porta.)
OTÁVIO (dirigindo-se ao quarto dos fundos)
Tua mãe, talvez, vai querê falá contigo. Até um dia!
(Tião pega uma sacola que deve estar debaixo de um
móvel e coloca seus objetos. Camisas que estão entre as
trouxas de roupa, escova de dentes etc.)
GUARNIERI, Gianfrancesco. Eles não usam black tie. In: O melhor teatro – Gianfrancesco Guarnieri. Seleção Décio de Almeida Prado.
São Paulo: Global, 1986.
A grande qualidade do trabalho de Gianfrancesco
Guarnieri pode ser facilmente percebida neste trecho da
peça. A discussão entre o filho e o pai, que fala de si mes-
mo na terceira pessoa, é recheada de lirismo e profundi-
dade que transcendem a questão política debatida. A
despedida entre os dois, que percebem a impossibilida-
de de continuar a dividir a mesma casa, é capaz de arran-
car lágrimas da plateia sem ser piegas ou exagerada.
1. O Cinema Novo e o movimento de renovação teatral lide-
rado pelo Teatro de Arena e pelo Grupo Oficina foram ex-
pressões artísticas, com objetivos e características comuns,
afinadas com o contexto brasileiro das décadas de 1950 e
1960 do século passado. Entre as características desses
movimentos culturais, NÃO se inclui a:
� a) vinculação a grandes estúdios cinematográficos e a
companhias teatrais já estabelecidas.
b) concepção da obra de arte como meio de conscientiza-
ção política, influenciada por tendências de esquerda.
c) crítica à realidade brasileira, aos seus problemas e con-
tradições, com forte conteúdo social.
d) realização de produções de custos reduzidos, caracteriza-
das pelo uso de novas linguagens e inovações cênicas.
e) descoberta de novos talentos tanto na dramaturgia co-
mo na direção de cinema e teatro no Brasil.
2. Todas as características listadas abaixo estão relacionadas
ao movimento do Cinema Novo, EXCETO:
a) a preocupação em pensar o Brasil subdesenvolvido.
b) o desenvolvimento de uma linguagem cinematográfica
própria.
c) a prática de um cinema de autor.
� d) o aproveitamento de pressupostos criados pelo cinema
americano do período.
e) as produções simples e orçamentos relativamente baixos.
3. (Enem)
Teatro do Oprimido é um método teatral que
sistematiza exercícios, jogos e técnicas teatrais ela-
boradas pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal,
recentemente falecido, que visa à desmecanização
física e intelectual de seus praticantes. Partindo do
princípio de que a linguagem teatral não deve ser
diferenciada da que é usada cotidianamente pelo
cidadão comum (oprimido), ele propõe condições
práticas para que o oprimido se aproprie dos meios
do fazer teatral e, assim, amplie suas possibilidades
de expressão. Nesse sentido, todos podem desen-
volver essa linguagem e, consequentemente, fazer
teatro. Trata-se de um teatro em que o espectador
é convidado a substituir o protagonista e mudar a
condução ou mesmo o fim da história, conforme o
olhar interpretativo e contextualizado do receptor.
Companhia Teatro do Oprimido. Disponível em: <www.ctorio.org.br>. Acesso em: 1o jul. 2009 . Adaptado.
Considerando-se as características do Teatro do Oprimido
apresentadas, conclui-se que:
a) esse modelo teatral é um método tradicional de fazer
teatro que usa, nas suas ações cênicas, a linguagem
rebuscada e hermética falada normalmente pelo ci-
dadão comum.
b) a forma de recepção desse modelo teatral se destaca
pela separação entre atores e público, na qual os ato-
res representam seus personagens e a plateia assiste
passivamente ao espetáculo.
� c) sua linguagem teatral pode ser democratizada e
apropriada pelo cidadão comum, no sentido de pro-
porcionar-lhe autonomia crítica para compreensão e
interpretação do mundo em que vive.
d) o convite ao espectador para substituir o protagonis-
ta e mudar o fim da história evidencia que a proposta
de Boal se aproxima das regras do teatro tradicional
para a preparação de atores.
e) a metodologia teatral do Teatro do Oprimido segue a
concepção do teatro clássico aristotélico, que visa à
desautomação física e intelectual de seus praticantes.
3_TERC_8_LIT.indd 78 9/9/13 10:52 AM

79LITERATURA TERCEIRÃO 8
4. (Ufscar-SP) Uma peça de grande importância para o teatro brasileiro é Eles não usam black tie, escrita por Gianfrancesco
Guarnieri em 1955, e montada pela primeira vez em 1958 pelo Teatro de Arena de São Paulo. É correto afirmar que a
importância da peça deve-se ao fato de:
a) inaugurar o Teatro de Arena como espaço de mobilização contra o poder instituído.
b) salientar o papel da burguesia urbana no desenvolvimento econômico nacional.
� c) ter ressaltado uma dramaturgia de cunho social, que punha em cena a classe operária.
d) mostrar a decadência da aristocracia rural diante do desenvolvimento social nas cidades.
e) incorporar uma estética norte-americana na dramaturgia do teatro brasileiro.
TAREFA MÍNIMA
t� Leia o texto da aula.
Caderno de Exercícios
t� Faça o exercício 1.
TAREFA COMPLEMENTAR
Caderno de Exercícios
t� Faça o exercício 2.
LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA PROSA
1 As marcas da ditadura
Oposição ao golpe de 1964.
A repressão que se se-
guiu ao golpe civil-militar
de 1964 atingiu iniciativas
de difusão cultural, como as
mantidas pela União Nacio-
nal dos Estudantes (UNE).
A instituição organizava os
Centros Populares de Cul-
tura (CPC), que defendiam
um projeto de conscientiza-
ção política das classes po-
pulares por intermédio da
arte. Ainda em 1964, a UNE
seria declarada ilegal.
A despeito dessa agressão inicial, muitas mani-
festações contrárias ao golpe foram toleradas nos
primeiros anos. Assim, algumas obras que atacavam
diretamente o autoritarismo militar puderam vir à
luz. Foi o caso do livro Quarup, de Antonio Callado,
publicado em 1967.
Nando se aproximou. Olhou pela janela. Não tinha
ninguém, mas no quadro-negro se lia:
Arara
Vovô vê a arara
ele vê a arara
ele vê o dedo
As grandes palavras majestosas tinham desapareci-
do das paredes onde antes explodiam com uma dureza
de arte nova: TIJOLO, ENXADA, JANGADA. No canto
onde se pendurava um cartaz com o emblema das Na-
ções Unidas havia agora outro de um homem com um
boné de operário russo, botas tintas de sangue, andando
em cima do mapa do Brasil com uma foice e um mar-
telo. [...] Mas viu de longe o mastro com a bandeira
subindo feito uma flor de ouro e verde [...]. Já bem perto
procurou na base o único azulejo diferente, a inscrição
em letras verdes no ladrilho branco: Terra do Centro
Geográfico do Brasil. À memória de Levindo, amigo dos
camponeses. O azulejo tinha sido arrancado. Tapando
o buraco, apoiada contra a base do monumento, uma
tábua quadrada, provisória, com os dizeres: Terra do
Centro Geográfico do Brasil. Viva a Revolução, 31 de
Março de 1964. Sem olhar para os lados, sem pensar
em nada, concentrado a fundo no que fazia, Nando
Antonio Carlos Callado (1917-
-1997) foi um jornalista e escri-
tor brasileiro, cujas obras refle-
tiam a situação política do país.
© C
ésa
r It
ibe
rê/F
olh
apre
ss
© K
AO
RU
/CP
Do
c JB
3_TERC_8_LIT.indd 79 9/9/13 10:52 AM

80TERCEIRÃO 8 LITERATURA
abriu a braguilha das calças e mijou pausadamente em
cima da placa.
CALLADO, Antonio. Quarup. 9. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.
Quarup acompanha a trajetória do Padre Nando,
desde seus dilemas íntimos em torno da vocação reli-
giosa, que o levam à experiência sexual, até o envolvi-
mento com as questões sociais, que o conduz à opção
pela luta armada contra o regime que assassinara o
líder camponês Levindo. Na cultura indígena, a ex-
pressão quarup designa a celebração da morte de
um guerreiro. A festividade que marca o evento asso-
cia morte e vida. Da mesma maneira, o romance, por
intermédio da trajetória de Nando, tenta aproximar a
morte de projetos populares com a possibilidade de
retomá-los na luta social. No trecho, ocorre o contras-
te entre a posição oficial (no cartaz de alfabetização,
de cunho alienante, e nos símbolos nacionais explora-
dos de forma a construir a apologia da Revolução de
64) e aquela assumida por Nando, de agressiva repul-
sa ao novo regime.
Em dezembro de 1968, foi decretado o Ato Institu-
cional no 5 (AI-5), que fechou o Congresso e concedeu
ao governo poderes de perseguição e censura. A partir
de 1974, pressões populares impuseram aos militares a
necessidade de fazer concessões no sentido da abertu-
ra política. Foi um processo demorado e oscilante,
marcado por ações dos setores mais radicais do gover-
no, como a tortura e o assassinato do jornalista Vladi-
mir Herzog (1975) e do operário Manuel Fiel Filho
(1976) e o frustrado atentado à bomba contra a celebra-
ção do Dia do Trabalhador, no Rio de Janeiro, em 1981.
A anistia aos exilados, promulgada em 1979, trouxe
de volta ao Brasil boa parte dos que haviam sido per-
seguidos durante a ditadura. Alguns deles publicaram
então uma série de relatos autobiográficos que forne-
cem um quadro vivo e dra-
mático dos anos mais
terríveis da ditadura. Um
exemplo importante é O que
é isso, companheiro (1979),
de Fernando Gabeira.
O Capitão Albernaz bateu furiosamente na mesa, man-
dou que me sentasse e fez um pequeno discurso. Os ou-
tros se colocaram em torno de mim enquanto ele ia falan-
do que era muito burro, muito muito burro, de forma que
com ele não adiantava conversa pois não ouviria nada a
não ser as respostas às perguntas que fariam. Onde esta-
va Salgado? Não sabia, não sabia onde estava ninguém.
Capitão Albernaz bateu de novo na mesa e Raul, um po-
licial que funcionava na sua equipe, exibiu o telefone de
campanha e disse que iria falar com Fidel Castro. Ligaram
os fios na minha mão e começaram a dar choques e per-
guntar por pessoas. [...] Minha reação diante dos primeiros
choques foi uma reação de homem civilizado, creio: fi-
quei perplexo em ver que aquilo existia e que havia pesso-
as que o empregavam. Claro que já sabia disso por outros
caminhos, mas agora estava vendo e era o mesmo que ver
crianças arrancando as pernas de um passarinho. Como é
que isto era possível em gente daquela idade? Enquanto
pensava, ia tomando novos choques e quando passaram
os fios para a ponta da orelha realmente deixei de pensar
em outra coisa, exceto na necessidade de não deixar que
minha cabeça se partisse. Cada vez que davam o choque,
tinha uma profunda sensação de dilaceramento, da cabe-
ça se partindo em duas, e acreditava que podia fazer algu-
ma coisa com o corpo para mantê-la intacta.
GABEIRA, Fernando. O que é isso, companheiro?. Rio de Janeiro: Codecri, 1979.
O depoimento chocante das torturas sofridas pe-
los que eram aprisionados expunha a face mais co-
varde do regime militar. O estilo simples e direto do
narrador estabelece uma empatia forte com o leitor.
Além disso, o distanciamento temporal faz com que,
paralelamente aos relatos, tenhamos o desenvolvi-
mento de reflexões a respeito de temas políticos e
sociais que iam além do episódio relatado.
2 A temática da violência
Com o fim da censura, algumas obras que haviam
sido proibidas foram enfim publicadas. O volume de
contos Feliz ano novo, de Rubem Fonseca, foi reco-
lhido por ação da censura em 1975, e o escritor só
conseguiu a liberação catorze anos depois. Nele,
Rubem explorava um tema que se tornaria sua mar-
ca registrada: a violência urbana.
José Rubem Fonseca (1925) formou-se em Direito e exer-
ceu diversas atividades antes de se dedicar plenamente à
literatura, tornando-se um dos autores mais lidos do país.
Fernando Paulo Nagle Gabeira (1941)
era jornalista quando se envolveu com
o movimento armado que pretendia
derrubar a ditadura. Preso e exilado em
1970, retornou ao Brasil com a anistia.© D
ivu
lgaç
ão/C
om
pan
hia
das
Le
tras
© P
aulo
Mo
reir
a/A
gê
nci
a O
Glo
bo
3_TERC_8_LIT.indd 80 9/9/13 10:52 AM

81LITERATURA TERCEIRÃO 8
Vamos dar uma volta de carro?, convidei. Eu sabia
que ela não ia, era hora da novela. Não sei que graça
você acha em passear de carro toda as noites, também
aquele carro custou uma fortuna, tem que ser usado, eu
é que cada vez me apego menos aos bem materiais, mi-
nha mulher respondeu.
[...] Apaguei as luzes do carro e acelerei. Ela só per-
cebeu que eu ia para cima dela quando ouviu o som
da borracha dos pneus batendo no meio-fio. Peguei a
mulher acima dos joelhos, bem no meio das duas per-
nas, um pouco mais sobre a esquerda, um golpe perfei-
to, ouvi o barulho do impacto partindo os dois ossões,
dei uma guinada rápida para a esquerda, passei como
um foguete rente a uma das árvores e deslizei com os
pneus cantando, de volta para o asfalto. Motor bom, o
meu, ia de zero a cem quilômetros em nove segundos.
Ainda deu para ver que o corpo todo desengonçado da
mulher havia ido parar, colorido de sangue, em cima de
um muro, desses baixinhos de casa de subúrbio. FONSECA, Rubem. Passeio noturno (parte I). In: Feliz ano novo.
2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
Nos contos de Rubem Fonseca, a banalização da
violência, muitas vezes cometida por pessoas co-
muns, é utilizada para acentuar a barbárie presente
na civilização moderna. No trecho transcrito, um
homem se dedica a uma estranha diversão: atropelar
pessoas nas ruas. A frieza do narrador-personagem
se manifesta nos detalhes que fornece do atropela-
mento. O escritor inova ainda no estilo, ao retirar do
texto as marcas gráficas próprias do discurso direto.
3 O conto
Desde os anos 1970, quando o país viveu o chama-
do boom do conto, a narrativa curta manteve apelo
considerável junto ao público leitor, projetando nomes
como os de Fernando Sabino, Lygia Fagundes Telles,
Dalton Trevisan, Luis Fernando Verissimo, Moacyr
Scliar, Domingos Pellegrini, entre muitos outros.
– O primeiro marido tem dinheiro de sobra. E ela,
uma vida regalada. Até o cara ser preso como traficante.
O segundo marido ganha bem, mas judia dela. Arras-
ta pelo cabelo, morde, tira sangue. O terceiro, sargento
reformado, é manso e quieto. Só que bebe até cair. In-
ternando-o na clínica, ela recebe uma pequena pensão.
Logo se amiga com o tipo mais novo. Não se droga,
não fuma, não bate, não bebe. Mas também não trabalha.
Daí ela visita o marido no asilo: “Deus te mandou, minha
santa. Você meio me buscar”. Com dó, leva-o para casa e
vivem os três da mesma pensão. O amante não está feliz,
tem de dar banho e fazer a barba no sargento.TREVISAN, Dalton. Conto 98. In: Pico na veia.
Rio de Janeiro: Record, 2002.
Dalton Trevisan se destaca entre os praticantes do
gênero no Brasil por seu constante esforço minimalis-
ta, com o enxugamento da narrativa, reduzida aos
seus elementos essenciais. O leitor consegue apreen-
der todos os fatos envolvidos no conto transcrito
apenas com os dois parágrafos que compõe o texto. O
discurso direto (primeiro parágrafo) sugere a trans-
missão oral que faz lembrar a maledicência da fofoca.
O estilo do narrador (segundo parágrafo) incorpora
alguns procedimentos próprios dessa oralidade – co-
mo o que se verifica em “fazer a barba no sargento”.
4 A literatura fantástica
O Surrealismo, surgido nos anos 1920, trouxe a
corrente artística da literatura fantástica, na qual acon-
tecimentos inusitados eram narrados de forma a lhes
conferir completa naturalidade. A América Latina foi
um terreno fértil para obras desse tipo, como mostram
os romances Cem anos de solidão (1967), do colombia-
no Gabriel García Márquez, e O púcaro búlgaro (1964),
do brasileiro Campos de Carvalho.
Entre nós, o escritor mais conhecido nesse terre-
no foi Murilo Rubião, com contos que mostram per-
sonagens com coti-
dianos banais repen-
tinamente quebrados
por circunstâncias in-
sólitas.
Os primeiros dragões que apareceram na cidade mui-
to sofreram com o atraso dos nossos costumes. Receberam
precários ensinamentos e a sua formação moral ficou irre-
mediavelmente comprometida pelas absurdas discussões
surgidas com a chegada deles ao lugar.
Poucos souberam compreendê-los e a ignorância geral
fez com que, antes de iniciada a sua educação, nos perdês-
semos em contraditórias suposições sobre o país e raça a
que poderiam pertencer.
A controvérsia inicial foi desencadeada pelo vigário.
Convencido de que eles, apesar da aparência dócil e mei-
ga, não passavam de enviados do demônio, não me permi-
tiu educá-los. Ordenou que fossem encerrados numa casa
© A
gê
nci
a Es
tad
o Murilo Eugênio Rubião (1916-
-1991), jornalista e escritor,
exerceu grande influência na
vertente surrealista da literatu-
ra brasileira.
3_TERC_8_LIT.indd 81 9/9/13 10:52 AM

82TERCEIRÃO 8 LITERATURA
velha, previamente exorcismada, onde ninguém poderia
penetrar. Ao se arrepender de seu erro, a polêmica já se
alastrara e o velho gramático negava-lhes a qualidade de
dragões, “coisa asiática, de importação europeia”. Um leitor
de jornais, com vagas ideias científicas e um curso ginasial
feito pelo meio, falava em monstros antediluvianos. O povo
benzia-se, mencionando mulas sem cabeça, lobisomens.RUBIÃO, Murilo. Os dragões. In: O pirotécnico Zacarias.
17. ed. São Paulo: Ática, 1995.
Uma das marcas da literatura fantástica é a inversão
de expectativas. No trecho transcrito, o absurdo do apa-
recimento de dragões em uma cidade abre a narrativa
de forma natural, sem nenhum questionamento prévio.
O que o narrador considera “absurdas” são, na verdade,
as “discussões surgidas com a chegada” dos dragões, e
não a presença deles em si. O olhar inusitado lançado
sobre a realidade acaba por levantar questionamento
em torno do que se considera normal ou natural.
Dois nomes consagrados
Entre os autores brasileiros em atividade, muitos
são aqueles que mereceriam uma referência. Lygia
Fagundes Telles (Conspiração de nuvens, 2007) e Nel-
son Oliveira (Poeira – demônios e maldições, 2010),
entre muitos outros, mantêm o nível de suas obras, já
contando com uma carreira sólida e uma legião de
leitores. Chico Buarque, reconhecido principalmente
como compositor, mostra a mesma perícia no trata-
mento da prosa, desde Estorvo (1991).
Para representar essa produção, vamos tratar aqui
de dois autores que vêm obtendo especial atenção por
parte da crítica especializada, que os colocam entre os
grandes nomes da literatura brasileira dos últimos
tempos: Raduan Nassar e Milton Hatoum.
Raduan Nassar (1935) escreveu pouco – apenas o suficiente para evidenciar
a importância de sua obra. Em 1984, o escritor declarou que abandonava a
literatura, recolhendo-se para seu sítio, no interior de São Paulo.
E quando cheguei à tarde na minha casa lá no 27, ela
já me aguardava andando pelo gramado, veio me abrir
o portão pra que eu entrasse com o carro, e logo que saí
da garagem subimos juntos a escada pro terraço, e assim
que entramos nele abri as cortinas do centro e nos sen-
tamos nas cadeiras de vime, ficando com nossos olhos
voltados pro alto do lado oposto, lá onde o sol ia se
pondo, e estávamos os dois em silêncio quando ela me
perguntou “que que você tem?”, mas eu, muito disper-
so, continuei distante e quieto, o pensamento solto na
vermelhidão lá do poente, e só foi mesmo pela insistên-
cia da pergunta que respondi “você já jantou?” e como
ela dissesse “mais tarde” eu então me levantei e fui sem
pressa pra cozinha (ela veio atrás), tirei um tomate da
geladeira, fui até a pia e passei uma água nele, depois
fui pegar o saleiro do armário me sentando em seguida
ali na mesa (ela do outro lado acompanhava cada movi-
mento que eu fazia, embora eu displicente fingisse que
não percebia), e foi sempre na mira dos olhos dela que
comecei a comer o tomate, salgando pouco a pouco o
que ia me restando na mão, fazendo um empenho simu-
lado na mordida pra mostrar meus dentes fortes como
os dentes de um cavalo, sabendo que seus olhos não
desgrudavam da minha boca, e sabendo que por baixo
do seu silêncio ela se contorcia de impaciência, e sa-
bendo acima de tudo que mais eu lhe apetecia quanto
mais indiferente eu lhe parecesse, eu só sei que quando
acabei de comer o tomate eu a deixei ali na cozinha e
fui pegar o rádio que estava na estante lá da sala, e sem
voltar pra cozinha a gente se encontrou de novo no cor-
redor, e sem dizer uma palavra entramos quase juntos
na penumbra do quarto.NASSAR, Raduan. Um copo de cólera. 5. ed.
São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
Um copo de cólera narra um encontro amoroso
permeado de desencontros. O amor é experimenta-
do com forte sensualidade, mas um acontecimento
banal – o aparecimento de saúvas no sítio onde estão
– deflagra acessos de raiva e de acusações mútuas. O
trecho transcrito relata os primeiros momentos do
encontro, mas é notável como o narrador consegue
sugerir o clima de tensão que domina a relação do
casal, esperando apenas o momento da explosão.
Milton Hatoum (1952) aparece constantemente na lista dos grandes es-
critores brasileiros em atividade.
© M
oac
yr L
op
es
Jún
ior/
Folh
apre
ss
© H
en
riq
ue
Man
reza
/Fo
lhap
ress
3_TERC_8_LIT.indd 82 9/9/13 10:52 AM

83LITERATURA TERCEIRÃO 8
A viagem terminou num lugar que seria exagero cha-
mar de cidade. Por convenção ou comodidade, seus ha-
bitantes teimavam em situá-lo no Brasil; ali, nos confins
da Amazônia, três ou quatro países ainda insistem em
nomear fronteira um horizonte infinito de árvores; na-
quele lugar nebuloso e desconhecido para quase todos
os brasileiros, um tio meu, Hanna, combateu pelo Bra-
são da República Brasileira; alcançou a patente de co-
ronel das Forças Armadas, embora no Monte Líbano se
dedicasse à criação de carneiros e ao comércio de frutas
nas cidades litorâneas do sul; nunca soubemos o porquê
de sua vinda ao Brasil, mas quando líamos suas cartas,
que demoravam meses para chegar às nossas mãos, fi-
cávamos estarrecidos e maravilhados. Relatavam epide-
mias devastadoras, crueldades executadas com requinte
por homens que veneravam a lua, inúmeras batalhas tin-
gidas com as cores do crepúsculo, homens que degusta-
vam a carne de seus semelhantes como se saboreassem
rabo de carneiro, palácios com jardins esplêndidos, do-
tados de paredes inclinadas e rasgadas por janelas ogi-
vais que apontavam para o poente, onde repousava a
lua de ramadã.HATOUM, Milton. Relato de um certo Oriente. São Paulo:
Companhia das Letras, 1989.
Ausente de Manaus por vinte anos, uma mulher
retorna à cidade para visitar a família adotiva que a
havia acolhido na infância. Presenciando as mortes
de alguns parentes, resolve escrever a um irmão,
para comunicá-las e, em suas cartas, resgata as ex-
periências vividas ali. Pode-se notar a presença de
certos traços biográficos de Hatoum, como a am-
bientação em Manaus, sua cidade natal, e a ascen-
dência libanesa. No entanto, a visão que se tem ali é
a de um certo Oriente, o que sugere a predominância
da visão subjetiva da personagem que narra. Além
disso, trata-se, acima de tudo, de um relato, com
marcas de expressão que resgatam as tradições de
uma cultura profundamente oral.
A voz da marginalidade
A temática da malandragem está presente na lite-
ratura brasileira desde Memórias de um sargento de
milícias, de Manuel Antônio de Almeida, em meados
do século XIX. Com o passar do tempo, essa imagem
assumiria contornos dramáticos. Muitos escritores
dos anos 1970, por exemplo, cuja liberdade de ex-
pressão era cerceada pela ação da censura oficial,
recorreram a narrativas baseadas em fatos – eram os
chamados romances-reportagem. A marginalida-
de está presente neles, mas sem as cores leves do
romantismo: a história de uma menina encontrada
morta é narrada em Aracelli, meu amor, enquanto a
trajetória de um bandido é o tema de Lúcio Flávio, o
passageiro da agonia – ambos romances de José
Louzeiro publicados na década de 1970.
Mais romancistas que repórteres, autores como
Plínio Marcos, João Antônio e Marçal Aquino man-
tiveram a temática da marginalidade com aborda-
gem crua e direta da violência urbana, utilizando-se
muitas vezes do baixo calão para dar voz às comuni-
dades pobres das grandes cidades brasileiras. Para
esses autores, não se trata apenas de focalizar a ban-
didagem, mas de expor as condições que a geram.
Em 1997, Paulo Lins publicou Cidade de Deus, re-
tratando o cotidiano dos moradores de um dos subúr-
bios mais violentos do Rio de Janeiro. Passados quatro
anos, o paulista Reginaldo Ferreira da Silva, conheci-
do como Ferréz, lançou Capão pecado, ambientado na
periferia de São Paulo, realidade que o autor conhece
de perto. Assim, no início do século XXI, as popula-
ções marginalizadas assumem sua própria voz, fazen-
do surgir uma nova expressão literária, cujo valor
fundamental está na contundência da denúncia e no
esforço em se fazer ouvir.
Ferréz (1975) venceu todas as barreiras até se transformar em uma voz
qualificada a difundir a cultura da periferia paulistana.
Amanheceu, Rael levantou cedo, se arrumou e foi
trabalhar; logo pela manhã ouviu um monte do seu pa-
trão pela falta do dia anterior. O resto do dia foi tran-
quilo, entregou os pães nas escolas, serviu os clientes,
lavou o freezer onde se colocavam os leites e foi para
casa. Chegando lá, estranhou quando viu aquele monte
de gente, e parecia que o movimento era em frente à
sua casa. Correu, pois sabia que o povo dali só se unia
assim para falar mal dos outros, ou então pra ver mor-
to. Rael corria e preferia que se tratasse do seu primeiro
pensamento; mas não foi assim, Dida estava caído em
frente à sua casa: estava de costas, sem o par de tênis e
com uma enorme mancha de sangue nas costas. Rael se
abaixou, tocou seu rosto e começou a chorar. Sua mãe
insistiu para que ele entrasse, estava com medo de que
© R
ival
do
Go
me
s/Fo
lhap
ress
3_TERC_8_LIT.indd 83 9/9/13 10:52 AM

84TERCEIRÃO 8 LITERATURA
o assassino achasse que Rael, por ser amigo de Dida e
Will, poderia servir de testemunha, ou então querer uma
vingança. Insistiu, insistiu, mas Rael continuava abaixa-
do chorando. Foi quando Zé Pedro, seu pai, o abraçou
por trás, o levantou e o arrastou para dentro do barraco,
sem muita resistência.
Duas horas depois a Tático Sul chegou ao local, co-
briu o corpo com um lençol pedido a uma vizinha. Fica-
ram comendo carniça por mais de seis horas quando o
IML chegou e foi logo retirando o corpo. O pessoal nem
estranhou o fato de os legistas não terem examinado o
corpo, todos por ali já estavam acostumados com o des-
caso das autoridades.FERRÉZ. Capão pecado. 2. ed. São Paulo:
Labortexto Editorial, 2000.
A proposta literária de Ferréz e seus congêneres
supõe uma identificação completa entre autor, tema
e forma. Para ele, só quem pode falar da periferia é
quem a vive cotidianamente. E a única maneira de
contar a sua história é utilizar-se da linguagem que
viceja ali, com seus palavrões e suas gírias. A criati-
vidade está nesse registro doloroso do cotidiano
marginalizado. Os nexos entre o “descaso das auto-
ridades” e a dor de Rael pela morte do amigo são
expostos no texto de forma clara, sem que isso signi-
fique uma visão simplista dos problemas sociais – e
estéticos – sugeridos ali.
Novos talentos
Em 2012, a revista Granta, publicada pela editora
Objetiva, lançou um volume com um título sugesti-
vo: Os melhores jovens escritores brasileiros. Deixan-
do de lado a parcialidade inerente ao juízo do que
seja o melhor em qualquer setor, chama a atenção,
no título, o interesse pelo jovem escritor. A juven-
tude dos autores pode ser a garantia de uma expres-
são literária renovada, arejada, cheia de vitalidade.
Para chegar ao público, essa nova geração conta
com os meios tradicionais: novas editoras surgem
como alternativas de produção literária – é o caso da
Não Editora, de Porto Alegre, responsável por títulos
como Areia nos dentes, de Antônio Xerxenesky, O
professor de botânica, de Samir Machado de Macha-
do, e Pó de parede, de Carol Bensimon – todos lan-
çados em 2008. Mas os meios eletrônicos são cada
vez mais usados: surgem blogs que lançam livre-
mente textos na rede virtual – como o Prosa caótica,
de Maira Parula.
Um autor que se firma cada vez mais como um
nome definitivo é Daniel Galera, autor de uma obra
que, mesmo em seu início, já se mostra consistente.
Daniel Galera (1979) nasceu em São Paulo, mas adotou Porto Alegre
como sua cidade. Seus livros trazem reflexões contundentes e atuais.
“Lá em Ushuaia”, ela começou, “há um museu dedica-
do aos índios que viviam na região antes da colonização
dos europeus. Museu Yámana. Por incrível que pareça,
eles não usavam roupas naquele frio horrível. Parece que
a gordura dos animais e a oleosidade natural da pele bas-
tavam. Eles dormiam ao relento e mergulhavam na água
congelante sem dar muita bola. Em algumas fotos, estão
cobertos de peles, mas na maioria estão nus. Quando os
europeus chegaram, deram roupas de presente aos índios,
achando que estavam fazendo uma boa ação. Mas a maio-
ria deles morria em pouco tempo depois de vestir essas
roupas. Os tecidos ficavam molhados e eles adoeciam
com a umidade. Mas enfim, não era disso que eu queria
falar. É que lá no museu fiquei sabendo que a língua dos
yámanas contém a palavra mais sucinta que existe. Como
era mesmo? É... mapihna... não, Mamihlapinatapai. É o
olhar que duas pessoas trocam quando cada uma fica es-
perando que a outra inicie uma coisa que as duas querem,
mas que nenhuma tem coragem de começar.” Ela o enca-
rou. “Era bom que houvesse muitas palavras sucintas des-
se tipo. Sei que essa não se encaixa exatamente no nosso
caso, mas imaginar uma palavra bem parecia que definisse
o olhar que duas pessoas trocam quando uma delas quer
iniciar algo que as duas querem, mas a outra põe tudo a
perder porque defende que não é o momento certo, que se
puderem esperar só mais um pouquinho...” Ele desviou o
olhar. “É uma pena que o português não tenha essa pala-
vra, não acha?” Ele imaginou uma palavra que descrevesse
a situação em que uma pessoa já sabe o que a outra vai
dizer, mas se cala porque é essencial que a outra o diga,
para que suas palavras tornem inquestionável a verdade
indesejada que os dois já conhecem.“ Tarde demais, Da-
nilo. A gente teve um problema de sincronia.” Ainda não
era bem isso que ele precisava ouvir. Fingiu que não tinha
entendido bem, pediu outras explicações. Só a deixaria em
paz quando dissesse nos termos mais simples, sem rodeios
nem palavras indígenas, que não o amava mais.GALERA, Daniel. Cordilheira. São Paulo:
Companhia das Letras, 2008.
© P
aulo
Fe
hla
ue
r/Fo
lhap
ress
3_TERC_8_LIT.indd 84 9/9/13 10:52 AM

85LITERATURA TERCEIRÃO 8
Cordilheira relata os desencontros amorosos de
Anita e Danilo. Os desentendimentos do casal se ma-
nifestam até mesmo no nível da linguagem: a moça se
perde entre suas recordações e o que tem para dizer
ao rapaz (“não era disso que eu queria falar”). A in-
congruência se acentua com as palavras indígenas
que ela usa, tão incompreensíveis para ele quanto os
sentimentos que nutrem um pelo outro. Além disso, a
cena transcrita pode ser entendida quase como uma
reflexão metalinguística: o que Galera e sua geração
buscam é dizer as coisas “nos termos mais simples”,
abordando temas corriqueiros, como o fim de uma
relação íntima.
Os jovens escritores – sejam eles os melhores ou
não – não precisam de rótulos e não merecem ser
encarcerados por eles. Mesmo assim, os autores se-
lecionados na edição da Granta não desmentem a
proposta da revista: João Paulo Cuenca, Antonio
Prata, Carola Saavedra e Tatiana Salem Levy, entre
outros, prenunciam grandes textos literários. Ne-
nhum deles pretende ser o novo Guimarães Rosa ou
a nova Clarice Lispector. Querem apenas ser.
Enquanto isso, a literatura brasileira continuará a
produzir autores, jovens ou não, mas – e é o que im-
porta – de talento. Não é nenhum favor colocar ao
lado desse elenco juvenil o nome mais maduro de
Evandro Affonso Ferreira, autor de obras como Gro-
gotó (2000) e Araã! (2003). Quer saber de quem se
trata? Corra atrás! Afinal, você também é jovem.
1. (Enem) Para falar e escrever bem, é preciso, além de co-
nhecer o padrão formal da Língua Portuguesa, saber
adequar o uso da linguagem ao contexto discursivo.
Para exemplificar este fato, seu professor de Língua Por-
tuguesa convida-o a ler o texto “Aí, galera”, de Luis Fer-
nando Verissimo. No texto, o autor brinca com situações
de discurso oral que fogem à expectativa do ouvinte.
Aí, galera
Jogadores de futebol podem ser vítimas de este-
reotipação. Por exemplo, você pode imaginar um
jogador de futebol dizendo “estereotipação”? E, no
entanto, por que não?
— Aí, campeão. Uma palavrinha pra galera.
— Minha saudação aos aficionados do clube e
aos demais esportistas, aqui presentes ou no recesso
dos seus lares.
— Como é?
— Aí, galera.
— Quais são as instruções do técnico?
— Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho
de contenção coordenada, com energia otimizada, na
zona de preparação, aumentam as probabilidades de,
recuperado o esférico, concatenarmos um contragolpe
agudo com parcimônia de meios e extrema objetivi-
dade, valendo-nos da desestruturação momentânea do
sistema oposto, surpreendido pela reversão inesperada
do fluxo da ação.
— Ahn?
— É pra dividir no meio e ir pra cima pra pegá
eles sem calça.
— Certo. Você quer dizer mais alguma coisa?
— Posso dirigir uma mensagem de caráter sen-
timental, algo banal, talvez mesmo previsível e pie-
gas, a uma pessoa à qual sou ligado por razões, in-
clusive, genéticas?
— Pode.
— Uma saudação para a minha progenitora.
— Como é?
— Alô, mamãe!
— Estou vendo que você é um, um...
— Um jogador que confunde o entrevistador,
pois não corresponde à expectativa de que o atleta
seja um ser algo primitivo com dificuldade de ex-
pressão e assim sabota a estereotipação?
— Estereoquê?
— Um chato?
— Isso.Correio Braziliense, 13 maio 1998.
O texto retrata duas situações relacionadas que fogem à
expectativa do público. São elas:
a) a saudação do jogador aos fãs do clube, no início da
entrevista, e a saudação final dirigida à sua mãe.
� b) a linguagem muito formal do jogador, inadequada à
situação da entrevista, e um jogador que fala, com
desenvoltura, de modo muito rebuscado.
c) o uso da expressão “galera”, por parte do entrevistador,
e da expressão “progenitora”, por parte do jogador.
d) o desconhecimento, por parte do entrevistador, da
palavra “estereotipação”, e a fala do jogador em “é pra
dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem calça”.
e) o fato de os jogadores de futebol serem vítimas de
estereotipação e o jogador entrevistado não corres-
ponder ao estereótipo.
2. (Enem)
Texto I
Logo depois transferiram para o trapiche o de-
pósito dos objetos que o trabalho do dia lhes pro-
porcionava. Estranhas coisas entraram então para o
trapiche. Não mais estranhas, porém, que aqueles
meninos, moleques de todas as cores e de idades
as mais variadas, desde os nove aos dezesseis anos,
que à noite se estendiam pelo assoalho e por debai-
xo da ponte e dormiam, indiferentes ao vento que
3_TERC_8_LIT.indd 85 9/9/13 10:52 AM

86TERCEIRÃO 8 LITERATURA
circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva
que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxa-
dos para as luzes dos navios, com os ouvidos presos
às canções que vinham das embarcações...AMADO, Jorge. Capitães da areia. São Paulo:
Companhia das Letras, 2008.
Texto II
À margem esquerda do rio Belém, nos fundos do
mercado de peixe, ergue-se o velho ingazeiro – ali
os bêbados são felizes. Curitiba os considera ani-
mais sagrados, provê as suas necessidades de cacha-
ça e pirão. No trivial contentavam-se com as sobras
do mercado.TREVISAN, Dalton. 35 noites de paixão: contos escolhidos.
Rio de Janeiro: BestBolso, 2009.
Sob diferentes perspectivas, os fragmentos citados são
exemplos de uma abordagem literária recorrente na lite-
ratura brasileira do século XX. Em ambos os textos,
a) a linguagem afetiva aproxima os narradores dos per-
sonagens marginalizados.
b) a ironia marca o distanciamento dos narradores em
relação aos personagens.
c) o detalhamento do cotidiano dos personagens revela
a sua origem social.
� d) o espaço onde vivem os personagens é uma das mar-
cas de sua exclusão.
e) a crítica à indiferença da sociedade pelos marginaliza-
dos é direta.
3. (Enem)
Cabeludinho
Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apre-
sentou aos amigos: Este é meu neto. Ele foi estudar no
Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu.
Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu.
Como quem dissesse no Carnaval: aquele menino
está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de
regências verbais. Ela falava sério. Mas todo mundo
riu. Porque aquela preposição deslocada podia fazer
de uma informação um chiste. E fez. E mais: eu acho
que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade
de amor. E pode ser instrumento de rir. De outra fei-
ta, no meio da pelada um menino gritou: Dislimina
esse, Cabeludinho. Eu não disliminei ninguém. Mas
aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à
nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de pa-
lavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a
não gostar de palavra engavetada. Aquela que não
pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das pa-
lavras pelo que elas entoam do que pelo que elas in-
formam. Por depois ouvi um vaqueiro a cantar com
saudade: Ai morena, não me escreve / que eu não
sei a ler. Aquele a preposto ao verbo ler, ao meu
ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro.
BARROS, M. Memórias inventadas: a infância.São Paulo: Planeta, 2003.
No texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre dife-
rentes possibilidades de uso da língua e sobre os senti-
dos que esses usos podem produzir, a exemplo das
expressões “voltou de ateu”, “dislimina esse” e “eu não
sei a ler”. Com essa reflexão, o autor destaca:
a) os desvios linguísticos cometidos pelos personagens
do texto.
b) a importância de certos fenômenos gramaticais para
o conhecimento da língua portuguesa.
c) a distinção clara entre a norma culta e as outras varie-
dades linguísticas.
d) o relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho
durante as férias.
� e) a valorização da dimensão lúdica e poética presente
nos usos coloquiais da linguagem.
TAREFA MÍNIMA
t� Leia o texto da aula.
Caderno de Exercícios
t� Faça os exercícios 1 a 3.
TAREFA COMPLEMENTAR
Caderno de Exercícios
t� Faça os exercícios 4 a 6.
3_TERC_8_LIT.indd 86 9/9/13 10:52 AM

87LITERATURA TERCEIRÃO 8
1 Introdução
Uma das características da arte contemporânea é
o experimentalismo. Essa postura visa explorar novas
formas de expressão artística, que incluem os mais
variados suportes. No exemplo abaixo, os grafiteiros
paulistas Gustavo e Otávio Pandolfo, conhecidos co-
mo OsGemeos, usam a parede monumental de uma
avenida para mostrar a sua arte, que apresenta re-
quinte técnico, colorido e ambientações oníricas. Su-
as imagens estranhas, povoadas de grandes
per so nagens amarelas, já são reconhecidas interna-
cionalmente como uma das mais interessantes mani-
festações das artes plásticas brasileiras do começo do
século XXI. A aceitação do grafite como forma válida
de expressão artística atesta o pluralismo estético pre-
dominante atualmente.
A partir dos anos 1950, a poesia brasileira foi for-
temente influenciada por algumas forças motrizes: a
exploração da visualidade poética, na esteira pro-
posta pelo Concretismo; a subjetividade crítica de
Carlos Drummond de Andrade e o racionalismo da
poesia de João Cabral de Melo Neto. Mas outras
veias de expressão também se fortaleceram, adqui-
rindo relevo e influência. Vejamos algumas delas.
2 Poesia marginal
Nos anos 1970, com o acirramento da censura du-
rante a ditadura militar e a dificuldade em se publicar
um livro de poesia, poetas buscaram meios pouco or-
todoxos de divulgar a sua arte. Poemas eram reprodu-
zidos de maneira artesanal e os próprios autores
procuravam vendê-los na boemia das grandes cidades.
Esse movimento foi chamado de “poesia marginal”
devido ao seu – por vezes – voluntário distanciamento
dos círculos mais “oficiais” de circulação literária, co-
mo as universidades e as editoras. Há pouca unidade
de temas e de estilos nos poetas chamados “margi-
nais”, mas, de maneira geral, pode-se notar a transfigu-
ração poética do cotidiano, e a presença de uma
linguagem francamente coloquial.
LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA POESIA
OsGemeos. Pintura mural em um dos parques do Rose Kennedy Greenway, em Boston, Estados Unidos.
© P
aul M
aro
tta/
Ge
tty
Imag
es
3_TERC_8_LIT.indd 87 9/9/13 10:52 AM

88TERCEIRÃO 8 LITERATURA
Post-mortem
Quase morrer é assim:
uma cada vez mais crescente ojeriza com a “vidinha
[literária”
de par com a imorredoura memória de certas linhas,
por exemplo,
que durante o resto de tempo que me é concedido viver
e na hora H da minha morte,
estampada na minha face esteja a legenda:
O que amas de verdade permanece, o resto é escória.
[...]
Zelar pelo deus Treme-Terra que meu coração devolveu
Não cortejar a morte.
Não perambular pelos cemitérios
nem brindar o luar patético
com caveiras repletas de vinho tinto seco
como um Byron-Castro Alves gótico e obsoleto.
Sereno e cabeça dura – testa ruda –
mirar de frente a caveira
e as tropas de vermes de prontidão
(como observo vermes dentro de um pêssego)
Mas por enquanto gargalhar da irrealidade da morte.
Gozar, gozar e gozar
a exuberância órfica* das coisas
em riba da terra
debaixo
do
céu.
SALOMÃO, Waly. Lábia. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
* Relativo a Orfeu, personagem da mitologia grega associada à poesia e à música.
O poeta baiano Waly Salomão explora nesse poe-
ma os desejos de quem sobreviveu depois de ter enca-
rado a morte. Daí a ironia do título: a expressão latina
post-mortem (depois da morte) nomeia o poema de
alguém que agora decide o que vai fazer com o tempo
que lhe resta. O eu lírico se propõe a mergulhar na
“exuberância órfica das coisas”, num desejo de fruir de
maneira plena o amor e aquilo que a arte e a poesia do
mundo podem oferecer, sem preocupações com aqui-
lo que ele qualifica de “vidinha literária”.
O poeta carioca Chacal é outra das vozes mais
significativas da poesia dos anos 1970:
o poeta que há em mim
não é como o escrivão que há em ti
funcionário autárquico
o profeta que há em mim
não é como a cartomante que há em ti
cigana fulana
o panfleta* que há em mim
não é como o jornalista que há em ti
matéria paga
o pateta que há em mim
não é como o esteta que há em ti
cana a la kant
o poeta que há em mim
é como o voo no homem pressentido.
CHACAL. In: 26 poetas hoje. Org. Heloísa Buarque de Hollanda.
Rio de Janeiro: Labor, 1976.
* O termo aqui equivale a “panfletista”, ou seja, aquele que escre-ve panfletos, feitos com texto curto, violento e sensacionalista, geralmente sobre assuntos políticos, impresso em folha avulsa ou folheto, e de distribuição limitada.
O poema de Chacal (codinome de Ricardo de Car-
valho Duarte) é uma tomada de posição ante o cenário
literário dos anos 1970. O poeta quer individualizar-se
diante do mundo artístico e intelectual de seu tempo,
por isso qualifica negativamente poetas, jornalistas,
estetas. O enunciador, ao caracterizar na última estrofe
o poeta que há dentro dele, se vale de uma comparação
de caráter surrealista e elevado, acentuando a impreci-
são e leveza na sua atividade poética.
O olhar simples e pantaneiro: Manoel de Barros
© M
arle
ne
Be
rgam
o/F
olh
apre
ss
O poeta mato-grossense Manoel de Barros (1916)
explora a poesia das coisas simples e aparentemente
sem importância. Criado em intenso contato com a
natureza do Pantanal, as referências a plantas e pe-
quenos animais povoam a sua obra, marcada por
versos insólitos e fascinantes, por exemplo, “o es-
plendor da manhã não se abre com faca” ou “nossa
maçã come Eva”. A estranheza de suas expressões
demonstra uma percepção atenta sobre a realidade,
permitindo ao leitor a surpresa de ver como novo o
mundo há muito conhecido.
3_TERC_8_LIT.indd 88 9/9/13 10:52 AM

89LITERATURA TERCEIRÃO 8
O catador
Um homem catava pregos no chão.
Sempre os encontrava deitados de comprido,
ou de lado,
ou de joelhos no chão.
Nunca de ponta.
Assim eles não furam mais – o homem pensava.
Eles não exercem mais a função de pregar.
São patrimônios inúteis da humanidade.
Ganharam o privilégio do abandono.
O homem passava o dia inteiro nessa função de catar
pregos enferrujados.
Acho que essa tarefa lhe dava algum estado.
Estado de pessoas que se enfeitam a trapos.
Catar coisas inúteis garante a soberania do Ser.
Garante a soberania de Ser mais do que Ter.BARROS, Manoel de. Tratado geral das grandezas do ínfimo.
Rio de Janeiro: Record, 2001.
O poema pode ser considerado um verdadeiro elo-
gio da vida simples – o que, de certa maneira, retoma o
lugar-comum clássico do aurea mediocritas. O enun-
ciador demonstra que o interesse pelas coisas inúteis
esconde uma grandeza de caráter ético, já que supera
a superficialidade de uma vida orientada apenas pelo
desejo de possuir bens. O “catador”, por isso, é um
homem livre, “soberano” de si mesmo.
A tradição da ironia: José Paulo Paes
José Paulo Paes
(1926 -1998) iniciou a
sua trajetória poética
em 1947. Poeta dos
mais profícuos e erudi-
tos, Paes desenvolveu
sua obra dialogando
com as propostas de
vanguarda e com a tra-
dição. Um dos aspectos
mais marcantes de seu trabalho é o olhar agudo e irô-
nico a respeito da realidade. Essa percepção se mani-
festa por meio de poemas ora sintéticos – o que revela
sua filiação à corrente modernista oswaldiana – ora
extremamente visuais, como pudemos ver no poema
“Epitáfio para um banqueiro”, transcrito na aula 53,
sobre Poesia Concreta. Ao mesmo tempo, Paes domi-
na com desenvoltura o verso metrificado e rimado. O
autor foi ainda um dos nossos mais importantes tradu-
tores, vertendo para o português obras de grandes
poetas da tradição ocidental, dos mais variados idio-
mas: grego, latim, provençal, italiano, inglês, francês,
alemão, espanhol, dentre outros.
À televisão
Teu boletim meteorológico
me diz aqui e agora
se chove ou se faz sol.
Para que ir lá fora?
A comida suculenta
que pões à minha frente
como-a toda com os olhos.
Aposentei os dentes.
Nos dramalhões que encenas
há tamanho poder
de vida que eu próprio
nem me canso de viver.
Guerra, sexo, esporte
– me dás tudo, tudo.
Vou pregar minha porta:
já não preciso do mundo.
PAES, José Paulo. Prosas seguidas de odes mínimas. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
O texto é uma ode à televisão. A ode é um gênero
literário que tem como origem o canto elogioso dos
poetas antigos aos vencedores dos jogos olímpicos.
Embora o poema, a princípio, devesse ser um elogio
à televisão, causa estranheza que o enunciador abdi-
que do mundo para cultivar apenas os prazeres que
o aparelho proporciona. A ironia é radical: preso aos
simulacros de uma realidade aparentemente supe-
rior, o eu lírico isola-se em sua ilusão, satisfeito como
um viciado que se afunda nos gozos de um entorpe-
cente que acabará por levá-lo à morte.
Hilda Hilst: a poesia do sublime e do baixo
Hilda Hilst (1930 -2004)
iniciou sua trajetória lite-
rária ainda ligada aos pa-
drões da poesia metafísica
da Geração de 45. Desde
os primeiros livros, a poe-
tisa abordou temas eleva-
dos como Deus, o amor e a
morte, demonstrando do-
mínio técnico e profundo
conhecimento da tradição.
Hilst também trabalhou
com temas obscenos, con-
siderados “baixos” por
boa parte da tradição crítica. É uma das poetisas
mais consagradas do século XXI. Teve sua poesia
traduzida para diversos idiomas.
© C
lau
dia
Gu
imar
ães/
Folh
apre
ss
© L
en
ise
Pin
he
iro
/Fo
lhap
ress
3_TERC_8_LIT.indd 89 9/9/13 10:52 AM

90TERCEIRÃO 8 LITERATURA
Isso de mim que anseia despedida
(para perpetuar o que está sendo)
Não tem nome de amor. Nem é celeste
Ou terreno. Isso de mim é marulhoso
E tenro. Dançarino também. Isso de mim
É novo: Como quem come o que nada contém.
A impossível oquidão do ovo.
Como se um tigre
Reversivo,
Veemente de seu avesso
Cantasse mansamente.
Não tem nome de amor. Nem se parece a mim.
Como pode ser isso? Ser tenro e marulhoso
Dançarino e novo, ter nome de ninguém
E preferir ausência e desconforto
Para guardar no eterno coração do outro.HILST, Hilda. Cantares. São Paulo: Globo, 2002.
Hilst retoma, com elegância e contemporaneida-
de, o velho tema da definição do amor. A dificuldade
em nomear as contradições sentimentais já se anun-
cia nos primeiros versos. Sem ter nome adequado
para seu sentimento, o enunciador chama-o de “isso
de mim”, e o associa a imagens ligadas à delicadeza,
mas carregadas de um aspecto contraditório, estra-
nho e sempre surpreendente, como um tigre que
canta manso ou o oco de um ovo. Um dos traços mais
relevantes de “isso de mim” é a disposição ao sacrifí-
cio e sofrimento, pois força o enunciador a preferir a
dor e a ausência para guardar na eternidade o “cora-
ção do outro”.
Um lugar à parte: Paulo Leminski
O curitibano Paulo Le-
minski (1944 -1989) é um dos
poetas mais influentes deste
começo de século XXI. Unin-
do rigor técnico a uma dicção
simples e precisa, ele soube
tratar de temas cotidianos e
profundos com lirismo denso.
Vários de seus poemas são
fortemente visuais, com ritmo
leve e repletos de trocadilhos bem-humorados, que
revelam a cada momento formas surpreendentes e
significados inesperados embutidos nas palavras.
Por um lindésimo de segundo
tudo em mim
anda a mil
tudo assim
tudo por um fio
tudo feito
tudo estivesse no cio
tudo pisando macio
tudo psiu
tudo em minha volta
anda às tontas
como se as coisas
fossem todas
afinal de contas.
Transar bem todas as coisas
a Papai do Céu pertence,
fazer as luas redondas
ou me nascer paranaense.
A nós, gente, só foi dada
essa maldita capacidade,
transformar amor em nada.LEMINSKI, Paulo. Distraídos venceremos.
São Paulo: Brasiliense, 1987.
O poema expressa bem os valores da poesia de
Leminski, como a exploração da visualidade – por
meio de uma organização inusitada dos versos na
página – e a linguagem simples e coloquial, cheia de
trocadilhos – como já se verifica no título. Sob essa
simplicidade se esconde, contudo, ecos da poesia
clássica, como a apropriação da temática do descon-
certo do mundo: o enunciador apresenta a dificuldade
de compreender profundamente as coisas, atribuindo
a Deus essa capacidade plena. Aos homens, resta-nos
a capacidade nada edificante de transformar o amor
– o mais sublime dos sentimentos – em nada.
Poesia em diálogo com o mundo pop:
Arnaldo Antunes
© A
dri
ana
Ze
hb
rau
skas
/Fo
lhap
ress
Arnaldo Antunes (1960) é um artista multicultural:
além de poeta respeitado, é compositor e cantor de su-
cesso, com participação relevante no cenário da música
popular brasileira. Foi integrante do grupo de rock Ti-
tãs e segue sua trajetória musical em carreira solo com
© L
uiz
A. N
ova
es/
Folh
apre
ss
3_TERC_8_LIT.indd 90 9/9/13 10:52 AM

91LITERATURA TERCEIRÃO 8
shows e happenings no Brasil e no exterior. Sua poesia
nasce da inspiração concretista, mas, diferentemente
daquela corrente de vanguarda, busca um diálogo mais
próximo com o grande público, por meio de uma lin-
guagem clara, que sutilmente aborda temas complexos,
numa roupagem típica da arte contemporânea.
Os buracos do espelho
o buraco do espelho está fechado
agora eu tenho que ficar aqui
com um olho aberto, outro acordado
no lado de lá onde eu caí
pro lado de cá não tem acesso
mesmo que me chamem pelo nome
mesmo que admitam meu regresso
toda vez que eu vou a porta some
a janela some na parede
a palavra de água se dissolve
na palavra sede, a boca cede
antes de falar, e não se ouve
já tentei dormir a noite inteira
quatro, cinco, seis da madrugada
vou ficar ali nessa cadeira
uma orelha alerta, outra ligada
o buraco do espelho está fechado
agora eu tenho que ficar agora
fui pelo abandono abandonado
aqui dentro do lado de foraArnaldo Antunes. In: <www.arnaldoantunes.com.br>.
O poema mostra o forte desejo de autorreconheci-
mento. O espelho, onde cada um de nós se reflete,
expulsou e abandonou o enunciador, que agora espe-
ra angustiadamente, “do lado de cá”, uma nova opor-
tunidade para se ver e entrar novamente em íntimo
contato consigo mesmo.
Poesia e filosofia: Antonio Cicero
O poeta carioca Antonio
Cicero (1945) conjuga em sua
poesia o rigor da tradição
com as notas seguras de
uma poesia marcadamente
contemporânea. Assim co-
mo Arnaldo Antunes, ele tra-
balha de perto com o mundo
da cultura popular, pois vá-
rios de seus poemas foram
conhecidos pelo grande pú-
blico por terem sido musica-
dos, dentre outros, por artistas como Marina Lima,
Adriana Calcanhoto e João Bosco. Antonio Cicero é
também filósofo. Sua linguagem, marcada por uma
dicção elegante e clássica, aborda temas profundos
retirados ora de uma reflexão rigorosa sobre a existên-
cia, ora de um acontecimento casual, tendo como cená-
rio a cidade do Rio de Janeiro.
Voz
Orelha, ouvido, labirinto:
Perdida em mim a voz de outro ecoa.
Minto:
Perversamente sou-a.CICERO, Antonio. Guardar. Rio de Janeiro: Record, 1996.
Este poema breve apresenta um elemento caro à
estética clássica: a maneira como o artista deve dialogar
com a arte que existe previamente a ele. Pode ser con-
siderado uma pequena Arte poética, no sentido de uma
exposição dos procedimentos da criação poética. No
texto, o enunciador afirma escutar uma voz que entra
física e fisiologicamente em seu corpo. A incorporação
da voz do outro não se dá, contudo, de maneira passiva,
como um eco; pelo contrário: o poeta apropria-se ativa-
mente dela, tornando-se a voz estranha que soava per-
dida em si mesmo. A paronomásia (figura de linguagem
que aproxima palavras de sons semelhantes, mas de
significados diferentes) entre os termos “soa” (do verbo
soar) e “sou-a” acentua a indefinição do que era o outro
e do que é agora o enunciador.
TEXTOS PARA A QUESTÃO 1
Digitações
A poética é uma máquina
Há um código central
Em que se digita ANULA
É a máquina do nada
Que anda ao contrário
Da sua meta
A repetição é a morte
Noutro código lateral
Digita-se ENTRA
E os cupins invadem o quartoSebastião Uchoa Leite
1. (Mack-SP) Assinale a alternativa correta.
� a) O poema traz marcas da contemporaneidade tanto na
forma escolhida pelo poeta (versos livres e brancos),
como nas imagens utilizadas.
b O texto recupera do estilo surrealista a valorização dos
aspectos técnicos de composição, como os efeitos so-
noros, por exemplo, em detrimento do conteúdo.© A
na
Car
olin
a Fe
rnan
de
s/Fo
lhap
ress
3_TERC_8_LIT.indd 91 9/9/13 10:52 AM

92TERCEIRÃO 8 LITERATURA
c) A sintaxe fragmentada, apoiando-se em frases nomi-
nais, é marca do estilo “telegráfico”, muito valorizado
pelo modernista Oswald de Andrade.
d) Ao enaltecer a subjetividade do artista, o texto recupera
aspecto significativo do estilo de João Cabral de Melo
Neto, poeta da terceira fase do Modernismo brasileiro.
e) A idealização do progresso tecnológico, o uso de “pa-
lavras em liberdade” e a ausência de pontuação, confir-
mando-se, assim, tratar-se de um texto do Futurismo.
TEXTOS PARA AS QUESTÕES 2 E 3
Texto I
Corte
O dia segue normal. Arruma-se a casa. Limpa-se
em volta. Cumprimenta-se os vizinhos. Almoça-se
ao meio-dia. Ouve-se rádio à tarde. Lá pelas 5 horas,
inicia-se o sempre.MELLO, Maria Amélia. Corte. Minas Gerais, Belo Horizonte,
n. 686, ano XIV, 24 nov. 1979. Suplemento Literário, p. 9.
Texto II
Solar
Minha mãe cozinhava exatamente:
arroz, feijão-roxinho, molho de batatinhas.
Mas cantava.PRADO, Adélia. O coração disparado. 3. ed. Rio de Janeiro:
Salamandra, 1984. p. 28.
2. (UEL-PR) Com base nos textos I e II, é correto afirmar:
a) Em ambos os textos, há referências explícitas a uma fi-
gura feminina como agente das ações mencionadas.
b) A ênfase em uma ação tipicamente feminina revela-se
com mais clareza em “Corte” através da frase “Almoça-se
ao meio-dia”.
� c) Em “Solar”, sobressai a ideia de cumplicidade entre o
sujeito lírico e a figura materna, que torna o cotidiano
doméstico menos enfadonho.
d) As autoras expõem posicionamentos feministas que
sugerem ser a subversão a melhor resposta à opressão
masculina.
e) Em “Solar”, há uma espécie de perturbação do sujeito
lírico com a inconstância da ação da figura materna.
3. (UEL-PR) Sobre o texto II, considere as afirmativas a seguir.
I. O verbo cantar remete a uma prática que contrasta
com o prosaico pouco expressivo do cotidiano.
II. Os ingredientes enumerados – arroz, feijão-roxinho e
molho de batatinhas – representam o descaso da
mãe com a família.
III. O último verso é introduzido por uma conjunção que
expressa o sentido de oposição.
IV. O texto é narrativo porque os atos de cozinhar e can-
tar são mostrados em uma sequência cronológica.
Estão corretas apenas as afirmativas:
a) I e II. d) I, II e IV.
� b) I e III. e) II, III e IV.
c) III e IV.
TAREFA MÍNIMA
t� Leia o texto da aula.
Caderno de Exercícios
t� Faça os exercícios 1 a 3.
TAREFA COMPLEMENTAR
Caderno de Exercícios
t� Faça os exercícios 4 a 7.
3_TERC_8_LIT.indd 92 9/9/13 10:52 AM

93LITERATURA TERCEIRÃO 8
1 Muito além de Fernando Pessoa
Depois de um início de século vigoroso, com a
geração de artistas reunidos em torno da revista Or-
pheu, lançada em 1915, a literatura portuguesa pare-
ceu entrar em refluxo. Na verdade, o nome forte de
Fernando Pessoa funciona como ímã, impedindo,
por vezes, que se veja um cenário mais amplo. Vi-
vendo sob regime ditatorial a partir de 1926, a cultu-
ra portuguesa experimentou dois polos distintos de
manifestação. De um lado, a introspecção, marca
registrada da segunda geração do Modernismo luso,
cujo órgão de divulgação, a revista Presença, lançada
em 1927, trazia em seus primeiros números artigos
de defesa de uma literatura psicologizante. De outro
lado, o engajamento político, na etapa seguinte, a do
Neorrealismo, que teve na publicação do romance
Gaibéus, de Alves Redol, em 1939, seu ato inaugural.
No entanto, esta polarização ainda não dá conta
do panorama literário português, notadamente a
partir da segunda metade do século XX. Ele nos re-
serva boas surpresas, como a poesia surrealista de
Mário Cesariny, por exemplo, que buscou novos ca-
minhos expressivos, embora sem fugir do ambiente
político em que se encontrava. Outros nomes de
destaque na poesia foram: Sophia de Mello Breyner
Andresen, Jorge de Sena, Carlos de Oliveira, Eugé-
nio de Andrade, David Mourão Ferreira, Herberto
Helder, E. M. de Melo e Castro, Al Berto, Nuno Júdi-
ce, entre outros.
No terreno da ficção, alguns de seus principais
representantes trilharam caminhos parecidos. Mi-
guel Torga fez do inconformismo seu principal moti-
vo, traduzindo-o em obras de caráter autobiográfico
(Diário) e utilizando ainda o recurso da fábula (como
em Bichos). Vergílio Ferreira veio do Neorrealismo,
mas logo derivou para um estilo filosófico, de teor
existencialista, tratando de sentimentos contraditó-
rios, como no romance Aparição. Trajetória seme-
lhante cumpriu José Cardoso Pires, buscando man-
ter-se distante de programas estéticos definidos,
bem como da retórica narrativa para se concentrar
no trabalho com a palavra. Agustina Bessa-Luís lan-
çou, em 1954, o romance A sibila, com o qual ganhou
lugar de destaque na ficção portuguesa do século. O
livro sintetiza algumas das qualidades da escritora,
como a sensibilidade no registro da cultura lusitana
e, acima de tudo, um notável refinamento estilístico.
Da geração seguinte, destaca-se Helder Macedo,
cujo romance Pedro e Paulo (1998) mantém a referên-
cia histórica ao tratar da trajetória de dois irmãos que
viveram sob a ditadura salazarista.
O panorama luso se amplia com nomes impor-
tantes, surgidos na virada do século XX para o XXI.
O escritor valter hugo mãe, que grafa seu nome com
as iniciais em letras minúsculas, lançou em 2006 O
remorso de Baltazar Serapião, contendo grande teor
de inovação linguística. A temática urbana é a linha-
gem em que se incluem Rui Zink e Inês Pedrosa,
enquanto a ambientação rural mostra sua força na
obra de José Riço Direitinho.
Essa ampliação é ainda maior quando se considera
os talentos surgidos em terras lusófonas, como os an-
golanos Agostinho Neto, José Luandino Vieira, Pepe-
tela, José Eduardo Agualusa e Ondjaki, o moçambicano
Carlos Cardoso e o cabo-verdiano Manuel Lopes.
LITERATURA LUSÓFONA CONTEMPORÂNEA
Capa do romance
Gaibéus, de Alves Re-
dol, cuja publicação
é tida como marco
inaugural do Neorre-
alismo português. © D
ivu
lgaç
ão
Primeiro número da re-
vista Presença (1927).
© B
iblio
teca
Ge
ral d
a U
niv
ers
idad
e d
e C
oim
bra
, Po
rtu
gal
3_TERC_8_LIT.indd 93 9/9/13 10:52 AM

94TERCEIRÃO 8 LITERATURA
Para representar uma produção tão ampla e im-
portante, escolhemos aprofundar o estudo dos por-
tugueses José Saramago e António Lobo Antunes e
do moçambicano Mia Couto.
José Saramago
José Saramago nasceu
na aldeia de Golegã, em
1922. De família humilde, fi-
lho de pais analfabetos, de-
dicou-se a diversas ocupa-
ções para ganhar a vida: foi
serralheiro mecânico, dese-
nhista, modesto funcionário
do serviço de saúde e da
previdência social, mas, des-
de a infância, revelara forte
interesse pela leitura, o que
o encaminhou posteriormente para o trabalho com as
palavras, como editor, tradutor e jornalista. Sempre
defendeu pontos de vista bastante pessoais e polêmi-
cos, sem se preocupar em ser agradável aos podero-
sos. Sua consagração total como escritor só viria em
1982, com a publicação de Memorial do Convento.
Desde então a obra de José Saramago tem sido muito
lida e discutida, o que fez dele o escritor contemporâ-
neo mais influente do idioma. Em 1995, Saramago foi
laureado com o prêmio Camões, um dos mais presti-
giados do mundo lusófono. Três anos depois, a acade-
mia sueca concedeu a ele o Prêmio Nobel de Literatura,
o primeiro concedido a um autor da língua portuguesa.
O prestígio não livrou Saramago de intensas polêmi-
cas. Devido ao seu livro O evangelho segundo Jesus
Cristo, foi duramente atacado por setores eclesiásticos
e por críticos que acusaram o autor – um ateu militante
– de ter feito uma leitura subjetiva e distante dos câno-
nes propostos pela Igreja. Devido às consequências
dessa polêmica, Saramago decidiu mudar-se de Portu-
gal para a ilha de Lanzarote, no arquipélago espanhol
das Canárias, próximo ao continente africano. Foi nes-
sa inóspita ilha que o escritor faleceu, no ano de 2010,
aos 87 anos.
O estilo
José Saramago criou um estilo único, em que incor-
porou o português erudito a formas e expressões tipi-
camente orais. Uma das principais marcas de sua prosa
é a maneira peculiar com que registra os diálogos de
suas personagens, por meio do uso pouco convencio-
nal dos sinais de pontuação, e da eliminação do traves-
são para indicar o discurso direto. Eis um exemplo:
O motorista olhou pelo retrovisor, julgou que o passa-
geiro não ouvira, já abria a boca para repetir, Para onde,
mas a resposta chegou primeiro, ainda irresoluta*, suspen-
siva, Para um hotel, Qual, Não sei, e tendo dito, Não sei,
soube o viajante o que queria, com tão firme convicção
como se tivesse levado toda a viagem a ponderar a esco-
lha, Um que fique perto do rio, cá para baixo, Perto do rio
só se for o Bragança, ao princípio da Rua do Alecrim, não
sei se conhece, Do hotel não me lembro, mas a rua sei
onde é, vivi em Lisboa, sou português, Ah, é português,
pelo sotaque pensei que fosse brasileiro, Percebe-se assim
tanto, Bom, percebe-se alguma coisa, Há dezesseis anos
que não vinha a Portugal, Dezasseis anos são muitos, vai
encontrar grandes mudanças por cá, e com estas palavras
calou-se bruscamente o motorista.SARAMAGO, José. O ano da morte de Ricardo Reis.
Portugal: Círculo de leitores, 1986.
* Indecisa.
Nesse trecho, Ricardo Reis, o heterônimo clássico de
Fernando Pessoa, retorna a Lisboa. Recém-chegado,
apanha um táxi e conversa com o motorista. A maneira
como o diálogo é apresentado pode causar estranha-
mento. O narrador introduz as vozes das personagens
sem os tradicionais travessões. Mas isso não chega a
causar confusão: numa leitura atenta, é possível perce-
ber marcas nítidas de separação das vozes das persona-
gens e do narrador. Usa-se a vírgula seguida de uma
letra maiúscula, para indicar a troca das vozes.
Realismo fantástico
No texto anterior, José Saramago usou como per-
sonagem um poeta inventado por Fernando Pessoa.
No romance O ano da morte de Ricardo Reis, o heterô-
nimo, depois de um autoexílio no Brasil, retorna a
Lisboa, onde vai assistir ao conturbado período histó-
rico do ano de 1936, quando iniciava o período salaza-
rista. Essa mistura entre ficção e realidade foi muito
explorada pelo grande romancista. Em Memorial do
Convento, fatos e personagens históricos conhecidos
do século XVIII são entremeados a uma narrativa de
caráter fantástico, com personagens dotadas de pode-
res sobrenaturais. É o caso de Blimunda, que tinha o
estranho poder de ver as pessoas por dentro:
Que poder é esse teu, Vejo o que está dentro dos
corpos, e às vezes o que está no interior da terra, vejo o
que está por baixo da pele, e às vezes mesmo por baixo
das roupas, mas só vejo quando estou em jejum, perco
o dom quando muda o quarto da lua, mas volta logo a
seguir, quem me dera que o não tivesse, Porquê, Porque
o que a pele esconde nunca é bom de ver-se, Mesmo
a alma, já viste a alma, Nunca a vi, Talvez a alma não
esteja afinal dentro do corpo, Não sei, nunca a vi, Será
© T
uca
Vie
ira/
Folh
apre
ss
3_TERC_8_LIT.indd 94 9/9/13 10:52 AM

95LITERATURA TERCEIRÃO 8
porque não se possa ver, Será, e agora larga-me, tira a
perna de cima de mim, que me quero levantar.
SARAMAGO, José. Memorial do Convento. Portugal: Editorial Caminho, 1986.
O diálogo se dá entre Baltazar (conhecido como Se-
te-Sóis) e Blimunda (conhecida como Sete-Luas) pou-
co tempo depois de se conhecerem. Ambos são pobres
e suspeitos aos olhos da poderosa Inquisição. Em outro
eixo narrativo, o leitor vai conhecer o dia a dia do rei D.
João V, que, para pagar uma promessa, manda erguer
em 1717, na cidadezinha de Mafra, um convento e um
palácio monumentais financiados com o ouro que che-
gava fartamente do Brasil. Mais de 50 mil homens tra-
balharam em condições desumanas nessa construção.
O evidente contraste entre o luxo e a miséria no século
XVIII dá ao livro uma dimensão social que transcende
seus limites temporais e serve de denúncia da explora-
ção do trabalho até nos dias de hoje.
Blimunda e Baltazar envolveram-se com o padre
brasileiro Bartolomeu de Gusmão – personagem que
existiu historicamente. O padre, que era um livre-
-pensador, sonhava em voar com um aparelho em
forma de ave, a “passarola”, e precisava que Blimun-
da o ajudasse a recolher as “vontades” de dentro das
pessoas. Segundo o padre, sem esse fluido etérico
seu aparelho nunca deixaria o chão.
Como se pode ver, Saramago entrelaça de maneira
sutil e convincente a mais aberta fantasia com referên-
cias precisas, renovando o gênero do romance histórico.
As grandes alegorias da modernidade
Saramago não se resume a
um escritor que resgata tem-
pos passados. Faz também
grandes alegorias do presente,
em que se esboça forte pessi-
mismo, mas em que não se
apaga a chama daquilo que há
de mais elevado na condição
humana: o amor e a arte. Bom
exemplo disso é o romance
Ensaio sobre a cegueira. Numa
cidade e num tempo impreci-
sos, alastra-se uma estranha
epidemia de cegueira, em que
os doentes só tinham a cor branca diante dos olhos,
como se estivessem mergulhados em um “mar de
leite”. Somente a mulher do médico que cuidou dos
primeiros doentes não ficou cega e, assim, pôde tes-
temunhar os mais vis horrores a que os humanos
foram rebaixados. O ditado que diz “em terra de ce-
go, quem tem um olho é rei” é gritantemente contra-
riado. A mulher do médico vivencia o absurdo de
enxergar quando todas as pessoas (da cidade, do
país, do mundo) são jogadas na bruta luta pela sobre-
vivência, numa condição de animalidade total.
O sol tinha rompido, brilhava nas poças de água forma-
das entre o lixo, via-se melhor a erva que crescia entre as
pedras da calçada. Havia mais gente fora. Como se orien-
tarão eles, perguntou-se a mulher do médico. Não se orien-
tavam, caminhavam rente aos prédios com os braços es-
tendidos para a frente, continuamente esbarravam uns nos
outros como as formigas que vão no carreiro, mas quando
tal sucedia não se ouviam protestos, nem precisavam fa-
lar, uma das famílias despegava-se da parede, avançava
ao comprido da que vinha em direção contrária, e assim
seguiam e continuavam até ao próximo encontro. De vez
em quando paravam, farejavam à entrada das lojas, a sen-
tir se vinha cheiro de comida, qualquer que fosse, depois
prosseguiam o seu caminho, viravam uma esquina, desa-
pareciam da vista, daí a pouco surgia dali outro grupo, não
traziam ar de haver encontrado o que buscavam.SARAMAGO, José. Ensaio sobre a cegueira.
São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
O narrador mostra o impressionante quadro de
desolação a que chegara a humanidade após a epide-
mia. A doença é marcada pelo branco, que é a cor as-
sociada à razão, à luz. A cegueira branca parece indicar
os exageros a que chegou a moderna sociedade racio-
nalista. O absurdo da cegueira branca se acentua pela
total ausência de explicações sobre as causas da doen-
ça ou suas possíveis curas, como a indicar que a ordem
em que nós vivemos pode também ser subvertida radi-
calmente, transformando as pessoas, sem distinção de
classe ou raça, num único conjunto de seres lutando
pela sobrevivência. Basta pensar num desastre ecoló-
gico de dimensões mundiais.
António Lobo Antunes
António Lobo Antunes
(1942) nasceu em Lisboa e
seguiu a carreira da Medici-
na, especializando-se em
Psiquiatria. Na condição de
médico, serviu em Angola
durante a guerra civil, entre
1971 e 1973, experiência que
marcaria profundamente
sua obra literária. Mesmo
mantendo a dedicação à Medicina (disse certa vez
que continuava a ir ao hospital apenas para não se
sentir maluco), Lobo Antunes é bastante reconheci-
do por sua ficção.
Cartaz do filme Ensaio sobre
a cegueira, de Fernando Mei-
relles, inspirado no romance
homônimo de José Saramago.
© D
ivu
lgaç
ão
© E
ric
Fou
ge
re/K
ipa/
Co
rbis
/Lat
inSt
ock
3_TERC_8_LIT.indd 95 9/9/13 10:52 AM

96TERCEIRÃO 8 LITERATURA
Dramas humanos
Em suas obras, António Lobo Antunes aborda
preferencialmente temas relacionados à morte, à soli-
dão, à frustração, às dificuldades das relações huma-
nas. Tais dramas são ambientados na vida burguesa
de Lisboa, da qual é originário o próprio autor. Suas
influências mais evidentes são: os cinemas norte-
-americano e italiano, o ritmo do jazz e alguns escrito-
res que o encantaram na adolescência, como Céline,
Hemingway, Sartre, Camus, Júlio Verne, etc. A gran-
de presença de referências estrangeiras se deve, co-
mo ele mesmo sugere, à sua origem parte brasileira
(um avô) e parte alemã (uma avó).
Entre suas obras, contam-se: Memória de elefante
(1979), Os cus de Judas (1979), Conhecimento do inferno
(1980), O manual dos inquisidores (1988), Fado alexan-
drino (1983), O esplendor de Portugal (1997), Exortação
aos crocodilos (1999) e Não entres tão depressa nessa
noite escura (2000).
A guerra como motivo de ficção
A colonização portuguesa em Angola teve início no
final do século XV. Durante a ditadura do Estado Novo,
que se prolongou no país de 1926 a 1974, os órgãos de
repressão interna também estendiam seus tentáculos
às colônias. Muitos grupos locais de resistência ao do-
mínio lusitano foram organizados, como o Movimento
Popular Libertação de Angola (MPLA). Durante as dé-
cadas de 1960 e 1970, a manutenção da guerra colonial
minava as bases do governo autoritário, cada vez mais
frágeis. Com o fim da ditadura lusa, em 25 de abril de
1974, iniciou-se o processo de desmontagem do apara-
to colonial, e a independência de Angola foi finalmente
proclamada em 1975.
Em seus primeiros livros, publicados nos anos 1970,
António Lobo Antunes compõe um painel brutal e áci-
do da guerra angolana. As feridas ainda estavam aber-
tas entre os portugueses e esses livros se constituíram
em fontes de reflexão sobre toda a sociedade lusa.
Os cus de Judas
O romance Os cus de Judas
é a transposição ficcional de
uma experiência efetiva do au-
tor: sua participação como mé-
dico militar na guerra que
opôs o exército português à
guerrilha de Angola, então co-
lônia de Portugal. O título, pro-
positadamente chulo, sugere
algumas das linhas fundamen-
tais do romance. De um lado,
refere um lugar distante; de outro, um rebaixamento
físico e moral – a degradação provocada pela expe-
riência trágica da guerra de conquista e de coloniza-
ção. Há, ainda, um outro sentido pertinente ao enredo
da obra: entre os membros do Movimento Popular de
Libertação de Angola (MPLA), um dos grupos de
guerrilha organizados na luta pela independência, a
expressão era usada para qualificar exatamente os
traidores. Assim, o título denunciaria o estigma de
quem se sente traído por seu país, e traidor dos pró-
prios ideais.
O que fizeram do meu povo, O que fizeram de nós
sentados à espera nesta paisagem sem mar, presos por
três fieiras1 de arame farpado numa terra que nos não
pertence, a morrer de paludismo2 e de balas cujo per-
curso silvado3 se aparenta a um nervo de nylon que vi-
bra, alimentados por colunas4 aleatórias cuja chegada
depende de constantes acidentes de percurso, de em-
boscadas e de minas, lutando contra um inimigo invi-
sível, contra os dias que se não sucedem e indefinida-
mente se alongam, contra a saudade, a indignação e o
remorso, contra a espessura das trevas opacas, tal um
véu de luto, e que puxo para cima da cabeça a fim de
dormir, como na infância utilizava a bainha5 do lençol
para me defender das pupilas de fósforo azul dos meus
fantasmas.
[...] Talvez a guerra tenha ajudado a fazer de mim
o que sou hoje e que intimamente recuso: um solteirão
melancólico a quem se não telefona e cujo telefonema
ninguém espera, tossindo de tempos a tempos para se
imaginar acompanhado, e que a mulher a dias6 acabará
por encontrar sentado na cadeira de baloiço7 em cami-
sola interior8, de boca aberta, roçando os dedos roxos
no pelo cor-de-novembro da alcatifa9.ANTUNES, António Lobo. Os cus de Judas. 19. ed. Lisboa:
Publicações Dom Quixote, 1997.
1. Fileira.
2. O mesmo que malária, doença aguda causada por parasitas.
3. Que produz som agudo.
4. Grupo de soldados.
5. Dobra de tecido.
6. Faxineira.
7. Cadeira de balanço.
8. Camiseta.
9. Tapete.
A narrativa se desenvolve como um grande mo-
nólogo do protagonista, que conversa em um bar
com uma mulher cuja fala não aparece jamais. Em
seu discurso, o narrador rememora a experiência da
guerra, cujas marcas se estendem ao presente e de-
terminam a visão cética que ele tem da vida e da so-
ciedade. No trecho, percebe-se a mistura da perspec- © D
ivu
lgaç
ão/E
dit
ora
Ob
jeti
va
3_TERC_8_LIT.indd 96 9/9/13 10:52 AM

97LITERATURA TERCEIRÃO 8
tiva social, na referência à guerra, com o intimismo,
presente nas considerações pessoais que desenvolve.
O estilo caudaloso reproduz de forma expressiva a
angústia que toma conta do narrador em seu relato
desesperado da experiência vivida e que impregna
sua existência.
2 Literatura lusófona africana
Há um grupo de países africanos que guardaram a
língua como herança colonial e possuem uma quanti-
dade significativa de obras e autores importantes.
Esses artistas têm revelado ao mundo uma realidade
muito marcada pelas consequências das lutas san-
grentas travadas pela independência política e tam-
bém suas guerras internas oriundas desses conflitos.
Mia Couto
© K
arim
e X
avie
r/Fo
lhap
ress
Contista, poeta e romancista moçambicano.
Filho de portugueses, Mia Couto nasceu na Beira,
em Moçambique, em 1955. Cursou Medicina até o
terceiro ano, quando começou a atuar como jornalis-
ta, impulsionado pela militância na Frente de Liber-
tação de Moçambique.
Mia Couto formou-se em Biologia e trabalha atual-
mente na reserva de Inhaca, em Moçambique. Acredi-
ta que se manter ativo em diferentes profissões é uma
forma de estar aberto para o mundo.
É um dos principais escritores africanos e também
um dos mais traduzidos, comparado a Gabriel García
Márquez e Guimarães Rosa. Seu romance Terra sonâm-
bula foi considerado um dos dez melhores livros africa-
nos do século XX. Em 1999, o autor recebeu o prêmio
Vergílio Ferreira pelo conjunto de sua obra e, em 2007,
o prêmio União Latina de Literaturas Românicas.
Um olhar sobre duas obras, de características
diferentes e complementares do escritor africano,
ajuda a perceber o estilo particular desenvolvido no
trabalho literário de Mia Couto.
Terra sonâmbula – um lugar destruído pelo colonialismo
português
É estimado que um mi-
lhão de moçambicanos te-
nham morrido na guerra
civil em consequência dos
conflitos internos posterio-
res à libertação do país em
1975. Terra sonâmbula é um
romance que trata da ne-
cessidade de reconstrução
de um local destruído pela
violência.
O menino Muidinga e o
velho Tuahir, representantes
de duas gerações, de dois tempos diferentes no mes-
mo lugar, andam juntos por uma estrada, acreditan-
do que ela possa conter alguma promessa de futuro.
Em um ônibus incendiado, que serve de abrigo
temporário aos dois, encontram, entre os corpos
carbonizados, o diário de Kindzu, que procurava os
naparamas, guerreiros tradicionais abençoados pe-
los feiticeiros. Enquanto o menino segue em busca
de suas raízes, é narrada em flashback a trajetória de
Kindzu. As duas histórias acabam por fundir-se em
uma mensagem de esperança.
Repleta de metáforas líricas, Terra sonâmbula é
uma obra otimista, na qual predominam a busca e o
sonho em meio a um lugar em que impera a morte,
a sujeira e o céu cinza. O que verdadeiramente se
procura é a identidade moçambicana.
Naquele lugar, a Guerra tinha morto a Estrada. Pelos
caminhos só as hienas se arrastavam, focinhando entre
cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas
nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. Eram
cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza,
esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui,
o céu se tornara impossível. E os viventes se acostuma-
ram ao chão, em resignada aprendizagem da morte.
A estrada que agora se abre a nossos olhos não se
entrecruza com outra nenhuma. Está mais deitada que
os séculos, suportando sozinha toda a distância. Pelas
bermas1 apodrecem carros incendiados, restos de pilha-
gens. Na savana em volta, apenas os embondeiros2 con-
templam o mundo a desflorir3.
Um velho e um miúdo vão seguindo pela Estrada.
Andam bambolentos4 como se caminhar fosse seu único
serviço desde que nasceram. Vão para lá de nenhuma
parte, dando o vindo por não ter ido, à espera do adian-
te. Fogem da Guerra, dessa Guerra que contaminara
toda a sua terra. Vão na ilusão de, mais além, haver um
© D
ivu
lgaç
ão/C
om
pan
hia
das
Le
tras
3_TERC_8_LIT.indd 97 9/9/13 10:52 AM

98TERCEIRÃO 8 LITERATURA
refúgio tranquilo. Avançam descalços, suas vestes têm a
mesma cor do caminho.COUTO, Mia. Terra sonâmbula. São Paulo:
Companhia das Letras, 2007.
1. Passagens estreitas que separam canais, trincheiras ou fossos.
2. Árvore nativa da região tropical da África.
3. Neologismo que significa: secar, definhar, entristecer, murchar.
4. Neologismo que significa: com o corpo “bambo”, sem firmeza.
O texto pode ser considerado um bom exemplo
de prosa poética. Com claras influências de Guima-
rães Rosa, Mia Couto desenha um panorama triste e,
ao mesmo tempo lírico, da situação em que se en-
contram suas personagens. O tom que predomina
no fragmento é, apesar de tudo, esperançoso, de
encontro de um refúgio tranquilo. Os andarilhos se
confundem não apenas com a terra da estrada, mas
com o próprio país a que pertencem. É possível iden-
tificar exemplos de neologismos como bambolen-
tos, cujos significados se depreendem do contexto
em que são aplicados, contribuindo para uma rique-
za sonora que traduz de forma peculiar o universo
que descreve.
O fio das missangas
Da mesma forma que o romance Terra sonâmbu-
la, o livro de contos O fio das missangas também tem
Moçambique como cenário principal. Os textos da
obra abordam principalmente o universo feminino,
retratando mulheres condenadas ao esquecimento
ou maltratadas pelos homens que as cercam. São 29
pequenos contos em que o autor se empenha para
criar um panorama da vida, dos hábitos e da cultura
moçambicana.
Continuando a fazer uso de neologismos, aqui as
palavras inventadas funcionam também como ins-
trumento de interpretação do ambiente das narrati-
vas e ganham múltiplos significados que revelam
aspectos da alma do país. Além disso, há ainda espa-
ço para o realismo mágico e também para a explora-
ção do humor de algumas situações.
O homem cadente
Quando me vieram chamar, nem acreditei:
— É Zuzézinho! Está caindo do prédio.
E as gentes, em volta, se depressavam para o suce-
dido. Me juntei às correrias, a pergunta zaranzeando1:
o homem estava caindo? Aquele gerúndio era um des-
mando nas graves leis da gravidade: quem cai, já caiu.
Enquanto corria, meu coração se constringia2. Ante-
via meu velho amigo estatelado na calçada. Que suce-
dera para se suicidar, desabismado? Que tropeção der-
rubara a sua vida? Podia ser tudo: os tempos de hoje são
lixívia3, descolorindo os encantos.
Me aproximava do prédio e já me aranhava na mul-
tidão. Coisa de inacreditar: olhavam todos para cima.
Quando olhei os céus, ainda mais me perturbei: lá esta-
va, pairando como águia-real, o Zuzé Neto. O próprio
José Antunes Marques Neto, em artes de aeroanjo. Es-
tava caindo? Se sim, vinha mais lento que o planar do
planeta pelos céus.
Atirara-se quando? Já na noite anterior, mas o povo
só notara no sequente dia. Amontara-se logo a mundi-
dão e, num fósforo, se fabricaram explicações, episte-
mologias4. Que aquilo provinha de ele ter existência
limpa: lhe dava a requerida leveza. Fosse um político e,
com o peso da consciência, desfechava logo de focinho.
Outros se opunham: naquele estado de pelicano, o ci-
dadão fugia era de suas dívidas. Ninguém cobra no ar.
Houve até versão dedicadamente cristã. Um miro-
ne5, longilongo, vestido como se coubesse numa só
manga, bradejou apontando o firmamento:
Aquilo, meus senhores, é o novo Cristo. COUTO, Mia. O fi o das missangas.
São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
1. Neologismo que significa: rondando insistentemente.
2. Apertava em volta, diminuía o calibre.
3. Solução alcalina, detergente.
4. Teoria do conhecimento.
5. Observador, testemunha.
O narrador, nesse trecho, observa o amigo que,
numa situação insólita, permanece flutuando ao ten-
tar se jogar do alto de um edifício. O trecho exempli-
fica tanto a exploração do realismo mágico nos contos
do autor, como a presença do humor. O uso de neo-
logismos merece especial atenção, palavras como
depressavam e mundidão são usadas como repre-
sentação de uma oralidade específica e revelam a
forma de expressão das personagens, contribuindo
para apresentá-las ao leitor.
TEXTO PARA A QUESTÃO 1
No trecho a seguir, do romance Ensaio sobre a cegueira,
de José Saramago, um deficiente visual dá conta de co-
mo estava o mundo depois que todas as pessoas foram
acometidas da cegueira branca:
Os que andam em grupo, como nós, como quase
toda a gente, quando temos de procurar comida somos
obrigados a ir juntos, é a única maneira de não nos per-
dermos uns dos outros, e como vamos todos, como nin-
guém ficou a guardar a casa, o mais certo, supondo que
tínhamos conseguido dar com ela, é estar já ocupada
por outro grupo que também não tinha podido encon-
trar a sua casa, somos uma espécie de nora* às voltas,
ao princípio houve algumas lutas, mas não tardámos a
3_TERC_8_LIT.indd 98 9/9/13 10:52 AM

99LITERATURA TERCEIRÃO 8
perceber que nós, os cegos, por assim dizer, não temos
praticamente nada a que possamos chamar nosso, a
não ser o que levarmos no corpo, A solução estaria em
viver dentro duma loja de comidas, ao menos enquanto
elas durassem não seria preciso sair, Quem o fizesse, o
mínimo que lhe poderia acontecer era nunca mais ter
um minuto de sossego, digo o mínimo porque ouvi falar
do caso de uns que o tentaram, fecharam-se, trancaram
as portas, mas o que não puderam foi fazer desaparecer
o cheiro da comida, juntaram-se fora os que queriam
comer, e como os de dentro não abriram, pegou-se fogo
à loja, foi remédio santo, eu não vi, contaram-me, de
toda a maneira foi remédio santo, que eu saiba ninguém
mais se atreveu, [...]SARAMAGO, José. Ensaio sobre a cegueira.
São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
* Neste caso, a palavra nora designa um mecanismo composto de uma roda que faz girar a corda a que estão presos recipientes para tirar água de poços ou cisternas.
1. O trecho apresenta um diálogo em discurso direto. Con-
tudo, o narrador omite os verbos e sinais como traves-
sões ou aspas para indicar a alternância da fala entre os
interlocutores. Quais as marcas textuais que evidenciam
a troca das falas entre as personagens? A partir desta
constatação, localize o trecho onde a fala da primeira
personagem é interrompida por um comentário do in-
terlocutor.
As marcas textuais que evidenciam a troca de falas
entre as personagens é uma vírgula seguida de uma
palavra com inicial maiúscula. O comentário aposto à
fala da primeira personagem é “A solução estaria em
viver dentro duma loja de comidas, ao menos enquanto
elas durassem não seria preciso sair”.
2. A que condição os seres humanos são rebaixados após
a epidemia de cegueira branca?
Os seres humanos são rebaixados a uma condição de
animais lutando pela sobrevivência. Nessa fábula, os
valores que orientam a atual sociedade de consumo –
como o luxo e a sofisticação – são completamente irre-
levantes.
3. (Unicamp-SP) Leia a seguinte passagem de Os cus de
Judas, de António Lobo Antunes:
Deito um centímetro mentolado de guerra na es-
cova de dentes matinal, e cuspo no lavatório a espu-
ma verde-escura dos eucaliptos de Ninda1, a minha
barba é a floresta do Chalala2 a resistir ao napalm3
da gilete, um grande rumor de trópicos ensanguen-
tados cresce-me nas vísceras, que protestam.ANTUNES, António Lobo. Os cus de Judas.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2003.
1. Localidade angolana.
2. Localidade angolana.
3. Substância usada na fabricação de bombas incendiárias.
Que recurso estilístico o narrador utiliza para aproximar
a guerra de seu cotidiano? Cite dois exemplos.
O narrador recorre a uma série de metáforas da guerra
que a associam com ações corriqueiras do cotidiano,
como o simples ato de se barbear relatado no trecho:
“um centímetro mentolado de guerra” (isto é, pasta de
dentes), “a espuma verde-escura dos eucaliptos de
Ninda”, “a minha barba é a floresta do Chalala”, “napalm
da gilete”. Tais metáforas criam a alegoria de uma guerra
que impregna o indivíduo, tanto em suas atitudes banais
como em sua própria constituição física, como mostra o
trecho: “um grande rumor de trópicos ensanguentados
cresce-me nas vísceras, que protestam”.
4. Uma das personagens de O fio das missangas, de Mia
Couto, era desprezada pelo marido. Assinale a opção em
que a passagem do texto NÃO caracteriza o estado de
submissão e passividade vivido por ela:
a) “Hoje será como todos os dias: lhe falarei, junto ao
leito, mas ele não me escutará. Não será essa a dife-
rença. Ele nunca me escutou.”
b) “Onde vivo não é na sombra. É por detrás do sol, onde
toda a luz há muito se pôs.”
c) “Agora, pelo menos, já não sou mais corrigida. Já não
recebo enxovalho, ordem de calar, de abafar o riso.”
� d) “Amanhã, tenho que me lembrar para não preparar o
cesto da visita.”
e) “Como a pedra, que não tem espera nem é esperada,
fiquei sem idade.”
TAREFA MÍNIMA
t� Leia o texto da aula.
Caderno de Exercícios
t� Faça os exercícios 1 a 4.
TAREFA COMPLEMENTAR
Caderno de Exercícios
t� Faça os exercícios 5 a 8.
3_TERC_8_LIT.indd 99 9/9/13 10:52 AM

100TERCEIRÃO 8 LITERATURA
3_TERC_8_LIT.indd 100 9/9/13 10:52 AM