4179 (1)
-
Upload
deiveskan-serra -
Category
Documents
-
view
219 -
download
4
description
Transcript of 4179 (1)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS CURSO DE ESPECIALIZAO EM ATENO BSICA EM SADE DA FAMLIA FLVIA DE VILA FONSECA BRAZ A IMPORTNCIA DO ACOLHIMENTO AOS USURIOS NA ATENO BSICA: UMA ASSISTNCIA HUMANIZADA Campos Gerais/Minas Gerais 2013 FLVIA DE VILA FONSECA BRAZ A IMPORTNCIA DO ACOLHIMENTO AOS USURIOS DA ATENO BSICA: UMA ASSISTNCIA HUMANIZADA TrabalhodeConclusodeCurso apresentadoaoCursode EspecializaoemAtenoBsica emSadedaFamlia,Universidade FederaldeMinasGerais,para obtenodoCertificadode Especialista. Orientadora: Profa. Ana Maria Chagas Sette Cmara Campos Gerais/Minas Gerais 2013 FLVIA DE VILA FONSECA BRAZ A IMPORTNCIA DO ACOLHIMENTO AOS USURIOS DA ATENO BSICA: UMA ASSISTNCIA HUMANIZADA TrabalhodeConclusodeCurso apresentadoaoCursode EspecializaoemAtenoBsica emSadedaFamlia,Universidade FederaldeMinasGerais,para obtenodoCertificadode Especialista. Orientadora: Profa. Ana Maria Chagas Sette Cmara Banca Examinadora Prof. Ana Maria Chagas Sette Cmara-Orientadora Prof. Eulita Maria Barcelos-Examinadora Aprovado em Belo Horizonte: 14/12/2013 DEDICATRIA A minha me, pelas oraes; A minha av, que mesmo do cu, nunca me abandona. Ao Renan, pela pacincia de dividir-me, nos fins de semana, com meus estudos A Deus por estar sempre comigo, dando-me foras para continuar. AGRADECIMENTOS Agradeo primeiramente a Deus, pelas foras para nunca desistir; a minha orientadora Ana Maria Chagas Sette Cmara, pela orientao e presena constante; aos meus pais, pelo apoio incondicional; ao Renan, pela pacincia, quanto a minha constante ausncia. RESUMO AAtenoBsica,enquantoumdoseixosestruturadoresdoSUSviveemum momentoespecialaoserassumidacomoumadasprioridadesdoMinistrioda Sade.Entreosseusdesafios,destacamoacesso,acolhimento,efetividadee resolutividadedesuasprticas,capacidadedegestoecoordenaodocuidado, deformamaisampla,voltadoparaoindivduo,noparasuadoena.Opresente estudobuscouconhecersobreaPolticaNacionaldeHumanizao(PNH),eem especial,suadiretrizmaisrelevante-oacolhimento-,bemcomofatoresque dificultamasuaimplementaonosserviosdesade.Foidesenvolvidauma reviso bibliogrfica narrativa, a partir da anlise de vrias publicaes, constatando-sequeoacolhimentonosetratadeumtemarecente,vistoquehestudosdo sculopassado,nosquaisaquestodahumanizaojeraabordadapela literatura.Assim,porsetratardeumdispositivoemconstruo,enfrentaalguns obstculos,comoestruturafsicadasunidadesinadequadas,bemcomo profissionaisnoqualificados.Noobstante,essesfatoresditolimitadoresso passveis de mudanas, a depender de uma gesto que se co- responsabiliza para com os cuidados nos servios de sade. Descritores: Acesso. Acolhimento. Humanizao ABSTRACT PrimaryCareasoneofthestructuralaxesoftheSUSliveinaspecialtimetobe taken as one of the priorities of the Ministry of Health Among their challenges include access,accommodating,andsolvingeffectivenessoftheirpractices,management capacity and coordination of care, more broadly, focusing on the individual, not their illness.ThepresentstudysoughttoknowabouttheNationalHumanizationPolicy (PNH), and in particular its most relevant guideline the accommodating- as well as factorsthathindertheirimplementationinhealthservices.Developedanarrative literaturereview,basedontheanalysisofseveralpublications,notingthatthe accommodating is not a recent issue, since of the last century, in which the issue of humanization was already addressed in the literature.Thus, to be of a device under construction, faces some obstacles such as inadequate physical structure of the units aswellasunskilledworkers.Nevertheless,thesefactorstosaidlimitingare amenablechanges, relying on a management that is co-responsible for the care with health services. Descriptors: Access. Accommodating. Humanization LISTA DE ABREVIATURAS/SIGLAS APSAteno Primria Sade CNS Conferncia Nacional de Sade ESF Estratgia de Sade da Famlia PAPronto Atendimento PNH Poltica Nacional de Humanizao PSF Programa de Sade da Famlia SUS Sistema nico de Sade SUMRIO 1 INTRODUO...................................................................................................... 09 2 JUSTIFICATIVA.................................................................................................... 11 3 OBJETIVO............................................................................................................ 12 4 METODOLOGIA................................................................................................... 13 5 BASES CONCEITUAIS........................................................................................ 14 5.1 Breve histrico sobre a reorganizao dos servios de ateno sade.. 14 5.2 Princpios da humanizao do atendimento.................................................. 20 5.3 O acolhimento como princpio da PNH ........................................................... 23 5.4 O acolhimento como prtica multiprofissional de organizao do acesso27 5.5 Desafios implantao do acolhimento........................................................ 30 5.6 Medidas essenciais implantao do acolhimento...................................... 33 6 CONSIDERAES FINAIS.................................................................................. 36 REFERNCIAS........................................................................................................ 389 1 INTRODUO Nomundoglobalizado,emvirtudedoimpactoqueastendnciaspolticase econmicasgeramnaproduodoconhecimentoemsade,naeducaoe condiessociaisdapopulao,torna-serelevantepensarnapromooda qualidade dos servios de sade (DUARTE; SILVINO, 2010). ConformeCameloetal(2000)apartirdaConstituioFederalde1988,na qual foram contempladas propostas oriundas da 8 Conferncia Nacional da Sade (CNS)-adescentralizaodagesto,integralidadedasaes,fortalecimentodo municpio,participaodacomunidade,regionalizaoehierarquizao-cada municpio brasileiro assumiu novas contribuies em relao sade. Anovainstitucionalidadedasadetemseusfundamentosnoartigo198da ConstituioFederalde1988,quedefineoSistemanicodeSade(SUS).Suas aeseserviosintegramumarederegionalizadaehierarquizada;constituemum sistemanico,organizado,descentralizado,comdireonicaemcadaesferade governo,prestandoatendimentointegral,apartirdapriorizaodeatividades preventivas(semprejuzodasassistenciais)ecomparticipaopopular(GOMES; PINHEIRO, 2005). AconstruodoSistemanicodeSade(SUS)trata-sedeumapolticade Estadodemocrticaedebemestar,ampliandooacessodecuidadoSade (VASCONCELOS,2005).ComoSUSocorreumaprogressivaexpansoda coberturapopulacional,emprogramasdeatenoasade,aomesmotempoem que se mantm a hegemonia do modelo biomdico. Isto nota-se a partir da dcada de90,comaexpansodarededeatenobsica,estimuladaspelacriaodos ProgramasdeSadedaFamlia(PSFs),hojeestratgiasdeSadedaFamlia (ESFs) (CAMPOS, 2007). As ESFs buscam romper com os paradigmas cristalizados e incorporam novo pensareagirnaperspectivademudanaeconversodomodeloassistencial.O cuidado deve considerar o princpio da integralidade e do usurio como protagonista deseuprocessosade-doena,tornandoaassistnciamaishumanizada(AYRES, 2005). 10 AorigemdesseprocessodehumanizaonoBrasilperpassaomovimento dareformaSanitria,direcionadoconstruodeumaconscinciadecidadania (GARCIA;FERREIRA;FERRONATO,2012).ConformeHerckert;Passos;Barros (2009), a humanizao apresenta-se como um conceito polissmico, permeado por imprecises,comportandodiversosenunciadosrelativosadistintasprticasde gesto e modelos de ateno. APolticaNacionaldeHumanizao(PNH)definiucomohumanizaoa valorizaodosdiferentessujeitosenvolvidosnaassistnciasade:usurios, profissionais e gestores. A PNH tem dentre suas diretrizes o acolhimento, o qual visa reorganizar os servios de sade, no intuito de oferecer respostas s demandas dos usurios (BRASIL, 2006a). SegundoTakemotoeSilva(2007)oacolhimentotrata-sedeumaestratgia parareorganizaodotrabalhoeposturadiantedaatenosnecessidadesdos usurios.Traduzaintenodeumatendimentocomgarantiadodireitodeacesso aosserviosedahumanizaodasrelaesestabelecidasnocotidianodas instituies.Eesteotemadonossotrabalho:aimportnciadoacolhimentoaos usuriosdaatenobsica.Apartirdomomentoquesefazoacolhimento, independente do tipo de demanda, diminui a ansiedade do usurio, uma vez que ele atendido e orientado e sua consulta programada. AtuonomunicpiodeAlpinpoliseatualmenteestounaCoordenao MunicipaldosPSFs.Nestemunicpio,apopulaoaindatemacultura medicocntrica,centradanaconsultamdicaeusodemedicao.Implantaro acolhimentodademandaespontnea,permitiratenderquemtemmaior necessidade de atendimento mdico e garantir o acesso dos usurios com equidade almdemelhoraraqualidadedoprocessodetrabalhodosprofissionaisdesade nas unidades bsicas de sade. Nosso objetivo nos aproximarmos teoricamente do conceito de acolhimento proposto no Programa Nacional de Humanizao (PNH) e adquirir mais experincia econfianaparacomaprticadoacolhimentoeimplant-lonasUnidadesde Sade. 11 2 JUSTIFICATIVA Nota-searelevnciadotemaproposto,umavezqueoacolhimentouma maneiradegarantiroacessodosusurioscomequidade.Aimplantaodo acolhimentonasUnidadesBsicasdeSadepermitir-se-umaorganizaodos usurios,emespecial ademanda espontnea,aqualseracolhida,e,apartirda encaminhada,conformesuanecessidade,ouseja,atendimentomdico,de enfermagem,atendimentoespecializado,ouparagruposoperativosdaunidade, comodeportadoresdehipertenso,decaminhadas,deportadoresdetranstornos mentais, dentre outros. Entretanto,almdasvantagensdessaprtica,observa-sealgumas limitaes, bem como mecanismos que garantam sua implementao. Esta reviso ser um suporte terico para que nossas aes sejam exitosas. 12 3 OBJETIVO Pretende-secomessarevisodeliteraturaconhecersobreaPNH,esua diretriz-acolhimento, bem como identificar suas vantagens, limitaes e mecanismos necessrios para sua implantao. 13 4 METODOLOGIA Paraoalcancedoobjetivoproposto,optou-sepelapesquisabibliogrfica narrativaequalitativa,aqualsegundoCervoeBervian(2007),buscaexplicarum problemaapartirderefernciaspublicadasemlivros,jornais,revistasboletins, monografias, teses, dissertaes dentre outros documentos.Apesquisabibliogrficaapresentaumenfoquequalitativoporteremseu perfiloobjetivodeidentificareconhecerasmltiplasfacetasdeumobjetode estudo. Caracteriza-se qualitativa por no apresentar dados estatsticos, nmeros e nemgrficos,noentanto,adescrioumdosprocedimentosmaishabituaisno mbito das pesquisas de abordagem qualitativa, onde o pesquisador considerado um instrumento-chave. Assim, a maior preocupao com o processo e no apenas com os resultados e o produto e, nesse caso, os dados obtidos so analisados por induo (CERVO; BERVIAN, 2007). Segundo Tavares (2010), a pesquisa bibliogrfica narrativa trata-se de uma avaliaoassistemtica,depublicaessobreoquesedesejaestudar.Pode-se tanto realizar o levantamento de artigos e livros, bem como de teses, dissertaes e publicaeslegais.Aseleosedapartirdaleituradosartigosedesua pertinncia com o tema proposto. Nestecontexto,foramutilizadosparaarealizaodestapesquisa,livrosde diversosautores,revistas,artigosdeInternet,tesesedissertaesnuma perspectivadecomparaoentreasideiascomopropsitodesechegara concluses que possam responder ao problema. 14 5 BASES CONCEITUAIS 5.1 Breve histrico sobre a reorganizao dos servios de ateno sade Odireitosadefoireconhecidointernacionalmenteem1948,quandoda aprovao da Declarao Universal dos Direitos HumanospelaOrganizaodas NaesUnidas.NaConfernciaInternacionalsobrecuidadosprimriossade, realizadaem1978,aDeclaraodeAlma-Ata,reafirmouasadecomoumdireito humano universal (MITRE; ANDRADE; COTTA, 2012). NoBrasil,nadcadade70,aReformaSanitriabuscougarantirasade comodireitoindividual,traduzidanaequidadeenoacessouniversalaumsistema pblicosolidrioeinclusivo(FLEURY,1997).ComaVIIIConfernciaNacionalda Sade,em1986,buscou-setransformaroarcabouojurdico-institucionaldosetor sade e garanti-lo como direito de todo cidado brasileiro (BRASIL, 1986). Conforme Cordeiro(2004),doisanosmaistarde,aConstituiodaRepblicaanunciouas garantiasparasistematizarasaeseserviosdesadeinscritospela Universalidadedoacesso,equidadeeintegralidadedaassistnciaemumSistema nico de Sade (SUS). AssimoSistemanicodeSade(SUS)foiinstitudonoBrasilpela Constituio Federal de 1988, aps um processo histrico de lutas organizadas em tornodo movimentodaReformaSanitria,sintetizadopeladefesadequeSade direitodetodosedeverdoEstado.Desdeento,oSUSvemembuscade implementar princpios como: universalidade do acesso, equidade e integralidade da atenosade,descentralizaodagestosetorial,regionalizaoe hierarquizaodarededeservioseparticipaopopularcompapeldecontrole social (CAVALCANTE FILHO, 2009). Cameloetal.(2000),acrescentamaosprincpiosdoSUSasuperaoda dicotomiaentreprevenoecura,participaocomplementardosistemaprivado, com preferncia para os filantrpicos e os sem fins lucrativos, nfase nas reas de sade do trabalhador, vigilncia epidemiolgica e sanitria, alimentao e nutrio e portadores de deficincia, financiamento tripartite entre Unio, Estados e Municpios. 15 PelofatodeoBrasilserumpasmarcadopordesigualdadeseconmicas, sociais,demogrficas,culturaisesanitrias,destaca-seaimportnciadeumdos princpiosdoSUS:descentralizaodepolticaspblicas,inclusivenareada sade. Isso reserva aos municpios um papel de protagonista da gesto do sistema de sade em seu territrio, assumindo, assim, a execuo das aes e servios de sade (MENDES,1998).DeacordocomHortale;Comil;Pedroza(1999),adescentralizaouma opofrequentenasmudanasconstitucionaisenasestruturasorganizacionais. Atravs desse princpio, pode-se criar condies para uma maior autonomia do nvel localnousodosrecursosenadefinioeimplantaodaspolticas,commaior acesso e controle pelos setores organizados. Nessecontexto,noinciodadcadade90,atendncianacionalpara enfrentarasiniquidadesociaiseampliaroacessoaosserviosdesade,tendoa AtenoPrimriaaSade(APS),comoportadeentradadosistema,poriniciativa dealgunsmunicpios,foicriadooProgramadeAgentesComunitriosdeSade (PACS).ApropostadoPACSerareduzirmortalidadeinfantilematerna,mediante ofertadeprocedimentospreventivos,voltadospopulaoruraledaperiferia.O objetivodesseprogramaerafazercomqueapopulaosoubessecuidardesua prpriasade,pormeiodeinformaesdeprevenorepassadaspelos trabalhadoresdenominadosagentescomunitriosdesade(GOMES;PINHEIRO, 2005). No ano de 1994 o Ministrio da Sade criou o Programa de Sade da Famlia como proposta para reorganizar o Sistema de Ateno Sade. A Sade da Famlia entendidacomoumaestratgiadereorientaodomodeloassistencial, operacionalizada mediante a implantao de equipes multiprofissionais em unidades bsicasdesade.Estasequipessoresponsveispeloacompanhamentodeum nmerodefinidodefamlias,localizadasemumareageogrficadelimitada.As equipesatuamcomaesdepromoodasade,preveno,recuperao, reabilitaodedoenaseagravosmaisfrequentes,enamanutenodasade destacomunidade.Aresponsabilidadepeloacompanhamentodasfamliascoloca paraasequipessadedafamliaanecessidadedeultrapassaroslimites 16 classicamente definidos para a ateno bsica no Brasil, especialmente no contexto do SUS (BRASIL, 1994). ParaSantosetal.(2007),oPSFsurgeparareorientaromodelodesade vigenteatento,centradonomdico,hospitalocntricoenaatenoindividual. Dessamaneiraofocodaatenopassaaserdirecionadofamliadeum determinadoterritrio,nomaissomenteaoindivduo.Esseprogramabuscauma mudananareorganizaodotrabalho,oqualpassaaserrealizadoemequipe, comprticasdeatendimentomaisresolutivaseintegrais,centradonomodelode vigilnciaemsade,utilizandoaepidemiologiacomoeixoestruturantedasaes emsadecoletiva.ConformePinheiro(2001)issojustificaastransformaes positivasesignificativasapresentadaspeloPSFnareorganizaodosserviosde sade. Tesser;PoliNeto;Santos(2010)corroboramqueoPSFsurgecomo estratgiaparasuperaraculturademedicalizaosubstituindo-aparaumaprtica depromoosade,oquesegundoAndrade;Bueno;Bezerra(2006)produziu uma saudvel tenso entre a biomedicina e abordagens mais ampliadas.A medicalizao social definida por Tesser (2006) como um processo scio cultural que transforma em necessidades mdicas as vivncias, os sofrimentos e as dores,queeramadministradosdeoutrasmaneirasnoambientefamiliare comunitrio.Intensifica-seporprocedimentosprofissionalizados,diagnsticose teraputicos, muitas das vezes desnecessrios, podendo ser danosos aos usurios.Segundo Souza (2001),desde sua institucionalizao, oPrograma de Sade da Famlia assume relevncia no discurso poltico, institucional e social no mbito do Ministrio da Sade, com a implementao de mecanismos de alocao de recursos eoutrosdispositivosdefinanciamento.Apartirde1998,oprogramaconcebido peloconjuntodosatoresinstitucionais(emmbitonacional,estadualemunicipal) comoimportantenorteadorparaodesenvolvimentodesistemaslocaisdesade, ganhando status de estratgia de reorientao assistencial, por isso hoje, denomina-se Estratgia de Sade da Famlia (ESF), no mais Programa de Sade da Famlia. Francolli;Zoboli(2004)mencionamqueaEstratgiadeSadedaFamlia estestruturadanalgicadaAtenoBsica,gerandonovasprticassetoriaise afirmando a indissocialidade entre trabalhos clnicos e de promoo da sade.17 APolticaNacionaldeAtenoBsicacaracteriza-seporumconjuntode aes,nombitoindividualecoletivo,queabrangemapromoodasade, prevenodedoenas,diagnstico,tratamento,reabilitaoemanutenoda sade.desenvolvidapormeiodetrabalhoemequipe,dirigidoaumapopulao delimitada,ouseja,adscrita.Utilizatecnologiasdeelevadacomplexidadeebaixa densidade,solucionandoosproblemasdemaiorfrequnciaerelevnciadeseu territrio.ocontato preferencialdosusurioscomosserviosdesade.Orienta-se por alguns princpios: universalidade, acessibilidade, coordenao do cuidado, do vnculoecontinuidade,daintegralidade,responsabilizao,equidade,participao social e humanizao (BRASIL, 2006b). As tecnologias leves, de elevada complexidade, so tecnologias de relaes, como acolhimento, vnculo, autonomizao, responsabilizao e gesto como forma degovernarosprocessosdetrabalho.Atravsdessastecnologiasbusca-sedar sustentaosatisfaodasnecessidadesdosindivduoseosvalorizar (trabalhadoreseusurios)comopotentesparainterviremnaconcretizaodo cuidado (MERHY, 1997). A utilizao dessas tecnologias pode interferir no cuidado. O grande desafio e compromissodequemrealizaocuidadoodeutilizarasrelaesenquanto tecnologia, no sentido de edificar um cotidiano, por intermdio da construo mtua entreossujeitos.E,atravsdessasrelaes,darsustentaosatisfaodas necessidadesdosindivduos(trabalhadoreseusurios)eosvalorizarcomo potentes para intervirem na concretizao do cuidado (ROSSI; LIMA, 2005). CoelhoeJorge(2009)acrescentamqueasprticasdetrabalhodentroda Ateno Bsica devem incluir diversas tecnologias desde que de maneira adequada, e em conformidade com as necessidades de sade da quais os sujeitos necessitam paratermelhorescondiesdevida,semprejuzodoatendimento,quetambm requerdetecnologiasduraseleve-duras,definidasporMerhy(2005)comode recursos materiais e de saberes estruturados (teorias e protocolos) respectivamente. Mesmo com esses avanos, o SUS ainda apresenta vrios desafios, os quais so apontados a seguir por Brasil (2004b): - fragmentao do processo de trabalho e das relaes entre profissionais; 18 - fragmentao da rede assistencial o que acaba por dificultar a complementao da assistncia entre a rede bsica e o sistema de referncia; - interao ineficaz entre equipes e despreparo para lidar com a dimenso subjetiva do usurio, nas prticas de ateno; - sistema pblico burocratizado e verticalizado; - investimento aqum, na qualificao dos trabalhadores, especialmente na gesto e trabalho em equipe; -poucosdispositivosdefomentoco-gestoevalorizaoeinclusodos gestores, trabalhadores e usurios no processo de produo da sade; - desrespeito ao direito dos usurios; - formao de profissionais de sade distante do debate e da formulao da poltica pblica de sade; - fragilidade controle social; -modelo de ateno voltado para queixa-conduta; -dificuldades de acesso e acessibilidade aos servios de sade. Starfield(2004)diferenciaacessodeacessibilidade,informandoquemesmo parecendosinnimas,aacessibilidadepossibilitaqueaspessoascheguemao servio; o acesso o uso oportuno de servio a fim de alcanar a suas aspiraes. Osproblemasdeacessosodescritosnaliteraturadesdeantesa Constituiode88,aoseremabordadosporLeclainche(1962)aslongasfilasde esperaeadiamentosdeconsultas,examesetratamentos;ausnciade regulamentos,normaserotinas;deficinciadeinstalaeseequipamentos;falhas na estrutura fsica; espera s consultas e entrada em tempos dilatados;salas com amontoado humano; anonimato do doente, sua despersonalizao, uma vez que ele seresumiaemumnmerodeficha,umacaso,umobjetodeestudo;faltade privacidade,depreparopsicolgico,deinformaoedeticaporpartede profissionais. 19 Silvaetal.(2010)mencionamqueaexistnciadefilasinterminveispara agendarconsultasouparautilizaralgumserviodarededoSUS,resultamem sofrimentohumanodesnecessrio,sendoconsideradocomoproblemaeobstculo doacessoaocuidado,sendoporsis,componentedamqualidadedosistema. Em Brasil (2009) destaca-se que esse sofrimento pode ser inestimvel, pois nessas filas no h critrios, exceto a ordem de chegada; a no distino de riscos, leva ao agravamentodedeterminadoscasos,podendoevoluirparabitos,pelono atendimento em tempo adequado. Na Ateno Bsica, o acesso aberto, ou seja, marcao de consultas para o mesmodiaqueopacienteprocurouaunidade,noconsideradoporTravassos; Oliveira (2006) como estratgia para facilitar a utilizao dos servios de sade, mas decorrnciadaausnciademedidasespecficasdeorganizaodosusuriosna assistncia. Para Tesser; Poli Neto; Campos (2010) com a criao dos PSFs as equipes foramorientadasalidarcentralmentecomprogramasdesade,comprotocolos diagnsticoseteraputicosdefinidos,entretantonohouverecomendaessobre como lidar com a demanda espontnea que recorre aos servios da ateno bsica ou como atender aos imprevistos to frequentes e inevitveis no cuidado sade. Adespeitodessasquestesaolongodosanos90oSUSfoiconsiderado excludentepelossignificativosobstculosimpostosparasuaefetivao(FAVERET FILHO; OLIVIERA, 1999).Alm das dificuldades do acesso e baixo nvel de qualidade e resolutividade, herdadosdopoderprevidencirio,asprticasdosprofissionaisdesadeeram fragmentadaseimpessoais,oquetornavaaimagemdosetorpbliconegativa, agravado-secomopoderdamdiaqueenfatizavaaeficciadossetoresprivados (SILVA, 1995). Ceclio(1997)apontaqueaAtenoPrimriamostrava-sedesestruturada, uma vez que no estava conseguindo atingir seu propsito de ser porta de entrada do sistema de sade, a qual continuava sendo o hospital, o que levava a lotao dos prontosatendimentosporusurioscujasmorbidadespoderiamseratendidasem 20 nvel primrio, agravando-se com o baixo impacto de suas aes sobre os principais problemas da populao, visto ao aumento de doenas evitveis e erradicveis. Torna-seiminenteanecessidadedereconstruodomododeproduzire operacionalizardoSUS,comaesquecomprometessemcomavidaedireitos sociais,concomitantementeresolutivasfrenteaosproblemasidentificadosnos usurios e em suas comunidades (MERHY, 1997). 5.2 Princpios da humanizao do atendimento Apartirde2000,atravsdaIXConfernciaNacionaldeSade(CNS), intensificam-seosdebatesemtornodaimportnciadoacolhimentonaperspectiva de humanizao da sade. Nova crise no sistema se instaura, visto que de uma lado encontravam-se os usurios que buscavam ateno com acolhimento e de outro, os profissionaisquereivindicavammelhorescondiesdetrabalho(BENEVIDES; PASSOS, 2005). Em2003,foientorealizadaaXIIConfernciaNacionaldeSade,que retomaodebateemtornodauniversalidade,acesso,acolhimentoaosusuriose valorizaodostrabalhadores(BRASIL,2004a).AssimsegundoSantosFilho; Barros;Gomes(2009)foilanadanessemesmoanoaPolticaNacionalde Humanizao (PNH), a qual veio afirmar a indissociabilidade entre ateno e gesto dosprocessosdeproduodesade,assegurandoainclusodosusurios, trabalhadoresegestonosserviosdesade,impulsionandoaesparadisparar processosnoplanodaspolticaspblicas,visandotransformaonosmodelosde ateno e gesto da sade vigentes. ConformeBrasil(2006a)aPolticaNacionaldeHumanizao(PNH), denominadadeHumanizaSUSfoidesenvolvidademodoaqualificaroSUSe estabelecersuasdiretrizes.Essapolticafoiemrespostasevidnciasdo despreparodosprofissionaisdesadeparalidarcomadimensosubjetivado cuidado,juntamentecomapersistnciadosmodeloscentralizadoseverticais,que desapropriam o trabalhador de seu processo de trabalho. 21 OsprincpiosnorteadoresdaPNHsoapontadosemBrasil(2004b)como sendo: -valorizao da dimenso subjetiva e social em todas as prticas de ateno egestodoSUS,fortalecendooscompromissoscomosdireitosdoscidados, destacando-seorespeitocomrelaoraa,gnero,etnia,orientaosexuale populaes especficas; -fortalecimentodotrabalhoemequipemultiprofissional,instigandoa transversalidade e a grupalidade, qualificando a comunicao no sistema; -apoio construo de redes cooperativas, solidrias e comprometidas com a produo de sade e sujeitos; -construodaautonomiaeprotagonismodossujeitosecoletivosdarede SUS; -co-responsabilidadedossujeitosnosprocessosdegestoeateno sade; - fortalecimento do controle social com carter participativo nas instncias do SUS; -compromissocom a democratizaodasrelaes detrabalhoe valorizao do profissional de sade, com estmulo aos processos de educao permanente; Heckert;Passos;Barros(2009)definemhumanizaocomotratarcom respeito,carinho,amor,educao,empatia;capacidadedesecolocarnolugardo outroeaceit-lo;acolhimento;dilogo;tolerncia;aceitarasdiferenas,emsuma, resgatar a dimenso humana nas prticas de sade.Faimanetal.(2003)apontamqueoprocessodehumanizaoimplicaem umatransformaodaculturaassistencial,afimdequesejamvalorizadosos aspectossubjetivos,histricoseculturaisnosdosusurios,comotambmdos profissionaisvisandomelhorarasnascondiesdetrabalhoequalidadedo atendimento. Ahumanizaorepresentamelhoriadacapacidadedialgicaentreos sujeitos,acolhimentoresolutivo,participaonoSUS,corresponsabilidade,co-22 gesto,incluso,tica,oposioviolncia,sejaeladequalquernatureza,no discriminao, qualidade como aliana entre o uso de altas tecnologias, o cuidado e obomrelacionamentonaassistnciaeoferecimentodemelhorescondiesde trabalho (DESLANDES, 2004). DeacordocomPasche(2010)humanizartrata-sedeumapolticacom princpios, diretrizes e dispositivos, acionados por um mtodo caracterizado por uma trpliceincluso:pessoas,movimentossociaisepelaperturbaoetensoque estasinclusesproduzemnasrelaesentresujeitosnosprocessosdegestoe ateno,sendoqueessaperturbaoquepermiteaproduodemudanasnos modos de gerir e cuidar e nos processos de formao. Fortes;Martins(2000)comparahumanizaocomreconhecimento,ouseja, reconhecerousurioquebuscaosserviosdesade,comosujeitodedireitos, observando-oemsuaindividualidade,especificao,ampliandoassimas possibilidades para que possa exercer sua autonomia. Humanizar os servios de sade implica em transformar o prprio modo como seconcedeousurio,ouseja,de objetopassivoasujeito;denecessitadodeatos de caridade quele que exerce o direito de ser usurio de um servio de sade que garanta aes tcnicas, polticas e eticamente seguras, prestadas por trabalhadores responsveis.Oenfoquesadeapresenta-senumadimensoampliada, relacionadasscondiesdevidainseridasemumcontextosociopolticoe econmico (MARQUES; SOUZA, 2010). ParaaconstruodeumapolticadequalificaodoSUS,Pereiraetal (2010)destacamqueahumanizaodeveservistacomoumadasdimenses fundamentais,nopodendoserentendidacomoapenasmaisumprogramaaser aplicadonosdiversossetoresdasade,mascomoumapolticaqueopere transversalmente em toda a rede SUS. Comaimplementaodoatendimentohumanizado,pretende-se,segundo Brasil (2004b) consolidar alguns pontos especficos:-reduodasfilasetempodeespera,ampliandooacessoeoacolhimento resolutivo, baseado em critrios de risco; 23 -osusuriosterocinciadequemsoosprofissionaisquecuidamdesua sade; -os servios de sade responsabilizar-se-o pelo seu territrio de referncia; -as informaes aos usurios sero garantidas pelas unidades de sade; -as unidades de sade garantir-se-o gesto participativa dos trabalhadores e usurios, bem como educao permanente dos trabalhadores; 5.3 O acolhimento como princpio da PNH Passos (2006) indaga que a PNH se prope a fomentar princpios e modos de operarnoconjuntodasrelaesentreprofissionaiseusurios,entreosdiferentes profissionais, entreasdiversasunidadese serviosdesade eentreasinstncias queconstituemoSUS.Umdosdispositivosdessapolticaoacolhimento,que compreendedesdearecepodousurionosistemadesadeea responsabilizaointegraldesuasnecessidades,ataatenoresolutivadeseus problemas.O acolhimento ganha discurso oficial do Ministrio da Sade, configurando-se comoumadasdiretrizesdemaiorrelevnciadaPNHparaoperacionalizaodo SUS;quepropeoprotagonismodetodosossujeitosenvolvidosnoprocessode produodasade;areorganizaodosserviosapartirdaproblematizaodos processosdetrabalho;almdemudanasestruturaisnaformadegestopara ampliarosespaosdemocrticosdediscusso,escutaedecisescoletivas (BRASIL, 2006a). APNHpropeoacolhimentocomoprocessoconstitutivodasprticasde produo e promoo da sade, preocupando-se em incluir a sade do trabalhador emsadecomopartedasmetasdoSUSedeseusparmetrosdeavaliao (SCHOLZE;DUARTEJUNIOR;SILVA,2009).Oacolhimentoimplicaem responsabilizaodoprofissionalpelousurio,ouvindo-o,considerandosuas preocupaeseangstias,fazendousodeumaescutaqualificada,quepermita 24 analisarsuademanda,impondooslimitesnecessrios,garantindoatenointegral e resolutiva, por meio de articulaes de redes internas e externas (BRASIL, 2004c). Oacolhimentoenvolveuminteresse,umaposturaticaedecuidado,uma abertura humana emptica e respeitosa ao usurio e concomitantemente identificar riscosevulnerabilidades,elegerprioridades,percebernecessidadesclnico-biolgicas,epidemiolgicasepsicossociais.Issopossibilitahierarquizar necessidadesquanto aotempodocuidado,ouseja,diferenciarnecessidades mais prementesemenosprementes;distinguirentrenecessidadesdesiguaisetrat-las conforme suas caractersticas (STARFIELD, 2002). Brehmer;Verdi(2010)caracterizamoacolhimentocomoumapolticade humanizao,quetraduzaaohumanadereconheceradimensosubjetivado serhumano,considerando-ocomsujeitohistrico,socialecultural.Aatitudede acolher pressupe a mobilizao dos sujeitosenvolvidos em todos os aspectos das relaesqueseestabelecemnombitodasade.Paraosautoresoacolhimento, no se resume prtica de ouvir, tornando um ato mecnico, mas sim a capacidade humana de escutar e de estar atento ao outro. ParaRamos;Lima(2003)oacolhimentotrata-sedeuminstrumentoque humanizaaassistncia,facilitaoacessoefetivamenteepermitepriorizarcasosde risco ou grupos especficos que devem ser atendidos por determinados programas, permitindo alterar o modelo exclusivo de pronto atendimento. ApropostadeacolhimentonoBrasilsugereformasdeatenodemanda espontnea,quenoimpliquemsimplesmenteemaumentaroacessoaconsultas mdicas,masprope-seaservirdeeloentreasnecessidadesdosusurioseas vriaspossibilidadesdocuidado,incluindo,assim,vriosprofissionais(GUARDINI, 2002).Asideiassoretirardomdicoopapeldenicoprotagonistadocuidado, ampliaraclnicarealizadapelosoutrosprofissionaiseincluiroutrasabordagense explicaespossveis,quenosomenteasbiomdicas,paraoprocessode adoecimento e demanda (TESSER; POLI NETO; CAMPOS, 2010).Francoetal.(1999)discutemoacolhimentocomoumadiretrizoperacional pautada nos princpios do SUS partindo das seguintes diretrizes:25 -atendertodasaspessoasqueprocuramosservios,comgarantia universalidadedoacesso;dessaformaoservioassumesuafunoprecpuade acesso e acolhimento; -buscarareorganizao do processodetrabalho,deslocandooeixocentral, centradonaprticamdica,paraumaequipemultiprofissional,capazdeproduzir escutaqualificada,responsvel,resolutivaecomformaodevnculo;assima consulta mdica justifica-se para os casos em que realmente h necessidade; -qualificarasrelaesdetrabalhoentreprofissionaiseusurios,sobos parmetros de humanizao, solidariedade e cidadania.Essa a argamassa capaz deunirtrabalhadoreseusuriosemproldeuminteressecomum:umserviode sade de qualidade. O acolhimento significa a humanizao do atendimento, pressupondo garantia de acesso universal dos usurios nos servios de sade. Diz respeito a uma escuta qualificadadosseusproblemas,visandorespostaseco-responsabilizandopela resoluo dos mesmos. mais que uma triagem qualificada ou escuta interessada. Pressupeumconjuntoformadopelaescuta,identificaodosproblemase intervenes resolutivas para seu enfrentamento, ampliando a capacidade da equipe de sade responder demanda dos usurios, reduzindo a centralidade em torno das consultas mdicas e ampliando o potencial dos demais profissionais (SOLLA, 2005). Matumoto (1998) afirma que o acolhimento trata-se de um processo uma vez que deve ser realizado por todos os setores e trabalhadores dos servios de sade; noselimitaaumdiscursoverbal,massimdeumasequnciadeatosquese culminaemumprocessodetrabalhoconcretizadoemaesquerespondams necessidades da populao. SilvaJunioreMascarenhas(2004)identificamquatrosdimensesdo acolhimento:acesso-geogrficoeorganizacional-;postura-escuta,atitude profissional/usurioeinteraoentreaequipe;atcnicaotrabalhoemequipe, capacitao de profissionais e aquisio de tecnologias, saberes e prticas;projeto institucional superviso e processos de trabalho. Paraessesautoresoacolhimentocomoposturapressupeumaatitudede equipedesade,quepermitareceberbemosusurios,escutandodeforma 26 adequadaehumanizadasuasdemandas.Dessamaneiratorna-sepossvela construodeconfianaeapoioentretrabalhadoreseusurios.Nessadimenso, se situam as relaes no interior da prpria equipe e entre os nveis de hierarquia na gesto.Franco et al. (1999) corroboram que o acolhimento deva alcanar a dimenso da gesto do processo de trabalho, pois sua implantao s ser possvel se houver umagestoparticipativa,baseadaemprincpiosdemocrticoseequipeinterativa. Essesautorestambmmencionamqueo acolhimentoestbaseadoemumdireito constitucional dos usurios: o acesso. Portanto, a Ateno Primria Sade, como portadeentradadarededesade,deveelaborarestratgias,quegarantamesse fcilacesso,oqualumdosmotivosquegarantemaefetividadeeosucessoda Ateno Primria. Malta; Merphy (2002) mencionam que o acolhimento enquanto tcnica implica naconstruodeferramentasquecontribuamparaumaescutaeanlise, identificandosoluespossveissdemandasapresentadas.Acomposioda equipetraduziriaaincorporaodenovosagentesealteraesnosprocessosde trabalho, relativas s mudanas de como os servios so organizados. ConformeBrasil(2004c)oacolhimentoumamaneiradeoperaros processos de trabalho em sade, de forma a atender os usurios que procuram os serviosdesade,ouvirseuspedidos,epactuarrespostasconformeas necessidadesidentificadas.Considera-seumatecnologialeveaseraplicadaem todososnveisdecomplexidadedosserviosdesade.Implicaemprestarum atendimentoresponsveleresolutivo,orientando,senecessrio,opacienteesua famlia,emrelaoaoutrosserviosdesade,paradarcontinuidadeasua assistncia,estabelecendoarticulaesparagarantiraeficciadesses encaminhamentos.Trata-sedeumaaotcnica-assistencial,quepressupea mudana da relao profissional/usurio, passando a reconhecer esse ltimo como sujeito ativo no processo de produo de sade;Oacolhimentodizrespeitovalorizaodasingularidadeedignidade humana, indo alm do cuidado tcnico e prescritivo. Este envolve compromisso com o ser humano como um todo, sem distino de raa, cor, etnia, favorecendo, assim, um vnculo entre cuidador e o ser cuidado. Trata-se de um atendimento diferenciado, 27 focandoadignidadedaspessoasemsituaesdecuidadoeateno,propondo aes que valorizam e qualificam os servios de sade (WALDOW, 1998). SegundoLimaetal.(2007)oacolhimentopermitealmdoempoderamento dousuriopelaproduosesuasade,aresponsabilizaodoprofissionalpeloestadodesadedousurio,despertandoneste,umsentimentodeconfiana naquele que lhe presta a assistncia. De acordo com Brasil (2004c) o acolhimento de ateno sade, constitui-se de um dispositivo na organizao dos processos de trabalho, dos servios de sade, portantodeveestarrelacionadocomopartedoprocessodeproduodesade, como algo que qualifica a relao e que, portanto passvel de ser apreendido em diferentes dimenses (relacionais, tcnico, clnica, cidadania) e trabalhado em todo e qualquerencontroentreprofissional/usurio,profissional/profissional,equipede sade/gesto e usurio e sua rede social. Oacolhimentonoserestringeaumespaooulocal,masumapostura humana.Nopressupehorrioeprofissionalespecfico,implicaemcompartilhar saberes,necessidades,possibilidades,angstiaseinvenes.Diferencia-seda triagem, por no constituir uma etapa do processo, mas como ao que deve ocorrer em todos os locais e momentos dos servios de sade (BRASIL, 2004c). 5.4 O acolhimento como prtica multiprofissional de organizao do acesso Franco;Bueno;Merhy(1999)enfatizamqueemtodolocalondeocorreum encontroentretrabalhadordesadeeusurio,sejaumprofissionalmdicoouo porteirodoservio,deve-sedesenvolveraprticadoacolhimento,aqualsegundo osautorestrata-sedeumaprticaclnica,aqualdeveserrealizadaporquaisquer quesejamostrabalhadores,visando,assim,aproduoderelaesdeescutase responsabilizaes,asquaissearticulamcomaconstituiodevnculoseem compromissos de projetos de interveno. Entendendoqueoacolhimentoconstitui-seemuma prticadaEstratgiade SadedaFamlia,torna-serelevantequetodososprofissionaisorealizem,poiso 28 acolher,emboraincorporeadimensodaclnica,noserestringeaela.Dessa forma,trabalhadoresquenolidamcotidianamentecomosaberclnico,pode realizar o acolhimento, ainda que para essa atuao, sejam necessrias discusses comosdemaisintegrantesdaequipeafimdeserdefinidaamelhorcondutapara com o usurio (FRACOLLI; ZOBOLI, 2004).Campos(2003)mencionaaimportnciadoacolhimentoserealizadopor todososprofissionaisdesade,umavezqueotrabalhoemequipefavorecea contribuio dos diferentes saberes, o que no deve eliminar o carter particular de cadaprofissional,oudecadaprofisso,demodoaassegurarprticasdesade populao e realizao pessoal dos trabalhadores. . Nenhum profissional detm de todas as ferramentas necessrias para exercer ocuidado; faz-senecessriootrabalhoemequipe,afirmamCavalcanteFilhoetal. (2009).Ceccim(2006)acrescentaquetodoprofissional,pelasuacondiode terapeuta,devetercomapropriaoeacurcia,recursoseinstrumentosde intervenoclnica,entretanto,estaspodeserdesenvolvidaperspectivade compartilhamento e matriciamento. O acolhimento resolutivo no se limita apenas na clnica, uma vez que aes deconsultasmdicas,deenfermagem,curativos,orientaes,dentreoutros baseadosnaclnica,nosoporsis,suficientesparadartodasasrespostass vriasdimensesquecompemosproblemaseasnecessidadesdesadedas pessoas,sendoessencialotrabalhoenvolvendoaescoletivas,queevoquema intersetorialidade e uma rede de referncia e contra-referncia eficiente (FRACOLLI; ZOBOLI, 2004). Silva e Alves (2008) abordam que o acolhimento colabora para a garantia de umatendimentodequalidadeehumanizado,facilitaapromoodaassistncia integral, de forma que cada profissional possua uma viso holstica do ser humano a serassistido.Essacolaboraosomentepoderexistirseoacolhimentofor entendido como um processo de corresponsabilidade de todos os profissionais pela sadedosusurios,pormeiodotrabalhodeumaequipemultiprofissional, qualificadaecapacitadaparatal,daposturaacolhedoradetodosedaliberdade para que se estabelea o vnculo dos usurios com o servio. 29 Nosrecursoshumanosestumapossvelsoluodasmaioresquestesde sade. So eles que, sendo capazes de interferir positivamente na modificao das condiesdevidaesadedapopulaoenaexpectativadeumasociedade saudvel,influirodiretamentenaatenosadeenateraputicaprestadosao indivduoecoletividade.Asadeexigeprofissionalticoeresponsvel,namedida emqueestepasseareconhecernousurioumserrepletodenecessidades complexas e nem sempre objetivadas em uma doena (CAMELO et al., 2000) Brasil(2004c)indagaqueaaproximaoentreusurioeprofissionalde sadepromoveumencontro,umeoutrosendosujeitosdotadosdeintenes, interpretaes,necessidades,razesesentimentos,masemsituaode desequilbrio,deexpectativasdiferentes,emqueum,ousurio,buscaassistncia emestadofsicoeemocionalfragilizado,juntoaooutro,umprofissionalquedeve estarcapacitadoparaatenderecuidardacausadesuafragilidade.Assim,cria-se um vnculo, gerando ligao afetiva e tica entre ambos, numa convivncia de ajuda e respeitos mtuos.Teixeira(2002)sistematizaqueoacolhimentoevnculoentreusuriose trabalhadorestmcontribudoparadesvelareproblematizaradesumanizaodo atendimento,determinadaprincipalmentepelatecnificaodocuidadosade. Comisso,ofoconoclienteeaincorporaodealteraessubstantivasnos processos de trabalho nos servios de sade podem questionar aspectos crticos do modelomdico hegemnico,comoarelaomdico/pacienteoumesmooslimites dosconhecimentosetecnologiasutilizadastointensamentenessemodelo medicocntrico. Atravsdorespeitosingularidadehumanaedodilogo,promovidospelo acolhimento,ousuriossentem-sesegurosnoambienteondeestoinseridos, aceitandocommaisfacilidadesasorientaesdosprofissionais(BACKES; LUNARDI FILHO; LUNARDI, 2005). Com isso, afirma S et al. (2007) h uma maior adeso ao tratamento, seja clnico ou no, devido criao do vnculo.Oliveira (2007) tambm admite a importncia da interao entre profissionais de sade e usurios, para alm da atuao tcnica, associando aquela criao e manutenodevnculos,adesoaosplanosdecuidadosesatisfaodos usurios. 30 Lima et al.(2007) referem que a responsabilizao do profissional para com o usurio constitui em um dos elementos que torna o acolhimento efetivo, despertando no usurio um sentimento de confiana em relao ao profissional que lhe acolheu. Essebomrelacionamento,baseadonaescutadousurioacabaporotimizaro processodeassistncia,proporcionandoaosprofissionaisconheceremosseus clientes e as prioridades de cada um, facilitando-lhes o acesso. O acolhimento mesmo de difcil execuoajuda na organizao do processo detrabalhoedoacessodosusurios.Produznaequipeumacompreensomais ampladasnecessidadesdesadedosusuriosquevoalmdaidentificao nosolgicadosagravosecarnciascorrelacionadas,muitasvezes,imperceptveis, numaabordagemfria,restritaasinaisesintomas.Esses,passveisdeserem aliviados por gestos de ateno e respeito, exigem aes que se estendem alm dos limites dos servios de sade (SOUZA et al., 2008). CoelhoeJorge(2009)mencionamaimportnciadoestabelecimentodeum dilogoentreotrabalhadoreousurio,poispode-seencontrarasoluopara muitosproblemasdesade,jquenodesabafo,muitasvezessoencontradas respostasparadeterminadasdificuldadesenfrentadaspelosercuidado. Concomitantemente,trabalha-secomoconhecimentopopular,oqualnuncadeve ser desprezado pelo profissional, mas sim trabalhado junto ao seu saber acadmico. 5.5 Desafios implantao do acolhimento O acolhimento de grande importncia para organizar os servios de sade, entretantoexigeesforosededicaoporpartedosprofissionais.Apressodos usurios pelo atendimento imediato e a recusa de ser acolhido por outro profissional, se no o mdico (ateno curativa), refletem-se na equipe como cansao, estresse e busca por soluo, o que acaba por limitar a implantao dessa prtica(SOUZA, et al., 2008). Queiroz(2007)afirmaqueolinguajarbaseadoemtermostcnicose cientficos,aneglignciadasinformaes,ofatodemuitasnoseremrepassadas 31 porescrito,assimcomoalgumasdessasnoseremamesmaentreosprprios profissionais,oqueporsisdemonstraumtrabalhoindividual,comdesencontros, culminandoemdescrditodoserviodesade,acabapordificultaraprticado acolhimento. Coelho e Jorge (2009) acrescentam que a falta de comunicao dentro daprpriaunidadedificultaasrelaesentretrabalhadoreseentreesteseos usurios,gerandoerroseconflitospessoais.Comacomunicaoineficaz,os sujeitos (profissionais e usurios) ficam excludos da dinmica do servio. ColomeLima(2006)relatamqueoacessoeacolhimentoso imprescindveisparaatendimentoemsade.Entretantoareafsicainadequada, materialinsuficiente,faltadeequipamentosadequadosparaatendimento,recursos humanosinsuficientesedespreparadosparaarealidadedaclientela,podem dificultar a implantao dessas diretrizes. Pereiraetal.,(2010)apontamcomofatoreslimitantesdoacolhimentoa remunerao inadequada dos funcionrios, a falta de tempo, nmero insuficiente de profissionais,modelomedicocntricodasunidades,asquaisexaltamousode tecnologiasduras,aesemtermosdeprocedimentos,quantidadequalidade, observando-se, assim, uma insatisfao dos usurios, bem como dos profissionais. PinheiroeLopes(1993)corroboramcomPereiraetal.(2010)acrescentando comofatoresdificultadoresprticadoacolhimento:dificuldadeemconciliarvida familiar e profissional; jornadas de trabalho dupla ou tripla, ocasionando sobrecargas detrabalhoecansao;ambientedetrabalhodesfavorveldevidoaoconstante contatocompessoassobtenso;faltademotivaoeaperfeioamentodo profissional. A demanda expressiva de usurios aliada oferta de profissionais aqum do desejvelparaumatendimentoderealefeitoparausuriosrefletenegativamente nos trabalhadores, pois a exausto, o cansao, a incapacidade de atender todos os usuriosecumprirtodasasexignciasdosistemadesade,tornaoprofissional insatisfeito. Pensar unilateralmente na satisfao dos usurios efmero; quem est no exerccio se sua profisso carece de respaldo para sua boa atuao (BREHMER; VERDI, 2010). 32 Umdosprincipaisproblemas,paraaimplantaodoacolhimentojuntoao SUSsoosrecursoshumanos,principalmentenocampodesuapreparao, relativosintegraoensino-servioequalificaodopessoal.Nocampoda administraodosrecursoshumanos,osproblemasestorelacionados: inadequaodecomposiodasequipes,frentesdemandassociaise epidemiolgicas;inexistnciadeumsistemadeinformaoderecursoshumanos quesubsidieadefiniodediretrizeseimplantaodepolticaseinexistnciade planos de carreiras para trabalhadores (CAMELO et al., 2000). Cunha (2010) alerta que medida que o profissional incorpora o acolhimento comoumaferramentaderotina,acabaporesquecerounoreconhecersua motivaoeseusfundamentosconceituais,passandoaexecut-lademaneira acrtica.Estaalienaopodeterconsequnciasparaasadedostrabalhadorese paraaeficciadosserviosdesade.Assim,Tesser;PoliNeto;Campos(2010) concluem que quanto menos ritualizadas as aes, mais flexveis os profissionais e otrabalhoemequipe,maiorapossibilidadedetrocadesaberese consequentemente, mais efetivo torna-se o acolhimento. Isto requer a comunicao interpretao,negociaoentretrabalhadoreseusurios,visandoestmulo formao de vnculos, acalmando ansiedades e buscando solues aos problemas. Dentrodessalgica,oacolhimentocorreoriscodesetransformaremmais umaatividade,maisumatecnologiacominstrumentos,lugares,agentesesaberes prprios, enfim, mais um servio oferecido pelas ESFs e no uma forma de mudar asrelaesentretrabalhadoreseusuriosedereorganizarosserviospara oferecermelhorqualidadenaatenosade(FRACOLLI;ZOBOLI,2004). Atentam-seaoriscodeaESFsetornarumProntoAtendimento(PA);nosequer comisso,anularaimportnciadoPAcomoumrecursoamaisdeacolhimento, entretantoalertarparaqueasEFSsnosereduzamaumlugarnoqualsefaz Pronto Atendimento. Takemoto e Silva (2007) alertam que a atribuio exclusiva do acolhimento a umgrupodeprofissionais,comorecepcionistas,porexemplo,acabaporgerar sobrecarga de trabalho e pouca adeso dos demais profissionais a essa prtica; da a importncia do acolhimento ser realizado por toda a equipe. 33 Para Fernandes e Vaz (1999) as dificuldades de implantao do acolhimento remontaaoprocessodeensinoaprendizagemdosprofissionais.Narelao professor/estudante,cobradoqueodiscenteestabeleaumarelaosujeito-sujeitocomoaluno,oquenemsempreacontece,mantendorelao aluno/professor,ouseja,sujeito/objeto;dessaformaoalunonovivenciaessa prticadehumanizaonaescola,oqueacarretadificuldadesemimplant-laem sua vivncia profissional. Trigo; Teng; Hallak (2007) mencionam que o acolhimento pode desencadear a sndrome de burnout e que esta pode comprometer a qualidade do acolhimento. O burnoutconsideradoumriscoocupacional,paraprofissionaisdesade,iniciado comexcessivoseprolongadosestadosdetensonoambientedetrabalho.Suas manifestaesincluem:exaustoemocional,comprometendoassim,aimplantao doacolhimento,vistoperdadaqualidadedotrabalho,perdadeinteresseem prticas profissionais inovadoras e distanciamento das relaes interpessoais. Osofrimentonotrabalhopodesermantidopelodesenvolvimentode estratgias defensivas que garantam a normalidade aparente e insensibilizam com o sofrimento, como as demandas lanadas ao trabalhador para construir um ambiente de humanizao dentro de um sistema que nega a subjetividade do trabalhador e do usurio.Essetrabalhadorprotegesuasade,demodoatornartolervelo sofrimentoticoqueexperimentaaoinfligirumsofrimentoindevidoaooutro, objetivando-o e a si mesmo num processo de produo de procedimentos, e no de sade (DEJOURS, 1999). Casate;Correa(2005)confrontamoacolhimentocomodesenvolvimento tecnolgico.Consideramqueosavanostecnolgicosdificultamasrelaes humanas,tornando-as,frias,objetivas,individualistasecalculistas.Noobstante, paraFeldman(1973)mesmocomesseconfronto,noexisteincompatibilidadeou antagonismoentreacinciaehumanizao,devendo,pois,procurarcrescente adequaodacinciaouracionalidade,comomeiodeseatingirummundocada vez mais humano. 5.6 Medidas essenciais para implantao do acolhimento 34 Paraimplementaodoacolhimento,Tesser;PoliNeto;Campos(2010) exaltamanecessidadedecompatibilizarasagendasmdicasedeenfermagem paraessademanda,umavezqueesseprofissionaissoimportantespara superviso,negociaoeprosseguimentodocuidado.Essapropostadependede umcompartilhamentoderesponsabilidadesedecises,flexibilizandoosrituaistpicosdeconsultaseprocedimentos,dedecisesclnicaseavaliaode risco/vulnerabilidade. Quanto mais flexveis e versteis os profissionais, quanto mais diversificadasemenosritualizadassuasaes,quantomaistrabalhoemequipe, quanto mais aberto e acessvel o servio para a demanda, maior a possibilidade de aequipeimergirnomundosocioculturaldesuareaadscrita.Oquenosignifica deixar de lado os grupos operativos, busca ativa, vigilncia e promoo da sade. Scheneideret al.(2008) relatam que para acolher, faz-se necessidade de ser acolhido,reorganizandooprprioprocessodetrabalhocujasaesaindase mantmcentradasnomodelobiomdico.Orelacionamentointerpessoalentre trabalhadores e usurios/famlia de ser considerado em sua totalidade, pois o estado emocionaldestepodeestartocomprometidoquantoofsico.Ostrabalhadores devemdemonstrarnosomenteosconhecimentostcnicos,mashabilidadee sensibilidade ao lidar com situaes de sobrecarga emocional, colocando-se assim, em prtica as tecnologias leves. De acordo Tesser; Poli Neto; Campos (2010) o apoio gerencial e a existncia deprofissionaisemnmerosuficientesonecessrioseessenciaisparaa implementaodoacolhimento,aindaqueessaprticanogarantaerradicara desmedicalizao.Trata-sedeumaconstruoedeumaprendizadodifceis, entretantopodemserfacilitadoseinduzidos,dependendodosprofissionais.A habilidade clnica um fator importante, mas o trabalho em equipe, a construo de projetosteraputicoseaprpriadiscussosobreosistemadesade,podem contribuir para o acolhimento. Faz-se necessria a construo de aes educativas nos servios de sade, desde a formao profissional, at a produo da educao permanente, visando o estabelecimentodeumanovacultura,voltadaparacompromissossociaiseem respondersnecessidadesdapopulao,apartirdesoluesindividuaise coletivas,investindo-se,assim,naqualificaodessetrabalhador(CAMPOSetal., 35 2006).Ceccim(2005)apontaqueumapolticadeeducaopermanentenoSUS precisa envolver no somente os profissionais de sade que se encontram na ativa, mas tambm a gesto, criando-se uma poltica intersetorial. KLOCK,etal.(2007)destacamqueparatransformaraculturaassistencial baseada em princpios de humanizao necessria uma investigao do processo detrabalhoenquantoinstrumentoqueproporcionarinformaesparaassuntos pertinentes. Modificar a cultura requer compromisso dos profissionais envolvidos no cuidar,comestmulocriatividadeeiniciativasindividuais.Logo,necessidade iminenterepensarnoconceitodasadealmdabiologiaeprincipalmentea valorizaodeumapolticadecuidadointegralemumadimensofsica,psquica, social e espiritual. Criarumaculturadehumanizao,combaseemprticasacolhedoras, implicaemprofundavalorizaodopotencialhumanoeumacompreensode equipe,naqualtodososmembrosdacoletividadesentem-sebeneficiadose beneficirios. Isso demonstra que o atendimento humanizado para com os usurios deveserparaleloaoatendimentohumanizadoaoprofissional.Nota-seassima premnciadeestimularumambientedecuidadoqueenvolvagesto,equipesde sadeeusurios,emsuma,umambienteondetodoscuidam,mastambmso cuidados (PEREIRA et al., 2010). 36 6 CONSIDERAES FINAIS Atravsdodesenvolvimentodessetrabalho,pode-seperceberqueaolongo de sua histria, o SUS promoveu claros avanos, ainda que esses no tenham sido suficientes para modificar o modelo de ateno ainda voltado para a prtica curativa, centrada nas consultas mdicas e na doena. A criao do Programa de Sade da Famlia, em 1994, traz na sua concepo aspotencialidadesparatransformaressemodelomedicocntricoemummodelo centrado no trabalho em equipe, voltado para as prticas de promoo, preveno, curativaereabilitaoenocoletivo.Aooptarpelahumanizao daassistnciapor meio do acolhimento, acaba por incrementar essa potencialidade inicial. Assim a articulao entre sade da famlia, vigilncia em sade, promoo da sadeeacolhimento,trata-sedeumapropostapossvel,desejvelenecessria paraconstruirummodelodeatenocoerentecomosprincpiosediretrizesdo SUS. Uma vez que o Programa de Sade da Famlia se prope a ser estratgia do MinistriodaSadeparareorganizaraAtenoBsica,imprescindvelqueos profissionaisdesadeaprendamareconhecerquaissoosproblemaseas necessidades de sade dos indivduos e das famlias sob sua responsabilidade, e ao reconhec-los,consigamtraarpropostasdeinterveno,identificandoqueas aesdesadesobsuaresponsabilidadeatendemaumaparceladosproblemas presentes e que a outra depende da articulao intersetorial. O acolhimento, ao ampliar o acesso os usurios ao SUS, na Ateno primria Sade(APS),quandoassociadopresenadeprofissionaiscapacitadospara uma escuta ativa e qualificada s suas demandas, possibilita autonomia, cidadania e a corresponsabilidade na produo do cuidado sade. Alm disso, pode contribuir paraasuperaodomitodequeserviosdesadeprestadospelosservios pblicos so de m qualidade e seus profissionais desqualificados. 37 O acolhimento, orientado por princpios e posturas ticas, torna-se um campo frtilparaaformaodesujeitoscompletamenteautnomos,protegeasade individual e coletiva, bem como legitima uma poltica social. Quandooacolhimentotomadocomoprontoatendimento,rotinaetriagem podeviraperpetuaraexclusodosusuriosedascomunidadesdoSUS, dificultandoaadesoaoprojetoteraputico,formaodovnculoeda corresponsabilidade. Oacolhimentodeveservisto,portanto,comoumdispositivopotentepara atendersexignciasdeacesso,propiciarvnculoentreaequipeeapopulao, profissionaleusurio,questionaroprocessodetrabalho,desencadearcuidado integralemodificaraclnica.Dessamaneiraprecisoqualificartodosos profissionais,pararecepcionar,atender,escutar,dialogar,tomardeciso,amparar, orientarenegociar.Trata-sedeumprocessonoqualtrabalhadoreseinstituies tomam, para si, a responsabilidade de intervir em uma dada realidade, dentro de seu territrio de atuao, a partir das principais necessidades de sade, buscando uma relao acolhedora e humanizada para prover sade em nvel individual e coletivo. Assimsendo,oacolhimentoemsuasdiferentesvertentesdestaca-secomo umprocessoaindaemconstruonoSUS,quedevesercapazdeincluiros usurios nos servios e, ao mesmo tempo, potencializar os profissionais de sade e gestoresnaconstruodeespaosdemocrticos,ticosereflexivospara construodeumnovomodeloassistencial,capazdeproduzirsujeitos,cuidadoe sade. 38 REFERNCIAS ANDRADE, L. O. M.; BUENO, I. C. C.; BEZERRA, R. C. Ateno Primria Sade e Estratgia de Sade da Famlia. In: CAMPOS, G. W. S. et al. Tratado de Sade Coletiva. So Paulo: Hucitec, 2006. p. 783-832. AYRES, J. R. C. M. Cuidado e reconstruo das prticas de sade. In: MINAYO, M. C. S.; COIMBRA Jr, C. E. A. (orgs). Crticas e atuantes: cincias sociais e humanas em sade na Amrica Latina. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. p. 91-108. BACKES, D. S.; LUNARDI FILHO, W. D.; LUNARDI, V. L.;Construo de um processo interdisciplinarde humanizao luz de Freire. Texto e Contexto Enfermagem, Florianpolis, v. 14, n.3, p. 427-434, jul./set, 2005.BENEVIDES, R.; PASSOS, E. Humanizao na sade: um novo modismo. Interface: comunicao, sade, educao, Botucatu, v. 9, n.17, p. 398-406, mar./ago, 2005. BRASIL. Ministrio da Sade. Conselho Nacional de Sade. 12 Conferncia Nacional de Sade: Conferncia Srgio Arouca.Relatrio final. Braslia: Ministrio da Sade, 2004 a. 232 p. Disponvel em: < http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/Relatorios/relatorio_12.pdf >. Acesso em 24 jul.2013. BRASIL. Ministrio da Sade. Ministrio da Previdncia e Assistncia Social. Boletim da 8 Conferncia Nacional de Sade. Ed. Braslia: DF, 1986. 52 p. Disponvel em: . Acesso em 02 jul. 2013. BRASIL. Ministrio da Sade. Ncleo Tcnico da Poltica Nacional de Humanizao. Humaniza SUS: documento base para gestores e trabalhadores do SUS. Braslia: Ministrio da Sade, 2004 b. Disponvel em: . Acesso em: 20 jun.2013. BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno Sade. Poltica nacional de Humanizao. Ncleo Tcnico da Poltica Nacional de Humanizao. Acolhimento nas prticas de produo da Sade. 2. ed. Braslia: Ministrio da Sade, 2006 a. Disponvel em: < http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/APPS_PNH.pdf >. Acesso em 20 jun.2013. BRASIL. Ministrio da Sade. Programa de Sade da Famlia: sade dentro de casa. Braslia: Ministrio da Sade, 1994. BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno Sade. Departamento de Ateno Bsica. Poltica Nacional de Ateno Bsica. 4.ed. Braslia: Ministrio da Sade, 2006 b. BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno Sade. Poltica Nacional de Humanizao da Ateno e Gesto do SUS. Acolhimento e classificao de risco 39 nos servios de urgncia.. Braslia: Ministrio da Sade, 2009. Disponvel em: < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_classificacao_risco_servicos_2009.pdf>. Acesso em: 24 jun.2013. BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria Executiva. Acolhimento com avaliao e classificao de risco. Braslia: Ministrio da Sade, 2004 c. Disponvel em: < http://www.google.com.br/url?sa=f&rct=j&url=http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento.pdf&q=n%C3%BAcleo+t%C3%A9cnico+da+pol%C3%ADtica+nacional+de+humaniza%C3%A7%C3%A3o.+humanizasus:+acolhimento+com+avalia%C3%A7%C3%A3o+e+classifica%C3%A7%C3%A3o+de+risco&ei=T134Udr-Ecr4qAH694C4Aw&usg=AFQjCNH8HTuDs319ABmTSNbqm8qSAMbYbA>. Acesso em: 22 jul.2013. BREHMER, L. C. F.; VERDI, M. Acolhimento na Ateno Bsica: reflexes ticas sobre a ateno sade dos usurios. Cincia e Sade Coletiva, Rio de Janeiro, v.15, supl.3, p. 3569-3577, nov.2010. CAMELO, S. H. H. et al. Acolhimento Clientela: Estudo em Unidades Bsicas de Sade no Municpio de Ribeiro Preto, Revista latino americana de enfermagem, Ribeiro Preto, v. 8, n.4, p.39-37, ago, 2000. CAMPOS, E. F. et al. Os desafios atuais para educao permanente no SUS. In: Ministrio da Sade. Secretaria de Gesto do Trabalho e na Educao da Sade. Cadernos de RH Sade. Recursos Humanos em Sade. Braslia: MS, 2006. p. 39-43. CAMPOS, G. W. S. Reforma poltica e sanitria: a sustentabilidade do SUS em questo? Cincia e Sade Coletiva, Rio de Janeiro, v.12, n.2, p.301-307, mar./abr, 2007. Disponvel em: < http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1413-81232007000200002&script=sci_arttext >. Acesso em 22 jun.2013. CAMPOS, G. W. S. Sade Paidia. 2. ed. So Paulo: Hucitec, 2003. 185p.CASATE, J. C.; CORRA, A. K. Humanizao do atendimento em sade: conhecimento veiculado na literatura brasileira de enfermagem. Revista latino-americana de enfermagem. So Paulo, v. 13, n.1, p. 105-111, jan./fev., 2005. CAVALCANTE FILHO, J. B.et al. Acolhimento coletivo: um desafio instituinte de novas formas de produzir o cuidado. Interface: Comunicao, Sade, Educao, Botucatu, v. 13, n.31, p. 315-28, out./dez, 2009.CECCIM, R, B. Educao Permanente em Sade: descentralizao e disseminao de capacidade pedaggica sade. Cincia e Sade Coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n.4, p. 973-986, out./dez., 2005. CECCIM, R. B. Equipe de Sade: perspectiva entre-disciplinar na produo dos atos teraputicos. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R.A (Org.). Cuidado: as fronteiras da integralidade. 3.ed. Rio de janeiro: IMS/UERJ/Abrasco, 2006. p. 259-278. CECLIO, L. C. O. Modelos tecno-assistenciais em sade: da pirmide ao crculo, uma possibilidade a ser explorada. Cadernos de Sade Pblica. Rio de Janeiro, v. 13, n.3, p. 469-475, jul./set. 1997. 40 CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. Metodologia Cientfica. 6. ed. So Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. P. 60-61. COELHO, M. O.; JORGE, M. S. B. Tecnologia das relaes como dispositivo do atendimento humanizado na ateno bsica sade na perspectiva do acesso, do acolhimento e do vnculo. Cincia e Sade Coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, Supl.1, p. 1532-1531, set./out., 2009. COLOM, I. C. S.; LIMA, M. A. D. S. Desafios do trabalho em equipe para enfermeiras que atuam no Programa Sade da Famlia. Revista Gacha de Enfermagem, Rio Grande do Sul, v. 27, n. 4, p. 548-556, dez. 2006.CORDEIRO, H. Instituto de Medicina Social e a Luta pela Reforma Sanitria: contribuio Histria do SUS. Physis- Revista de Sade Coletiva. Rio de Janeiro, v.14, n.2, p. 343-362, jul./dez, 2004. CUNHA, G. T. A construo da clnica ampliada na ateno bsica. 3. ed. So Paulo: Hucitec, 2010. DEJOURS, C. A. O trabalho entre sofrimento e lazer. In: DEJOURS C. A. A banalizao da injustia social. 1.ed. Rio de janeiro: Fundao Getlio Vargas, 1999, p. 27-36.DESLANDES, S. F. Anlise do discurso oficial sobre a humanizao da assistncia hospitalar. Cincia e Sade Coletiva, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, p. 7-14, 2004. Disponvel em: . Acesso em: 25 jun.2013. DUARTE, M. S. M.; SILVINO, Z.R. Acreditao hospital x qualidade dos servios de sade. Revista de Pesquisa: Cuidado fundamental on line, Rio de Janeiro, v.2 (supl), p. 182-5, out./dez, 2010. Acesso em: Acesso em: 24 jun.2013. FAIMAN, C. S. et al. Os cuidadores: a prtica clnica dos profissionais de sade. Mundo Sade, So Paulo, v.27, n.2, p.254-257, abr./jun, 2003. FAVERET FILHO, P.; OLIVEIRA, P.J. A universalizao excludente: reflexes sobre tendncias do sistema de sade. Dados- Revista de Cincias Sociais, Rio de Janeiro, v. 33, n.2, p. 257-283, 1999. FELDMANN, M.A. et al.Aspectos de humanizao do servio de enfermagem do hospital do servidor pblico estadual de So Paulo. Revista Brasileira de Enfermagem, Braslia, v.26, n.6, p.515-526, out./dez., 1973. FERNANDES, G. F. M.; VAZ, M. R. C. Processo de avaliao humanizado e participativo nos estgios supervisionados de enfermagem. Texto e Contexto Enfermagem, Florianpolis, v.8, n.1, p. 106-121, jan./abr., 1999. FLEURY, S. A questo da democracia na sade. Bases conceituais da reforma sanitria brasileira. In: Fleury, S. (Org.). Sade e Democracia: a luta do CEBES. So Paulo: Lemos Editorial, 1997. p. 25-41. Disponvel em: < http://www.fasi.edu.br/files/biblioteca/biomedicina/Sade_e_Democracia_-_A_Luta_do_CEBES_inte1.pdf >. Acesso em 01 jul 2013. 41 FORTES, P. A. C.; MARTINS, C. L. A tica, a humanizao e a sade da famlia. Revista brasileira de enfermagem. Braslia, v.53, n.especial, p. 31-39, dez., 2000. FRACOLLI, L. A.; ZOBOLI, E. L. C. P. Descrio e anlise de acolhimento: uma contribuio para o programa de sade da famlia. Revista da Escola de Enfermagem da USP, So Paulo, v. 38, n. 2, p. 143-151, jun., 2004. FRANCO, T. B.; BUENO, W. S.; MERHY, E. E. O acolhimento e os processos de trabalho em sade: o caso de Betim, Minas Gerais, Brasil. Cadernos de Sade Pblica, Rio de Janeiro, v. 15, n.2, p.345-353, abr./jun, 1999. Disponvel em: < http://www.scielo.br/pdf/csp/v15n2/0319.pdf> Acesso em: 22 jul.2013. GARCIA, M. A. A.; FERREIRA, F. P. R.; FERRONATO, F. A. Experincias de humanizao por estudantes de medicina. Trabalho, educao e Sade, Rio de Janeiro, v.10, n.1, p.87-106, mar./jun. 2012. GOMES, M. C. P. A.; PINHEIRO, R. Acolhimento e vnculo: prticas de integralidade na gesto do cuidado em sade em grandes centros urbanos. Interface: Comunicao, Sade, Educao, Rio de Janeiro, v.9, n.17, p. 287-301, mar./ago, 2005. GUARDINI, R. tica do Acolhimento. Revista Thot, So Paulo,v.77, p.63-69, 2002. Disponvel em: < http://www.palasathena.org.br/revista_thot.php>. Acesso em 12 jul.2013. HECKERT, A. L. C.; PASSOS, E.; BARROS, M. E. B. Um seminrio dispositivo: a humanizao do Sistema nico de Sade (SUS) em debate. Interface: Comunicao, Sade, Educao, Botucatu, v. 13, supl.1, p.493-502, 2009. Disponvel em: . Acesso em: 25 jun.2013. HORTALE, V. A.; COMIL, E. M. PEDROZA, M. Desafios na construo de um modelo para anlise comparada da organizao de servios de sade. Cadernos de Sade Pblica, Rio de Janeiro, v. 15, n.1, p. 79-88, jan./mar., 1999. KLOCK, P. et al. O cuidado como produto de mltiplas interaes humanas: importando-se com o outro. Cogitare Enfermagem, Paran, v. 12, n.4, p. 452-459, out./dez.2007. LECHAINCHE, X. preciso humanizar o hospital. Revista Paulista de Hospitais. So Paulo, v. 10, n.5, p. 7-10, maio, 1962 LIMA, M. A. D. S. et al. Acesso e acolhimento em unidades de sade na viso dos usurios. Acta Paulista de Enfermagem, So Paulo, v. 20, n.1, p. 12-7, jan./mar, 2007. Disponvel em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002007000100003>. Acesso em 22 jul.2013. MALTA, D. C.; MERHY, E. E. Buscando novas modelagens em sade: as contribuies do Projeto Vida e do acolhimento para a mudana do processo de trabalho na rede pblica de Belo Horizonte, 1993-1996. In: BRASIL. Ministrio da Sade. Experincias inovadoras no SUS: produo cientfica doutorado e mestrado. Braslia (DF), 2002, p. 69-101. 42 MARQUES, I. R.; SOUZA, A. R. Tecnologia e humanizao em ambientes intensivos. Revista Brasileira de Enfermagem, Braslia, v. 63, n.1, p.141-4, jan./fev 2010. Disponvel em: < http://www.scielo.br/pdf/reben/v63n1/v63n1a24.pdf > Acesso em: 22 jul. 2013. MATUMOTO, S. O acolhimento: um estudo sobre seus componentes e sua produo em uma unidade da rede bsica de servios de sade. 1998. 226 f. Dissertao (Mestrado em Enfermagem de Sade Pblica)- Escola de Enfermagem de Ribeiro Preto-USP, Ribeiro Preto, 1998. Disponvel em:Acesso em 22 jul.2013. MENDES, E. V. A descentralizao do sistema desservios de sade no Brasil: novos rumos e um novo olhar sob o nvel local. In: MENDES, E.V. (Org.). A organizao da sade no nvel local. 6.ed. So Paulo: Hucitec, 1998. 359 p. MERHY, E. E. O SUS e um dos seus dilemas: mudar a gesto da lgica do processo de trabalho em sade: um ensaio sobre a micropoltica do trabalho vivo. In: Fleury, S. (Org.). Sade e Democracia: a luta do CEBES. So Paulo: Lemos Editorial, 1997. p. 125-141. Disponvel em: < http://www.fasi.edu.br/files/biblioteca/biomedicina/Sade_e_Democracia_-_A_Luta_do_CEBES_inte1.pdf >. Acesso em 22 jul. 2013. MERHY, E. E. Sade: a cartografia do trabalho vivo. 2. ed. So Paulo: Hucitec, 2005. MITRE, S. M.; ANDRADE, E. I. G.; COTTA, R. M. M. Avanos e desafios do acolhimento na operacionalizao e qualificao do Sistema nico de Sade na Ateno Primria: um resgate da produo bibliogrfica do Brasil. Cincia e Sade Coletiva, Rio de janeiro, v.17, n. 8, p. 2-71-2085, ago., 2012. OLIVEIRA, A. et al. A comunicao no contexto do acolhimento em uma unidade de sade da famlia de So Carlos, SP. Interface: Comunicao, Sade, Educao, Botucatu, v.12, n. 27, p. 749-762, out./dez, 2008. PASCHE, D. F. Humanizar a formao para humanizar o SUS. In: BRASIL. Ministrio da Sade. Cadernos Humaniza SUS: formao e interveno. Braslia: Ministrio da Sade, 2010. Disponvel em: Acesso em 25 jun.2013. 242.p. PASSOS, E. (Org.). Formao de apoiadores para a poltica nacional de humanizao da gesto e da ateno sade. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006.PEREIRA, A. D. A. et al. Atentando para as singularidades humanas na ateno sade por meio do dilogo e acolhimento. Revista Gacha de Enfermagem, Porto Alegre, v. 31, n.1, p. 55-61, mar., 2010.43 PINHEIRO, M. C. D; LOPES, G. T. A influncia do brinquedo na humanizao da assistncia de enfermagem criana hospitalizada. Revista Brasileira de enfermagem, Braslia, v. 46, n.2, p. 117-129, abr./jun., 1993. PINHEIRO, R. As prticas do cotidiano na relao oferta e demanda dos servios de sade: um campo de estudo e construo da integralidade. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (orgs). Os sentidos da integralidade na ateno e no cuidado sade. Rio de Janeiro: IMS-UERJ, 2001, p. 65-112. QUEIROZ, M. V. O. et al. Indicadores de qualidade da assistncia ao nascimento baseado na satisfao das purperas. Texto e Contexto Enfermagem, Florianpolis, v.16, n. 3, p. 479-487, jul./set, 2008. RAMOS, D. D.; LIMA, M. A. D. S. Acesso e acolhimento aos usurios em uma unidade de sade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Cadernos de Sade Pblica, Rio de janeiro, v. 19, n. 1, p. 27-34, jan./fev., 2003. ROSSI, F.R.; LIMA, M. A. D. S. Acolhimento: tecnologia leve nos processos gerenciais do enfermeiro. Revista Brasileira de Enfermagem, So Paulo, v. 58, n.3, p. 305-10, maio./jun. 2005. S, L. D. et al. Tratamento de tuberculose em unidades de sade da famlia: histrias de abandono. Texto e Contexto Enfermagem, Florianpolis, v. 16, n.4, p.712-718, out./dez, 2007. SANTOS, A. M. et al. Linhas de tenses no processo de acolhimento das equipes de programa de sade bucal do Programa Sade da Famlia. Cadernos de Sade Pblica, Rio de Janeiro, v.23, n. 1, p. 75-85, jan.,2007.SANTOS FILHO, S.B.; BARROS, M. E. B.; GOMES, R. S. A poltica Nacional de Humanizao como poltica que se faz no processo de trabalho em sade. Interface: comunicao, sade, educao, Botucatu, v. 13, supl.1, p.603-613, 2009. SCHENEIDER, D. G. et al. Acolhimento ao paciente e famlia na unidade coronariana. Textto e contexto Enfermagem, Florianpolis, v. 17, n.1, p. 81-89, jan./mar, 2008. SCHOLZE, A. S.; DUARTE JUNIOR, C. F.; SILVA, Y. F. Trabalho em sade e a implantao do acolhimento na ateno primria sade: afeto, empatia ou alteridade? Interface: comunicao, sade, educao, Botucatu v. 13, n.31, p. 303-314, out./dez., 2009. SILVA JUNIOR, A. G.; MASCARENHAS, M. T. M. Avaliao da Ateno Bsica em sade sob a tica da integralidade: aspectos conceituais e metodolgicos. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (Org.). Cuidado: as fronteiras da integralidade. Rio de Janeiro: Hucitec, 2004. 320p. SILVA, G. R. O SUS e a crise atual do setor pblico de sade. Sade e Sociedade, So Paulo, v. 4, n. 2, p. 15-21, 1995. SILVA, L. G.; ALVES, M.S. O acolhimento como ferramenta de prticas inclusivas de sade. Revista Ateno Primria Sade, Juiz de Fora, v. 11, n.1, p. 74-84, 44 jan./mar, 2008. Disponvel em: . Acesso em 22 jul.2013. SILVA, L. M. V.et al. Avaliao da implantao de programa voltado paea melhoria da acessibilidade e humanizao do acolhimento aos usurios na rede bsica. Salvador, 2005-2008. Revista Brasileira de Sade Materno Infantil, Recife, v. 10, supl.1, p. 5131-5143, nov, 2010. SOLLA, J. J. S. P. Acolhimento no sistema municipal de sade. Revista Brasileira de Sade Materno Infantil, Recife, v. 5, n.4, p. 493-503, out./dez, 2005. Disponvel em: < http://www.scielo.br/pdf/rbsmi/v5n4/27768>. Acesso em 22 de julho de 2013. SOUZA, E. C. F. et al. Acesso e acolhimento na ateno bsica: uma anlise da percepo dos usurios e profissionais de sade. Cadernos de Sade Pblica, Rio de Janeiro, v.24, supl1, p. 5100-5110, 2008. SOUZA, S. P. S. A insero dos mdicos no servio pblico de sade: um olhar focalizado no Programa de sade da Famlia. 2001. 129 f. Dissertao (Mestrado em Sade Coletiva)-Instituo de medicina Social, Universidade do estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2001. STARFIELD, B. Ateno Primria: equilbrio entre necessidades de sade, servios e tecnologias. Braslia: UNESCO: Ministrio da Sade, 726 p. 2002. Disponvel em: http://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/0253.pdf> Acesso em 23 jun.2013. TAKEMOTO, M. L. S.; SILVA, E. M. Acolhimento e transformao no processo de trabalho de enfermagem em unidades bsicas de sade de Campinas. Cadernos de Sade Pblica, So Paulo, v.23, n.2, p. 331-340, fev. 2007. TAVARES, E.C. Sobre reviso narrativa, integrativa e sistemtica. Belo Horizonte, 2010. TEIXEIRA, C. F. Modelos de Ateno voltados para a qualidade, efetividade, equidade e necessidades prioritrias da sade. In: TEIXEIRA, C. F. (Org.). Promoo e Vigilncia da Sade. Salvador: CEPS.ISC, 2002. p.79-99. TESSER, C. D. Medicalizao social: o excessivo sucesso do epistemicdio moderno na sade. Interface: Comunicao, Sade, Educao, Botucatu, v.10, n.19, p.61-76, jan./jun, 2006. TESSER, C. D.; POLI NETO, P.; CAMPOS, G. W. S. Acolhimento e (des)medicalizao social: um desafio para as equipes de sade da famlia. Cincia e Sade Coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, supl.3, p. 3615-3624, nov, 2010. TRAVASSOS, C.; OLIVEIRA, E. X. G.; VIACAVA, F. Desigualdades geogrficas e sociais no acesso aos servios de sade no Brasil: 1998 e 2003. Cincia & Sade Coletiva, Rio de Janeiro, v. 11, n.4, p. 975-986, oct./dez, 2006. Disponvel em: . Acesso em: 25 jun. 2013. TRIGO, T.R.; TENG, C. T.; HALLAK, J. E. C. Sndrome de burnout ou estafa profissional e os transtornos psiquitricos. Revista Psiquiatria Clnica, So Paulo, v. 34, n.5, p. 223-233, 2007. 45 VASCONCELOS, C. M. Paradoxos da mudana no SUS. 2005. 259f. Tese (Doutorado em sade coletiva)-Faculdades de Cincias Mdicas da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005. Disponvel em: . Acesso em 24 jun. 2013. VIANA, A. L.; DAL POZ, M. A reforma em sade no Brasil: Programa de Sade da famlia no Brasil. Physis-Revista de Sade Coletiva. Rio de Janeiro, v. 8, n.2, p.17-38, 1998. Disponvel em: < http://www5.ensp.fiocruz.br/biblioteca/dados/txt_259565392.pdf> Acesso em 04 jul. 2013. WALDOW, V. R. Cuidado humano: o resgate necessrio. 3.ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1998. 202 p.
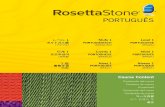


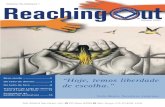











![2020 7/1 (dc) + 1 8/1 1 —8/31 ±.a.aa 6,100PJ 8/1 1 ,OOOBÐË ... · 2020 7/1 (dc) + 1 8/1 1 —8/31 ±.a.aa 6,100PJ 8/1 1 ,OOOBÐË 8/16. [181-1] 6,100PJ SCOOBY + 1 181-1 91-1](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5f804edd0c90ef121c01b1ae/2020-71-dc-1-81-1-a831-aaa-6100pj-81-1-ooob-2020-71-dc.jpg)
![Lavidaesdura 1 1 1 [1][1][1]...](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/559d4d191a28abea018b473f/lavidaesdura-1-1-1-111.jpg)


