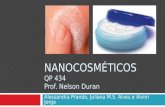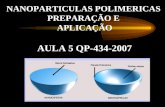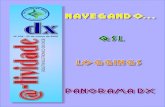434
-
Upload
luis-fernando-costa -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
description
Transcript of 434

III Simpósio Nacional de História Cultural Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006
4133
Repensando a construção da imagem indígena no século XIX: representação
em textos.
Rosely Batista Miranda de Almeida∗
O século XIX foi um período de grandes transformações no plano político,
econômico e social para o Brasil. As comunicações inter-regionais se intensificaram com a
construção das ferrovias, quando foram instalados os primeiros fios de telégrafos e as linhas
de navegação fluvial. A aplicação de novas tecnologias como o telefone, o rádio, o
telégrafo, o telex, dentre outros símbolos da modernidade; significaram avanços na
comunicação ao menor tempo1.
Vale lembrar que, paralelo a esse universo de modernização tecnológica era
intensa a diversidade cultural brasileira. Nesse aspecto, vem a tona a visualização dos
múltiplos grupos indígenas que habitavam as terras da Província de Mato Grosso e, de
outras localidades do Império do Brasil ao longo do século XIX, sob o olhar das relações
interétnicas e do contato dos índios com a sociedade não-índia, a partir da discussão das
representações analisadas em textos.
Há que se dizer da visão da sociedade nacional sobre o índio nesse período
histórico, o que pouco se difere do período anterior das conquistas dos aventureiros
bandeirantes na Colônia brasileira. São imagens calcadas em leis que ao considerar o índio
selvagem ora defendia a força, ora a brandura para trazê-los à civilização; o que se traduzia
em utilizar o índio para o trabalho a serviço do não-índio e facilitar a ocupação das terras
indígenas pelos denominados brancos. Tal estratégia foi reforçada pela catequese
missionária que, na prática, tentava induzir os nativos à docilidade desejada2.
Vê-se a representação da imagem indígena no século XIX através de documentos
oficiais, relatórios de viagens, informações, itinerários, notícias, diários e memórias que
∗ Mestranda em História, Departamento de Pós-Graduação da Universidade Federal de Mato Grosso, sob a orientação da Profª Drª Maria de Fátima Gomes Costa. 1 Cf. SODRÉ, Nelson Werneck. Panorama do Segundo Império.Rio de Janeiro: Editora Graphia, 1998: 88, 197-198. Cf. também, HOBSBAWM, Erick. A Era dos Impérios, 1998: 87-95.

III Simpósio Nacional de História Cultural Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006
4134
freqüentemente atestam a ocupação do espaço geográfico de Mato Grosso, em níveis
graduais de repressão por parte dos conquistadores e, por sua vez, a reação dos índios
simbolizada pelas invasões a propriedades, emboscadas e intolerância frente às atitudes de
desrespeito ao seu território3.
Da parte dos administradores da Província havia o consenso de se conquistar a
amizade dos índios a fim de torná-los submissos e disciplinados para os serviços
domésticos, agrícolas e militares, inclusive nas regiões de fronteira. Neste sentido, a
percepção de fronteira é a do humano onde o outro é degradado para viabilizar a existência
de quem domina, subjuga e explora. É o lugar do desencontro na busca do destino dos que
se perderam nas veredas e no abismo do incógnito e desconhecido, onde as relações sociais
e políticas são demarcadas pelo movimento de expansão demográfica sobre terras não
ocupadas ou insuficientemente ocupadas4. É a visão da fronteira como local da alteridade,
da descoberta do outro, que pode ser o próprio eu, mas também de desencontros, de
diferentes estilos de vida e de temporalidades históricas diferenciadas.
Em caso de contatos dos conquistadores com grupos indígenas ainda desconhecidos
ou arredios; os próprios índios foram utilizados como intérpretes, ou mesmo como
pacificadores. Nesse sentido [...] tornaram-se contingentes cortejados e, diversas foram as
ações visando o enquadramento dos índios aos propósitos do lucro. No entanto, o valor do
trabalho para os índios, não se baseava na obtenção de lucros como no Sistema Capitalista,
mas na manutenção da vida; o que estava permeado de valores culturais e religiosos.
Valores comuns e associados às atividades cotidianas de cada grupo5.
Manter os índios como guardadores de áreas de fronteira a quase nenhum custo era,
por certo, bom negócio aos interesses portugueses, seja como soldados de fronteira ou
como solução de povoamento, pelo simples fato de que os índios designados de mansos ou
não excediam em número se comparados aos colonos portugueses6.
Tanto os portugueses quanto os espanhóis ignoraram a fronteira do humano
representada pelos grupos indígenas que ocupavam o espaço indômito e desconhecido,
2 Cf. VASCONCELOS, Cláudio Alves de. A questão indígena na província de Mato Grosso. Conflito, Trama e Continuidade. 1999: 10 3 Cf. VASCONCELOS, Cláudio Alves de. A questão indígena na província de Mato Grosso. Conflito, Trama e Continuidade. 1999: 29. Cf. também, COLINI, G. A. Apud BOGGIANI, Guido. 1894: 283. 4 Cf. MARTINS, José de Souza. Fronteira – A degradação do outro nos confins do humano. 1997: 147-170. 5 Cf. PESOVENTO, Adriane. Trabalho indígena na Província de Mato Grosso (1870-1890). 2004: 17.

III Simpósio Nacional de História Cultural Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006
4135
designado à época como sertão. Do ponto de vista de Corrêa, o colonizador [foi] o ator das
transformações ocorridas nas terras americanas, encontrou região e habitantes (...) que
não poderiam imaginar o desmoronamento de seu modus vivendis que esse colonizador
traria como herança7.
Neste estudo a proposta de narrativa da história é a da representação do índio na sua
relação com outros seres humanos de sujeito/sujeito e não sujeito/objeto. Assim,
oportunamente, abordar-se-á sobre o que Roger Chartier considera como principal objeto
da História Cultural (...) identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma
determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler8. E ao se pretender explicar
realidades passadas no processo da construção historiográfica, inspirados tanto em Chartier
quanto em Michael de Certeau, entende-se que não se encontrará uma verdade objetiva,
mas vários significados que nortearão os rumos dos objetivos propostos, num pensar do
cotidiano entre indígenas e não indígenas durante o evento histórico a que se propõe
estudar.Percebe-se, pois, que (...) nunca os povos indígenas estiveram tão presentes no
campo dos historiadores quanto nos dias de hoje9.
O objetivo é o de analisar o índio [o outro], numa revisão de trajetórias históricas
contextual do período, com ênfase também à Guerra da Tríplice Aliança, 1864-1870;
discutindo-se o papel que alguns grupos desempenharam durante esse período bélico e
indicar elementos favoráveis à reflexão quanto a necessidade da construção de uma outra
visão histórica, na qual os índios sejam reconhecidos como sujeitos e atores sociais capazes
da condução de seus destinos históricos pela manifestação da cultura, como forma de
expressão da realidade que lhes faz sentido na tarefa da reinvenção do significados de
raízes simbólicas, em temporalidade contemporânea10.
A comunicação tem como fontes de referência documentos manuscritos
pertencentes ao Arquivo Público de Mato Grosso e bibliografia que trata da Guerra com o
Paraguai, da história indígena ou do Império Brasileiro como um todo. Lembra-se pois,
Roger Chartier, ao embasar a fonte como testemunho da realidade a ser analisada por suas
6 Cf. VASCONCELOS, Cláudio Alves. 1999: 62. 7 Cf. CORRÊA, Valmir Batista. 1999: 14. 8 Cf. CHARTIER, Roger. A História Cultural - entre práticas e representações. 1990: 17. 9 Cf. EREMITES DE OLIVEIRA, Jorge. A história indígena em Mato-Grosso-do-Sul, Brasil: dilemas e perspectivas. Apud: Territórios e Fronteiras. V. 2, N.2, Jul/Dez, Cuiabá/MT: EDUFMT, 2001: 124. 10 Cf. PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & História Cultural.Belo Horizonte: Autêntica. 2005: 15-17.

III Simpósio Nacional de História Cultural Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006
4136
representações, sendo essas tidas como realidade com múltiplos sentidos. Nessa
perspectiva, o autor apresenta como principal objeto da História Cultural, (...) identificar o
modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é
construída, pensada, dada a ler11.
Já na década de 1840, os índios Guaná foram considerados civilizados e aptos para
qualquer serviço militar da Província. Nesse ano, atendendo a um pedido por portaria de 13
de novembro, Antônio de Sena Benevides, enviou ao presidente da Província, José da Silva
Guimarães, uma relação exata dos Guaná, habitantes da Freguesia de Nossa Senhora da
Conceição em Albuquerque, tidos como confiáveis ao uso das armas em prol da defesa do
Império12. Esses indígenas, pertencentes à família lingüística Aruák, desde o século XVIII,
viviam próximos aos povoados e fortes militares luso-brasileiros, o que foi considerado (...)
parte de uma geopolítica maior, cujos propósitos eram o de usar índios como muralhas do
sertão, como é amplamente conhecido na historiografia e na literatura antropológica mais
recente13.
Em 1850, em uma tentativa de ataque aos militares brasileiros na região do Pão de
Açúcar, os paraguaios subiram o rio Paraguai e foram reforçar (...) o forte Olimpo, mas
conhecendo (...) que os índios Guaicuru, seus antigos capitães e inimigos, indivíduos das
imediações do Pão de Açúcar pretendiam sitiar ou bater naquele ponto; assim
abandonaram o forte levando a artilharia14. Desta feita, um grupo de Guaykurú conduziu
os militares de Coimbra e Miranda para observar o destino das forças paraguaias e, a partir
do contato com esses índios sobre as correrias dos paraguaios nos campos de Miranda,
possibilitou da parte do comando brasileiro na fronteira as medidas cabíveis para
interrompê-las, sempre no sentido de defesa, não de agressão aos vizinhos de limites15.
Fato que chama a atenção é a terminologia usada para esses povos: mansos em
oposição a bravios; alusão ao fato de serem os índios dados às traições, termo esse
observado nas narrativas das fontes documentais. Lembrando que, como se tratavam de
fontes registradas por militares, é possível inferir que essa traição fosse relacionada a
11 Cf. CHARTIER, Roger. A História Cultural- entre práticas e representações.1990:17 12 Cf. Documentos avulsos. Portaria de l3 de novembro, enviada por Antonio de Sena Benevides ao presidente da Província, José da Silva Guimarães Lata 1840. APMT 13 Cf. EREMITES DE OLIVEIRA, Jorge & PEREIRA, Levi Marques. 2005:3. 14 Cf. Ofício ao presidente da Província, João José da Costa Pimentel. Lata 1850 C, índios Guaykurú. APMT. 15 Cf. Ofício ao presidente da Província, João José da Costa Pimentel. Lata 1850 C, índios Guaykurú. APMT.

III Simpósio Nacional de História Cultural Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006
4137
questões de interesses brasileiros em situação de conflito com grupos indígenas. Taunay
também comenta esse assunto com relação aos índios Guaykurú. Esse escritor os descreve
como não confiáveis enquanto representantes dos interesses do Império frente à marcha das
forças em combate16.
Em 1851 um relato de Augusto Lerverger ao encarregado de negócios do Brasil no
Paraguai, Pedro de Alcântara, observa-se a demonstração de sua opinião (...) a inconstância
e dissimilação que os caracterizam não (...) permite contar com a amizade e obediência
que assim fingem, quando lhes convém, e mais de uma vez [teriam] sido vítimas da sua
alevosia17.
Esses relatos levam à compreensão da forma pela qual Taunay expressou-se
afirmando que os Guaykurú não eram confiáveis à causa brasileira, quando em verdade
pode-se supor que essas práticas descritas fossem parte de costumes e estratégias de
vivência desse grupo indígena nas suas relação com os não-índios, a quais também não
depositavam confiança.
O termo traição foi utilizado pelo capitão coronel José Couto da Silva, em 1840. Segundo
esse capitão, o comando militar da fronteira considerava, com reservas, a prestação de
serviços de índios considerados aliados. Em algumas ocasiões, mostraram o efeito da
natural traição que os domina. Possivelmente, o termo traição exposto na documentação
refira-se a situações de desinteresse dos índios ao serem convocados como defensores da
fronteira18.
Dentro da perspectiva histórica, tornou-se comum a visão do europeu colonizador
como o personagem destemido, civilizado e os indígenas, habitantes majoritários do espaço
brasileiro, foram considerados bárbaros, traidores, pagãos e por tantos outros adjetivos bem
conhecidos à época, sinônimos de selvagem. Trata-se de um olhar marcado pela alteridade
que (...) configurou-se através de um imaginário oscilante, entre o índio ideal e o índio
repulsivo19. O homem branco representava a civilização, aquele que tinha por missão
dominar o índio brutal e feroz, que significava a negação da ordem e dos moldes
16 Cf. TAUNAY, Alfredo d’Escragnole (Visconde de). 2003:131. 17 Cf. Livro 117, Est. 06, 1851-1853, p. 13. APMT. 18 Cf. Quartel de Albuquerque, em 16 de novembro de 1840. Lata 1840, APMT. 19 PESOVENTO, Adriane. 2004: 65; 69.

III Simpósio Nacional de História Cultural Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006
4138
civilizados, seguindo a visão dos conquistadores que aliavam as opiniões a respeito dos
índios, conforme os interesses da colonização.
Nos relatórios dos presidentes de Província, com freqüência, eram denunciadas as
depredações e mortes ocasionadas pelas correrias de índios em vários pontos da Província,
e também, sobre os quilombos que existiam não muito distante da capital20. Os relatos
incessantes de críticas devido aos vícios também eram comuns; É o caso do olhar dos
conquistadores sobre os Xamakoko, de que eram propensos ao álcool, ao roubo e que não
constituíam grupo inteligente. Há que se questionar qual o significado de ser inteligente
para o homem branco. Seria pela tradição da barganha dos filhos por objetos? O documento
não esclarece as razões da expressão de que eram sem inteligência21.
A fragilidade e despreparo das forças que atuavam na fronteira da província mato-
grossense com o Paraguai já se evidenciavam tempos antes da invasão paraguaia. (...) Nesse
sentido, a guerra com o Paraguai, além de sua desmedida violência, foi para Mato Grosso
uma luta de desamparados, tendo como aliadas a fome, a falta de armamentos e
fardamentos, e as doenças22.
O sentido de guerra deve ser entendido com base em certas especificidades surgidas
e mencionadas em discussões anteriores somando-se a reflexões que procuram investigar
sob quais interesses e motivações as etnias indígenas se deixaram envolver num conflito tão
sério e trágico como foi a Guerra com o Paraguai? Qual era o significado de guerra para o
indígena no século XIX? É de fundamental importância não esquecer que se trata, no dizer
de Denise Maldi Meireles (...) de alteridades, sociedades outras23. A propósito, é
necessário chamar atenção para as palavras de José de Anchieta Essa gente é tão
carniceira, que parece impossível que possam viver sem matar [Carta de Anchieta de
1563] dados que induzem a perguntar se o indígena não chamaria de carniceiro o
colonizador, o homem branco?
20 Cf. Registro de relatório apresentado pelo vice-presidente da Província, Barão de Aguapehy, à Assembléia Legislativa Provincial, em 03 de maio de 1864. Livro 03 B. P. 60 e 61. APMT. Cf. também relatório do chefe da esquadra, Barão de Melgaço, em 20 de setembro de 1869, na abertura da Assembléia Legislativa Provincial. Livro 03 B. APMT. 21 Cf. Relatório dos Presidentes de Província, Documento 35-47, 1865-1875, p. 138, em 4 de outubro de 1872, NDIHR, UFMT. 22 Cf. CORRÊA, Valmir Batista. 1995: 28. 23 Cf. MEIRELES, Denise Maldi. Guardiães da fronteira. 1989: 12.

III Simpósio Nacional de História Cultural Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006
4139
Em um diálogo com estudiosos de diferentes áreas do conhecimento como
antropólogos e historiadores percebe-se que, para indígenas de diversos grupos étnicos a
guerra confundia-se com sua própria cultura, portanto, presente, como elemento da vida
social. É o que pensa John Keegan em Uma História da Guerra, onde defende que (...) a
guerra abarca muito mais que a política, que é sempre uma expressão de cultura e, em
algumas sociedades, é a própria cultura24. A arte de guerrear era exercida assim contra
aldeias inimigas, com táticas e ritos diferenciados, ou contra os colonizadores europeus.
Após conhecer os cavalos, os Guaykurú tornaram-se ainda mais habilidosos em suas
conquistas. Esse domínio porém, no cotidiano, levou-os a depender da utilização desses
animais, que passaram a ser amestrados visando os períodos de guerra; essa estratégia
facilitou a esse grupo indígena o empreendimento guerreiro ao contar com animais ligeiros
e fortes25. Por certo, a narrativa sobre essa habilidade com os cavalos é reafirmada pelo
documento nº. 16 intitulado Combates da Laguna e do Apa de 06 de Maio de 1867, anexo à
obra Retirada da Laguna.
Conforme Darcy Ribeiro:
A guerra foi para a sociedade Guaykurú uma fonte de riquezas e prestígio social, já que o herói
guerreiro era o ideal máximo da cultura, mas, principalmente uma fonte de servos. Roubando
crianças de outros grupos eles cobriam os claros abertos em suas fileiras pela prática do aborto e
do infanticídio que levaram a uma escala inigualada pelos povos modernos26.
A estratégia principal dos portugueses para atrair a confiança, a submissão dos
Mbayá e de outros grupos indígenas foi o estabelecimento dos serviços de catequese que
incluía, além dos ensinos religiosos, o incentivo à criação de gado e agricultura no interior
das reduções indígenas. O projeto da catequese foi pensado pelos colonizadores como
estratégia para o controle dos diferenciados grupos indígenas do Brasil.
Por certo, os conquistadores olhavam com estranheza as práticas de resistências, de
defesa dos territórios e objetivos belicosos dos povos indígenas encontrados em terras
americanas. Por vezes, não reconheciam a pluralidade cultural e conseqüentes diferenças de
24 Cf. KEEGAN, John. Uma história da guerra. 1995: 28. 25 Cf. COLINI, G. A. Apud BOGGIANI, Guido. 1894: 283. 26 Cf. RIBEIRO, Darcy. Kadiwéu: ensaios etnológicos sobre o saber, o azar e a beleza. Petrópolis: Vozes, 1980.

III Simpósio Nacional de História Cultural Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006
4140
usos, costumes, crenças, línguas e tradições, nem tão pouco à terra que por ordem natural
lhes pertencia.
Pensa-se com Carlo Ginzburg de que: a história pode nos despertar para a
percepção de culturas diferentes para a idéia de que as pessoas podem ser diferentes e, (...)
contribuir para a ampliação das fronteiras de nossa imaginação27.
Aos índios considerados bravios estava reservada a captura, prática essa adotada a
partir da metade do século XIX, quando foram estabelecidos os presídios com
destacamentos militares, locais onde os índios que resistiam eram combatidos e, os
chamados civilizados eram instalados em aldeamentos, núcleos de futuras povoações
criados através do Decreto 426, de 24 de Julho de 184528. Esse documento foi criticado por
alguns administradores e avaliado com expectativa de sucesso por vários outros
governantes, dentre eles, Pimenta Bueno, Gomes Jardim e Augusto Leverger.Os indígenas
que não aceitavam o contato com os conquistadores eram temidos e, contra eles planejava-
se o envio de força militar29.
Os religiosos atuaram em larga escala na tentativa de atrair os índios, por meios
brandos, com incentivos ao trabalho e aprendizagem da língua portuguesa30. Ao serem
aldeados e transformados pelos moldes educativos previstos pelos representantes do
governo, esperava-se que se tornassem dóceis e submissos [...] às imposições e
expropriações dos provinciais mato- grossenses31. Tal era o interesse sobre estratégias que
garantissem o envolvimento dos índios com aprendizagem da leitura e ofícios variados
como forma de acelerar os resultados do processo de colonização32.
Embora o Regulamento 426 de 1845, prescrevesse a prática de uma política de não
perseguição e, por conseguinte, de tratamento brando aos índios, constata-se com base em
prova testemunhal de ofícios que expõem a existência de uma relação conflituosa entre os
Diretores de Aldeia, representantes do poder imperial estabelecido, com os índios,
representados pelos diversos segmentos étnicos.
27 Cf. GINZBURG, Carlo à professora de história da educação da USP, Maria Lúcia G. Pallaris-Burke. s/d. 28 Cf. CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Apud, CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. 2002: 137. 29 Cf. VASCONCELOS, Cláudio Alves de. 1999:104. Cf. também o Ofício de 12 de dezembro de 1860, enviado ao presidente da Província , coronel Antonio Pedro de Alencastro pelo delegado de Polícia Joaquim de Oliveira, alguns anos antes do conflito com o Paraguai. 30 Cf. VASCONCELOS, Cláudio Alves de. 1999:73-85. 31 Cf. PESOVENTO, Adriane. 2004: 29. 32 Cf. PESOVENTO, Adriane. 2004: 62.

III Simpósio Nacional de História Cultural Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006
4141
A análise dessa questão remete à idéia de que como qualquer outro povo que se
tornara cativo, como os negros no Brasil, os índios também resistiram ao que lhes fora
imposto. Violência física, mortes e exposição a humilhações fizeram com que inúmeros
índios de Albuquerque e outras partes da fronteira oeste mato-grossense fugissem para
lugares mais seguros33. Os indígenas foram povos subjugados, disso não se deve esquecer,
mas pela trilha da história, pode-se perceber a luta deles para sobreviver e perpetuar suas
culturas. O próprio recrutamento forçado foi elemento de humilhação, pois muitos índios
foram levados presos para servir às forças imperiais. Visto que a guerra com o Paraguai foi
um evento, sob diversas circunstâncias, estranho aos interesses indígenas; eles viam-se
empurrados para ela por meio de alistamento arbitrário34. Há que se destacar que (...) os
índios que eram retirados de suas terras para o serviço militar abriam um espaço cada
vez maior para a ocupação branca35.
O mesmo interesse dos índios de que suas terras fossem respeitadas enquanto suas
propriedades foi motivo da junção de outras etnias junto aos brasileiros na Guerra, até de
forma voluntária; como exemplifica Taunay de quando o Terena José Pedro e sua gente
confirmaram presença na campanha36. Tudo indica que após o falecimento do Capitão José
Pedro, este tenha sido substituído pelo índio Alexandre Bueno, da nação Terena, para
exercer liderança na aldeia de Naxe-daxe. Dentre as razões para sua nomeação para a
patente de capitão, foi ter prestado seus serviços quando a fronteira de Miranda foi invadida
pelos paraguaios. Tanto Alexandre quanto a sua gente foram chamados à defesa de nossa
fronteira, pelo Tenente Coronel Caetano da Silva Albuquerque37.
Os indígenas que foram envolvidos na defesa do território mato-grossense
submeteram-se às ordens militares. Desde as primeiras décadas do século XIX, com o
intuito de sustentar a ordem no interior do Império, foi intensificado o recrutamento de
braços servis; a exemplo dos indígenas recrutados para servir no Arsenal da Marinha da
Corte. Suas forças tornaram-se necessárias e foram então indicados para atuar nos
combates. Esse foi um momento em que as relações entre índios e não-índios foram (...)
33 Cf. LEOTTI, Odemar. 2001: 40 34 Cf. LEOTTI, Odemar. 2001: 41-42. 35 Cf. VASCONCELOS, Cláudio Alves de. 1999: 43. 36 Cf. TAUNAY, Alfredo d’ Escragnolle. 1874:309.

III Simpósio Nacional de História Cultural Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006
4142
mediadas pelas forças administrativas e militares que controlavam as ações dos índios e
interferiam em seus costumes38.
Como já foi observado nas indicações bibliográficas ou nos documentos
pesquisados, muito antes do conflito armado com o Paraguai e em todo o seu decorrer, os
serviços dos índios na Província de Mato Grosso foram cotidianamente requisitados. Eles
eram apresentados como conhecedores do território que servia de passagem e moradia
também aos não-índios que chegavam nessas paragens com objetivos de conquista.
Os índios tornaram-se guias para os colonizadores porque sabiam caminhar por
frondosos matagais ou lagos sem trilhas previamente abertas39. Eles trabalhavam como
protetores civis que tentavam sobreviver junto aos refúgios dos índios em meio às matas
fechadas ou aldeias, em territórios da província mato-grossense e não queriam ser alvos do
inimigo paraguaio.
Enfim, as situações de desolação e descontinuidades, tanto dos índios Guató como
de outros vários grupos étnicos já mencionados, em relação ao curso livre de sua história
quanto do projeto da política indigenista imperial, foram marcantes durante e após a guerra
com o Paraguai. Não se pode silenciar sobre as formas de violência que viviam na fronteira
com o Paraguai, nem ao fato de que foram induzidos a estar em uma guerra que imprimiu
profundas marcas nas memórias de sua gente, em suas culturas.
Nas palavras de Cunha: Uma nova dimensão cultural onde, além de viver a
experiência (...) da excitação diante do perigo sempre eminente, eles puderam, (...) contar
com a pronta amizade oferecida pelos guerreiros a seus irmãos de armas40. Nessa
perspectiva, pode-se compreender o porquê de segmentos antes considerados marginais
serem integrados no grupo maior de combatentes defensores do Império Brasileiro.
37 Cf. Livro 191 (1860-1873). APMT. Nesse ofício, o Diretor Geral dos Índios, Alexandre José Leite, em 05 de fevereiro de 1869, pediu ao vice-presidente da Província, Dr. José Antonio Murtinho, que nomeasse o índio Alexandre Bueno como capitão da aldeia de Naxe-daxe. 38 Cf. VILELA DA SILVA, Jovam. 2002: 167. Cf. também VASCONCELOS, Cláudio Alves de. 1999: 43. 39 Cf. Ofício de Manoel Teixeira Amazonas ao presidente da Província, José da Silva Guimarães, em 18 de fevereiro de 1842. Caixa 1842. APMT. Cf. também a relação do armamento do destacamento do Taquari. Lata 1865-A e Lata 1865-D, e também Cf. Livro 02, p. 93. APMT, pelos quais entendemos que os armamentos foram entregues as pessoas mencionadas, inclusive a sete índios Kayapó, muito antes da data de redação do ofício pois, o Capitão-Comandante, após a invasão dos paraguaios ao Coxim em 24 de Abril de 1865, veio para a capital da Província.) Assunto já tratado em outras narrativas que compõem este trabalho. 40 Cf. CUNHA, Marco Antonio da. 2000: 17.