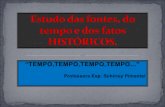#6 Como Decorrencia Da Sensivel No Modo Frigio
description
Transcript of #6 Como Decorrencia Da Sensivel No Modo Frigio
FREITAS, Sérgio Paulo Ribeiro de. Que acorde ponho aqui? Harmonia, práticas teóricas e o
estudo de planos tonais em música popular. Tese (Doutorado em Música). Universidade Estadual
de Campinas, 2010. p. 673 e 641-645
Do acorde de “sexta aumentada” como uma decorrencia do emprego da sensivel no modo frigio
Autores como Aldwell e Schachter (1989, p. 479) e Proctor (1978, p. 115-116) argumentam que esse tipo de
aparição da “#6” é uma alteração da “familiar” cadência Frígia que evidencia a “origem contrapontística” (ou
seja, a origem “linear”, “pré-tonal” ou “monal”) desse “acorde de sexta aumentada”.
FIG. 5.66 - A sexta aumentada como decorrência de uma alteração familiar na cadência frígia
* * *
DOS DEBATES DOS ILUMINISTAS FRANCESES EM TORNO DESTE CÉLEBRE ACORDE “SUPERFLUE”
Como se sabe, são muitos e diversos os pontos de vista sobre este acorde “láb-dó-ré-fá#” no tom de
Dó-menor ou Dó-maior. Mais recentemente – desde aproximadamente a segunda metade do século XX, devido
a fatores igualmente diversos, dentre eles o avanço dos estudos formais e das publicações técnico-teóricas nos
campos da música popular – evidenciou-se uma espécie de divergência entre os cultores do “acorde de
dominante substituta” (pelo lado da jazz theory e da chamada harmonia funcional que se pratica no campo da
música popular cifrada) versus os defensores do “acorde de sexta aumentada” (pelo lado da teoria erudita,
escrita com semibreves na pauta, a teoria da harmonia tradicional ou de escola).
Considerando genericamente tal cenário, a intenção aqui é destacar que, na história moderno-
contemporânea da teoria da harmonia, tal divergência não é a única, não está isolada, não é recente (pois este
acorde não é recente e vem sendo teorizado pelo menos desde o século XVIII), e nem tão pouco se reduz aos
dualismos do tipo: popular versus erudito, contemporaneidade versus tradição, cifrado versus escrito ou
prático versus teórico. Nesta intenção é útil referenciar algo das influentes opiniões e contra-opiniões que
mostram como o entendimento representado aqui pelo recorte de Rameau nunca foi consensual. E com isso
valorizar o fato de que a divergência “sexta aumentada versus dominante substituta” é algo que se orienta
“decerto por uma concepção musical que se pode entender como sinal específico da tendência geral da história
das idéias para substituir os conceitos de substância pelos conceitos de função” (DAHLHAUS e
EGGEBRECHT, 2009, p. 114). Entenda-se, para os autores, nesse dualismo “substância” versus “função”,
“substância” é aquilo que a coisa é “em si”, a res extensa (a coisa extensa), no caso: um “intervalo” de sexta
aumentada. Enquanto que “função” é a explicitação do “para o quê serve essa coisa”, no caso (por hora) vale
dizer: a sexta aumentada serve para “substituir a dominante” (ou seja, tem função de dominante).
Neste sentido, vamos notar que as teorias “reservadas” da “sexta aumentada” são tidas como
“tradicionais” (clássicas ou escolásticas), já que valorizam a “essência” (as qualidades, propriedades e atributos
que caracterizam a natureza própria de um intervalo concreto), valorizam aquilo que, conforme Leite (2009,
p. 233-234), na filosofia escolástica de São Tomás de Aquino (1225-1274) chamou-se de o “modo especial de
ser do ente” (“modus specialis essendi entis”), ou seja, valorizam o seu “aspecto não-transcendental”: o “ser
ente por si”. Em contraposição, nas teorias “expandidas” que se consolidaram na contemporaneidade
romântico-popular, valoriza-se um “estar em função de”, o suposto da “interdependência” que conduziu a
“estética das relações” e foi decisivo para o surgimento das teorias da funcionalidade harmônica que defendem
que o acorde, “por si só”, de fato não é capaz de nos informar de maneira inequívoca qual é a sua função.
A divergência “#6 versus SubV” é, então, algo que toma parte daquela ampla “cadeia de antíteses”
(DAHLHAUS, 1999, p. 49) que, como vamos vendo, perpassa vários dos nossos assuntos envolvendo
desarmonias diversas (eruditos versus eruditos; barroco versus clássico; clássico versus romântico;
harmonia como matéria, distância e extensão versus harmonia como movimento, força e energia; acordes
belos versus acordes sublimes; natureza fora de nós versus natureza dentro de nós; formalistas versus
conteudistas; etc.).
Neste primeiro comentário sobre os percalços históricos da normalização do nosso “SubV7”, serão
referenciados alguns debates travados pelos iluministas franceses a respeito deste “Accord de sixte
superflue”. Tais debates podem ser considerados uma espécie de registro culto e pioneiro que,
significativamente veiculado, contribuiu para popularizar a questão da “#6” a partir de meados do século
XVIII. Mais adiante, em outro comentário, serão mencionados alguns registros (mais ou menos da mesma
época) do “acorde de sexta aumentada” na cultura teórica do baixo contínuo. E posteriormente, num terceiro
destes comentários, enfrenta-se um sobrevôo que elenca contribuições que marcam o debate romântico-
contemporâneo (dos finais do século XVIII até meados do XX).
Na Paris pré-revolução, numa circunstância realmente ímpar na qual os philosophes, com
impressionante conhecimento de causa, discutiam publicamente com os musiciens questões como “qual é a
fundamental de um accord de sixte superflue?” (e, por incrível que pareça, os músicos davam ouvidos ao
que os filósofos diziam e publicavam sobre tais detalhes “técnicos” da “nossa” arte), Rameau foi um raro
músico teórico que pode debater as miudezas artesanais do nosso ofício com pensadores do porte de um
Rousseau e de um D’Alembert.
Em 1751, logo no volume um (p. 77-80) da “Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers” editada por Diderot e D’Alembert, no verbete “accord” escrito por Rousseau,
podemos ler o entendimento – contrário ao defendido por Rameau – de que este acorde não é uma inversão:
“Neste acorde [FIG. 5.33a] não se inverte nem se pode alterar nenhum de seus sons, se trata propriamente
de um acorde de petite-sixte maior, elevada por acidente e no qual eventualmente se substitui a quinta pela
quarta” (ROUSSEAU, 1751, p. 78). Sem modificar o texto, Rousseau transpõe o exemplo (FIG. 5.33b) e,
como já vimos (FIG. 2.18), republica tal entendimento no seu “Dictionnaire de musique” de 1768
(ROUSSEAU, 2007, p. 71).
FIG. 5.33 - O “accord de sixte superflue” gravado nos escritos de Rousseau na segunda metade do século XVIII
Em 1765, no verbete “Sixte” que escreve para o volume quinze da “Encyclopédie...”, o philosophe-
musicien Rousseau – este “outsider” precursor do Romantismo que “tornou os alemães possíveis”
(SCHWANITZ, 2007, p. 302-303) – reelabora o texto acentuando o papel pré-dominante deste
Accord de sixte superflue: Consiste em uma espécie de petite-sixte que não se pratica a não ser sobre o
sexto grau de um tom menor [p.ex. sobre a nota láb de Dó-menor] quando este descende sobre a
dominante [lábsol]; em tal caso, como a sexta deste sexto grau é maior por natureza [diatonicamente,
a sexta de láb é fá], algumas vezes se faz aumentada [superflue] adicionando-se um sustenido
(ROUSSEAU, 1761, p. 235).
Este texto também foi republicado na íntegra no verbete “Sixte” do “Dictionnaire...” de 1768.
Rameau falecera em 1764, e então Rousseau acrescenta uma última alfinetada negando a tese ramista de que
o tal fenômeno é apenas uma inversão: “A sixte superflue se transforma então em um acorde original, o qual
nunca se inverte” (ROUSSEAU, 2007, p. 366).
Nesse meio tempo, em 1757, veio a público o extenso verbete “fondamental, musique moderne” (de
aproximadamente 10 páginas) escrito por um dos editores responsáveis pela “Encyclopédie...”, o filósofo,
matemático e físico francês Jean le Rond d’Alembert (1717-1783). Como observam Saslaw (1992, p. 42) e
Shirlaw (1917, p. 279), neste verbete publicado no volume sete da “Encyclopédie...” alguns pontos se
destacam: D’Alembert (tomando o partido de Rousseau) nega a tese ramista de que a nota que está no baixo
não é a fundamental do acorde e já põe em questão o termo “sixte superflue” para um intervalo que de fato soa
como uma “sétima menor” (aqui se pode brincar dizendo que Rousseau e D’Alembert tomam então o partido
da jazz theory, mas as datas mostram que não foi bem assim). D’Alembert defende que o primeiro registro
teórico (ao menos na França) é o de Rousseau (publicado no verbete “accord” de 1751, embora a “Carte
générale...” de Rameau date de 1731) e registra, numa publicação de grande prestígio e circulação, a tal
expressão “accord de sixte italienne”. Uma designação que no correr do século XIX (ao lado das expressões
“sexta aumentada francesa” e “sexta aumentada alemã”) se tornou corrente na literatura de escola. No verbete
“fondamental” de D’Alembert podemos ler (numa tradução livre) que este acorde
em várias ocasiões produz um efeito muito bom, e é usado, sobretudo, pelos italianos. É o chamado
“accord de sixte superflue” ou de “sixte italienne”. É composto por uma terça maior, uma quarta
superflue [aumentada] ou trítono e de uma terça maior, formando o tipo fa-la-si-ré# [FIG. 5.33b]. Este
não é propriamente um acorde de sexta, pois entre fá e ré# existe na verdade uma sétima [menor], mas
o recurso foi assim chamado distinguindo tal sexta pelo epíteto superflue [aumentada].
É muito difícil determinar de forma clara e convincente a origem do presente acorde: isso é, como atribuir
de maneira satisfatória a origem da fundamental de um acorde que apresenta tantas dissonâncias, “fa-
si”, “fa-ré#”, “lá-si”, “lá-ré#”, e que ainda assim continua a ser utilizado com sucesso, como o ouvido
pode julgar? [...] Podemos ver este acorde como uma inversão de si-ré#-fá-lá, que nada mais é do que o
acorde si-ré-fá-la [...] que, em conseqüência da terça maior, produz a impressão do modo de mi [o modo
frígio] por meio da sensível ré#; [...] mas por que a transformação para terça maior é tão importante? Por
qual motivo essa transformação é suportada se ela produz mais duas dissonâncias? Além disso, segundo
o verbete accord do Sr. Rousseau, o acorde fundamental fa-la-si-ré# não se inverte: podemos então ver
[fa-la-si-ré#] como uma inversão de si-ré#-fá-lá? [...] podemos dizer que o acorde si-ré#-fá-lá nada
mais é do que o acorde de dominante-tonique si-ré#-fá-lá que, no modo de mi, é um acorde com fá
natural? Esta origem me parece [...] forçada. [...] O certo é que devemos olhar este acorde [fa-la-si-ré#]
com um acorde em estado fundamental: e o Sr. Rousseau, no verbete accord, tem total razão de agrupar
este acorde com os acordes em estado fundamental [...]
Este accord de sixte superflue não é mencionado por outros autores franceses, ao menos que eu saiba,
e devo confessar que também ignorei sua existência no meu Élements de musique [de 1752], embora
o Sr. Rousseau já tivesse publicado sobre ele. O Sr. de Béthizy em um livro sobre a teoria e prática da
Música, disse que não se lembra o ponto onde o Sr. Rameau teria falado deste acorde em suas obras,
embora tenha empregado este acorde algumas vezes, por exemplo, em um coro do primeiro ato de
Castor e Pollux [FIG. 5.34]. O Sr. de Béthizy dá exemplos de emprego deste acorde no baixo contínuo,
mas deixa em branco a resposta sobre qual seria o baixo fundamental do acorde (D’ALEMBERT,
1757, p. 57).
FIG. 5.34 - O “sixte superflue” num fragmento da ópera “Castor e Pollux” (Ato 1, cena 4, Choeur) de Rameau, 1731
Sobre as harmonias cromáticas empregadas por Rameau na ópera “Castor e Pollux” ver Lévi-Strauss
(1997, p. 42-50). Sobre o “Sr. de Béthizy” – Jean-Laurent de Béthizy (1702-1781), compositor que
publicou uma “Exposition de la théorie et de la pratique de la Musique” em 1754 baseando-se nos
ensinamentos de seu ex-professor Rameau – ver Damschroder (2008, p. 247), Lester (1996, p. 207) e Miller
(2008, p. 144-146).
Até meados do século, Rameau e D’Alembert se admiram mutuamente, embora, conforme Kafker
(1963, p. 122), o arredio Rameau tenha se recusado a contribuir com os artigos sobre música da
“Encyclopédie...” (Rameau teria polidamente se oferecido para ajudar a revisar os verbetes escritos por
outros autores, o que não aconteceu, pois nenhum verbete lhe foi enviado para revisão. Mais tarde Rameau
publicaria suas críticas em artigos como o “Suite des erreurs sur la Musique dans l'Encyclopédie” de 1756).
O esforço iluminista de Rameau – descobrir a lei oculta (verdadeira, fundamental, racional, natural, geradora
e ordenadora) sob a diversidade (o caos) dos fenômenos da harmonia –, foi reconhecido pelo enciclopedista
D’Alembert: “Monseur Rameau foi o primeiro a começar a desembaraçar o caos. Ele encontrou na
ressonância do corpo sonoro a origem mais verossímil da harmonia e do prazer que ela nos causa: ele
desenvolveu esse princípio, e demonstrou como os fenômenos da música nascem” (D'ALEMBERT apud
LOUREIRO, 2002, p.28).
Em 1750, D’Alembert participou da comissão científica que emitiu o elogioso parecer avaliando a
“Démonstration du principe de l’harmonie servant de base à tout l'art musical théorique et pratique”, uma
das substanciais reformulações teóricas que Rameau produziu aproximadamente 30 anos após a redação do
primeiro “Traité...” (cf. CHRISTENSEN, 1987, p. 39; FUBINI, 2002, p. 76-77; SADLER, 2001, p. 783). Em
1752, justamente no ano que se deflagra a famosa “Querelle des Buffons”, D’Alembert publica esse “Élemens
de musique...” (Elementos de música teórica e prática segundo os princípios do Sr. Rameau, aclarados,
desenvolvidos e simplificados).
Em princípio, a aparentemente louvável intenção de D’Alembert seria a de tornar as teorias de Rameau
mais acessíveis ao público, uma espécie de divulgação científica de alto nível da época. Rameau, segundo
Fubini, “consciente de sua escassa eficiência literária”, alegrou-se ao ver suas teses difundidas e interpretadas
por tão brilhante e influente escritor-filósofo. Contudo,
folheando as páginas de D’Alembert é fácil dar-se conta de que, realmente, elas seguem as teorias
harmônicas do músico, mas ao mesmo tempo, se alterou profundamente seu espírito. O aspecto
“newtoniano” de seu pensamento, seu esforço unificador e racionalizador foi intencionalmente
completamente esquecido e, sua teoria se voltou para um empirismo, reduzida a um conjunto de regras
úteis e práticas. Rameau, esclarecido, desenvolvido e simplificado [...] é o Rameau aceito pelos
enciclopedistas; o formulador de um complexo de regras coerentes, o ordenador de um material antes
caótico e informe, porém não o Rameau filósofo (FUBINI, 2002, p. 77-78).
O que de fato os enciclopedistas não puderam aceitar foi a idéia de “música como ciência”, idéia
central em todas as obras de Rameau para quem “a música não apenas era uma ciência, mas sim, por muitos
motivos, podia ser considerada a primeira ciência, a ciência das ciências; para o matemático D’Alembert, a
música é ciência apenas no sentido metafórico” (FUBINI, 2002, p. 78). O estudo de Christensen (1993, p. 255-
290) examina o “Élemens de musique...” mostrando as críticas e correções que D’Alembert faz aos trabalhos
de Rameau. Outras referências sobre são Bernard (1980), Fubini (1994, p. 209; 2002, p. 76-80), Grout e Palisca
(1994, p. 435) e Lester (1996, p. 144-146). Neste mesmo ano, 1752, as polêmicas envolvendo Rameau versus
Rousseau e os enciclopedistas ganham o público e ainda nessa década as relações de Rameau com o seu
apoiador D’Alembert vão também se converter em franco desacordo (cf. CHRISTENSEN, 1993, p. 252;
GIRDLESTONE, 1989, p. 475-518; KINTZLER, 2006, p. 339-340).
Desconsiderando uma possível má vontade típica dessas querelas, a declaração de D’Alembert e
(conforme D’Alembert) também de Béthizy, de que não foi possível localizar na teoria de Rameau alguma
explicação para o polêmico “accord de sixte superflue” pode estar relacionada ao fato de que essa atribuição
da fundamental “ré” ao feixe láb-dó-ré-fá# (o acorde 14 na FIG. 5.1), além de ser consideravelmente sutil,
aparece não numa das principais obras teóricas de Rameau, e sim, numa “carta sobre a música” (a “Lettre de
M. a M. sur la musique et l’explication de la carte générale de la basse fondamentale”, cf. GIRDLESTONE,
1989, p. 484) publicada em um meio não propriamente acadêmico ou perdurável. A recuperação das notas e
cifrações musicais estampadas em um jornal de 1731 é uma façanha de investigação musicológica bem mais
recente (cf. CHRISTENSEN, 1993; DAMSCHRODER, 2008). Como informa Saslaw (1992, p. 43-44),
Rameau (1760, p. 55-56) publicou sua interpretação da “sixte superflue” posteriormente, no “Code de musique
pratique...” de 1760.
Como observa Harrison (1995, p. 182), o organista e historiador musical britânico Matthew Shirlaw
(1873-1961), na sua extensa “investigação sobre os princípios naturais da harmonia com uma análise dos
principais sistemas de harmonia de Rameau até os dias de hoje” publicada em 1917, também enfatiza essa
invisibilidade do “acorde de sexta aumentada” facilmente observável no “Traité...” de 1722 (cf. SHIRLAW,
1917, p. 97):
Apesar do acorde de sexta aumentada ser conhecido e praticado no seu tempo (Heinichen [o compositor e
teórico alemão Johann David Heinichen (1683-1729) referenciado a seguir] dá exemplos de todas as três
formas de o acorde), Rameau evita dar qualquer explicação deste acorde. Um acorde como a configuração
Alemã do acorde de sexta aumentada, por exemplo, fá-lá-dó-ré# ocorrendo sobre o sexto grau da escala de
Lá-menor, foi particularmente embaraçoso para Rameau. Era impossível para Rameau explicar a resolução
natural desse acorde sobre a Dominante seja por meio do duplo “employment” (double emploi) ou por meio
de qualquer outro dispositivo que conhecia. Talvez seja por essa razão que Rameau evita este acorde na
maior parte de suas obras para o palco, substituindo-o pelo acorde de sétima diminuta [“fá#-lá-dó-ré#” em
lugar de “fá natural-lá-dó-ré#”] (SHIRLAW, 1917, p. 242).
* * *