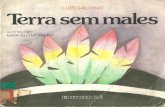6. Galdino - Teoria Dos Custos Dos Direitos
-
Upload
mauro-santos -
Category
Documents
-
view
171 -
download
42
description
Transcript of 6. Galdino - Teoria Dos Custos Dos Direitos
"Direitos Não Nascem em Arvores é o sugestivo título do livfò;de|| .i-éia de Flávio Galdino, que por si só expressa a linha de pensameritôÍ8(p|,
jovem Autor. Direitos não nascem em árvores porque necessitam "d e^ dinheiro para a sua eficácia social e, portanto, só existem sob a reserva d& recursos públicos. Os direitos não se dividem em positivos e negativo§í's':? nem em direitos de defesa e direitos a prestações, pois todos eles são hoje positivos, por necessitarem do aporte de verbas orçamentárias, ou seja, de dinheiro, que também não nasce em árvores. A obra pretende traçar o modelo teórico do custo dos direitos, no qual se tomam imprescindíveis o realismo financeiro, a visão pragmática centrada na análise dos efeitos prospectivos e concretos sobre a realidade social e as escolhas trágicas por recursos escassos efetivadas no ambiente democrático. Nas palavras Autor:
"A legitimação democrática das decisões não provém unicamente da conformidade e parâmetros pré-estabelecidos (da observância da legalidade, por exemplo), mas também dos seus efeitos práticos sobre as pessoas. E o Direito, como instrumento democrático, deve estar preocupado não só em afirmar direitos ou valores, mas em promover o bem estar das pessoas concretas.
Neste sentido, reconhecer um direito concretamente a uma pessoa - especialmente em termos de custos e benefícios - pode significar negar esse mesmo direito (concretamente) e talvez vários outros a muitas pessoas , que possivelmente sequer são identificadas em um dado litígio" (p. 565).
FlávióGàldino foi um dos mais brilhantes alunos da Faculdade dé, Direito da UERJ, no Bacharelado, no Mestrado e agora no Doutorado em Direito Público, que está prestes a concluir, e já publicou diversos artigos; em revistas jurídicas.”
Ricardo Lobo Torres ., • Professor Titular de Direito Financeiro na ÜERJ
ISBN 85-738
9788573 877076
7-707-3
Visite nosso site: www.lumenjuris.com.br‘ .‘.VJ'
lumenU uriswww.lumenjuris.com.br
E d ito re s
João de Almeida João Luiz da Silva Almeida
Conselho Editorial Alexandre Pteitas Câmara Amilton Bueno de Carvalho Augusto Zimmermann Eugênio Rosa Fauzi Hassan Choukr Fiily Nascimento Filho Flávia Lages de Castro Plávio Alves Martins Francisco de Assis M. levares Geraldo L. M. Prado Gustavo Sénéchal de Goffredo J. M. Leoni Lopes de Oliveira Letácio Jansen Manoel Messias Peixinho Marcos Juruena Villela Souto Paulo de Bessa Antunes Saio de Carvalho
Conselho Consultivo Álvaro Mayrink da Costa Antonio Carlos Martins Soares Aurélio Wander Bastos Cinthia Robert Elida Séguin Gisele Cittadino Humberto Dalla Bernardina
de Pinho José dos Santos Carvalho Filho José Fernando de Castro Farias José Ribas Vieira Marcello Ciotola Marcellus Polastri Lima Omar Gama Ben Kauss Sergio Demoro Hamilton
Rio de Janeiro Av. Londres, 491 - Bonsucesso
Rio de Janeira - RJ - CEP 21041-030 C.N.PJ.: 31.661.374/0001-31
Inscr. Est.: 77.297.936 TEL.: (21) 3868-5531 / 2564-6319 Email: [email protected] /
Home Page: www.lumeniuris.com.br
Rio Grande do Sul Rua Cap. João de Oliveira Lima. 160
Santo Antonio da Patrulha - Pitangueiras CEP 95500-000
•telefone: (51) 662-7147
- São Paulo Rua Primeiro de Janeiro, 159
Vila Clementino - São Paulo. SP CEP 04044-060
Ifelefone: (11) 5908-0240
BrasíliaSHC/Sul C L 402 - Bloco B - Lj 35
Asa Sul - Brasília - DF CEP 70236-520
Telefone (61) 225-8569
/ U g
Flãvio G aldino
In t r o d u ç ã o à
T e o r ia d o s C u s t o s d o s D ir e it o s
Direitos Não Nascem em Árvores
E d it o r a L u m e n Jur is
Rio de Janeiro
Copyright © 2005 by Flávio Galdino
P r o d u ç ã o E d ito r ial
Livraria e Editoia Lumen Juris Ltda.
A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA. não se responsabiliza pelas opiniões emitidas nesta obra por seu Autor.
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características
gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei n° 6.895,
de 17/12/1980), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n° 9.610/98).
Tbdos os direitos desta edição reservados à Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.
Impresso no Brasil Prínted in Brazil
ccc
Sumário
Prefácio ............................................................................................................. ix
Agradecimentos e dedicatória...................................................... xi
Introdução e plano do estudo........................................................ xvii
P abte I - F o r m u laç ã o T eórica - Os C onceitos
F u n d a m e nt a is d o D ireito e dos D ireitos
Capitulo I - Direitos Fundamentais são Normas............................. 31. Direitos fundamentais como normas......................................... 3
1.1. Os direitos fundamentais entre o direito objetivo e os direitos subjetivos.................................................................... 5 £
1.2. Norma jurídica: estrutura e função...................................... 111.3. A função normativa........................................................... 261.4. Estrutura das normas: regras e princípios.......................... 321.5. Conflitos valorativos e normativos..................................... 35 ,1.6. Princípios materiais e princípios operacionais.................... 39 *1.7. Direitos fundamentais como princípios materiais................ 50 (|
Capitulo II - Direitos Subjetivos: a origem..................................... 53 (|2. Breve digressão histórica: como nascem os direitos subjetivos?. 53 c
•s/Capítulo III - Direito subjetivo: teorias criticas............................... 69'3 . Direito subjetivo - as principais teorias críticas........................ 69 I
3.1. A negação do direito subjetivo através das concepções co-..............^ letivistas............................................................................ 70
3.2. A proposta de redução normativista................................... 74 C
, / Capítulo IV - Direito subjetivo: as figuras correlatas...................... 77 (V^4. Direito subjetivo - os conceitos e categorias correlatas............. 77 g
4.1. Status................................................................................ 78 ^4.2. Situação jurídica................................................................ 83 £4.3i Pretensão........................................................................... 874.4. Interesse legítimo.............................................................. 92 «4.5. Direitos morais................................................................... 96 ^
Capítulo V - Os Conceitos, as Categorias e as Definições Jurídicas.. 105 ^5. Conceitos, categorias e definições jurídicas.............................. 105
5.1. Os conceitos jurídicos e os seus objetos............................. 105 C
c
5.2. O que são conceitos e definições jurídicas.......................... 1065.3. As categorias jurídicas............................................................1085.4. O conteúdo e as medidas dos conceitos e das categorias ju
rídicas............................................................................... .....1105.5. A abertura dos conceitos e categorias jurídicas.......................1155.6. Conceitos e categorias abertas como ferramentas de aplica
ção de regimes jurídicos - nota sobre a critica realista........ .....120
P arte II - Os D ireitos Subjetivos F u n d a m e n t a is e os seus C ustos
Capítulo VI - Os Direitos Fundamentais como Direitos Subjetivos... 1276. Direitos fundamentais como direitos subjetivos..............................127
6.1. Direito subjetivo: o conceito.....................................................1276.2. A operatividade da categoria "direito subjetivo"................ .....1326.3. O direito subjetivo como categoria essencial aos direitos
fundamentais..........................................................................143
Capítulo VII - Os Direitos Fundamentais Positivos e Negativos 1477. Direitos fundamentais: positivos e negativos 147
7.1. Direitos positivos e liberdades positivas............................. .... 1487.2. Sobre positividade e negatividade.......................................... 1507.3. A importância instrumental da distinção entre direitos fun
damentais positivos e negativos e a relevância da análise critica................................................................................ .... 1527.3.1. Do liberal ao social - a história contada pela lente da
positividade.................................................................. 1537.3.2. A escassez dos bens e recursos, as colisões de direitos
e as escolhas trágicas da sociedade.............................. 1557.3.3. Relevância da análise critica..................................... .... 163
Capitulo VIII - Direitos Fundamentais: as Gerações 1658. Sobre as chamadas gerações de direitos 165
8.1. A visão da classificação geracional no pensamento jurídico brasileiro.................................... ..... '......................................166
8.2. Algumas luzes sobre as gerações brasileiras de direitos humanos......................................'...............................................169
«Capítulo IX - Modelos de Pensamento sobre Direitos no Brasil...... ....1799\Evolução das idéias acerca dos direitos positivos e negativos nos"J Brasil....................................................................................... ....179
9.1. Síntese dos modelos teóricos sugeridos neste estudo.............1809.2. Modelo teórico da indiferença............................................. ....1829.3. Modelo teórico do reconhecimento..................................... ....183
vi
9.4. Modelo teórico da utopia........................................................ 1869.5. Modelo teórico da verificação da limitação dos recursos..... .... 1909.6. Modelo teórico dos custos dos direitos................................... 198
' Capítulo X - Cass Sunstein, Stephen Holmes e o Custo dos Direitos.. 19910.CASS SUNSTEIN, STEPHEN HOLMES e o custo dos direitos..... .... 199
10.1. A tese fundamental de SUNSTEIN e HOLMES: o custo dos direitos............................................................................ .... 202
10.2. A demonstração da tese.......................................................20510.3. Custos dos direitos e responsabilidade social................... ....212
Capítulo XI - ....................................................................................21511..Direitos não nascem em árvores............................................... ....215
11.1. Algumas idéias antecedentes........................................... ....21511.1.1. As dificuldades na compreensão das atividades ma
teriais (fáticas) do Estado e seu caráter prestacional. 21511.1.2. Algumas importantes idéias antecedentes no Brasil. 218
11.2. Tbdos os direitos são positivos e integram as opções dadasàs escolhas trágicas......................................................... ....225
11.3. A superação da idéia dos custos como meros óbices e deque os custos são algo externo aos direitos...................... ....233
P a r t e m - D ireito e E c o n o m ia
Capitulo XII - Análise Econômica do Direito: Introdução ao Tema... 23912.Eficiência: os custos dos direitos e a análise econômica do direito. 239
12.1. Um ponto: a análise econômica do direito.............................23912.2. Contraponto: o risco da economicização do Direito........... ....24412.3. A virtude no meio.................................................................249
Capítulo XIII - A Eficiência no Brasil: Descaminhos e Caminhos.... ... 25513.1. A construção jurídica da eficiência na administração públi
ca brasileira......................................................................... 25513.2. O outro caminho.................................................................. 267
Par te IV - A plic a ç ã o
Capítulo XTV - Os Direitos Fundamentais Levados a Sério............. ...28314. Gratuito não existe - o grave problema dos consumidores ina
dimplentes de serviços públicos essenciais.............................. ...28314.1. A situação-problema. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça............................................................................28314.2. Serviços públicos e essencialidade.......................................287
vii
14.3. A prestação de serviço público como contrato relacionai de t consumo: a continuidade.................................................. .... 292 \
14.4. Essencialidade e continuidade.............................................. 297 r;14.5. A falta de coerência sistemática....................................... ....301 y14.6. Os argumentos periféricos....................................................30714.7. A necessária contraprestação........................................... ....311 f14.8. A correta compreensão dos custos dos direitos: gratuito não
existe............................................................................... ....325 }
P a r t e V - C o n c lu sã o : D ireitos n ã o na sc e m e m árvores :
iCapítulo XV - Por uma Teoria Pragmática do Direito...................... ....331 i
15.1. Uma viagem ao mundo jurídico.............................................331 i15.2. O conceito de direito subjetivo e os custos dos direitos - em >,
busca de um conceito pragmático de direito fundamental.. 336 j15.3. A título de conclusão: os direitos não nascem em árvores.. 345 l
uReferências Bibliográficas.............................................................. ....349 |
Prefácio
Direitos Não Nascem em Árvores é o sugestivo título do livro de estréia de Flávio Galdino, que por si só expressa a Unha de pensamento do jovem Autor. Direitos não nascem em árvores porque necessitam de dinheiro para a sua eficácia social e, portanto, só existem sob a reserva de recursos públicos. Os direitos não se dividem em positivos e negativos, nem em direitos de defesa e direitos a prestações, pois todos eles são hoje positivos, por necessitarem do aporte de verbas orçamentárias, ou seja, de dinheiro, que também não nasce em árvores. A obra pretende traçar o modelo teórico do custo dos direitos, no qual se tornam imprescindíveis o realismo financeiro, a visão pragmática centrada na análise dos efeitos prospectivos e concretos sobre a realidade social e as escolhas trágicas por recursos escassos efetivadas no ambiente democrático. Nas palavras do Autor:
“A legitimação democrática das decisões não provém unicamente da conformidade e parâmetros preestabelecidos (da observância da legalidade, por exemplo), mas também dos seus efeitos práticos sobre as pessoas. E o Direito, como instrumento democrático, deve estar preocupado não só em afirmar direitos ou valores, mas em promover o bem-estar das pessoas concretas.
Neste sentido, reconhecer um direito concretamente a uma pessoa - especialmente em termos de custos e benefícios - pode significar negar esse mesmo direito (concretamente) e talvez vários outros a muitas pessoas que possivelmente sequer são identificadas em um dado litígio" (p. 565).
O livro traz como subtítulo Introdução á 7teoria dos Custos dos Direitos, o que deixa entrever que, ao lado da análise axiológica e principiológica, cuida de explorar também a dogmática da efetividade dos direitos humanos. Para tanto o Autor dedica alguns capítulos ao exame da normatividade dos direitos fundamentais e da sua estruturação em princípios e regras, à análise das teorias dos direitos subjetivos e ao estudo dos conceitos, categorias e definições jurídicas, tudo o que lhe dá o embasamento para enfrentar a temática dos direitos subjetivos fundamentais e dos seus custos.
Fl&vio Galdino
O livro surge da dissertação de mestrado defendida no Programa da Pós-Graduação em Direito da UERJ perante banca examinadora composta por mim, na qualidade de Professor Orientador, e pelos eminentes Professores Flàvia Piovesan e Gustavo Tepedino. Incorpora diversas observações feitas pelos membros da banca, o que demonstra que se levou à pratica característica teórica básica dos direitos fundamentais, que é a discussão permanente em torno da sua legitimação e da sua eficácia. Reflete o ambiente acadêmico que se formou naquela Faculdade de Direito e que já deu origem a inúmeras obras sobre temas correlatos, como sejam, entre outras as de: AMARAL. Gustavo. Direito, Escassez & Escolha. Em Busca de Critérios Jurídicos para Lidar com a Escassez de Recursos e as Decisões Trágicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001; BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002; GOUVEA, Marcos Maselli. O Controle Judicial das Omissões Administrativas. Novas Perspectivas de Implementação dos Direitos Prestacionais. Rio de Janeiro: Forense, 2003; SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Fhderal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. Flávio Galdino foi um dos mais brilhantes alunos da Faculdade de Direito da UERJ, no Bacharelado, no Mestrado e agora no Doutorado em Direito Público, que está prestes a concluir, e já publicou diversos artigos em revistas jurídicas.
Rio de Janeiro, maio de 2004.Ricardo Lobo Torres
Professor Titular de Direito Financeiro na UERJ
Agradecimentos e Dedicatória
Permitam repartir com muitos colegas e amigos algumas realizações pessoais que são simbolicamente representadas por este livro. O ano 2001 foi pleno de realizações acadêmicas para mim. Pude concluir com êxito o Mestrado em Direito Público junto à Faculdade de Direito da UERJ - e o produto agora é dado a público através deste revisto estudo tive o Projeto de Tese aprovado e fui então admitido no Doutorado em Direito Público na mesma Escola e, por fim, fui aprovado no concurso público de provas e títulos para provimento do cargo de Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cargo para o qual fui nomeado.
É um prazer e um privilégio poder agradecer a todos os que tomaram realidade sonhos acadêmicos tão acalentados, desculpando-me desde logo pelas inescapáveis omissões. Não deve causar estranheza a profusão de agradecimentos. Sendo este o meu primeiro livro individual publicado, é também a minha primeira oportunidade de agradecer, e desejo expressaT publicamente minha gratidão não apenas aos amigos que colaboraram com este trabalho especificamente, mas, ainda, a tantas pessoas que exerceram positiva influência em minha formação acadêmica.
A pesquisa para elaboração da dissertação que deu origem ao livro contou com a dedicada participação das acadêmicas Renata Alice Serafim e Alessandra l\ifvesson Peixoto. A versão final para defesa da dissertação perante a banca examinadora foi revista pelas acadêmicas Lais Calil e Flavia Hill. Também Fernando Ângeio Leal, Leandro Nogueira e Marcelo Zenni TVavassos efetuaram leitura cuidadosa e sugestões pertinentes. Muito obrigado a todos.
As bibliotecárias Fátima (da Biblioteca da Pós-Graduação em Direito da FDUERJ) e Lucia (da Biblioteca da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro) e seu esforço ingente para auxiliar pesquisadores tornaram possível pesquisar. O trabalho artístico de encadernação da Sra. Gilda torna mais agradável o estudo de temas árduos. Miriam Savigny, além da descendência ilustre, tem possibilitado o estudo de textos inacessíveis a agradecidas gerações de estudantes.
Flávio Galdino
A acadêmica Tktiana Rodriguez Estevez teve que suportar múltiplas leituras e revisões do texto; sem a sua colaboração na pesquisa, suas criticas e correções precisas, o livro não estaria aqui. Além de tudo. devo-lhe a elaboração e revisão da bibliografia final para publicação. Muito obrigado.
Durante todo o Mestrado os amigos e advogados Luiz Rodolpho Carneiro de Castro e Sérgio Machado Terra, meus sócios na advocacia, generosamente assumiram e se desincumbiram de inúmeras tarefas que seriam minhas; auxiliados pelos estagiários Luciana Menezes, Carlos Alberto Pinheiro Carneiro Filho, Lais Calil e Alexandre Eiras Fernandes, eles literalmente tornaram possível a realização do trabalho. Esse agradecimento vale também para os nossos demais colegas de travessa ao longo desses anos, que me receberam com imenso carinho. Somente a dedicação da também amiga e advogada Mariana de Albuquerque Mello a encargos que seriam meus - no que foi auxiliada por Marcelo Zenni Travassos e Luis Antonio Miscow - tornou possível a revisão do texto para publicação. A todos sou muitíssimo grato.
A advocacia proporcionou-me também grande aprendizado, e não posso deixar de agradecer sensibilizado a atenção especial dos Professores Arruda Alvim, Roberto Rosas e Jorge Lobo, bem como de Alexandre Chade. À brilhante equipe do Professor Jorge Lobo. além da amizade, devo discussões jurídicas em que aprendi muito.
O trabalho não é fruto de um momento e sim conseqüência da formação que me foi proporcionada pelo Colégio Militar do Rio de Janeiro e pela Faculdade de Direito da UERJ desde o bacharelado. Na pessoa do querido Coronel-Professor Jorge Cerqueira, cujo exemplo influenciou desde cedo minha opção incondicional pelo magistério, agradeço aos meus companheiros leais, professores e instrutores na saudosa Casa de Thomaz Coelho, com a certeza de que alguém que mais te adora, não te adora mais que nós.
Se este trabalho possuir alguma virtude, será ela fruto da vivência acadêmica na Faculdade de Direito da UERJ. Os Professores Alexandre da Cunha Ribeiro Filho, Antonio Evaristo de Moraes Filho (ir. memo- ríam), Antonio Maia, Glória Márcia Percinoto, Jacob Dolinger, João Marcello de Araújo Júnior (in memoriam), Jorge Luís Fortes Pinheiro da Câmara, José Carlos Barbosa Neto (antes mesmo da FDUERJ), José Roberto Castro Neves, Luis Roberto Barroso, Marcela Sardas, Marlan Marinho Jr., Nadia Araújo, Paulo Braga Galvão e Pierangelo Catalano propiciaram não apenas informação, mas, acima de tudo, formação. Agradeço especialmente aos queridíssimos Professores Afrânio Silva
xii
Introdução á Tsoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
Jardim. Célio Borja e Nelson Saldanha, que se tornaram objeto de grande admiração e carinho. Já no Doutorado, tive o privilégio de participar das classes de Cândido Rangel Dinamarco, Humberto Ávila e Celso de Albuquerque Mello, exemplos valiosos de humildade e vida dedicada ao estudo e ao ensino. A todos sou gratíssimo.
Tive ainda o privilégio de ser orientado em programas de monitoria pelos Professores Heloísa Helena Gomes Barboza e Paulo Cezar Pinheiro Carneiro. Devo-lhes os ensinamentos indispensáveis para os primeiros passos na sala de aula, o que não teria sido possível sem o apoio institucional e também financeiro da FDUERJ. A FDUERJ, além de oferecer ensino "gratuito" de qualidade, mantém permanentes programas de incentivo através dos quais mais de trinta por cento dos alunos recebem bolsas para estudar e pesquisar, servindo de exemplo no ensino superior brasileiro.
José Carlos Barbosa Moreira, além de Mestre de Direito Processual durante todos os anos do curso no bacharelado - a mais impressionante dedicação ao magistério de que já tive notícia - orientou-me em projeto de iniciação científica gentilmente financiado pela FAPERJ, incentivando-me a produzir e publicar. Sou-lhe muito grato pelo apoio por todos esses anos.
Joaquim de Arruda Falcão - além de objeto de admiração pelos seus textos instigantes - concedeu-me o privilégio de participar como ouvinte de várias sessões de seu interessante grupo de pesquisa junto à Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, onde muito aprendi. Obrigado.
Ricardo Cezar Pereira Lira, eterno Decano de fato e de direito da Faculdade de Direito e de sua vitoriosa Associação Atlética (!), espírito vivo da democracia e liberdade que devem imperar na Universidade, ensinou-me a viver e amar a "Academia” e a vida acadêmica. Caríssimo Professor, carregaremos a chama!!!
Minha dívida com todos eles converte-se em compromisso de transmitir aos meus alunos o ideal acadêmico para que a nossa chama jamais se apague.
Já cursando o Mestrado, fui honrado com o privilégio de lecionar como Professor substituto dos Professores Paulo Cezar Pinheiro Carneiro e Luiz Fux. Este último ainda confiou-me o magistério na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Sou-lhes muito agradecido pelas oportunidades.
xiii
Flávio Galdino
A homenagem com que me distinguiu a Turma de Bacharéis formados no ano 2000 constituiu incentivo imensurável. Aprendi muito mais com vocês do que vocês comigo. Valeu!
A banca presidida pelo Professor Hélcio Alves de Assumpçáo e composta pelos Professores Leonardo Greco e José Rogério Cruz e TVicci generosamente deferiu-me o primeiro lugar no concurso público de provas e títulos para provimento do cargo de Professor de Direito Processual da Facutdade de Direito da UERJ (2001). Posso assim reafirmar meu ideal acadêmico - da Faculdade pública, voltada para a excelência acadêmica - e firmar meu compromisso de retribuir minimamente a formação que me foi proporcionada nessa Casa, auxiliando modestamente na formação das gerações que se sucedem.
Durante o ano de 2002 fui agraciado pelo Departamento de Estado do Governo dos Estados Unidos da América e pela Phelps Stokes Foundation com a participação (financiada) no 1VP Program, podendo visitar vários Estados americanos, suas Universidades e Centros de Defesa de Direitos Humanos. Nas pessoas de Julia Vilela, Victor Tamm (ambos do Consulado Americano no Rio de Janeiro) e Joseph McGovem (do aludido Departamento de Estado) agradeço a oportunidade de conhecer mais proximamente a cultura americana. Um agradecimento especial ao Professor Cass Sunstein da Universidade de Chicago, pela enorme gentileza de receber-me.
Com os Professores Maurício Jorge Pereira da Mota e Eduardo Tfekemi Kataoka venho vivendo o ideal acadêmico que recebemos de nossos mestres. Desde o trabalho braçal de transporte de livros doados por ex-professores para a Biblioteca da FD até a implementação e desenvolvimento de cursos de Pós-Graduação lato sensu, passando pela criação (quase) comunitária de uma biblioteca jurídica, esses Professores se tornaram amigos fraternos, a quem sou muito grato.
A três pessoas desejo agradecer separadamente.Ana Paula de Barcellos participou de cada momento do trabalho,
desde a concepção até a última revisão. Cursamos todo o Mestrado (e depois o Doutorado) juntos. Senhora de uma inteligência invulgar e “Professora" no mais belo sentido da expressão, tornou-se melhor amiga e conselheira fiel. Não tenho como agradecer, mas mesmo assim, obrigado!
Ao Professor Paulo Cezar Pinheiro Carneiro certamente também não tenho como agradecer tudo o que tem feito por mim. Não só por ter me orientado como monitor da FDUERJ ou por ter me admitido como sócio em seu prestigioso escritório de advocacia. Nem mesmo pela
«V
Introdução à 'teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
oportunidade de lecionar como Professor substituto (contratado). Agradeço acima de tudo pela amizade. Seu exemplo fraternal faz com que seja uma referência.
Tenho contado com a amizade e a orientação do Professor Ricardo Lobo Torres desde a graduação na FDUERJ.
Uma breve história explica a grandeza do Professor. Durante a Faculdade, imbuido de ideal que contagiava muitos acadêmicos, dediquei-me ao movimento estudantil. Dirigi durante vários anos o Centro Acadêmico Luiz Caipenter (CALC) e a Associação Atlética Acadêmica Ricardo Lira (AAARL), órgãos de representação discente da FDUERJ, além de representar os alunos junto ao Conselho que dirige a Faculdade.
Durante as eleições para a Direção da Faculdade (1995), fiz campanha cerrada pela oposição, encabeçada pelo meu saudoso Professor e amigo João Marcello de Araújo Júnior. Noutros termos, fiz campanha contra a situação, cuja chapa era composta por Ricardo Lobo Torres e Gustavo Tepedino, este na qualidade de Diretor. Foi uma campanha dura e, por ocupar posição de relativo destaque no movimento estudantil, dediquei-me intensamente a ela. Não preciso dizer que campanhas políticas normalmente geram embates e desgastes pessoais. A situação venceu com larga e merecida vantagem, tendo os Professores Ricardo Lobo Torres e Gustavo Tepedino realizado uma “gestão histórica" à frente da Faculdade.
Ainda assim, depois da eleição e após ter submetido ao Professor Ricardo - de quem tornei-me aluno de Direito Financeiro e Tributário - um texto elaborado para um concurso de monografias, recebi dele a melhor acolhida. Além de orientar-me em monografia na graduação, orientou-me no Mestrado e depois também no Doutorado. Também Gustavo Tepedino acolheu-me em muitos de seus originais projetos acadêmicos que ajudaram a colocar os cursos de Graduação e Pós- Graduação da FDUERJ entre os melhores do pais.
Essa pequena história é representativa do ambiente democrático ' que vivemos na FDUERJ. que acolhe o debate como modo de aprimoramento acadêmico e institucional. Demonstra também que o ideal acadêmico supera eventuais divergências institucionais. Só posso agradecer.
Depois disso, a banca examinadora composta por Ricardo Lobo "Ibrres, Gustavo Tepedino e Flavia Piovesan generosamente aprovou a dissertação de Mestrado que deu origem a este livro com grau máximo. Não pretendo aqui imputar-lhes culpa concorrente pelos equívocos evi-
XV
Flávio Galdino
dentes que cometi. Desejo apenas agradecer a leitura cuidadosa e as sugestões precisas, que em sua grande maioria foram incorporadas nas longas reflexões efetuadas na preparação do texto para essa publicação. Neste mesmo sentido, não posso deixar de agradecer a Ingo Wolfgang Sarlet, que gentilmente recebeu o presente trabalho para leitura, honrando-o com observações e referências antes mesmo da publicação.
A amizade e a admiração pelo Professor Ricardo Lobo Torres são compartilhadas por inúmeros colegas e alunos, muitos deles hoje professores. Seria motivo de imensa honra e desvelado orgulho construir a minha vida acãdêmica de modo a poder ser considerado e referido como um dos discípulos do Mestre.
Por fim, não posso deixar de agradecer novamente ao Professor Ricardo, neste passo junto ao queridíssimo Professor Celso de Albuquerque Mello, a oportunidade inigualável de trabalhar e lecionar junto a eles nas turmas de Mestrado e Doutorado da FDUERJ (os nossos Laboratórios de Direitos Humanos). Ao mesmo tempo em que constitui um desafio acima das minhas forças, aceito-o como privilegiadís- simo estágio docente em que leciono sob a supervisão deles e espero que a minha modesta assistência possa estar a altura do privilégio. Muitíssimo obrigado por tudo!
Este livro - e tudo mais que faça na vida - é dedicado aos meus pais, Abílio e Yara e ao meu irmão Marco Antonio e à sua Maria Cláudia. O exemplo seguro, a orientação correta, a fé, o amor. Tudo em vocês inspira o que há de melhor em mim. É óbvio que as palavras não comportariam a expressão da minha sincera gratidão e do meu profundo amor. Espero conseguir dirigir a minha vida de modo a seguir o maravilhoso exemplo que recebi de vocês e transmiti-lo aos seus descendentes. A vocês, na destinação de tudo que faço, juntou-se a mulher da minha vida. Chris, somente depois de conhecê-la pude compreender que o seu sorriso justifica a minha existência. A vocês ofereço este livro, com amor.
Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, maio de 2004
Introdução e Plano do Estudo
Introdução. O presente estudo tem origem na preocupação com os direitos humanos e com a injusta alocação de recursos escassos na sociedade brasileira. A simples observação da realidade brasileira revela que os direitos humanos não são efetivamente respeitados entre nós. Evidencia também que há alguma coisa errada na forma como distribuímos a riqueza e a pobreza entre nós. Na medida em que a nossa disciplina, o Direito, cumpre função de capital importância nessa matéria, surge a necessidade de estudar o modelo distributivo adotado no Brasil na tentativa de colaborar de alguma forma com o seu aperfeiçoamento e, quem sabe, com a promoção dos direitos humanos.
Inserida na linha de pesquisa de direitos humanos desenvolvida no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da UERJ, a preocupação inicial do estudo dirigia-se à amplitude dos poderes dos juizes, mais especificamente à indiscriminada aceitação teórica que logrou a atitude comum dos juizes de intervirem de modo aparentemente incondicionado nos gastos públicos - em última análise, alocan- do recursos, supostamente para tutelar direitos fundamentais. Uma situação concreta inquietava-nos, consoante narrado no projeto de pesquisa que deu origem a este estudo, a qual serviu de centelha para as idéias vertidas no texto.
Naquele que possivelmente foi o processo mais importante da história do pais até hoje, o eminente advogado Antonio Evaristo de Moraes Filho, saudoso Professor da nossa Casa, a Faculdade de Direito da UERJ, renunciou ao mandato que lhe fora outorgado pelo então Presidente da República, de tão triste memória. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, Sua Excelência o Presidente, homem poderoso e abastado, não poderia ser processado (tratava-se do célebre processo de impeachment) sem que lhe fosse assegurada defesa técnica por meio de advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.
Ato contínuo, e diante da inércia do réu, o então Presidente do Supremo TYibunal Federal, Ministro Sidney Sanches, que presidia também o aludido julgamento, nomeou o também Professor e Advogado Inocêncio Mártires Coelho, dos mais respeitados da Capital, e antigo Procurador Geral da República, para defesa dativa do ainda Presidente
xvii
Flávio Galdino
da República, o qual aceitou o encargo. Em momento posterior, o então Presidente outorgou mandato a outros advogados, que procederam à sua defesa, a qual. felizmente, como é de todos sabido, malogrou.
Na verdade, trata-se de uma cena bastante comum da vida forense: apresenta-se o réu no processo penal para audiência de instrução e julgamento sem defensor; o juiz conclama um advogado que casualmente transita pelos corredores do Foro a aceitar a defesa e, no exercício de um quase ingênuo costume judiciário, o nomeia como advogado dativo para defender o réu, eventualmente em caráter restrito àquele ato processual. Sob o prisma processual, muitas perguntas podem ser feitas, pois a questão, que deita raizes no problema do acesso à justiça, desdobra-se em inúmeras outras. Tbdo indivíduo tem direito a assistência jurídica e judicial? Gratuita? Hata-se de direito fundamental? Qual a sua verdadeira natureza? Mais importante: qual a sua extensão? Quem paga a conta? O réu? O advogado? O Estado?...
Aquele caso concreto apresentava uma peculiaridade. TVatava-se do processo mais importante da história do país, exalando sua natureza política. Mas, abstraindo por um instante dessa situação especial, soava claro haver alguma coisa errada no fato de o Estado, o Erário Público, assumir a defesa, e, portanto, os custos da defesa de um dos homens mais ricos do país, defenestrado de modo infamante da magistratura suprema da Nação, precisamente por ter se locupletado indevidamente nos cofres públicos. De outro lado, esse mesmo Estado falha na tutela de valores mínimos, deixando desamparado imenso contingente populacional que vive ou sobrevive à margem da sociedade, como indigente.
Essa perplexidade nos levou do campo processual - do acesso à justiça - à questão mais genérica dos direitos humanos e dos fundamentos do modelo distributivo adotado entre nós.
Sobre esse modelo distributivo, em apertada síntese, o senso comum informa que o Estado gasta os seus recursos genericamente através de prestações estatais. Dizemos que uma pessoa possui direito sübjétivo - este é o conceito jurídico fundamentai'- a uma prestação estatal quando uma norma jurídica imputa ao Estado o dever de prestar allguma coisa. De modo sintético, pode-se dizer que se essa norma está compreendida em determinados capítulos da Constituição Federal ou se ostenta determinada natureza ou conteúdo, dizemos que este direito subjetivo é um direito fundamental.
Com base nessa assertiva', imaginando viveimos em um lugar onde o Direito é aplicado sem exceções, o leigo observador externo poderia concluir que o então Presidente da República possuía direito
xviii
Introdução à Tfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
subjetivo fundamental às prestações recebidas, ao passo que um determinado indigente que não logrou obter atendimento junto à defensoria pública, não recebeu essas prestações porque não possuía esse direito subjetivo.
Aprofundando um pouco mais e ainda de acordo com as idéias correntes, o problema não se coloca no que se refere aos assim chamados direitos da liberdade (o direito fundamental de ir e vir, por exemplo), pois estes dispensam qualquer tipo de prestação estatal para sua efetividade. Com efeito, é voz corrente que os direitos da liberdade impõem ao Estado alguma conduta consistente em abstenção - abster- se de turbar indevidamente a liberdade individual. Desse modo, os direitos da liberdade dos abastados e dos miseráveis seriam protegidos da mesma forma, com a omissão do Estado.
Forte nessas premissas pode-se afirmar que, dentre os direitos fundamentais, os chamados direitos sociais são os que geram despesas para o Estado, a fim de que possa este, na medida de suas possibilidades, desincumbir-se do dever de efetuar as tais prestações, ao passo que os direitos individuais, por resultarem simples abstenções, não provocam considerações orçamentárias. É a clássica distinção entre direitos positivos e negativos.
Tendo em vista, entretanto, que a realidade não espelha a ficção normativa, isto é, o Estado não efetua as muitas prestações sociais a que está adstrito, nem minimamente, é preciso avançar no fenômeno. De duas, uma. Ou bem se prefere acreditar, de forma simplória, que não existem quaisquer recursos públicos e o problema estará “sanado” - até porque, como se diz, "o que não tem solução, solucionado está” . Ou bem estuda-se uma melhor forma de distribuir os recursos e direitos existentes. A inércia não é boa companheira nesta hora.
Plano do estudo. Assim, nosso estudo dedica-se a analisar essas premissas aqui resenhadas. Neste sentido, o trabalho divide-se em cinco partes fundamentais.
A primeira parte dedica-se a estudar os conceitos jurídicos fundamentais envolvidos na discussão que se seguirá. A segunda parte des- tina-se a estudar a correlação entre os direitos fundamentais e os seus custos. A terceira narte estuda a relação entre a racionalidade juridica e a racionalidade econômica, introduzindo a análise econômica do Direito. A quarta parte tenciona aplicar a uma situação especifica algumas conclusões obtidas em partes anteriores. As conclusões finais obtidas são sintetizadas na quinta e última parte do estudo. Essas
Flávio Galdino
cinco partes são decompostas em quinze capítulos que podem ser apresentados da forma que se segue.
No primeiro capitulo, assumindo-se como premissa que os direitos fundamentais são apresentados como normas e como direitos subjetivos, estuda-se a normatividade, especialmente os princípios, eis que usualmente os direitos fundamentais são estruturados como princípios. Essa afirmação é correta? E o que significa “ser um princípio"?
No seaundo capítulo, passa-se a estudar o direito subjetivo. E a melhor forma de começar é estudar a origem do instituto. Considerando-se que, ao menos sob o prisma jurídico, o direito subjetivo é um elemento fundamental na discussão sobre alocação de recursos públicos (que para o estudioso do direito significa alocação de direitos), discorre-se brevemente sobre a formação do seu conceito e. adiante, no terceiro canitulo. sobre algumas da principais teorias críticas ao conceito corrente de direito subjetivo.
No capítulo seguinte fauarto capítulol estudam-se as figuras correlatas desenvolvidas com o passar do tempo, com o escopo de compreender as relações entre elas e, principalmente, de verificar a aptidão dos conceitos tradicionais de direito subjetivo para integrar as referidas discussões sobre direitos fundamentais e prestações públicas.
Na medida em que se desenvolve um estudo acerca de vários conceitos, mostia-se necessário também entender o que vem a ser um conceito jurídico, qual a sua utilidade e, em especial, como os conceitos jurídicos podem ser operacionalizados (no sentido de serem tornados operacionais). É o objeto do quinto capítulo.
A partir do sexto capítulo, passa-se à análise dos direitos fundamentais como direitos subjetivos. IVata-se dos contornos atuais do conceito de direito subjetivo, tal como utilizado para descrever os direitos fundamentais.
No sétimo canitulo cuida-se da diferenciação entre direitos positivos e negativos. Se na base do modelo distributivo brasileiro está a premissa de que direitos individuais, por serem negativos, não demandam prescaçocc estatais, senão simples abstenções, mister aprofundar as noções de direitos negativos e direitos positivos.
O oitavo capítulo é conseqüência necessária do capítulo anterior, e procura fazer o elo de ligação com as questões estudadas no capitulo seguinte. Cuida-se do estudo das gerações de direitos, tema que, por variadas razões, vem moldando as discussões sobre direitos fundamentais entre nós. Mister analisar se essas gerações de direitos de que vêm
Introdução à Tborla dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
fazendo uso os estudiosos efetivamente correspondem à nossa evolução histórica e se são úteis para a análise do modelo distributivo brasileiro.
É possivel então, no nono capítulo, discorrer sobre a evolução das concepções tradicionais acerca dos direitos no pensamento jurídico brasileiro nos últimos quarenta anos aproximadamente (fazendo-se referência às fontes estrangeiras somente quando isso seja indispensável), sobretudo em relação aos direitos fundamentais e, principalmente, acerca de sua diferenciação em positivos e negativos.
Isto porque uma análise superficial evidencia prontamente que esta tipologia (referente à distinção entre direitos positivos e negativos) é fundamental para muitos temas e seus respectivos autores, os quais, a partir dela, formulam algumas de suas conclusões mais relevantes, de amplo alcance teórico e também prático.
0 décimo capítulo dedica-se a apresentar a obra The cose ofríghts (O custo dos direitos) de CASS SUNSTEIN e STEPHEN HOLMES.i situando-a como momento de amadurecimento e talvez mesmo de superação das antes mencionadas concepções tradicionais acerca dos direitos fundamentais, notadamente da tipologia positivo/negativo. A proposta é apresentar as obras desses autores, ao menos em suas linhas gerais, em especial de SUNSTEIN, expondo a sua idéia central de que todos os direitos são positivos.
No cerne do trabalho - o décimo primeiro capitulo - dedicamo-nos a reavaliar o modelo de atribuição de direitos adotado entre nós. Sustentamos que o modelo atual é insuficiente, e dotado mesmo de alguns “desvios" conceituais, notadamente no sentido de desconsiderar os custos dos direitos e, por correlação, de considerar alguns deles como gratuitos.
A análise dos custos dos direitos sugere o estudo da compatibili- zação entre a racionalidade econômica e a racionalidade jurídica. Assim, são necessários alguns esclarecimentos sobre a chamada análise econômica do direito e o paradigma da eficiência, já que a possibilidade de que os custos necessariamente integrem qualquer discussão sobre direitos fundamentais implica trazer para o universo do apürrrdcr do direito muitas considerações econômicas e um outro tipo de metodologia. As linhas gerais são traçadas nesse décimo seaundo capítulo.
Não poderia faltar uma experiência sobre as potencialidades da incorporação do paradigma da eficiência no direito brasileiro, notada-
1 HOLMES, Stephen et SUNSTEIN, Cass. The cost oíríghts - why liberty depends os taxes. New York: W.W. Norton and Company. 1999.
xxi
Flávio Galdino
mente em razão da recente reforma constitucional que introduziu o princípio da eficiência na agenda do pensamento jurídico. Desincumbimo-nos dessa tarefa no décimo terceiro capitulo.
O décimo quarto canitulo pretende tornar o trabalho fiel às premissas desenvolvidas ao longo do texto. A verdade é que, por força de limitações pessoais, não conseguimos pensar o Direito afastado da vida, resolvendo problemas concretos de pessoas reais - o direito é construído e evolui através de exemplos.2
Neste sentido, procuramos aplicar nossos resultados anteriores a uma espécie de situação-problema que foi captada na prática dos tribunais e que ainda se encontra controvertida - o problema dos consumidores inadimplentes de alguns serviços públicos essenciais - considerando-se criticamente a orientação de algumas cortes que sustentam que os consumidores, ainda que inadimplentes, possuem direito subjetivo fundamental à prestação dos serviços públicos em questão.
Formuladas e testadas as teses, é tempo de concluir. O estudo procura estabelecer então as bases para uma teoria pragmática do direito.O direito prospectivo, destinado a resolver problemas concretos e atento às condicionantes que a realidade impõe de modo inafastável.
E também no décimo ouinto canitulo que apresentamos os resultados conclusivos das nossas formulações teóricas, no sentido de queo direito subjetivo, a fim de tornar-se apto à configuração dos direitos fundamentais, deve ser repensado e reconstruído à luz de categorias de direito público. E onde propomos então a utilização de um conceito pragmático de direito fundamental, pois, segundo nos parece, não é possível pensar direitos fundamentais ignorando os seus custos.
Na verdade, não parece possível cuidar seriamente do modelo distributivo sem ter em precisa consideração aquilo que se está distribuindo. A ingênua ignorância dos custos dos direitos tem servido a muitos propósitos, menos assegurar-lhes a eficácia, concorrendo para consagrar a injustiça da distribuição da riqueza e dos direitos em nosso país.
Um estudo muito influente no século XX incitava as pessoas a levarem a sério os direitos - taking rígths seriously. Levar a sério os direitos é ter em consideração seus custos. É verdade. Tem-se por hábito dizer, ao se repudiar uma qualquer situação de desperdício ou mesmo para salientar o próprio valor da pecúnia, que o dinheiro não nasce em árvores. Alas. Direitos também não.
2 LEVI, Edward H. An introduction to legal rcasoning. Chicago: The University of Chicago Press. 1992, pp. 1, 5 © seguintes.
Par te I
F o rm u la ç ã o T e ó r ic a - Os C on ce ito s
Fundam entais do D ire ito e dos D ire ito s
Capítulo I Direitos Fundamentais são Normas
1. Direitos fundamentais como normas
A expressão “direito" é polissêmica. Com efeito, seja na lingua portuguesa, seja em outros idiomas, as mesmas palavras - diritto, Recht, derecho, droit - vêm acolhendo vários significados diferentes ao longo da história.1 Além de acolher múltiplos conteúdos, bastante diversos entre si, embora interligados,2 e de estabelecer várias esferas distintas de significação, cada uma destas designações é, no seio de sua própria esfera, cheia de controvérsias.
Na verdade, os vários significados da expressão direito não são unívocos nem mesmo quando singularmente considerados - por exemplo: o que é um direito subjetivo? Também esse é um conceito multidi- mensional e vago. Aprofundaremos essa e outras questões pertinentes no capítulo V, ao tratarmos especificamente do que são e como são ope- racionalizados os conceitos jurídicos.
Por ora, é importante salientar que, ao referir-se direito, ou seus congêneres mencionados, sem qualquer especificação, pode-se estar falando da (i) respectiva disciplina teórica, isto é, da ciência jurídica; (ii) de um conjunto de normas jurídicas, positivadas ou não (v.g. o direito previdenciário brasileiro); ou ainda (iii) de uma situação jurídica subjetiva em particular - um direito subjetivo, como seja o direito de preferência legalmente assegurado a uma determinada pessoa que figura como locatária em um contrato de locação de um determinado bem imóvel residencial urbano; et coetera.3
1 Muitos são os autores a tratar da questão, indicando-se, brevitaüs causa, as interessantes considerações a propósito de V1NOGRADOFF. Paul. Inwoducción al Derecho (trad. mexiccna de Common sonso in Law por Vicente Heriero). Sexta reimpressión. Mexico: FCE. 1997. p. 47. Vide também GOYABD-FABRE. Simone. Os Fundamentos da Ordem Jurídica (trad. bras. de Los /ondements da Vordro juridlquo por Cláudia Berliner). São Paulo: Martins Fontes. 2002, pp. XVII e seguintes, esp. XL.
2 V. FARIA, Anacleto de Oliveira. Instituições de Direito. 2* edição. São Paulo: RT. 1972, p. 4.3 Sobre este pomo, confira-se as anotações de FERR AZ Jr„ Tórcio Sampaio. Introduçêo ao
Estudo do Direito - técnica, decisão, dominação. 2* edição. São Paulo: Atlas. 1994, p. 33.
3
Plávio Galdino
Constitui exceção merecedora de registro a língua inglesa, que utiliza expressões distintas para referir o direito objetivamente considerado - Law -, a ciência que se dedica ao direito, normalmente designada por jurisprudence, e o direito subjetivamente considerado - righr,'1 embora cada uma dessas expressões também comporte várias acepções.
De outro lado, o tratamento de uma categoria particularmente considerada também enseja inúmeras controvérsias, como a de saber, por exemplo, o que está sendo referido quando se utiliza, sem maiores esclarecimentos, a expressão direito público brasileiro, como seja saber se se trata somente das normas jurídicas positivadas (leis) ou da ciência jurídica, e assim por diante.
Interessa-nos neste estudo uma determinada categoria designada também como direito. TYata-se do chamado direito subjetivo ou, mais precisamente, dos chamados direitos subjetivos, expressão que também comporta múltiplos significados e conceitos. Na verdade, o objeto central do estudo são os direitos tiumanos^ou fundamentais, na sua ■compreensão como direitos subjetivos. Mais precisamente, na sua compreensão como situações jurídicas subjetivas (pode-se adiantar
'desde lògo: "direitos subjetivos são comprendídos como espécies de situações jurídicas subjetivas). 1 ~
' Isto porque, de acordo com as concepções dominantes acerca da natureza jurídica dos direitos fundamentais, eles são concebidos e estudados ora na qualidade de direitos subjetivos, ora como princípios (evidentemente fundamentais) dõ Estado de Direito.5 Segundo o enten
FRANCO MONTORO, a seu turno, refere cinco focos centrais de significação, a saber, o direito como ciência, como norma, como (acuidade, como justo e o direito como (ato social (FRANCO MONTORO,' André. Introdução à ciência do direito. 23» edição. São Paulo: RT. 199S. p. 33).
4 Sobre a especificidade da lingua inglesa, veja-se KELSEN, Hans. Tfeoria Geial do Direito e do Estado (trad. bras. de General Theory ofLaw and State por Luis Carlos Borges). Sáo Paulo: Martins Fontes. 1998, p. 112. Este autor observa tratar-se de dois fenômenos distintos e que não deveriam ser designados por expressão comum (o direito enquanto ciência não integra o rol de preocupações do autor).
5 Assim, por exemplo. BÕCKENFÒRDE. Ernst-Wolfgang. Escritos sobre derechos íunda- mentales (sem indicação do titulo original; trad. esp. por Juan Luiz Requejo Pagés e Ignacio Villaverde Menéndez). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. 1993, p. 95: "La concepcián actuaJ de los derechos fundamenta/es se caracteriza por una doble cuali- ficadón de tales derechos. (...) de un lado, como derechos subjetivos de libertad, dirigidos ai Estado (...) y de otro - aI mismo tiempo como normas objetivas de principio (objekti- ve Gmdsatznormen) y decidones axiologicas (Wèrtentscheidungen)". No mesmo sentido. ARA PINIIXA, Ignacio. Las transformaciones de los derechos humanos. Reimpression. Madrid: Tecnos. 1994, pp. 33 e seguintes.
4
Introdução à Iteoria dos Custos dos Direitos - Direitos NÔo Nascem em Árvores
dimento adotado neste estudo, não se trata de concepções contrapostas ou excludentes; ao revés, cuida-se de duas formas complementares de ver o mesmo fenômeno.
Um exemplo bastante simples demonstra a afirmação. Dependendo do ponto de vista do observador, o mesmo principio constitucional que, no direito brasileiro, assegura a ampla defesà no processo iurisdi- cional expressa um direito fundamental (d irei tosu b jetivo) da pessoa
'humana a não ter indevidamente cerceadas suas possibilidades de defesa no processo (CF. art. 5a. LV). Realmente, são dois prismas pelos quais pode-se observar o mesmo fenômeno.
Como ensinaram os romanos, ias pluribus modis dicitur.6 Assim, embora haja vários sentidos ou várias acepções para a expressão direito, elas estão interligadas - o fenômeno jurídico é uno - convindo estudar-se o fenômeno como um todo.
Assim sendo, embora a atenção deste estudo seja dirigida ao outro foco de significação (os direjtos subjetivos fundamentais), mister reco- "nEêcer que a análise normativa, em especial^principiológica, é^niuito importante, mostrando-se interessante dedicar a ela algumas linhas,
'que"aux iliarão a compreensão de outros temas abordados no estudo.
1.1. Os direitos fundamentais entre o direito objetivo e os direitos subjetivos
r A norma jurídica e o direito subjetivo (rectius: a situação jurídica subjetiva) que a partir dela se constrói são partes indissociáveis do mesmo fenômeno de aplicação/criação do Direito. Por razões metodológicas, contudo, é usual separar-se o estudo das duas figuras. Cuida-se da antiga e perene distinção teórica entre o direito objetivo e o(s) direi- to(s) subjetivo(s).7
6 Paulus D. 1.1.11. Vide o comentário de URRUTIGOITY. Javíer. "E l derecho subjetivo y Ia Icgitimación procosal administrativa'. In SARM1ENTO GARCIA, Jorge H. (org.). Estúdios de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Depalma. 1995. pp. 219-304, p. 223.
7 Sobro a distinção dogmática entre direito objetivo e direito subjetivo, consulte-se. por todos, GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Jhtroduccián ai estúdio dei derecho. Tercera edición. Mexico: Editorial Pomia. 1949, p. 51; REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 19° ed. Sáo Paulo: Saiaiva. 1991. p. 63; do mesmo autor. REALE, Miguel. "Ifeoria tridimensional do direito. 5* edição. 3* tiragem. Sáo Paulo: Saraiva. 1999, p. 86. Ambos os autores acentuam a indissociabilidade dos aspectos objetivo e subjetivo da experiência jurídica, que se co-implicam.
5
Flávío Galdino
Não apresenta relevo neste momento do estudo a questão de saber qual deles tem precedência histórica ou axiológica (se os direitos precedem as normas ou qual das figuras retira da outra o seu fundamento de validade), o que conduziria o estudo a considerações acerca do direito natural e dos direitos naturais (por ora inoportunas).
Importa salientar apenas que o estudo dos direitos fundamentais também pode ser reconduzido a essa distinção entre direito objetivo e direito subjetivo, isto é, pode-se estudar os direitos fundamentais enquanto normas (direito objetivo) e enquanto direitos subjetivos.8
Neste sentidoTnâõha qualquer problema em afirmar que direitos fundamentais são normas, ressaltando a sua dimensão objetiva.9 Pelo contrário, ao afirmar-se que algúèm possui um direito fundamental, ao menos implicitamente, afirma-se que esse direito fundamental é tutelado por uma norma de direito fundamental,10 não importando, por ora, saber qual deles tem precedência e não importando também saber se essa norma encontra-se jgositivada ou sê possui fundamento supra- positivõ*(díféitÕslmplícitos). O presente estudo efêtivamêTrtêT renuncia ITtentação de discorrer mais aprofundadamente sobre os fundamentos dos direitos humanos, lançando algumas breves considerações ao tra
8 GUERRA FILHO fala em 'dupla dimensionalidade" dos direitos fundamentais referindo- se a sentido algo diverso (vide GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. Sáo Paulo: Celso Bastos Editor. 1999, p. 64), mais próximo do que se vem tentando construir como dimensão objetiva dos direitos fundamentais. A expressão dimensão objetiva dos direitos fundamentais tem sido utilizada com outro significado, possivelmente mais abrangente mas ainda impreciso e carente de sedimentação - vido, por exemplo, a consistente introdução de SARMENTO. Daniel. "A dimensão objetiva dos direitos fundamentais: fragmentos do uma teoria". In Arquivos do Direitos Humanos, vol. 4 (Rio de Janeiro: Renovar. 2002), pp. 63-102. No texto, a dimensão objetiva refere-se à dimensão dos direitos fundamentais enquanto direito objetivo (isto é, à dimensão normativa).
9 Por exemplo, a afirmação de FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias - La ley dei más débil (compilação e tradução espanhola par Fotfecto Andrés tbánez e Andréa Greppi). Madrid: EOiirrlal JX jl, p. <C: \...) los derecho; funüaútentalei lon rturi..^.', (com as conseqüências que se expõe adiante no texto). Ainda sobre a dupla dimensão e sobro a dimensão ohietiva dos direitos fundamentais, veja-se SARLET. Ingo Wotfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegro: Livraria do Advogado. 1998, pp. 138 e seguintes.
10 Conforme afinnado por ROBERT ALEXY: "Entro el concepto de norma de derecho fundamental y el de derecho fundamental existon ojcrechas conexiones. Siempre que alguién posee un dorechò fundamental, existe una norma válida de derecho fundamental que le otorga esto derecho" (ALEXY, Robert. Tborfo de los derechos fundamentales (trad. espanhola do Theorie der Grundrechte, por Ernesto Garzón Valdés). Madrid: Centro de Estúdios Constitucionales. 1997, p. 47).
6
Introdução a Traria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvoies
tar mais adiante dos chamados morai rights (ou direitos morais - veja- se o item 4.5).
Da mesma forma, afirma-se que os direitos fundamentais são princípios.11 até porque considera-se que os princípios jurídicos sãõèspeciês "dê normas jurídicas (sobre a caracterização dos princípios comôliormas e especificamente como princípios materiais, vide item 1.6).
O simples fato de se reconhecer normatividade aos direitos fundamentais já pode operar múltiplas conseqüências relevantes, como, por exemplo: "
(i) as normas de direitos fundamentais podem funcionar como critério de legitimação e para aferição da validade das demais
I normas jurídicas,1 (ii) as normas de direitos fundamentais podem funcionar como
critérios de interpretação das demais normas jurídicas, deter- “minando a máxima proteção dos direitos fundamentais e
(iii) as normas de direitos fundamentais podem estabelecer presunção relativa da existência de um direito subjetivo fundamental. Convém aprofündar.
Preliminarmente, é comum admitir-se que os direitos fundamentais funcionam como instrumentos de legitimação do próprio Estado Democrático de Direito na cultura ocidental.12 E disso defluem diversas conseqüências para o estudo do Direito.
Já no plano normativo propriamente dito, as normas de direitos fundamentais expressam valores de hierarquia tao elevada no ordenamento jurídico (em um dado ordenamento, é claro) que chegam a se confundir com a norma básica de reconhecimento13 das demais normas jurídicas, que consistiria na norma central através da qual se reconhece ou não validade às outras normas do ordenamento - uma norma
H ' roí Md— , hOÍ> >i FO VIGO. “Concretainertc. oen ia-i.j l - çaa el _ „.;cnido do lo - cipios jurídicos luertes coincide con los derechos humanos lundamenlales {...)" (VIGO, Rodolfo L. Los princípios ju/idicos - perspectiva jurisprudencial. Buenos Aires: Depalma. 2000, p. 21).
12 HABERMAS, Jürgen. "Sobre a legitimação pelos direitos humanos". In MERLE, Jean- Christophe et MOREIRA, Luiz (orgs.). Direito e legitimidade. São Paulo: Landy. 2003, pp. 67-82.
13 Sobie a regra de reconhecimento, a teoria de HART, Herbert. O conceito de Direito (trad. portuguesa de The concept o l Law por A. Ribeiro Mendes. Lisboa; Fundação Calouste Qulbenkian. 1986, pp. 104 e ss., pp. 111 e ss.
7
Flávio Galdino
qualquer somente é considerada válida, mesmo que tenha sido promulgada conforme os métodos de produção normativa em vigor (validade formal), se estiver de acordo com as normas de direitos fundamentais (validade material).
São várias as formas de se promover a identificação das normas aplicáveis em um determinado ordenamento em um dado momento histórico. O próprio controle de constitucionalidade das regras legais (também em sentido formal e material), por exemplo, funciona como um meio de atingir essa finalidade,14 assim como a aplicação dos critérios hierárquico e temporal (sobre eles, item 1.5). Todos são modos de identificar normas válidas e aplicáveis em um determinado ordenamento jurídico.
Com efeito, partindo-se da premissa de que é necessário estabelecer meios de identificação das normas que compõem o ordenamento jurídico, afirma-se que os direitos fundamentais se confundem com a própria norma básica de reconhecimento das demais normas jurídicas, operando, pois, no planodavadidade, de tal modo que, para ser válida perante õ ordenamento, uma norma jurídica qualquer passa por um teste de conformidade em relação às normas de direitos fundamentais.1
^ Ainda neste sentido, isto é, enquanto normas, os direitos fundamentais servem (ou pelo menos podem servir) como critérios interpre- tativos das demais normas jurídicas (exercem funçãoTíérménêutica);
~~sãõ’ós guias e limites de toda construção normativa,16 dèTàFmodoque a interpretação deles mesmos e de todas as demais normas do ordenamento deve maximizar o conteúdo do direito fundamental em questão
‘ (fenômeno que se designa comcT/òrça expansiva dos direitos fühdá- mentais).17 ~
14 Por todos, o relato de MÜLLER, Riedrich. Métodos de trabalho do Direito Constitucional (trad. bras. por peter Naumann. 2* edição. Sáo Paulo: Max Limonad. 2000. p. 31.
15 PECES-BARBA, Gtegoiio. Curso de Derechos Fbndamentalos. Madrid:'Universidad Cailos III de Madrid/Boletín Oficial dei Estado. 1999, p. 354.
16 Novamente. PECES-BARBA, Gregorio. "De la funcián de los derechos fundamentales". In PECES-BARBA MARTINEZ. Gregorio. Derechos sociales y positivismo jurídico (esr.ritos de filosofia política y jurídica). Madrid: Dykinson. 1999, pp. 131-145, esp. p. 138.
17 Ainda uma vez, PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio. Curso de Derechos Rindamentales. Madrid: Universidad Carlos m de Madrid/Boletin Oficia) dei Estado. 1999, p. 577. No mesmo sentido, ainda na proficua doutrina espanhola, PÉREZ LUNO, Antonio Henrique. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitudon. 4‘ ed. Madrid: Tecnos. 1991, p. 310 etpassim. Entre nós, expressamente de acordo com essa tese, confira-se a obra de PIOVE- SAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 3» ed. São Paulo: Max Limonad. 1997, p. 63, e SARLET, A eficacia dos direitos fundamentais crt.. p. 145.
8
Introdução à Tfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
Por fim, chega-se a admitir, como conseqüência da verificação de que existe uma norma de direito fundamental, o estabelecimento de uma presunção acerca da existência de um direito subjetivo fundamental (se for o caso, de uma "presunção relativa”).
Neste viés de orientação, costuma-se afirmar que as normas de direitos fundamentais, embora não criem necessariamente direitos subjetivos fundamentais (como Acorreria entre nós, por exemplo, còm gg-cfiãmadas normas programáticas18), estabelecem uma presunção acerca da existência desse correlato direito subjetivo, uma espécie de
-Hirgito prima /acie19 (voltaremos ao ponto ãHVànte ifeiTi 1.7, para relati- vizar essa afirmação).
Embora essas sejam conseqüências importantes, parece haver uma conseqüência ainda mais relevante que deriva da caracterização dos diréitoi fundamentais como normas, a saber: a correlata distinção, entrfe os direitos fundamentais e os demais direitos (os direitos que
' seriam denominados não-fundamentaisj.2Com efeito, os tais direitos não-fundamentais podem ser constituí
dos, modificados ou até mesmo extintos por atos de seus titulares, às vezes por atos unilaterais dos titulares ou mesmo por atos de terceiros; os direitos fundamentais, por sua vez, já que reconhecidos como normas (no Brasil, de hierarquia constitucional pétrea, nos termos da Constituição Federal7art.60; §‘4a), não podem ser extintos, nem mesmo goratqs.deseus-titulares.
Isto é, direitos não-fundamentais encontram-se à mercê de negó- cios j urídi c Ssprat icado s pelos seus titulares (ou por terceiros), enquan
to os direitos fundamentais, em linha de princípio, independem, para sua constituição ou manutenção, de quaisquer negócios jurídicos e não
18 Sobre normas programáticas há extensa literatura no Brasil; por todos, SILVA, José Alonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3* edição. São Paulo; Malheiios. 1998 e FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Normas constitucionais programáticas. Sáo Paulo: RT. 2001. Na literatura estrangeira, o clássico CR1SAFULLI. Vezio. La costituzione e le sue disposizioni di prinzipio. Milano: Giuftrè. 1952.
19 IVatando do tema sob a ótica da fundamentação objetiva e subjetiva das normas de direitos fundamentais, veja-se ALEXY. Tfeoria de los derechos fundamentales cit.. p. 480:el hecho de çrue se admita una mera protección objetiva debe ser fundamentado. Bàsicamente, hay que reconocer, en todo caso, un derecho subjetivo, bajo Ia forma de un derecho prima facie"; e, referindo expressamente a idéia de presunção, CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Tfeoria da Constituição. Coimbra; Almedina. 3“ ed. 1999, p. 1179.
20 Cf. FERRAJOLI, Derechos y garantias cit.. pp. 48*49.
9
Flivio Galdmo
podem sofrer reduções que atinjam seus respectivos núcleos através daqueles (o que não eqüivale a dizer que sejam absolutos - muito pelo contrário, ãté mesmo o direito fundamental à vida é relativo21).
A esse propósito, à guisa de exemplo, compare-se as situações jurídicas decorrentes de um contrato de fiança (acessório a um contrato de locação de um bem) e o direito fundamenta] consistente na liberdade de manifestação do pensamento.22
No contrato de fiança, embora as situações jurídicas subjetivas a serem constituídas estejam predispostas (hipoteticamente previstas) M s normas aplicáveis, os efeitos jurídicos concretos decorrem de negócio jurídico celebradtféntre as partes contratantes. O negócio jurí- 3Ico privado é determinante para a produção dos efeitos jurídicos programados. Neste mesmo sentido, as partes contratantes podem, voluntariamente ou não, desconstituir a fiança pactuada, fazendo cessar os seus efeitos, através de outra simples manifestação de vontade. Ou seja, o afiançado, beneficiário da garantia, pode livremente concorrer para a extinção de um seu direito (subjetivo).
Já a liberdade de manifestação do pensamento decorre diretamente da norma de direito fondan^tal (a liberdade reside na própria norma!), sem ã necessidade de realização de um negócio jurídico qualquer, isto é, sem intermediação negociai (nem mesmo de um ato jurídico qualquer), para que o titular incorpore o direito e sem que possa ele alienar total ou parcialmente esse direito (reconhecidamente inalienável).
Em tema de direitos fundamentais, considerados como normas, os efeitos jurídicos rêléyantes deQuem diretamente das próprias normas que os consagram, havendo indisponibilidade tánto ativa quanto passiva em relação è^ situações juridicas que Se ènténdam constituídas a
'partir 9ainterpretação das normas. ~Neste mais relevante sentido é que se afirma aqui que os direitos
fundamentais são normas: as normas “ iusfundamentais" constituem o título jurídico para exercício do direito subjetivo fundamental correspondente, em linha de princípio, sem a necessidade de intermediação rcr t.*'-.- ou 'ios jurídicos, ccm prejuízo, guando foi o caso (excep
21 Em tema de legitima defesa, por exemplo, reconhece-se a validade da "violação" do direito fundamental à vida (por todos, confira-se TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del Rey. 2000, p. 111).
22 CL FEKRAJOLI. ZÀirechos y garantias CJC-, p. 49.
10
Introdução àlfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Mão Nascem em Árvores
cional), da indispensável conformação legislativa, que não se confunde com um negócio jurídico.
Uma ressalva desde logo relevante: essa desnecessidade de um instrumento jurídico que os justifique não afasta a correção da afirmação de que também os direitos fundamentais são limitados por circunstâncias fáticas e jurídicas! Assim, por exemplo, a liberdade fundamental de manifestação do pensamento encontra limites jurídicos no direito fundamental à honra e no direito fundamental à imagem (dentre outros).
Consoante salientado, nessa parte preliminar do estudo tenciona- se caracterizar O direitn funrtameml-al rnmn nnrma inrfriina, especifica- mente como um princípio jurídico. E o que significa caracterizar algu- "mã coisa como norma jurídica ou, por outra, o que são normas e princípios jurídicos? São conceitos que se passa a estudar. Não se pretende esgotar o tema, mas apenas apresentar conceitos relevantes para o estudo que se seguirá.
1.2. Norma jurídica: estrutura e função
A experiência jurídica é uma experiência fundamentalmente normativa.23 Destarte, muitas vezes o estudo do direito centra-se unicamente nesse objeto fulcral, a norma jurídica ou, mais precisamente, as normas jurídicas. Busca-se por métodos próprios, que alçam o direito à dignidade de ciência, conceituar as normas jurídicas, diferenciá-las de outras espécies de normas (como seja das normas morais, por exemplo), compreender seu alcance e assim por diante.
Com isso, evidentemente, não se tenciona dizer que essa experiência jurídica seja somente ou, ainda melhor, puramente normativa. De modo algum, o estudo das normas jurídicas e de suas correlações lógicas pode esgotar o objeto da ciência do direito, como pretenderam alguns estudos célebres.24
23 rw nvp-ocsamente, BO^BIO, m -.v --** T^ri-. .-orma ]unV:~T 'trad. K.\-. cís iboría delia norma giuridíca por Fernando Pavan Baptista o Aiiani Bueno Sudatti). São Paulo: Edlpro. ?C01, p. 23.
24 Na linha deseuc'vida por HANS KELSEN, q-n explr •* =* sua opção metodológica logo ao principio da sua célebre Teoria Pura: "Como designa a si próprio como ‘pura* teoria do Direito, isto significa que ela se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir deste conhecimento tudo quanto não pertence ao seu objeto, tudo quanto não se possa, rigorosamente, determinar como Direito. Isto quer dizer que ela pretende libertar a ciência juridica de todos os elementos que lhe são estranhos. Esse * o seu principio metodológico fundamental'. (KELSEN, Hans. Tfeoria pura do direito (trad. por
11
Flávio Galdino
Ao revés, a experiência jurídica é certamente multidimensional - pelo menos tridimensional, segundo a clássica formulação de que se orgulha a ciência do direito brasileira,25 tetradimensional ou propriamente multidimensional26 - englobando os fatos e os valores, além, é claro, da própria norma jurídica e comportando, também por isso, múltiplas abordagens teóricas com as mais diversas ênfases (como sejam a sociologia jurídica, a axiologia jurídica, a politologia jurídica etc.), através dos mais variados expedientes metodológicos. Neste sentido é que se afirma que não existe uma ciência jurídica, mas várias ciências jurídicas.27
A norma jurídica, que é o elemento central da experiência jurídica, mesmo tomada de per si, também pode (rectius: deve) ser analisada sob múltiplas perspectivas, a que se dedicam também várias disciplinas científicas.
Na aludida teoria tridimensional, em que se reconhece expressamente à ciência do direito como ciência fundamentalmente normativa,28 por exemplo, integram-se através da norma as tensões fático- axiológicas, isto é, os componentes fáticos e valorativos da experiência jurídica. É um estudo por certo riquíssimo, havendo registro de
tuguesa de Reine Rechtslchre por Jo2o Baptista Machado). 3“ edição (brasileira). Sáo Paulo: Martins Fontes. 1991, p. 1). Merece ser ressaltado que KELSEN não ignorava as demais dimensões da experiência juridica, apenas sustentava que a ciência juridica enquanto tal deveria dedicar-se unicamente à norma (rectius; i regra juridica, expressão segundo ele preferível, cf. KELSEN. Teoria Geral do Direito e do Estado cit., p. 63).
25 Consultou-se o Mestre MIGUEL REALE, Tfeoria tridimensional do direito c/t., passim. Assim sinteti2a REALE (p. 61): "A Jurisprudência é uma ciência normativa (mais precisamente, compreensivo-normativa) devendo-se, porém, entender por noima juridica bem mais que uma simples proposição lógica de natureza ideal: é antes uma realidade cultural e não mero instrumento técnico de medida no plano ético da conduta, pois nela e através dela se compõem conflitos de interesses, e se integram renovadas tensões fáti- co-axiológicas, segundo razões de oportunidade e prudência (normativismo jurídico concreto ou integrante)'.
26 Sobre as dimensões básicas e a formulação tetradimensional. veja-se PEREZ LUNO. Antonio-Enrique. Tfeoría de/ Derecho - una concepcidn de Ia cxperiencla juridica. Madrid: Ibcnos. 1997, pp. 38 e seguintes. Este autor (p. 40) observa que de uma perspectiva metodológica é possível conceber o direito através do tridimensionalismo. mas que o direito concreto é necessariamente tetradimensional, somando-se às dimensões básicas a dimensão histórica (que permite uma compreensão dinctònica do tenômeno jurídico).
27 A propósito de um panorama acerca das várias “ciências do direito", consulte-se a injustamente esquecida obra de MACHADO NETO, A. L.. Compêndio de Introdução à ciência do direito. São tfeulo: Saraiva. 1969, esp. cap. II.
28 REALE, Tboria tridimensional do direito cit., p. 61 et passim.
12
Introdução à Tfeoiia dos Custos dcs Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
que se tenha identificado nada menos do que oitenta e duas definições de norma...29
No presente trabalho, contudo, não se pretende desenvolver estudo mais detido a propósito do conceito de norma jurídica. Deveras, o estudo da norma jurídica, aqui, tem o singelo escopo de esclarecer que também os direitos fundamentais são princípios jurídícõs7õ s qüais~
^r^stiiEu~e1nTspéciesdo,^ne o.flue_4 AQrjnajurjdica. ——"para tanto, em linhas breves, analisa-se a norma juridica a partir
de uma dupla perspectivado isto é,Ti) sob o prisma estrutural e (ii) sob cTprisma funcional. Cuida-se de duas pers^ctívas"compTêfnentares, urna- vez qüè~para melhor cumprirem suas funções (sejam elas quais forem), as normas jurídicas estruturam-se de determinada maneira ou, mais precisamente, de determinadas maneiras.
Fato é que o Direito não existe simplesmente para registrar ou descrever o que existe no mundo real através de suas normas (ressalvadas as conclusões de alguns estudos positivistas sociológicos, em especial alguns de influência marxista). Essa tarefa talvez seja de competência da sociologia ou de algum de seus ramos... e possivelmente nenhuma das partes desejaria suscitar o respectivo “conflito..."
O direito - ciência social - é condicionado e condiciona as ouUas instâncias da vida social (econômica, política, cultural etc.), não se podendo imaginar que seja o único determinante ou simples registro da vida em sociedade.31
O Direito, através das normas jurídicas, prescreve condutas, comportamentos. Assim, o fenômeno jurídico por excelência, a norma jurí- dica, é estruturada a partir de um operador ou enunciado deônt/co32 -
29 Cf. FERRAZ Jr., Teoria da norma juridica cit.. p. 36 (referindo-se a um estudo de RUEDI- GER LAUTMANN).
30 Pode-se adotar ainda outras perspectivas. Por exemplo, LUZZATTI (La vaghezza delle norme cit., p. 259) sugere além da análise sob os prismas estrutural e funcional, a indagação sob o prisma genético (como reconhecer os principios válidos cm um determinado ordenamento?). Essa dupla perspectiva adotada no texto n&o se confunde com a análise de BOBBIO, Norberto. Dalla struttura alia Amzione - nuovi studi di teoria dei dirjtto. Milano: Edizioni di Comunitá. 1377.
31 Como leciona José Eduardo Faria: “o direito não é uma instância autônoma e subsistente por si mesma, porém dependente de outras instâncias que o determinam e o condicionam. do mesmo modo como também acabam sendo por ele determinadas e condicionadas* (FARIA, José Eduardo. Eficácia juridica e violência simbólica. Ttose. São Paulo. 1984, p. 6). Sobre a posição da ciência juridica. vide ainda BOBBIO, Dalla struttura alia Junzio- ne cit., pp. 43 e seguintes (capitulo “díritto o sdenze sociali").
32 Sobre o tema, ALEXY, Tfeor/a de los derechos fundamentales cit., p. 53.
13
Flávio Caldino
que vem a ser comumente designado como um “dever-ser", idéia a principio insuscetível de definição, mas que pode ser explicada com auxilio da noção de valor.33
Assim, quando uma regra jurídica estabelece que furtar (subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel) é crime, cómo por exemplo enuncia o Código Penal brasileiro (de 1940) no seujart.,155, na verdade, procura influenciar de modo determinante o comportamento das pessoas, isto é, dos destinatários da norma juridica, a fim de que se abste- nham de praticar a conduta hipoteticamente prevista na própria regra jurídica.
A norma jurídica em questão estabelece que algo deve ser de uma c^termfiíãÜ£CinanéiVC(que cTindivíduo nãodeve furtar). Neste cásó7a mesma regra jurídica prevê a aplicação de uma sanção, de uma pena privativa de liberdade, para aquele que incorrer no comportamento vedado. A ameaça da sanção tenciona influenciar a conduta do destinatário. criando recèictda incidência da norma jurídica._
Ninguém hesitaria em reconhecerque ànorma jurídica em questão não apenas descreve a realidade (no Brasil de hoje, bem distante da finalidade da aludida norma, infelizmente), mas também prescreve um determinado comportamento negativo - uma abstenção - visando induzir os comportamentos individuais.
O escopo último do Direito e de suas normas, sempre inspiradas em determinados valores, é zonformar a realidade, prescrevendo comportamentos humanos, sem poder, contudo, jamais ignorar a realidade círcun"dante. O próprio Direito é, então, um modo de pensamento orien- tado a valores,3* cuia função, numa primeira aproximação, é prescrever condutas humanas. Com acerto, ao tratar-se das normas jurídicas, afir
33 De forma simplificada, a explanaçáo de KARL ENG1SCH: 'Finalmente, podemos ainda tentar esclarecer o conceito de dever-ser através do conceito de valor uma conduta é devida (deve ser) sempre que a sua realização é valotada positivamente, e a sua omissão é valorada net>s>*>vajT!»nt;". Kan .'••tioduçsa 20 Kc.isamento junaico (trad. port. de Einlührung in dasJurisCischen DonJten por J. Baptista Machado). 6» edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 1977, pp. 37-38). Já KF -SEN afirmara que o dever-ser não poderia ser definido, de vez que se trata de uma “noçao simples", como o “bem", e, portanto, insuscetível do ser definida com precisão ou analisada (KELSEN. Ttegria Pura do Direito cít., p. 6, nota 1).
34 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito (trad. da 5a ed. de Mothodenlehre der Rechtswissenschãft por José Lamego). 2» ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 1989, p. 299: “(...) por isso a jurisprudência é, tanto no domínio prático como no dominio teórico, um pensamento em grande medida orientado a valores*.
14
Introdução á "feoria dos Custos dos Direitos - Diieitos N io Nascem cm Árvores
ma-se que são enunciados lingüísticos que cumprem preponderante- mente uma furição prêscritiyaab ou d i r e t i v a ~
-------Daí porque dizer-se que as normas jurídicas são prescritivas e nãomeramente descritivas (embora também o sejam, pelo menos em parte). Afirma-se que as normas recebem os fatos e lhes atribuem significação jurídica37 e isso significa dizer que as normas, pelo menos em parte, descrevem uma parcela da realidade e, nesta parte, são descritivas. Mas, além disso, prescrevem algum comportamento relacionado com os fatos descritos.
1tem-se, assim, em sede de conclusão parcial, que (i) o Direito não apenas descreve a realidade (embora também o faça necessariamente),
"antes, (ii) busca, através de sua "força normativa",38 amoldá-la a valores; valores esses que, pórtántò, não sé confundem com as própnãs normasT e permitem observar que as normas jurídicas não são enunciados ou proposições tão-somente valorativas; são efetivamente prescritivas.3®
De forma extremamente sintética, pode-se afirmar que, de modo a conformar a realidade, a norma jurídica estrutura-se através da ligação de conseqüências jurídicas a determinadas situações fáticas hipoteticamente configuradas. Ou seja, a norma jurídica liga efeitos jurídicos (ou conseqüências jurídicas) às hipóteses normativas e, assim, tencio-
35 PECES BARBA, Curso de Tfeorla dei Derecho, p. 149, afim a que: "El longuaje se utiliza en esta lunciôn cuando, a través de él. so pretende condicionar o influir en Ia candueta de los demàs, haciendo que éstosse compcrten do determinada manera. Rara tal, em/ten propo- sidones prescríptivas (...)'■ V. também LUZZATI, Cláudio. La vaghezza dolle norme: un’analisi dei iinguagrgio giurídico. Milano: Giuffré. 1990, p. 54 et passim.
36 Sobte os usos da linguagem, vide WARAT. Luís Alberto (com a colaboração de ROCHA. Leonel Severo). O diteito e sua linguagem (2a versão). 2* edição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor. 1995, p. 66, onde fala-se em usos informativo, emotivo, períorma- tivo o diretivo (no sentido de prescritivo): “a instância diretiva refere-se às palavras que cumprem a função de provocar conexões de sentido, destinadas a atuar sobre o comportamento futura do receptor"). Vide também CARR1Ó, Cenaio R. Notas sobre derecho y íengua/e. 4a Ed. Buenos Aires: Abledo Ferrot. 1S94, p. 19.
37 KELSEN, Teoria Pura do Direito cit., p. 4. Vide ainda STRUCH1NER. Noel. Direito e linguagem: uma análise da textura Ua Jjagcrr. i. „ua opl:c'*_i _J Direito. ?»* - l Janeiro: Renovar. 2002, p. 86 (referindo-se a SCHAUER).
38 Sobre a força normativa das disposições constitucionais, a obra fu- Umental de HESSE, Kòmad. La fuerza normativa de la Constituciõn (trad. espanhola de úie normative Kraít der Verfassung, por Pedro Cruz Villalon). In Escritos de derecho constitucional. 2“ edición. Madrid: CEC. 1992, pp. 55-78.
39 Não possuem caráter apenas axiológico, mas deontológico (conforme afirma, por todos, ÁVILA, Humberto Bergmann. "A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade". In Revista da Pòs-Graduação da Faculdaae de Diieito da USP. UdI. 1 (1999): 27-54; esp. p. 40).
15
Flávio Galdíno
Lna influir no comportamento dos seus destinatários.40 No caso dos direitos fundamentais, não apenas no comportamento dos particulares, mas, especialmente, no comportamento do Estado.
Isto é, a uma determinada situação fática hipoteticamente configurada na norma jurídica, corresponde uma situação jurídica subjetiva (sobre as situações jurídicas, vide, capítulo IV), também hipoteticamente configurada na norma enquanto efeito jurídico dela decorrente (sendo certo que a situação juridica concreta é o resultado da operação e não a premissa).
Assim, embora já aprimorando a noção, pode-se dizer em termos l~ sintéticos e simplificadores que a função imediata da norma jurídica, a \ partir da ocorrência de determinados fato?,' e ’ criar situações* jurídicas \ subjetivas, assim entendidos, por ora, os direitos, deveres, ônus, facul- \ dades, interesses, obrigações etc.' Exemplos simples podem ser interessantes. A norma de direito
processual contida no art. 333,1, do CPC brasileiro (que cuida da distribuição do ônus da prova no processo civil) cria pelo menos uma situação jurídica subjetiva, a nosso juízo, não “iusfundamental” , para a parte autora de um processo judicial. Com efeito, esta norma estabelece o ônus processual dirigido a parte autora de provar os fatos constitutivos de seu alegado direito (também o ônus é uma espécie de situação jurídica subjetiva). A seu turno, a norma de direito fundamental contida no art. 5a, XVI, da CF estabelece para os destinatários o direito subjetivo de reunião para fins pacíficos.
Com o perdão do truísmo: normas jurídicas existem precipuamen- te, embora não exclusivamente,"pãrã^estabelecer ou criar, na medida das possibilidades fáticas e jurídicas, situàções~yúrí3icãs 'sübfénvãs; sendo essa a sua função pfedòrmnante, que se passa a designar aqui,' então, como função normativa.
É evidente que a idéia de normatividade adotada aqui para fins expositivos é restritiva. Não se ignora que a idéia de norma transcen-
40 É vastíssima a literatura a respeito desse tema. sendo certo que a referência constante do texto - até por nâo constituir seu objeto central - é realmento superficial. Apenas exem- pliíicativamente. confira-se ENG1SCH. Introdução ao pensamento jurídico ac., p. 21; LARENZ, Metodologia da Ciência do Direito c/t.. p. 349; ADOME1T, Klaus. Introducción a Ia teoria dei derecho - lógica normativa, teoria dei método, politologia jurídica. Madrid: Civitas. 1984, p. SI; PEREZ LUNO, 7feoria dei Derecho cit., p. 173; KELSEN. Tteoria Pura do Direito cit.. p. 4; BOBBIO. Ifeoria da norma juridica cit., p. 69 et passim; SANTIAGO NINO, Carlos, introducción el anilüds dei derecho. Barcelona: Ariel. 1997. p. 63.
16
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Árvores
de o próprio Direito, sendo objeto de estudo no terreno da moral, das ciências sociais e de várias outras disciplinas, em que a idéia de nor- matividade é muito mais desenvolvida, sendo a um só tempo mais ampla e mais sofisticada. Para os fins do presente estudo, contudo, ressalta-se apenas a importância da normatividade em seu sentido jurídico e com o escopo determinado de cuidar de situações jurídicas subjetivas, que passam então a determinar a própria idéia de normatividade. Assim, possuir função normativa significa para este estudo ter aptidão para criar situações jurídicas subjetivas.
Destarte, frise-se, o presente estudo entende por função normativa a aptidão para a produção de efeitos jurídicos, especialmente a capacidade das normas para a criação de situações jurídicas subjetivas. No caso dos direitos fundamentais, a capacidade de determinadas normas para a criação de situações jurídicas iusfundamentais.
Tklvez não seja ocioso notar que nem todas os dispositivos constantes de tal ou qual lei (ou mesmo da Constituição) críam de per si situações jurídicas subjetivas. Há normas que são extraídas da conjugação de vários dispositivos (legais, por exemplo). Há dispositivos legais dos quais não se pode extrair nenhuma norma completa. Em linguagem mais técnica, inexiste correspondência biunívoca entre dispositivos e normas.41
O problema parece estar em que a mesma expressão - norma - designa o texto ou dispositivo no qual o texto está inserido e o conteúdo de sentido (o sentido normativo).4*
Mais uma vez a polissemia (multiplicidade de significados) atrapalha a compreensão do tema, pois nem sempre o conteúdo de sentido de uma norma encontra-se encerrado em um único texto ou em um único dispositivo, sendo necessário conjugar vários textos ou dispositivos para alcançar-se uma norma (ou o seu conteúdo de sentido), o que somente se perfaz após operações interpretativas.
O que significa dizer que nem sempre os textos dos dispositivos jurídicos são estruturados de forma completa,43 no sentido de que nem sempre todas as partes que compõem a norma jurídica estão unifica-
41 ÁVILA, Humberto. Tteoria dos principios - da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 2A edição. São Paulo: Malheiros. 2003, p. 22.
42 GUASTINI, Ricardo. "In tema dl norme sulla produz/ona gjurfd/ca". In COMANDUCC1, Paolo et GUASTINI, Ricardo. Analisi e diritto - 1995: richerche di giurisprudonza analítica. Ibrino: G. Giappichslli Editore. 1995. pp. 303-313. esp. p. 311.
43 KARL LARENZ fala em proposições juridicas completas (LARENZ, Metodologia da Ciência do Direito cit., p. 349). Ainda sobre o tema. ADOME1T. Introducción a Ia teoria dei derecho cit., p. 58.
17
Fl&vio Galdino
j das em um único texto ou em um único dispositivo normativo (legal ou / constitucional, pouco importa).44
Aliás, para que haja norma juridica (ou seus efeitos), nem mesmo é necessáfRTque haja dispositivo positivado. A própria Constituição
"Federal brasileira refere-se a garantias implícitas - CF, art. 5», § 2a -, que são reconhecidas pacificamente pela doutrina especializada, até porque, segundo determinado ponto de vista, normalmente os princípios são implícitos, pois seriam extraídos do conjunto das regras positivadas por meio de indução45 (vide item 1.4). Da mesma forma, as normas costumeiras - integrantes do chamado direito consuetudinário - carecem de texto positivado expresso e nem por isso deixam de possuir normatividade, conforme acentua a doutrina mais abalizada.46
A j iorma é o_resultado da atividade interpretativa do aplica- dor/construtor do direito.47 E assinT sendo, tòfnã-sé~a salientar, a norma não se confunde com o texto (dispositivo) normativo (um texto legal qualquer, por exemplo). O texto é um dos elementos considerados na atividade de aplicação do Direito e"criaçãò dòs direitos, que não
■"pôde desconsiderar á mutante realidade fática4?. também..como ele-, "mento integrante dia norma.
44 Por exemplo, CANOTILHO. Direito Constitucional e Tteoria da Constituição cit., p. 1143: “o recurso ao texto para se averiguar o conteúdo semântico da norma constitucional não significa a identificação entre texto e norma. Isto á assim mesmo em termos lingüísticos: o texto da norma ó o sinal lingüístico; a norma é o que se revela ou designa".
45 LUZZATI, La vaghezza delle norma etc., p. 266; GUASTINI, Ricardo. Le íonti dei diritto e 1’interprotazione. Milano: Giuffrò. 1993, pp. 21 e 4S4. Entre nós. TORRES. Ricerdo Lobo. Normas de Interpretação e integração do direito tributário. 3a edição. Rio de Janeiro: Renovar. 2000, p. 55. EROS GRAU atribui acentuada importância ao tema (GRAU. Eros. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. São Paulo: Malhelros. 2002, p. 126 e seguintes) explicando que os principios implícitos correspondem ao c.ue se usa chamar principios gerais de Direito. Btevitatis causa, reconhecendo a exisi ência de normas constitucionais implícitas no direito brasileiro, veja-se SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juri-:. 2000. p. 52.
46 MÜLLER, Métodos de trabalho do Direito Constitucional cit., p. 54.47 Sobre o ponto, GUASTINI, Ricardo. Le íonti dei diritto e 1'interpretaziono cii., pp. 17-18 e
325: ~ía norma costitulsce non 1'oggetto, ma tt nivWrttfn rieirattività íntvrpmtatr-r" Viv*- d propósito, LUZZÀii. La vaytiotza dello norme cic., p. tua fala cm interpretação como atividade e como produto da atividade (sobre essa ambigüidade processo/produto, vide WARAT, O direito e sua linguagem cit., p. 78). No m&mo sentido, TORRES, N orm i de Interpretação e integração do direito tributário cit., p. 285: "Mas a interpretação, embora se vincule ao texto da norma, nele não se deixa aprisionar, eis que o texto da norma não se confunde com a própria norma" e GRAU, Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito cit.. pp. 71-73.
48 Ou o "âmbito da norma" na construção do MÜLLER. Métodos de trabalho do Direito Constitucional cit.. p. 57: "O teor literal expressa o programa da norma, a ordem juridica
18
Introdução & Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Árvores
Mas isso - a estruturação incompleta segundo a concepção adotada neste estudo, não retira dessas figuras incompletas ou não positivadas o caráter normativo (rectius: a função normativa, o que será aprofundado no item seguinte, 1.4, ao tratar-se dos principios jurídicos).
Convém exemplificar e esclarecer alguns conceitos úteis, especialmente acerca de (i) normas aclaratórias, (ii) normas de organização e, notadamente, (iii) normas de sobre-direito.
É fácil visualizar as (i) normas aclaratórias. O Código Civil brasileiro (de 2002) estabelece que são considerados bens móveis aqueles suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia (art. 82).49 Esse dispositivo, como se vê, de per si, não estabelece nenhum efeito jurídico (isoladamente não cria nenhuma situação jurídica subjetiva), senão assume uma determinada conceituação de bem móvel. Nem por isso, segundo nosso parecer, deixa de ser uma norma jurídica ou pelo menos parte de uma norma jurídica.
Deveras, esse dispositivo complementa e esclarece o alcance de outros dispositivos jurídicos, por exemplo, das regras sobre o penhor,so as quais estabelecem realmente situações jurídicas subjetivas para os seus titulares. Diz-se, então, que aquele dispositivo tem caráter aclara- tório.51 Em verdade, a norma jurídica aplicável a um caso concreto qualquer é composta dos vários dispositivos (ou enunciados) que, integrados, estruturam o dever-ser, a prescrição de um determinado comportamento.52
Igual atenção merecem as chamadas (ii) normas de organização (chamadas por alguns de "normas de competência” e ainda de "normas de estrutura” ). É comum em doutrina53 a referência à distinção entre as normas que criam direitos para os indivíduos e as normas que
tradicionalmente assim compreendida. Pertence adicionalmente à norma, em nive) hierárquico igual, o âmbito da norma, i.e.. o recorte da realidade social da sua estrutura básica (...)". No mesmo sentido. GRAU, Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito cit.. pp. 55 e 64 (subscrevendo a lição de MÜLLER).
ia o Cód'70 Civil d » 1 °16 rtispunha exatamente nn mpçmo sentido (art. 47).50 CC 1916, art. 768. Ue igual modo, CC2U01. ari. 1.101.51 Sobre proposições jurídicas aclaratórias, veja-se I ''°ENZ. Metodologia da Ciência do
Direito cit., p. 360. Veja-se também COING. Helmut. Mementos fundamentais da F>losoGa do Direito (trad. bras. de Grundzüge der Rechtsphilosophie por Elisete Antoniukj. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor. 2002, p. 279, que fala em ‘ normas auxiliaros" (cf. a traduç&o indicada).
52 À guisa de exemplo, confira-se KELSEN, Teoria Geral do Direito e do Estado cit.. pp. 62-63.
53 Por todos, ADOME1T. Introducción a Ia teoria dei derecho cit., p. 97.
19
Flávio Galdino
regulam a organização dos poderes do Estado. Embora alguns setores doutrinários considerem tal classificação ultrapassada,54 vale aqui a referência dada a sua utilização entre nós55 e dados os debates que tem suscitado no cenário internacional.
Dispositivos como o art. 92 da Constituição Federal brasileira não estabelecem diretamente nenhuma situação jurídica subjetiva em particular. O indigitado dispositivo, tomado como exemplo, somente refere o elenco dos órgãos que compõem o Poder Judiciário da República (ou, em linguagem normativa, que devem compor tal Poder). De fato, uma norma que simplesmente dispõe sobre a organização do Estado, atribuindo poder a tais órgãos, mas, nem por isso, deixa de ser uma norma juridica.
Embora não se pretenda prolongar aqui a discussão acerca da natureza das normas de organização, fato é que na literatura especializada se discute sobre saber se essas normas implicam direitos e deveres aos órgãos administrativos e aos indivíduos em geral, teoria cuja aceitação tomaria despiciendo o debate em torno ao caráter normativo das mesmas.56 Seja como for, admite-se aqui que se trata de normas jurídicas.
O tema mais importante a esse propósito é o das chamadas (iii) normas de sobre-direito ou metanormas. Cuida-se de normas jurídicas que estabelecem critérios para a aplicação de outras normas (também jurídicas).5?
54 Brevitatís causa (com outias referências), CANOTILHO. Direito Constitucional e Teoria da Constituição cit., p. 1093, onde afirma: "É uma distinção ultrapassada (...)”.
55 Atribui a essa distinção teórica acentuado relevo em sua tese, BARROSO. Luis Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. 3* edição. Rio de Janeiro: Renovar. 1996. p. 88. Em determinada passagem esse autor identifica normas de organização e normas de sobre-direito (p. 91) o que, com todas as vênias, não nos parece adequado, pois. de acordo com as teses estabelecidas a seguir (no texto), tais normas cumprem função distinta; no máxúrib,'pode-se remetê-las a uma categoria comum (as normas secundárias), mas nunca identificá-las como se tivessem o mesmo conteúdo.
56 Sobre as normas de ■competência, confiram-se os debates específicos em COMANDUC- Cl, Paolo et GUASTINI, Ricardo. Analisi e dirícco - 1995: richerche di giurisprudenza analítica. Torino: G. Giappichelli Editore. 1995, especialmente os textos de Daniel Mendonça. José Juan Moreso, Pablo Navarro, Manuel Atienza, Juan Ruiz Maneio e Jordi Ferrer Baltrán.
57 Por todos, JACOB DOLINGER: "Acima das normas jurídicas materiais destinadas à solução dos conflitos de interesse, sobrepõem-se as regras sobre o campo de aplicação dessas normas. São as regras que compõem o chamado sobre-direito, que determinam qual norma competente na hipótese de serem potencialmente aplicáveis duas normas diferentes à mesma situação jurídica. Esta opção enue duas normas pode ocorrer com rela-
20
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
Essas normas de sobre-direito ou metanormas não possuem conteúdo material próprio, têm por objeto a atividade ou a operatividade normativa de um modo geral58 (daí porque optou-se por chamá-las normas operacionais), e especialmente, e é o que nos interessa neste estudo, dirigem a aplicação do conteúdo inserido em outras normas jurídicas (aqui designadas normas materiais).
Assim, por exemplo, a norma juridica contida no art. 2o, § 1q, da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro (LICC) não cria diretamente nenhuma situação jurídica subjetiva. Apenas regula a aplicação de outras normas jurídicas, não somente a aplicação de normas de direito civil ou mesmo de direito privado, mas de todas as normas jurídicas.
Adiante se esclarecerá que essa norma regula a aplicação das demais regras jurídicas.59 Quando uma regra jurídica legal que cria uma situação juridica subjetiva entra em vigor, qualquer uma, há de observar o aludido critério temporal de aplicação previsto no art. 2a, § Io, da LICC (ressalvada a aplicação de algum outro critério concorrente, como o critério hierárquico, por exemplo, que embora não previsto expressamente, encontra-se consagrado e previsto na legislação projetada60).
Essa é uma norma juridica de sobre-direito. Apenas regula um potencial conflito entre normas jurídicas que supostamente cuidam de determinadas matérias de modo diverso - antinomias.61 A norma jurí-
j : ção ao [ator tempo ou ao fator espaço (ou sistema)" (DOLINGER, Jacob. Direito Interna-j, cional Privado - Parte Geral. 4* edição. Rio <te Janeiro: Renovar. 1996, p. 25 ).
58 Cf. a definição de metanorma da Luzatti: "Chiamo mcieanorme Io norme che hanno per f: oggetto attività norma eive (ossia la produzione, l'abrogazione, 1‘inlerpretaziono etc.) o che f jianno per oggetto altre norme, parti di esse o te disposizioni che le esprimono. J- Ricomprendo fra le metanorme anche le norme che fanno discendere elíetti giuridici in j; refaz/ono alie previsioni di un "alua norma alia qu ale rinviano" (LUZZATI. La vaghezza
delle norme cic., p. 280).59 Daí porque o HAROLDO VALLADÃO. ao elaborar anteprojeto de lei destinada a substi-
S; ■ tuir a LICC. designou-a Lei Geral de Aplicação das Normas Jurídicas". Cf. VALLADÃO. I: Haroldo. ‘ Lei Geral de Aplicação das Normas Jurídicas". Revista Juridica (da Faculdade [’ Nacional de Direito) XIX (19S3/1964): 9-18. No mesmo sentido. MAX1MILIANO. Carlos.
Direito Intertemporal. Rio de Janeiro: Fleitas Bastos. 1946, p. 15).60 Confira-se in foco o anteprojeto de VALLADÃO. Haroldo. Lei Geral de Aplicação das
Normas Jurídicas. Rio de Janeiro. 1964 (edição oficial), pp. 17 e 49.61 LUZZATI, La vaghezza delle norme cit.. p. 281, expressamente inclui as normas que esta
belecem critérios para a solução de antinomias no rol das metanormas. Sobre as antinomias, veja-se o texto aprofundado de GUASTINI, Le (onti dei dirítto e I'interpretazione
| cit., p. 409; e também GRAU, Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação doDireito de., p. 171. Vide ainda DtNIZ, Maria Helena. Conflito de normas. São Paulo: Saraiva. 1987. passim.
21
Flávio Galdino
dica em questão (LICC, art. 2a, § lo) apresenta uxn critério temporal de solução para um conflito ocorrente entre pelo menos duas outras normas jurídicas (fala-se também, in casu, em norma de direito transitório ou em norma de direito intertemporal62).
Esse critério temporal - Iex posterior derogat priori - é indispensável à operatividade do ordenamento jurídico, pois sem ele ou algum semelhante seria possivel a ocorrência de insolúveis conflitos normativos. No Brasil, aplica-se-lhe às normas constitucionais mesmo à mingua de norma constitucional expressa (sem prejuizo de reconhecer-se que a CF regula o modo de reforma de seu texto - art. 60) e também este estudo assume a premissa de que vige entre nós a referida regra de sobre-direito e de que, mesmo que tal regra fosse inexpressa, seria presumida ou presumível.63
As normas de sobre-direito não possuem necessariamente conteúdos próprios, seus conteúdos jurídico-materiais muitas vezes são retirados das outras normas envolvidas na operação, mais precisamente: no conflito normativo. Seriam, pois, normas-vazias. Como já se disse, de sua aplicação não se retira diretamente a justiça material do caso concreto, mas apenas a solução de um real ou potencial problema normativo64 (seriam, pois, materialmente neutras65).
62 Carlos Maximttiano dá preferência à expressão direito intertemporal (MAXIMILIANO Direito Intertemporal cit.. p. 8). De nossa parte, para os fins deste estudo, tomamos como fungíveis as expressões direito transitório, direito intertemporal. teoria da retroa- tividade das leis e teoria dos direitos adquiridos, quo, de alguma forma, designam o mesmo fenômeno.
63 A liter, sustentando não ser possivel presumir tal norma de sobre-direito e afirmando a insolubilidade do conflito na ausência de norma expressa. KELSEN, Hans. Teoria Geral das Normas (trad. bras. de Allgemeine Theorie derNormen por José Florentino Duarte). Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 1986. pp. 161-163. Seja como for. o autor assume que tais critérios de solução de conflitos são normas. Entre nós, alinhando-se com KELSEN, vide BORGES, José Souto Maior. Obrigação TVibuiária (uma introdução metodológica) TA edição. São Paulo: Maihelros. 1999, pp. 124-125.
64 FERRER CORREIA. A. Conflitos de leis. Separata do Boletim do Ministério da Juviça, n 136: Lisboa. 1964 {6.~ K p 37. ~A estatuiçáo da norma de conflitos traduz-se numa conseqüência jurídica sui generis, que não consiste em definir a justiça material de um caso. em dirimir um certo conflito de interesses privados, mas antes em dirimir um conflito de leis (...) Esta estataição sui çreneris há de corresponder a um problema normativo e a uma hipótese legal também sui generis'.
65 RAMOS. Rui Manuel Gens de Moura. Direito Internacional Privado e Constituição - uma introdução a uma análise de suas relações. Coimbra: Coimbra Editora. 1994, p. 9: "(...) constituído por comandos materialmente neutros, assentes em quadros formais e intem- porais (...)
22
Introdução à Tboria dos Custos dos Diieiios - Direitos Não Nascem cm Árvores
Mas, nem por isso, repita-se mais uma vez, as normas de sobre- direito ou metanormas66 deixam de ser tratadas como verdadeiras normas jurídicas.
A essas e outras normas a doutrina especializada chama de normas de sobre-direito67 precisamente por estarem destinadas a regularo próprio direito - de modo que estarão sobre o direito68 (Uberrecht, conforme a expressão alemã).
Mesmo estabelecidas sobre o direito, reconhece-lhes a doutrina caráter jurídico, de normas jurídicas (cogentes inclusive, e eventualmente de matriz constitucional6 ).
É o que ocorre também com normas de direito internacional privado70 destinadas à solução de conflitos quanto à lei aplicável a determi-
G6 RICARDO GUASTINI fala em metanormas: “Se dicono mata norme. norme su norme, o norma secondarie, cutte quello norme che íanno riíerimento ad alue nom e: dunquu, sutis <juelle norme nelle cai /ormu/azjo/ie compare (o è souinceso) il nome di una o piu disposio- ni, di una fonte, o dl una classe di íonti" (GUASTINI. Ricardo. II giudice e Ia leggo. Totino: G.Giapichelli editora. 199S. p. 67). RICARDO LOBO TORRES (Normas de interpretação e integração do Direito Tributário de., p. 2) fala em sobrénermas.
67 Fbnte que goza da mais elevada confiança atribui a formulação original a ZITELMANN: As regras de direito substancial são criadoras imediatas de situações juridicas. Distin- guem-se daquelas que ERNST ZITELMANN chamava uberrecht e chamamos, há mais de trinta o três anos, “sobredireito" e “sudroit" (PONTES DE MIRANDA. "Direito supra- estatal, direito Interestatal. direito intra-estatal e sobredireito". In AA.W . Estudos jurídicos em homenagem ao Professor Oscar Ttenório. Rio de Janeiro: UERJ. 1977. pp. 457-467. esp. p. 458).
68 Prossegue PONTES DE MIRANDA: "A palavra portuguesa que melhor traduz uberrecht é "sobredireito". Não se trata de direito superlativo, de direito hipertrofiado . a que serviria, com mais exatidão, a expressão "superdireito”; mas de diteítn que está sobre outro direito, que dita regras a outro direito, que é direito sobre direito. Ibdavia. nós mesnios adotáramos, a principio, “superdireito". em vez de “sobredireito". por existência do ouvido. em língua portuguesa, e surdroit, em língua francesa. Posteriormente, corrigimos para "sobredireito’’, por nos parecer, ainda a tempo, de mais própria expressão" (PONTES DE MIRANDA. "Direito supra-estatal, direito intetestatal, direito intra-estatal e sobredireito' cit., p. 458).
69 E pontifica: "A noção de sobredireito constitui, hoje em dia. precioso informe técnico. Tbmos de põ-lo no direito público, ainda quando seja privado o direito que constitui o objeto do seu reyramemo. (...) Lou.uu-se de direito constitucional esse principio, ao mesmo tempo que se transformava em regra juridica cogente o que, no direito internacional ordinário, sói aparecer como regra de direito de interpretação" (PONTES DE MIRANDA. “Direito supra-estatal, direito interestatal, direito intra-estatal e sobredireito" cít., p. 458).
70 RAMOS, Direito Internacional Privado e Constituição - uma introdução a uma análise de suas relações cit., p. 27: “(...) o DIP surge-nos assim como direito de aplicação do direito {ftechtsanwendungsrecht) que, na medida em que aparece a traçar a esteia de aplicabilidade das ordens juridicas (...)”.
23
Flávio Galdino
□ada situação concreta, e não se encontra quem sustente que as normas deste ramo do direito não seriam normas jurídicas.
Sendo pacífico entre os especialistas que se trata de normas jurídicas. a discussão versaria sobre saber se são normas de direito interno ou direito internacional, de direito público ou privado7' etc. Mas, de qualquer forma, são tidas e havidas como normas jurídicas.
Na verdade, no terreno do direito internacional privado cuida-se até de conflitos entre as próprias normas estabelecidas para solver os conflitos - que seriam então conflitos de segundo grau - e os respectivos critérios de solução também podem ser designados como normas jurídicas.
Na verdade, essas normas de sobre-direito são jurídicas. São normas jurídicas secundárias, segundo a conhecida classificação das normas de um sistema jurídico complexo em (i) normas jurídicas primárias e (ii) normas jurídicas secundárias.72
Cuida-se de classificação útil aqui, que pode ser sinteticamente expressa nos seguintes termos:<—
(i) primárias são as normas jurídicas que regulam a conduta das ■pessoas, prescrevem comportamentos e, prmclpãlmehte, estabelecem situações jurídicas subjetivas;
(ii) secundárias são'ãquêías que não estüEêlêcem diretamente situações jurídicas subjetivas, mas criam condições para a oge- ração das normas^primárias, identificando-se, dentre outras,
> as normas que regulam o modo de produzir outras normas.
U-"71 VALLADÃO, Haroldo. A devolução nos conflitos sobre a lei pessoal. São Paulo: RT 1939.
pp. 35 e 66.72 CL HART. O conceito de Diieito cit., p. 89 e seguintes. Segundo Antonio Maia, teiia sido
esta uma das grandes contribuições de HART à ciência do Direito (cf. MAIA, Antonio. “Considerações introdutórias*. In STRUCH1NER, Direito e linguagem cit.). Cuida-se de classificação de reconhecida utilidade; assim. BOBBIO, Norberto. Verbete "Norma giuri- dicn". Ia BOBBIO, Norberto. Contributi ad un dizionario giuridlco. Torino: G. Giappichelli eüuore. 1994. pp. 215-232. esp. p. 230; e ainda. LUM1A. Giuseppe. Elementos de Teoria e Ideologia do Direito (trad. bras. de Elementí di teoria e ideologia dei diritto por Denise Agostinetti). São Paulo: Martins Fontes. 2003. p. 53. Sobre tais normas secundárias, em interessante correlação com as normas de direitos fundamentais, PECES-BARBA. Curso do Derechos Fbndamcntales cie., pp. 354 e 371 et alli. Recomenda-se cautela ao leitor pois essas expressões não raio são utilizadas com significado diverso: por exemplo em KELSEN. Teoria Geral das Normas cit., p. 68. LUZZATTI, La vaghezta delle norme cit.. p. 282, anota que não há correspondência precisa entre o conceito de metanormas e as normas secundárias visualizadas por HART (discussão que transcende o objeto do presente estudo).
Introdução à Tteoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
Rotineiramente, incluem-se entre as normas juridicas secundárias as normas sancionatórias,?3 as normas de sobre-direito (também chamadas rules o f change,74 norme de mutamento ou normas sobre a produção jurídica - norme suUa produzione giuridica?S) e, ainda, segundo alguns, as normas de organização ou competência, referidas anteriormente, e até mesmo as normas de direito processual, em razão do seu caráter instrumental.76 Secundárias ou não, são normas jurídicas.
Neste sentido, é possível concluir, também (i) as normas aclaratórias, (ii) as chamadas normas de organização e (iii) as normas de aplicação stricto sensu (ou de sobre-direito) são normas jurídicas.
Embora eventualmente determinados dispositivos não criem diretamente situações jurídicas subjetivas, eles, de um modo ou de outro, fornecem condições de aplicação das demais normas (aqui chamadas materiais), reconhecendo-se-lhes também função normativa (no sentido de que participam da operação da qual são extraídas as situações). Serão realmente metanormas (com função normativa, pelo menos, indireta).
Esclarecida a idéia de função normativa adotada no presente trabalho, passa-se a estudar as categorias ou espécies de normas jurídicas. Agora há pouco distinguiu-se as normas jurídicas segundo a aptidão para a criação direta de situações juridicas (normas jurídicas primárias e secundárias). Importa agora destacar outra distinção, a saber, as normas-regras e as normas-principios.
Sèm embargo da "abundante produção acadêmica a propósito e talvez mesmo em razão disso, o conceito de principio jurídico é dos mais complexos da ciência do Direito contemporâneo, atribuindo-se- lhe vários significados.77
73 BOBBIO, Noiberto. Verbete “Sanzione'. In BOBBIO, Norberto. Contributi ad un dizionario giurídico. Tbrino: C. Ciappichelli editore. 1994, pp. 307-333, esp. p. 308; GUASTINI. Bgiu- dice e Ia legge cit., p. 67.
74 Ou regras de alteração; HART, O conceito de Direito cit., p. 105. José Eduardo Faria, em caiáter instrumental e sem discorrer sobre o tema especificamente, fala em normas de mudança, de reconhecimento e de decisão - FARIA, José Eduardo. O Direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros. 2000, p. 130.
75 BOBBIO, Noiberto. Vetbete "Norme secondar/o". In BOBBIO, Norberto. Còntriburi ad un dizionario giurídico. Ibrino: G. Ciappichelli editote. 1994. pp. 233-243, esp. p. 238. Vide ainda GUASTINI. "In tema di norme sulia produzione giuridica '. cit.. pp. 29 e seguintes.
76 Neste sentido, D1NAMARCO. Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Volume I. Sáo Paulo: MaUieiios. 2001, p. 68.
77 GENARO CARRIÓ enuncia, em caiáter não exaustivo, sete focos de significação dos princípios, vinculando a eles mais onze significados da expressão principios juridicos. usual-
Flãvio Galdino
A propósito, e convém enfatizá-lo, mais uma vez a polissemia da expressão conduz a indesejável confusão, pois, como é cediço, em ciência faz-se mister a precisão conceituai em máxima escala possivel. Surge, pois, a necessidade de precisai o significado que se atribui à expressão princípio no presente estudo, já se sabendo de antemão que se reconhece caráter normativo aos princípios.
1.3. A função normativa
No atual cenário do pensamento jurídico brasileiro, parece correto afirmar que os princípios são normas jurídicas. São espécies de normas juridicas. Mas isso não explica muita coisa.
Cumpre advertir ainda uma vez que esta parte preliminar do estudo visa apenas demonstrar que os direitos fundamentais devem hoje ser entendidos como princípiosTS èssá demonstração inclui também a
"verificação de que, assim entendidos, os principios cumprem função normativa, eventualmente criando situações jurídicas subjetivas para
nSsTrespêctivòs destinatários.Na verdade, princípios já foram e eventualmente continuam sendo
assemelhados a várias outras figuras correlatas, como sejam funda- mentos,78 valores, finalidades etc.
r~ Sendo o Direito em si mesmo orientado por valores, natural queI também os principios sejam orientados por valores. Mas, de modo1 algum, os princípios se confundem com os valores dos quais defluem e j que os orientam. Os valores encontram-se no plano axiológico e os prin-1 cípios no plano deontológico.TO
Cumpre também afastar uma confusão verificada com certa freqüência. Embora esta seja uma de suas acepções mais comuns,80 os
mente considerados nos textos juridicos. Interessam-nos apenas algumas dessas funções (CARRIÓ, Genaro. Princípios juridicos y positivismo juridico. Buenos Aires: Abledo Perrot. 1970, esp. pp. 33-34 e seguintes).
78 È bastante comum a referência a principios como fnMamenter í - t ..irn — ••<•' Cv «■: (ii?? r, ra ; .oyías,. ‘.V-ja-se a definição de LUZZATI, La vaghezza delle norme cit., p. 262: “Netta strutura dei sistemi giurídici i prínclpi sono quelle norme che v» .gor.o con- siderate dal legislatore, dnlla doterina e/o dalla giurisprudenza como il fonda.r.tnto dí un insieme di altru norme giá emanato o da emanam" Vide ainda GUASTINI. Le tontí dei dirítto e 1'interpretaziona cit., pp. 43 e 448 (onde ressalta as várias nuances que a referência a fundamentos pode denotar).
79 Por todos. ÁVILA, "A distinção entre princípios o regras e a redefinição do dever de proporcionalidade" cit., p. 40.
80 CARRIÓ, Principios juridicos cit., p. 35.
26
Introdução & Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
princípios não devem ser confundidos com os fins das normas. Os escopos das normas jurídicas indicam um estado fático ou jurídico almejado pela estatuiçáo delas (uma situação - um ser). Não se confundem, portanto, a norma (o dever-ser) e a finalidade almejada com a sua pro-mulgação.si
Nestes termos, é preciso deixar claro que os principios juridicos í estabelecem alguns objetivos (fins) do ordenamento jurídico, sem ■ espec ifica rem conTprecisão os meios que serão utiiizados para o seu1 alcance, isto é, sem prescreverem precisamente os comportamentos \ dos destinatários. Objetiva-se alcançar um determinado “estado de
coisas", cabendo aos aplicadores a identificação dos meios mais ade-i qúàdos paia alcançá-lo.
" Assim, por exemplo, quando a Constituição Federal estabelece o princípio da impessoalidade no exercício da administração pública (CF, art. 37. caput e incisos), identifica um estado de coisas a ser atingido pela comunidade, em especial pelos administradores da coisa pública, no qual os atos administrativos sejam praticados sem qualquer favore- cimento de índole pessoal.
Só que a norma-princípio, embora identifique alguns procedimentos de molde a resguardar a impessoalidade, como concursos públicos, licitações, v.g., não os estabelece com precisão, deixando ao legislador
Tnfricõnstitucional larga margem para atuar de molde a alcançar a finalidade (o tal "estado de coisas”) prescrita na norma. Com isso, o princípio em questão deixa também impreciso o rol de situações juridicas a serem reconhecidas como decorrentes dele. desenvolvendo-se larga produção jurisprudencial de molde a construir a noção de impessoalidade (v.g., em tema de licitações, de quebra na ordem de pagamentos de títulos públicos, de violação da ordem de classificação em concursos públicos etc.).82
Todavia, essa “imprecisão" não subtrai normatividade aos princípios (isto é, não lhes retira a capacidade de criarem situações juridicas subjetivas). Com efeito, prosseguindo com o exemplo, também com base no princípio da impessoalidade é possível anular atos administra-tlVOíi Ci6.iü. ■ üS.
81 Corroto ÁVILA. “A distinção entre principios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade" cit- p. 40.
82 Sobre o princípio da impessoalidade, com amplas referências jurisprudenciais, vide o estudo de ZAGO. Livia Maria Armentano Koenigsicin. O principic ia impessoalidade. Rio de Janeiro: Renovar. 2001.
27
< s> Flávio Galdino
De fato, essa normatividade dos princípios juridicos pode parecer algo perfeitamente sustentável hoje, e realmente o vem sendo, mas, certamente, nem sempre foi assim, pois reconhecia-se aos princípios juridicos outras funções.83 Esse tema demanda breve análise histórico*ideológica.8'» -------
Com efeito, até bem pouco tempo atrás, também no direito brasileiro, os princípios juridicos, no contexto de várias outras premissas teóricas e metodológicas de que não cabe cuidar aqui, cumpriam uma função pouco expressiva sob o prisma normativo propriamente dito (de criação de situações jurídicas subjetivas), qual seja, a (i) função inter- pretativa (ou hermenêutica85). Cabe desde logo registrar que, a~despêi: 't'o“dcTs' novos papéis áfriBuidos aos principios, eles mantiveram a função interpretativa como uma de suas facetas - cuja relevância não se deve menoscabar: é uma função muito importante.
Tendo em vista a prevalência de uma determinada concepção teórica sobre o próprio Direito e seu funcionamento, chamou-se esse período - no que concerne aos princípios - de 'Jase jusnaturalista’’ ,85 em que os princípios restavam carentes de normatividade propriamente dita: ou seja, não seria possível extrair sítuaçpes.iundicasjsubjetivas deprincípios. — " " ..... ‘ ”
Dado reconhecer-se-lhes baixa densidade normativa, os principios jurídicos destinavam-se tão-somente a orientar a interpretação das regras positivadas, até porque, não raro vivia-se na crença de que os princípios deveriam necessariamente ser extraídos por abstração do conjunto das regras positivadas, não sendo, portanto, diretamente apli
83
84
85
86
Sobre as funções reconhecidas aos principios. veja-se BARCELLOS. Ana Paula. A eficácia juridica dos principios constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar. 2002. pp. 59 e seguintes.No que concerne & evolução histórica da noção de princípio, dentre outros, o estudo vale- se especialmente das considerações de BELADIEZ ROJO. Margarita. Los principios jurídicos. Madrid: 1)10005. 1997, pp. 18 e seguintes; entre nós. BONAVtDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros. 1996, p. 232. Uma primeira versão (abreviada) djssa digressão acerca da evolução teórica dos princípios (que aqui tentou-se aperfeiçoar) foi dada a público noutro ensaio do autor: GALDINO, Flavio. "O novo art. 1.211 do CPC: a prioridade de processamento concedida ao idoso e a celeridade processual'. Arquivos de Direitos Humanos. Vol. 4:524 - 576, esp. pp. 552 e seguintes.NELSON SALDANHA expressa convicção próxima: SALDANHA, Filosofia do Direito c/t., p. 201: *Por outro lado, princípios não são normas, embora sua presença, no âmbito da realidade jurídica, se explique em função das normas: eles fundam e informam o surgimento delas (...) Diríamos que os princípios, diversamente das normas e dos valores, são uma construção hermenêutica".BELADIEZ ROJO, Los principios jurídicos cit.. p. 18; BONAVIDES. Curso de Direito Constitucional cit.. p. 232.
28
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Náo Nascem em Árvores
cáveis às situações concretas. Falou-se a esse propósito em desentra- nhamento dos princípios a partir das regras.87
Sintomático observar que diversas obras que expressam esse posicionamento, embora nomeadas em tom principiológico, sequer façam referências a princípios (normativos) em seu conteúdo, tornando a expressão princípio quase sinônima de instituto.88 Certo é que a evolução teórica acerca dos princípios não lhes retirou essa função hermenêutica (consoante acentuado anteriormente).
Em um segundo momento, já se reconhecia aos princípios a possibilidade de aplicação direta aos fatos, mas em caráter excepcional, em(ii) função integrativa (ou normativa supletiva89). Entendia-se que os principios põisuíam aplicação meramente subsidiária, isto é, somente na ausência de regra'perfeita90 expressamente positivada (na presença da chamada lacuna), deveria o aplicador recorrer ao princípio jurídico, a esta altura, referido ainda como princípio geral de direito.
Esta é a base teórica subjacente, por exemplo, ao disposto no art. 4q da LICC (de 1942) e no art. 126 do CPC (de 1973), que expressa a chamada fase positivista91 do estudo dos princípios, a qual, sem embargo da designação, é compartilhada por autores insuspeitos de serem pejorativamente referidos como positivistas.92
Nesse modelo jurídico, ao menos enquanto idealizado, as situações jurídicas subjetivas somente poderiam ser extraídas de normas jurídicas que contivessem os perfeitos contornos das conseqüências jurídicas advindas dessa incidência, ao lado da previsão hipotética da situação fática sobre a qual incidiriam. Em suma: somente as regras jurídi
87 A expressão é de SALDANHA. Nelson. Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Renovar. 1998. p. 145. Vide aJnda CARRIÓ, Principios juridicos cit., pp. 35, 39 e seguintes e a definição atual de LUZZATI, La vaghezza delle norme cit.. p. 262.
88 Assim, por exemplo, PINTO FERREIRA. Luis. Principios Gerais do Direito Constitucional Moderno. 5* edição. São Paulo: RT. 1971.
89 Sobre o tema. por todos, ZAGREBELSKY. Gustavo. 0 dirilto mite. Tbrino: Einaudi. 1992, pp. 158-159 e também BELADIEZ ROJO. Los principios juridicos cit.. p. 22.
90 Entende-se por perfeita, aqui, por razão de simplicidade, a regra que delimita com precisão os seus pressupostos de aplicação e os seus efeitos, delienando com a precisão necessária os comportamentos dela derivados a serem observados pelos destinatários..
91 Ainda BONAVIDES. Curso de Direito Constitucional cit.. p. 235.92 De fato, insuspeito de pejorativo positivismo, José Eduardo Faria, ao listar quatro funções
dos principios (interpretatwa, integradora. diretiva e unificadora), não enuncia função normativa ou semelhante (servindo-se da expressão “diretiva" com outra conotação, cf, FARIA, José Eduardo et KUNZ, Rolf. Qual o futuro dos direitos? Sáo Paulo: Max Limonad. 2002, p. 77).
29
Flávio Galdino
cas93 criariam situações juridicas subjetivas exigíveis para os indivíduos; não os princípios, que normalmente não ostentam essa estrutura especifica bem detalhada quanto às premissas e conseqüências (que consubstancia um modo de diferenciar regras e principios, consoante o grau de abstração da norma, a que se retornará adiante, item 1.4).
Na época corrente, superados alguns postulados positivistas - daí porque a fase é referida em sede doutrinária como pós-positivista94 - logrou-se“ilaborar, notadamente a partir do reconhecimento dãforça nor- mativa das normas~constitucíonais,95 tradicionalmente editadas através
"Qe principios. que também estes uitimós pôtiiirnpõssuir função normativa, ou seja, permitem a extração de situações juridicas subjetivas em
"caráter princípiTe direto (e não mais meramente subsidiário e indireto).^ Essa normatividade ou força normativa - aptidão para criação de
situações juridicas subjetivas - assume relevo destacado no que con- cerne aos direitos fundamentaisT^ms^mente"em razão deles que a i constituições contemporâneas adquirem tal força normativa.
A esta função usa-se chamar aqui (iii) função normativa (autôno- ma) dos p rin c íp io s que se caracteriza por estabelecer que uma cõiiã clevé ser de uma forma determinada (em fórmula simples: um dever- ser), criando situações juridicas subjetivas.
Com efeito, a partir de obras fundamentais que vêm exercendo enorme influência no pensamento jurídico brasileiro - dentre as quais destacam-se aqui, à guisa de exemplo, as de KARL LARENZ,96 CLAUS- WILHELM CANARIS, RONALD DWORKtN e ROBERT ALEXY97 - pas-
93 Expressão que deve ser entendida com o tradicional grão de sal. De toda sorte a determinação é elemento essencial na própria definição da regra. Assim. ÁVILA. “A distinção entro princípios o regras...' cie., p. 43: "As regras podem ser definidas como normas que estabelecem indiretamente fins. para cuja concretização estabelecem com maior exatidão qual o comportamento devido No mesmo sentido. ZAGREBELSKY. II diritta mito cie., p. 149.
94 BONAVIDES. Curso de Direito Constitucional de., p. 237.95 Sobre o tema, ainda uma vez, o texto fundamental de HESSE, Kònrad. La ftrerza norma
tiva de Ia Constitución (trad. espanhola de Dio normative Kraft der Verfassung, por Pedro Cruz Villalon).//! Escritos de dcrochoconstitucionaí. 2a ed .MadríH CPr- 1?92 C5-78.
96 Dostaone-so oo' mu1! : ..., -:i ,'_\RL LARENZ não reconhecia força normativa aos principios (LARENZ. Metodologia da Ciência do Direito cit., p. 539: “(...) enquanto principios não são regras imediatamente aplicáveis aos casos conrretos. >ias idéias directrizes Ainda assim é de justiça indicá-lo aqui mercê de sua grandiosa contribuição sobre o tema. Do mesmo autor, veja-se ainda LARENZ. Karl. Derecho Justo - FUndamtmtos da ética Juridica (trad. de Richtiges fíecht - Grundzüge einer Rechtsethik por Luls Dioz-Picazo). Madrid: Civitas. 1991.
97 Cf. CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do Direito (trad. port. de Systomdenken und Systembegrilí in der Jurisprudez. por A. Me-
r
i
lntroduçáo & IfeQria dos Custos dos Direitos - Direitos Náo Nascem em Arvores
s o u -se a reconhecer aberta e fundamentadamente função normativa aos principios.
Em termos singelos, principios sáo normas jurídicas que estabelecem fins (determinados "estados de coisas") a serem atingidos pelos respectivos destinatários sem especificarem com precisão os comportamentos (os meios) a serem observados.
j r * 1i L Sem prejuizo disso, não se pode dizer que os princípios não exer-í- i:
31
çem função normativa, isto é, que eles estão impedidos de criar situa- ^ ções jurídicas subjetivas (mantida ainda a sua função hermenêutica, Iisto é, de orientação da leitura das demais normas jurídicas, sejam elas f regras ou mesmo outros princípios). (f
Um bom exemplo dessa evolução se vê com o princípio da boa-fé I (análise aqui restrita ao direito privado, especificamente obrigacional).Historicamente desenvolvida a partir de uma noção subjetiva, a boa-fé (fsofre uma metamorfose conceituai revelando caracteres objetivos. JDemais disso, em um primeiro momento, a boa-fé cumpria função her- * jmenêutico-integradora, servindo como recurso para a interpretação fie- Çxibilizadora da vontade das partes, bem como para a integração de ^lacunas legais.98 * j
Em um segundo momento, a exigência de observância do princí- ^pio da boa-fé^objetiva provoca substanciais alterações no sistema juri- ^ dico, eis^que impõe às partes deyeres de adoção de determinados com- |portamentos, cujo descumprimento pode caracterizârlnadímplementôT' C
"é"ainda limitações ao exercício dos direitos, investindo determinados ^ *titulares em situações juridicas subjetivas - uma parte na relação obri- | gacional pode possuir direito à resolução do negócio em caso de descumprimento de um determinado dever acessório de conduta, como
\ seja, por exemplo, um dever de informação.99i.
nczcs Cordeiro). Lisboa: FUndaçáo Calouste Gulbenkian. 1989. ALEXY. Robeit. Teoria de vlos derechos fxnftr.mvatBlz: ei* DV/Orin?*. "onald. Tak irj 'iqfr’r ^r:~isiy - ■Harvard University Press. 1977. Sobre a evolução do conceito e sobre o próprio conceito de principio, nâo è possivel deixar do referir ÁVILA. Tteoria dos Principios cit.. passim. ,esp. pp. 70 e 119 (conceito de principio). 't .
98 Consoante a lição de MAKTINS-COSTA. Judith. A boa-fé no direito privado. São Paulo:RT. 1999. p. 428 e seguintes, declaradamente inspirada nas lições de Clóvis do Couto e * .Silva (a quem. com justiça, a obra é dedicada). g
99 Conforme, ainda, MAKnNS-COSTA. A boa-fé no direito privado cit.. pp. 438. 439. 455,517 et passim. A autora adrnito expressamente a força normativa do principio da boa-fé ^ '(vez que insertado em uma cláusula geral).
Flávio Galdino
Assim, o principio da boa-fé, que antes cumpria função hermenêu- tica-integradora, passa à cumprir função normativa - no sentido de criar situações jurídicas subjetivas (em termos diretos: o principio da boa-fé objetiva possui aptidão para criar direitos). Exemplos como esse multiplicam-se...
Princípios, como se vem de afirmar, são normas juridicas. De acordo com a concepção adotada neste estudo, são espécies de normas juridicas, perfeitamente aptas para a criação de situações jurídicas subjetivas para os seus destinatários.
1.4. Estrutura das normas: regras e princípios
Como visto, o ordenamento jurídico espelha os valores adotados pela sociedade, valores que não permitem expressão direta em linguagem normativa e são concretizados através de normas jurídicas.
Princípios ejregras são normas juridicas que concretizam valores socialmente reievantes. Em uma escala, os princípios juridicos seriam a primeira etapa da concretização dos valores (aqui já expressos em linguagem normativa), mas com eles não se confundem. Já as regras juridicas concretizariam com maior precisão normativa esses valores.100
Convém exemplificar. No campo do Direito Financeiro (e TYibu- tário) - como aliás, no Direito em geral - reconhece-se a justiça como valor fundante, neste caso, a justiça financeira.101 Sendo impossível traduzir a abstração ideal da justiça em linguagem normativa, esse valor é parcialmente concretizado através de diversos princípios, como seja o princípio da capacidade contributiva, que, por sua vez, assume específica concretização em relação a determinados tributos através de regras jurídicas (como o imposto de renda, CF, art. 153, § 2o, I).
Avaliar o grau de abstração das normas - notadamente em relação aos comportamentos a serem adotados para o atingimento de determi-
100 Sobre o tema, SALDANHA, Nelson. Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Renovar. 1998, p. " V. "A referência a principios gerais diz respeito de certo modo a algo que se acha eotte os valores juridicos e a positividade das normas" (relembrando-se que este autor não reconhece normatividade aos principios e, o que aqui se chama de regras, ele chama de normas). No mesmo sentido, TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro. 4* edição. Rio de Janeiro: Renovar. 1997, p. 79: "Os principios (...) estão a meio passo entre os valores e as normas na escala de concretização do direito e com eles nào se confundem. Timibóm EROS GRAU afirma: “as regras são aplicações dos princípios'' (GRAU, Ensaio sobre a interpretação/aplicação do direito cit., p. 178).
101 Esse exemplo e outros em TORRES, Curso de Direito Financeiro cit.. pp. 78 e seguintes.
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
nadas finalidades - é um dos modos de diferenciá-las, especialmente no que diz respeito à distinção entre regras jurídicas e princípios jurídicos. Todavia, este não é o único. Em doutrina especializada os auto- tes esmeram-se em identificar vários outros critérios de diferenciação, como sejam o caráter normogênico dos princípios {que funcionam como fundamentos de regras deles extraídas) e outros.1
possivelmente mais interessante do que os critérios em si mesmos (alguns deles de utilidade duvidosa), tem sido o esforço consistente em se verificar distinções fortes e fracas entre princípios e regras. A diferenciação é forte ou fraca conforme aponte ou nâo distinção de ordem lógica ou substancial entre ambas as figuras.103
Para os autores que defendem distinção fraca entre princípios e regras, inexiste diferença substancial entre as figuras, sendo possível até que a mesma norma funcione ora como regra ora como princípio, decidindo-se o aplicador pelo modus operandi apenas no momento de interpretar/aplicar a norma.104 Já para outros autores, há aspectos substanciais que diferenciam regras e princípios, notadamente de ordem lógica. 105 De nossa parte, parece claro o que existe de comum entre princípios e regras (o caráter normativo) é muitó mais relevante dò que as eventuais diferenças, que são expostas á~s^guiFapenàirpara
"fins dêlíõmpíêênsãõdõfenõmeno normativo.Este estudo assume como premissa, conhecendo as criticas que
sobre ele recaem,106 mas sem maiores discussões que seriam incabí- veis aqui, um determinado critério de distinção entre principios e
102 Confira-se o elenco não exaustivo (vinte e quatro critérios distintivos) elaborado por VIGO, Los principios juridicos cit., pp. 9 e seguintes. Vide ainda ESPÍNDOLA. Ruy Samuel. Conceito de principios constitucionais. São Paulo: RT. 1999. Com a profundidade necessária ao tema. mas incompatível com o escopo do presente estudo, confira-se a contribuição de ÁVILA, Iteoria dos principios cit., pp. 26 e seguintes, em tom critico às distinções tradicionais.
103 Vide ainda uma vez. VIGO, Los principios juridicos cit., passim. Entre nós, PEREIRA, Jane , Reis Gonçalves et SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas dá- ‘A estrutura normativa dasnormas constitucionais - Notas sobre a distinção entre princípios e regras". In PEIXINHO, Manoel Messias et alli (orgs.). Os principios da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2001, pp. 1-24.
104 PRIETO SANCHfS, Luís. Ley, principios, derechos. Madrid: Dykinson. 1998. pp. SI e seguintes. Entre nós, de acordo com a distinção fraca (mesclando, porém, caracteres que balizam distinção forte), GRAU, Ensaio sobre a interpretação/aplicação do direito cit., p. 167.
105 Srevitatis ca usa, DWORKIN. Tòking rights seriousiy cit., pp. 24 e seguintes. Entre nós. ainda uma vez, as referências constantes de GRAU, Ensaio sobre a interpretação/aplicação do direito cit., passim. )
106 AVILA, Teoria dos princípios cit., pp. 26 e seguintes, esp. p. 43.
33
Flávio Galdino
regras, sugerindo uma diferenciação de ordem lógica no que concerne à aplicação dessas figuras normativas, que pode ser assim exposta:
/ (1) a categoria normativa compreende regras e princípios,/íi (2) entendidas as regras como
(i) mandados SeSnitivos que operam(ii) preponderantemente na dimensão ou plano de validade (ali-
| or-nothing) por meio de subsunção e através dej (iii) critérios de exclusão| i. superioridade (lex superior derogàt inferior),! ii. anterioridade (lex posterior derogat priori) e| iii. especialidade {lex specialis derogat generali),107i (3) e os princípios como
(i) mandados para serem otim izados,^ que operam em uma | (ii) dimensão de peso através de | (iii) critérios de ponderação ou balanceamento, 109 j
Princípios, nesta concepção de otimização e ponderação, obrigam que um determinado estado de coisas seja realizado na maior medida possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas. Noutras palavras, os princípios expressariam e determinariam condutas prima
107 Sobre critérios de solução de antinomias. ALEXY. Tboría de los derechos fundamenta- los cit., p. 88; BOBBIO, Teoria do Ordenamento Jurídico cic.. p. 92: LUMIA. Elementos de teoria e ideologia do direito cit., p. 86) e DIN1Z, Conflito de normas cit., passim e p.53 (especialmente sobre conflitos entre as critérios de solução de conflitos através do metacritérfos). Sem maiores discussões incabiveis aqui, registre-se que o critério da especialidade apresenta uma situação em que, após o conflito e respectiva solução, ambas as normas continuam válidas no ordenamento jurídico, a exemplo do que ocorre com os princípios.
108 ALEXY. Robert. "On tho structure of legal principies', in Ratio Iuris 13 (?000): 294 - 304. i~ 3U.. livorsajnemu daquilo («ue constava i«i sua teoria aos Uiieiios fundamentais (ALEXY, Tbor/a de los derechos fundamenta/os cit.. p. 86). onde se referia a comandos de otím/zaçáo.
109 Sobre o tema, os indispensáveis DWORK1N. Taking rights seriously cit., p. 24 et passim, o ALEXY, Tboría de los derechos fundamentales cit., p. 81 e seguintes. Entre nós, GRAU, Eros Roberto. A Oídom Econômica na Constituição de 1988. 6a edição. São Paulo: Malheíros. 2001, p. 99 (referindo expressamente DWORK1N). Sobre a ponderação, confira-se SARMENTO. A ponderação de interesses na Constituição Federal c/t., passim. E, ainda, GOUVÊA, Marcos Maselli. O controle judicial das omissões legislativas. Rio de Janeiro: Fbrense. 2003, pp. 102 e seguintes.
34
Introdução & Tooria dos Custos dos Direitos - Direitos N&o Nascem em Árvores
I facie, cuja realização depende das possibilidades jurídicas (pondera- ; ção com outros princípios) e fáticas.110'■— Esse modo de ver aqui assumido não é dotado de pacificidade
entre os estudiosos (por evidentel). Assim, por exemplo, em excelente companhia, é possível sustentar que, ao lado dos princípios, também as regras são passíveis de ponderação.111 No presente estudo, em que tais questões são abordadas com caráter meramente instrumental (no sentido de permitir algumas conclusões futuras), essa discussão mais aprofundada é inadequada.
Aplicando-se aos direitos fundamentais as noções até aqui expos- | tas, é possivel o reconhecimento de que os direitos fundamentais con- | sistem em normas, pre^nrònantementejBstn i ti)rarias em- forma de,1 "princípios, e ainda~que as colisões de direitos fundamentais são solu
cionadas através de ponHiraçao entre esses princípios fundamentais.\ Ainda com bãse ’ nãs~cõnsidérações precedentes, entèride-se~os
principios jurídicos iusfundamentais, ao lado das regras jurídicas, como normas jurídicas, ambos permitindo a extração direta de situações jurídicas subjetivas para os indivíduos (rectius: para os destinatários).
1.5. Conflitos valorativos e normativos
Na verdade, a estruturação dos direitos fundamentais em forma de princípios permite uma aplicação mais adequada desses direitos, cujos contornos encontram-se em permanente construção. Isso porque, ao contrário de ser excepcional, o conflito entre as normas de direitos fundamentais é bastante comum.
110 ALEXY, 7toría de los derechos fundamentales cit.. pp. 86, 98 et passim. Essas possibilidades fáticas, malgrado as objeções formuladas pelo autor (ALEXY. op. cit., p. 77). podem ser equiparadas, grosso modo, ao âmbito da norma referido por MÜLLER, Métodos de trabalho do Direito Constitucional cit., p. 57 e seguintes. Seja como for, o que imp3»ta salientai ó rtur s-, „oi*dic.'—.'.ntes r e a i s no^cir. -.'•r i^nn^dp*- 'rabalhode aplicação/concretização do direito. Aliter, afirmando que os principios náo estabelecem condutas prima facie, ÁVILA, Tanria dos principios cit.. p. 55.
111 ÁVILA, Tfeoría dos Principios cit.. fP- 39-41 (citando Schaner), '4-45, F3 episs/m, falando em regras como razfies entrincheiradas que também admitem ponderação. A distinção relevante não seria estabelecida entre ponderação para os principios e não-ponde- ração para as regras, mas sim a partir do tipo de ponderação que é realizado em relação a cada uma dessas espécies de normas. Tbmbém afirmando que as regias nâo são sem- P.’c aplicáveis de inodo tudo-ou-nada, reconhecendo-lhes uma dimensão de peso CARRIÓ, Notas sobre derecho y lenguajo cit., p. 226.
35
Flávio Galdino
Quando se fala em colisão de direitos fundamentais, pode-se estar referindo a colisão entre dois ou mais direitos fundamentais (e então trata-se de colisão em sentido estrito), ou a colisão entre um direito fundamental e um interesse comum, isto é, uma espécie de interesse da comunidade (e aqui cuida-se da colisão em sentido amplo).112
Na primeira espécie, é possível ainda diferir entre colisão de direitos fundamentais idênticos (v.g., choque entre os direitos à vida de duas pessoas, ocorrente em caso de legítima defesa) e de direitos fundamentais diferentes (e.gr., choque entre liberdade de expressão e informação e direito à honra e à intimidade).113
Sem prejuízo da utilidade dogmática dessa classificação, temos que as colisões de direitos apresentam, no mais das vezes, caráter complexo, envolvendo os sentidos estrito e amplo ao mesmo tempo. Ademais, considerando que os princípios iusfundamentais constituem- se habitualmente na primeira etapa de concretização jurídica dos valo- res adotados pelo ordenamento jundico. énormal que sejani vagos e abrangentes e que ingressem em conflitbs çom outros princípios de
♦igüaTfirérarfluia. E a ponderação é um dos meios (insrtrurnentos) capazes de operacionalizartirna situação de equilíbrio entre as normas con-
" trapÕstãs.E a partir desse equilíbrio que os princípios, por exemplo, assegu-
ram a iã5gãai^õTsistênS~pnS?f^~'Ãii=>rn disso! talvéz se^ã"possível mesmo dizer que o desenvolvimento do estudo dos princípios prestou-se especificamente a potencializar a aplicação dos direitos fundamentais que, como já se disse vinãslrezes^ são estruturados como princípios.
Na medida em que os princípios são estabelecidos como categoria precisamente para potencializar sua aplicação em hipótese de colisão, parece correto dizer que a colisão e a ponderação são integrativas da própria identidade do s pnncipios juridicos,114 o que jáãutorizaria
112 Sobre colisão de direitos fundamentais, ALEXY, Robert. "Colisão e ponderação como problema fundamental da dogmática dos direitos fundamentais- , mimeo (palestra proferida na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, em 11.12.1998, sem indicação do titulo original e do tradutor). Entre nós. as contribuições da FARIAS. Colisão de direitos cit., p. 116, STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e principio da proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2001. p. 64._
113 ALEXY. “Colisão a ponderação como problema fundamental da dogmática dos direitos fundamentais" cit.. passim, e STEINMETZ, Colisão de direitos fundamentais e principio da proporcionalidade cit., pp. 62 e seguintes.
114 Correta a referência de NEGREIROS, Teresa. "Dicotomla público-privado frente áo problema da colisão de princípios". In TORRES, Ricardo Lobo (org.). Tkoría dos Direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar. 1999, pp. 337-375, esp. pp. 341 e seguintes, refe
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Ârvoies
desde logo a conclusão de que não é necessário “encontrar" um princípio da proporcionalidade ou um princípio de ponderação no texto constitucional brasileiro, ou mesmo reputá-lo implícito, uma vez que a proporcionalidade decorre do próprio-caráter principiai das normas
■jurídicas (retoma-se o tema da proporcionalidade adiãnte"nõ"itêmTB)7 ••= " Séjá como for, a estruturação dogmática dos direitos fundamentais como princípios procura impedir o esvaziamento desses direitos, resultado a que inevfliã'FéTín'grifé’conduziria a sua estruturação no modelo regras,115 pois, do contrário, muitas das vezes em que se registrasse uma colisão de direitos, a solução "natural" seda, em regra, a exclusão - sacrifício integral e definitivo - de algum deles.
De fato, a idéia de colisão e a de princípio se co-implicam no bojo da teoria que se vem de aludir. O que não significa que somente ocorram conflitos entre princípios. Na verdade, em forma esquemática, pode-se descrever uma escalada de situações, a saber, (i) conflitos entre valores, (ii) conflitos entre principios e (iii) conflitos entre regras.
Os conflitos entre valores (axiológicos) não são elimináveis através de critérios lógicos. Na verdade, nem mesmo háüecessiaàde de que sejam tais conflitos (de valores) eliminados. Não há solução possivel para esses conflitos e, diante deles, subsistem como resultados da coUsãj^tantojDSjponflito^çgmn os valoies~ A rigor, em determinadas circunstâncias, a manutenção dos conflitos valorativos estimula o debate público e a particigação e pode funcionar como poderosô ínStrumento dê ãprimõramento das instituições democráticas.116
De modo diverso se dá com os conflitos normativos.*17 Nos conflitos entre princípios, eliminam-se in concreto e in casu os conflitos, mas
rindo expressamente o pensamento original a ALEXY, 7feoria de los derechos lundamcn- tales cit., p. 37. Este último autor, noutro passo, de (orma enfática, afirmava que "princípios e ponderações sâo dois lados do mesmo fenômeno” (ALEXY, "Colisão e ponderação como problema fundamental da dogmática dos direitos fundamentais" cit., p. 10). E ainda. CANARIS, Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito cit.. p. 92: "os principios ostentam o seu sentido próprio apenas numa combinação de com- plementaçáo e restrição reciprocas".
115 ALEXY. "Colisão e ponderação como problema fundamental da dogmática dos direitos fundamentais" cit., p. 13.
116 Já tratamos da necessidade de manutenção de determinados conflitos de valores em prol do desenvolvimento da democracia em outro estudo: GALDINO. Flavio. "Sobre o minimalismo judicial de CASS SUNSTEIN", in Arquivos de direitos humanos, Volume 2: 173-215 (Rio de Janeiro; Renovar, 2000).
117 Tema complexo de que não se tratará aqui por não constituir objeto central do estudo é o dos conOitos entre principios e regras. Neste caso, sugere-se. por exemplo, o afastamento da regra em choque com o principio, sendo certo que a regra permaneceria váli-
37
Flávio Galdino
permanecem os princípios (ambos os principios juridicos em conflito permanecem válidos no ordenamento jurídico).
E o que acontece quando, diante de um caso concreto em que se discute alegada ofensa que teria sido perpetrada através dos meios de comunicação, o juiz tem que decidir se houve ou não violação do direito à honra ou, por outra, se a liberdade de expressão foi exercida sem abusos. Seja qual for a solução (o resultado concreto da ponderação), ambos os princípios jurídicos são reputados válidos no ordenamento e deverão ser utilizados noutro caso que se apresente.1 *8
Já nos conflitos entre regtas juridicas, que constituem as antinomias em sentido próprio,119 habitualmente (ressalvadas as eventuais e excepcionais hipóteses de ponderação entre regras) eliminam-se os conflitos e, ao mesmo tempo, elimina-se uma das regras, que deixa de ser válida no ordenamento juridica “ "
Novamente os exemplos auxiliam a compreender a diferença entre os fenômenos. Uma vez ingressando em vigor as regras do Código Civil de 2002, revogou-se expressamente as regras do Código anterior (lex posterior derogat prion). O que significa que as regras jurídicas (normas) constantes do Código revogado não são mais válidas no nosso ordenamento. Surgido o conflito, algumas das normas jurídicas foram excluídas no ordenamento.
No conflito principiológico, como visto, mesmo após a solução do conflito em um caso concreto, ambas as normas principiológicas permanecem válidas no ordenamento jurídico. O que acontece, como visto, quando se tenta delimitar os limites da liberdade de expressão com relação ao direito à honra.
G essa operação entre os princípios juridicos também é regulada por normas jurídicas, mais especificamente, por princípios que optamos por chamar princípios operacionais.
«o C"' " .“monto e apenas ineficaz no caso concreto (GRAU. Ensaio fc discurso sobre a interpretação à aplicação do direito cit., p. 174). Outra soluç&o seria a ponderação, para quem a admitisse, entra a regra e o principio. É tema para uma outra oportunidaue.
113 Uma interessante abordagem acerca deste conflito em especial pode ser encontrada em FARIA, Edilson Pereira de. Colisão de direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem versus a liberdade de expressão e informação. 2* ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fàbris Editor. 2a00.
119 GRAU. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito cit.. p. 171, ressaltando que os conflitos entre principios não caracterizam propriamente antinomias (quando muito antinomias em sentido impróprio).
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvojes
Com efeito, a exemplo do que ocorre com as regras - cujos conflitos são solucionados por normas de sobre-direito também alguns princípios podem ter caráter operacional, isto é, estabelecerem condições de aplicabilidade de outras normas jurídicas.
1.6. Princípios materiais e princípios operacionais
Uma relevante distinção que nos ocorre fazer acerca dos princípios jurídicos difere (i) principios que expressam conteúdo foiriHfan antnnn- mo. promovendo a cnacão de situações jurídicas e (ii) princípios referentes à aplicação das outras normas jurídicas (e, dentre estas, os ~^mãís~pnncípíõs). Aos primeiros chamaremos principios materiais. Aos últimos chamaremos principios operacionais (ou. para usar a linguagem tradicional, principios de sobre-direito).
Essa distinçãol20~'pérmítê“ ácentuar a normatividade de alguns princípios que, embora não possuam qualquer conteúdo material, nem por isso deixam de ser normas jurídicas. Dois exemplos podem ser elucidativos.
O chamado princípio da tutela jurisdicional adequada (que estaria radicado na CF, art. 5a, XXXV) criaria determinadas situações jurídicas subjetivas para os jurisdicionados, especialmente para a parte no processo civil. Por exemplo, segundo se sustenta,121 o aludido princípio - ponderado com outros, como o chamado princípio da ampla defesa (CF, art. 5o, LV) - estabeleceria o direito (dito fundamental) de a parte obter tutela antecipada no processo jurisdicional (nos moldes da legislação infraconstitucional, v.g., CPC, arts. 273 e 461). Na classificação proposta, em razão desse conteúdo e da situação jurídica criada, esse princípio será um princípio material (um direito fundamental, inclusive!)-
Já os princípios operacionais não criam situações jurídicas subjetiveis, ao menos não criam tais situações diretamente (embora participem decisivamente da operação de criação), apenas funcionam como operadores que viabilizam a operação de outras normas.
120 Informa-se que EHMKE propôs classificação dos princípios em (i) jur!dico-funcicn«is e (ii) jurídico-materiais, designando aparentemente figuras semelhantes às piopugnadas neste estudo (TORRES, Normas de interpretação e integração do Direito Tributário cit.. pp. S9-60). Pareceu-nos mais adequada a expressão princípio operacional, até mesmo para evitar confusão quanto ao que se designou como função normativa.
121 Por todos, FUX, Luiz. Ibtela de segurança e tutela da evidência (fundamentos da tutela antecipada). São Paulo: Saraiva. 19S6. p. 371.
39
Flávio Galdino
Um bom exemplo advém da Idéia de proporcionalidade, que normalmente é estipulada em feição principiológica: o assim chamado princípio da proporcionalidade, francamente utilizado pelas cortes judiciárias nacionais, em especial pelo Supremo TYibunal Federal, que faz reiterado uso dele, sem muita precisão ou uniformidade (muitas vezes uso ruim mesmo), por exemplo, para controle de leis restritivas de direitos fundamentais.
Assim, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, em julgado célebre, decidiu acerca da (in)constitucionalidade de norma tributária relativa à taxa judiciária imposta no Estado do Rio de Janeiro fundado basicamente na idéia de proporcionalidade.122 Entendeu o STF que a taxa judiciária deve guardar equivalência razoável com o serviço respectivo, utilizando-se da idéia de vedação de excesso que seria, ainda segundo a Corte Suprema, inerente à proporcionalidade.123
A tese adotada pela decisão mencionada até pode ser tida por correta. Com efeito, é licito afirmar que a vedação de excesso significa vedação de tratamento desproporcional (no sentido de desigual em medida excessiva).124
Ibdavia, a decisão analisada falha tecnicamente ao considerar que o princípio da proporcionalidade possui um determinado conteúdo material. Na verdade, essa conclusão é incongruente com algumas premissas teóricas assumidas, ainda que implicitamente, pela argumentação fundada em princípios desenvolvida pelo próprio STF.
Essa não é apenas a vertente de orientação do STF. Tcimbém em sede doutrinária, não raro atribui-se ao princípio da proporcionalidade determinado conteúdo, mais especificamente, determinados conteúdos materiais, radicados em sua maioria na idéia de contenção do
122 STE TVibunal Pleno. Representação por inconstitucionalidade na 1077-RJ. Relator o Ministro Moreira Alves, julgado em 28.03.1984, votação unânime.
123 Neste sentido, MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitu- cionalidade. 2* edição. São Paulo: Celso Bastos Editor. 1999, p. 80.
124 Consoante a lição de Ricardo Lobo Ibrres, que neste passo correlaciona vedação de excesso, igualdade, proporcionalidade e razoabilidade: "O principio constitucional da igualdade, por conseguinte, significa sobretudo proibição de arbitrariedade, de excesso ou de despropoicionalidade (= não razoabilidade}* (TORRES, Ricardo Lobo. Os direitos humanos e a tributação - imunidades e isonomia. Rio de Janeiro: Renovar. 1995, 264). Contra, entendendo que a vedação de excesso não se inclui na análise da proporcionalidade, constituindo-se em "postulado inespeciflco" que demandaria análise autônoma. ÁVILA. Teoria dos principios c/t, p. 89.
Introdução à Tfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
poder (notadamente do poder estatal), no mais das vezes com base na experiência desenvolvida pela cultura juridica norte-americana. >25
Se há descompasso entre a jurisprudência do STF e a dogmática pelos teóricos do direito, é no sentido de que boa parte da doutrina serve-se de instrumental bastante mais apurado sob o prisma técnico. Não se trata de preciosismo teórico ou de uma critica acaciana. A motivação das decisões judiciais é garantia fundamental do Estado Democrático e na medida em que a mais alta corte do pais não possa fundamentar adequadamente suas decisões, resta prejudicado o indispensável controle social que se deve exercer também sobre o Poder Judiciário.
Assim, embora o STF praticamente não se utilize explicitamente desse modelo (que se segue) na fundamentação de seus julgados, já há sedimentado entendimento entre nós no sentido de que a análise de proporcionalidade de uma determinada medida implica a análise de sua (i) adequação, de sua (ii) necessidade e de sua (iii) proporcionalidade em sentido estrito.i26
Exemplifica-se mais uma vez. Em decisão célebre, muito comentada - elogiada e criticada - o STF entendeu por declarar a inconstitucionalidade de uma Lei do Estado do Paraná que determinava a pesagem de botijões de gás vendidos aos consumidores à vista dos mesmos, com o objetivo de promover (ou fomentar 127) a proteção ao consumidor (em atenção ao art. 170, V, da CF). Entendeu o STF que a exigência era inconstitucional, mais uma vez em razão de invocada violação ao princípio da proporcionalidade.128
125 Confira-se a referência de SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto. O devido processo legal e a razoabilidade das leis na nova Constituição do Brasil. Rio de Janeiro: Forense. 1989, passim. Mais recentemente, OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Por uma teoria dos prin- cipios. Rio de Janeiro: Lutnen Juris. 2003, p. 192 et passim.
126 Há abundante literatura a esse propósito. Por todos, ALEXY, Tboria de los derechos funda- mentates cit., p. 111. Entie n6s, vido BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidado das leis restritivas de direitos fundamentais. 2* ed. Brasília: Brasília Juridica. 2000: STUMM, Raquel Denize. Principio da proporcionalidade no direito constitucional brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 1995.
127 Sobre a utilização dos termos promover e fomentar, vide SILVA, Luís Virgílio Afonso da. ‘O proporcional e o razoável". In KT 798 (Sáo Paulo: RT, 2002): 23-50, p. 36.
128 STF, THbunal Pleno. ADIMC 855-2-PR. Relator o Ministro SEPULVEDA PERTENCE, julgamento por maioria em 01.07.2002. Merece ser conferida a cuidadosa análise deste julgado. que declaradamente influenciou a opção por referi-lo aqui, realizada por SILVA. Luis Virgílio Afonso da. "O proporcional e o razoável*. In RT 798 (São Paulo: RT. 2002): 23-50. Registre-se que essa opção decorre também da análise em aula da mesma decisão pelo Professor Humberto Ávila no memorável curso de teoria dos principios oferecido no Doutorado em Direito da FDUERJ no ano de 2002.
41
Flávio Galdino
Essa orientação, contudo, não parece correta. A relevante crítica dirigida a essa posição "tradicional” esclarece que o chamado princípio da proporcionalidade, o que vale para outros princípios operacionais, (i) não possui conteúdo próprio, constituindo-se mera estrutura de aplicação de outras normas (preferencialmente de outros principios que sejam materiais129) e, portanto, (ii) não é um princípio jurídico.
A critica é parcialmente procedente. O principio da proporcionalidade realmente não possui conteúdo próprio,1®) operacionalizando a aplicação de conteúdos concentrados noutros princípios (materiais), o que explica o fato de inexistir referência expressa no texto constitucional a tal princípio.
As várias tentativas de encontrar a fórceps uma fonte constitucional positiva para o princípio da proporcionalidade descuram de que a proporcionalidade não possui conteúdo material, nem finca raizes em qualquer dispositivo constitucional, decorrendo da própria estrutura dos direitos fundamentais,131 que são estruturados normativamente como princípios.
Com efeito, considerando-se que os direitos fundamentais são principios materiais, e que as idéias de coüslõ e ponderação são inerentes àidéia de princípio (conforme dêmònstrado nõltem 1.5), tenvse' que a ponderação, enquanto última etapa da análise da proporcionalidade, decorre logicamente da própria estrutura normativa dos direitos fundamentais (da sua estrutura principiológicaj.
Assim, a proporcionalidade em si mesma não é um parâmetro^2 de aferição de atos do poder público, mas sim procedimento para oti
129 Neste sentido a conclusão do importante estudo de Humberto Bergmann Ávila: “Tbdas essas considerações levam à qualificação da proporcionalidade como uma meia estrutura formal de aplicação do direito a ser necessariamente posta em correlação com elementos substanciais normativos, sem os quais não passa de um esqueleto” (ÁVILA, "A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade' cit.. p. 54). De acordo com ÁVILA, expressamente. GRAU. Fns<>io a irtrrr-’i « ;'r.'aplicação do direito de., pp. 167-170.
130 De acoido, DERANI, Cristiane. Privatização e serviços públicos. São Paulo: i-íux Limonad.2002. p. 163.
131 Correto, quanto ao ponto. SILVA, “O proporcional e o razoável* c/t., p. 43.132 Expressamente em sentido contrário, embora sem enfrentar a crítica referida no texto,
BARROSO. Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva. 1S96, p. 204: "O principio da razoabilidade 6 um parâmetro...". Também contra a idéia do que a proporcionalidade não possui conteúdo. sustentando tratar-se de uir. principio "misto* (7). OLIVEIRA. Por uma teoria dos principios cit.. p. 192.
42
Introdução à Tboria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Árvores
mização de outros parâmetros ou fins (estabelecidos através de princípios) que possuam conteúdo material.
Na verdade, a proporcionalidade, assim como a ponderação (ou balanceamento), é conseqüência lógica da adoção de principios materiais pela Constituição, pois só através delas tais principios ganham aplicação ou operatividade133 (daí porque este estudo optou por chamá-lo de principio operacional).
Neste ponto, proporcionalidade e igualdade se assemelham.134Por mais assustadora que possa parecer a afirmação, talvez até
contrária à gramática tradicional dos direitos humanos, o princípio da proporcionalidade e também o princípio da igualdade são princípios vazios,135 desprovidos de conteúdo material, e somente possuem sentido tendo em vista determinadas características das situações a serem ponderadas/comparadas.
Em texto célebre, 136 pretendeu-se identificar o conteúdo do princípio da igualdade. Apesar da autoria respeitável e do título instigante, em vão procura-se a identificação do "conteúdo". O que se encontra são critérios para avaliar atos determinados.
Em apertada síntese, para saber se um ato viola o princípio da igualdade, seria necessário verificar (i) a presença de elementos dife- renciadores nos objetos a serem comparados (pessoas, coisas, fatos, situações); (ii) a correlação lógica entre o fator de discriminação e o resultado da operação normativa; e (iii) a adequação da discriminação
133 Conforme, mais uma vez, ÁVILA. "A distinção entre principios e regras e a redetinição do dever de proporcionalidade* de.. esp. p. 36.
134 Acham-se de fato, estreitamente associados (conforme salienta GUERRA FILHO, Willis Santiago. "Sobre principios constitucionais gerais: isonomia e proporcionalidade". In RT 719 (São Paulo: RT. 1995): 57-63, esp. p. 60. mas não se confundem. Esto autor chega a dizer que a proporcionalidade é o ‘ principio dos prindpios". mas ainda alinha tal principio a um determinado conteúdo material (não explicitado no texto). Veja-se tanibém ALEXY, Tfeorio de Ios derechos ftmdamentales cit.. p. 387.
135 Por todos, TORRES, Ricardo Lobo. Os direitos humanos e a tributação: imunidades e isonomia. Rio de Janeiro: Renovar. 1995, p. 267. onde se afirma enfaticamente: "a igualdade tributária 6 um principio vazio (...)”. E, do mesmo autor, TORREa, Ribuiuu >x>bo. "A legitimação dos direitos humanos e os principios da ponderação e da razoahiiidade". In TORRES, Ricardo Lobo (org.). Legitimação dos direitos humanos. Rio * <? Janeiro: Renovar. 2002. pp. 397-449, esp. p. 432. Ainda sobre a relação entre proporcionalidade e igualdade, veja-se GUERRA FILHO. Processo constitucional e direitos lundamentais cie.. pp. 63 e seguintes.
136 Referimo-no3 ao justamente celebrado livro de BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. O conteúdo jurídico do principio da igualdade. 2* edição. São Paulo: RT. 1984: vide. por exemplo, p. 59.
43
1>
Flávio Galdino
aos valores constitucionalmente tutelados. Como se vê, não se identifica um "conteúdo" no sentido material, tal como aqui empregado. Tais critérios apenas evidenciam que o principio é vazio, no sentido de que se presta como instrumento a efetuar operações comparativas.
Também em uma ótica redistributiva, preocupada com a alocação de recursos escassos na sociedade, fica claro que a igualdade remete a critérios vários e diversos - fala-se em igualdade complexa,'37 eis que os critérios variam conforme o bem social a ser repartido de forma igualitária.
Daí a razão de se perguntar: “ Igualdade de quê?".’ 3®A afirmação, à primeira vista estarrecedora em razão da construção
juridica usualmente aceita a esta altura, merece ser tomada com toda a cautela. A igualdade é um valor a ser preservado e como tal possui carga substantiva139 - fala-se corretamente em igualdade m ateriais o
Já o principio da igualdade é vazio - ele representa o meio de gerar igualdade a partir de uma determinada variável (a partir de um determinado conteúdo) que deva ser igualizado (ou não). Não é à toa que a igualdade normalmente é representada por meio de uma balança - a
137 Por todas, a importante contribuição de WALZER. Esferas da Justiça cit.. pp. 23-25, onde este autor desenvolve sua teoria sobre a igualdade complexa e argumenta acerca de três critérios distributivos fundamentais (livre intercâmbio, mérito e necessidade). Entre nós. ROUANET, Luiz Paulo. "Igualdade complexa e igualdade de renda no Brasil”. In MERLE, Jean-Christophe et MOREIRA, Luiz (orgs.). Direito e legitimidade. São Paulo: Landy.2003. pp. 385-394.
138 Em estudo dedicado à igualdade, o vencedor do Prêmio Nobel de Economia Amartya Sen aponta que a pergunta “igualdade de quê?" deriva da natural desigualdade dos seres humanos, de modo que a igualdade sempre se refere a uma variável (que o autor chama de “variável focal*, cf. SEN, Amartya. Desigualdade reexaminada (trad. de Ineqtiaüty Rcexamined por Ricardo Doninelli Mendes). Rio de Janeiro: Record- 2001. p. 30: *por isso o julgamento e a medição da desigualdade são completamente dependentes da escolha da variável (tenda, riqueza, felicidade etc.), em cujos termos são feitas as comparações*.
139 O mesmo Amartya Sen recusa a idéia de que 9 igualdade seja vazia (SEN, Desigualdade reexaminada cit., p. 55), enaltecendo seu conteúdo substantivo, a partir de premissas
. que não cabe discutir aqui e que não infirmam a tese apresentada no texto (até porqueo premiado autor não está a tratar do principio da igualdade!). Com efeito, tudo leva a crer. contudo, que, em essência, o presente estudo está de acordo com as idéias daquele respeitável autor indiano.
140 Sobre a dogmática tradicional da igualdade e a diferença entre igualdade formal e material. confira-se SILVA. Fernanda Duarte Lopes Lucas da. Principio constitucional da igualdade. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2001, passim. Para uma abordagem mais antiga, consulte-se FARIA, Anadeto de Oliveira. Do principio da igualdade juridica. São Paulo: RT/EDUSR 1973, passim. Sobre a caracterização da igualdade ora como principio ora como regra. ÁVILA. Iboria dos princípios cit., p. 93.
44
Introdução à Teoria dos Çustos dos Diieitos - Direitos Não Nascem em Árvores
balança é o instrumento de comparação, que deve sopesar imparcialmente os interesses em jogo.141
O principio da igualdade impõe resultados igualitários, no sentido de que projeta um estado de coisas em que as pessoas estarão em condições de igualdade, mas não necessariamente que as pessoas sejam tratadas de modo igual - daí porque se reproduz sempre a fórmula atribuída a RUY GARBOSA: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Isso nada mais significa do que considerar a igualdade como estado de coisas resultante142 de uma determinada operação, viabilizada juridicamente através do princípio da igualdade.
Essa consideração permite explicar, por exemplo, porque em alguns casos autoriza-se a discriminação de pessoas com base na origem étnica, na cor da pele ou na idade, o que, a rigor seria vedado pelo princípio da igualdade se ele fosse compreendido noutro sentido. Da mesma forma, ajuda a explicar porque a adoção de políticas de ação afirmativa (discriminação reversa) como instrumentos de transformação social podem ser consideradas consentâneas com a igualdade.143
Dependendo do bem a ser distribuído, a exigência de igualdade determinará a aplicação de critérios diferentes. Se o bem em questão é a "saúde humana” , em linha de principio, as ações da sociedade deverão ser diferentes conforme o tipo de problema enfrentado pelas pessoas (a ótica da necessidade). Em relação a outros bens, o critério será distinto. Assim como o princípio da proporcionalidade, também o princípio da igualdade é vazio.
E é por conta dessa consideração - de que inexiste conteúdo nessas figuras - que se chegaria à conclusão de que a proporcionalidade não seria um princípio jurídico, mas sim, na linha de consideração de Tmpórtãnti setor da doutrina"èspecializada, um postulado'44 (expres-
141 Serve-se da figura, por exemplo. SINGER, Peter. Ética prática (trad. bras. de Practicai Ethics por Jefferson Luiz Camargo) São Paulo: Martins Fontes. 2002. p. 31: "o principio da igual consideração de interesses atua como uma balança, pesando imparcialmente os interesses".
142 Ainda SINGER, Ética prática cit., p. 31.143 CL GOMES. Joaquim Benedito Barbosa. Ação afirmativa & principio constitucional da
igualdade. Rio de Janeiro: Renovar. 2001. p. 21 (discriminação legitima decorrente de business necessicy) e pp- 35 e seguintes (ação afirmativa). No plano ético, vide SINGER. Ética prática cit., pp. 53 e seguintes (esp. p. 61). Vide ainda NEVES. Marcelo. “Justicia y diferencia en una sociedad global compleja". In Doxa 24 (2001): 349-377 e CRUZ. Álvaro Ricardo de Souza. O Direito à diferença. Belo Horizonte: Del Rey. 2003. p. 31 (business necessity) e passim.
144 AV1LA. Tteoria dos principios cit., pp. 79 e seguintes (p. 81: “postulados normativos aplicativos como deveres estruturantes da aplicação de outras normas"). Eros Grau aderiu
45
Flávio Galdino
sáo que não é. usual na nossa experiência juridica). O presente estudo, reconhecendo a sua originalidade e inteligência, não corrobora esse entendimento, como se demonstra a seguir.
De volta à proporcionalidade propriamente dita, no caso julgado pelo STF e referido anteriormente {o caso dos "botijões de gás” ), a ausência de conteúdo próprio do referido principio fica clara. Tecnicamente, o STF deveria ter analisado seqüencialmente (i) a adequação, (ii) a necessidade e (iii) a proporcionalidade em sentido estrito da medida legislativa impugnada.
Pode-se demonstrar que a exigência de pesagem dos botijões de gás nos postos de venda é uma medida adequada ao fomento da proteção ao consumidor. Igualmente, pode-se evidenciar a sua necessidade, notadamente diante da ausência de identificação de outros meios igualmente adequados que sejam menos gravosos aos direitos dos fornecedores, 145 iSto é, que restrinjam em medida menor os direitos dos fornecedores do produto em questão. Aqui, já salta aos olhos a idéia de que a proporcionalidade representa uma espécie de correlação entre principios, haja vista a inafastável referência aos direitos dos fornecedores (também fulcrados em principios materiais, como seja o princípio da livre iniciativa).
E, de fato, quando se passa à análise da proporcionalidade em sentido estrito, pondera-se o princípio da proteção ao consumidor como princípio da livre iniciativa (também consagrado como direito fundamental na CF, art. 170, incs. IV e V). A proporcionalidade é um instrumento de aplicação dos outros principios juridicos envolvidos.
É dessa operação de ponderação que se extrai a "violação da proporcionalidade” aludida pelo STF. Mas, como se percebe claramente. não é a proporcionalidade que se vê violada, mas sim o princípio da hvre iniciativa, que se vê restringido pela medida legislativa em questão. Implicitamente, ao considerar que a medida era desproporcional, o STF entendeu que, embora adequada e necessária, a mesma violava o
expressamente a esse posicionamento (GRAU. Ensaio sobre a interpretação/aplicação do direito c j pp. 167 e seguintes, esp. p. 170). Curiosamente, sem nem mesmo tocar a temática aludida nos estudos de ÁVILA. Paulino Jacques já se referia ao principio da igualdade como postulado ("postulado jurídico igualitário- ) - JACOUES, Paulino. Da igualdade perante a Lei. Tese de concurso para Professor Titular da FND. Rio de Janeiro. 1947, p. 175.
145 Análise empreendida com detalhe por SILVA, "O proporcional e o razoável" cit.. p. 40, e ÁVILA, Iboria dos principios cit.. p. 84.
46
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
núcleo essencial da liberdade de iniciativa, uma vez que a sua adoção, segundo se argumentava, inviabilizaria o exercicio daquela atividade econômica.»46
A crítica é, então, procedente - parcialmente procedente. De fato. a proporcionalidade não é um princípio material. Ao revés, a proporcion a lid ad e representa uma estrutura de aplicação de outros princípios materiais, em especial dos direitos fundamentais. No exemplo aventado, dos principios materiais da proteção ao consumidor e da livre iniciativa. Ainda assim, a crítica é apenas parcialmente procedente.
Diz-se que a referida critica é parcialmente procedente porque mesmo que não possua conteúdo próprio, a proporcionalidade ainda ■psae"ser lâlsignada cõmo princípio jurídico, mais especificamente, como um principio operãciõn'álT~
Preliminarmente, fique claro que é uma questão de opção teórica do estudioso estabelecer o conceito de princípio a ser utilizado e não há propriamente erro em se considerar que tal ou qual figura não ostenta caráter principiológico. Como se demonstrará a seguir (item 5.1) os conceitos juridicos são convencionais e é possível convencionar um conceito de principio jurídico no qual não haja espaço para a proporcionalidade.147 O que importa, entretanto, é a manutenção da coerência com as premissas adotadas.
Mas neste passo, a aludida crítica afasta-se sobremodo da tradição juridica brasileira (professada também em outros lugares), que costuma designar como normas jurídicas também aquelas que versam unicamente sobre a aplicação de outras normas jurídicas, sem criarem diretamente alguma situação jurídica subjetiva.
f Conforme demonstrado anteriormente, as normas de sobre-direito. como aquelas que regulam conflitos de leis “ncTlempò e"íí^êspáçò. também são, com a licença da redundância, normas juridicas.
Assim, na esteira de um exemplo já anteriormente ilustrado (item 1.2), as regras da Lei de Introdução ao Código Civil também não criam diretamente situações jurídicas subjetivas. E, nem por isso, deixaram
146 Diverso é o entendimento de SILVA. ‘O proporcional e o razoável" cit., p. 41 (argumentando que a proteção ao consumidor no caso concreto autorizaria a medida restritiva).
147 Ainda uma vez. ÁVILA. Teoria dos principios cit., passim. Este autor (p. 80) rejeita a utilização da designação normas de segundo grau para tais institutos, preferindo, como visto, designá-los como postulados aplicativos normativos, mas reconhece que a nomenclatura não â o mais relevante, atribuindo relevância maior à compreensão (c fundamentação) da sua operacionalidade (p. 82).
47
Flávio Galdino
de ser reconhecidas entre nós como regras jurídicas (espécies de normas jurídicas).
Há mesmo quem, com inegável autoridade, refira-se a essas regras como princípios sem embargo da diferença conceituai, conserva-se o caráter normativo.148 Por outro lado, há quem se refira à proporcionalidade como regra.149 Em ambos os casos, malgrado haja sérias controvérsias, há consenso em que se trata de normas.
Relembre-se ainda o chamado princípio da interpretação conforme a Constituição, que também não cria nenhuma situação jurídica direta- 'mente, influindo na atividade interpretativa das normas infraconstitu- cionais.150 Embora não tenha aptidão para criar situações jurídicas subjetivas diretamente, salvo engano, não ocorreu aos autores especializados furtarem-lhe a designação de principio. Será mais um exemplo de princípio operacional^
A diferença básica consiste em que essas últimas normas juridicas não criam situações juridicas diretamente, mas apenas indiretamente (pois induvidosamente participam do processo hermenêutico de concretização das normas e dos direitos subjetivos). Todavia, isso nuncá pareceu suficiente para retirar-lhes o caráter normativo.
Assim, embora o principio da proporcionalidade - o que vale para outros princípios operacionais (como o princípio da igualdade, por exemplo) - não crie situações juridicas autonomamente, não há necessidade de que ele seja excluído do rol dos princípios jurídicos.
Será um princípio operacional ou um metaprincipio ou ainda um principio de sobre-direito, estabelecendo um procedimento para aplicação de outros pnncípías juridicos. Daí porque a crítica no sentido de que essas figuras não são princípios não nos parece adequada.
148 Ricardo Guastini (ala em principio cronológico e principio hierárquico (GUASTINI. Le íonti dei diritto e l'interpretazione cit.. pp. 33-34) e fala ainda em principio da preferên- ció <ia norma sucessiva (p. 296). *fombém ressaltando o caráter normativo. DINIZ, Conflito de normas de.. p. 39.
149 SILVA, "O proporciona) e o razoável" cit.. passim. Declaradamente inspirado da lição de ALEXY. pp. 25-26, Luis Virgílio Afonso da Silva designa a proporcionalidade como regra, repudiando a sua designação como princípio ao argumento de que não admite aplicação em medidas diferentes. Como visto, o que importa é a coerência com as premissas conceituais adotadas e o autor em questão é coerente, o que nâo invalida as conclusões do presente estudo, igualmente coerentes.
150 Sobre este princípio, por todos, TORRES, Notmas de interpretação e integração do Direito Hibutário cit.. pp. 61-63; MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional. 2* ed. Sáo Paulo: Saraiva. 1998, p. 222.
Introdução à Tooria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
Isso não significa que outras posições teóricas estejam propriamente equivocadas, significa apenas que, adotando-se premissas diversas, pode-se chegar - e é comum que aconteça - a resultados aparen tem ente diferentes (e que são diferentes precisamente naquilo em que diferiam as premissas).
Assim, não é incorreto designarem-se os princípios operacionais como principiosdejegitimãção. Na verdade, ao referir-se a tais princí-
-ptos como princípios de legitimação, não se tem em vista a função desses princípios como meios de aplicação de outros princípios jurídicos (materiais), mas sim a função que esses princípios exercem no ordena- mento jurídico no.sejvtídõ de legitimá-lo (até em sentido político), justamente porque são princípios vazios151 ou, na nossa perspectiva, porque são principios operacionais. São duas perspectivas diferentes, não exatamente opostas, mas complementares. Em ambos os casos, reserva-se a expressão principio para designá-los.
De outro lado, adotando-se uma determinada concepção mais restrita de princípio jurídico, em linha de coerência com tal premissa, pode-se negar caráter principiológico a estas figuras operacionais, como a proporcionalidade. Neste viés de orientação, sugere-se a expressão dever152 e, ao depois, postulado.153
De nossa parte, em atenção à nomenclatura consagrada, carregada de valor (tão caro à expressão principio) e uma vez que corretamente estabelecidas as premissas, sustentamos que não há equívoco em referir-se a tal fenômeno como princípio. Assim, preferimos falar em
151 Sobre a ponderação e a razoabilidade como principios de legitimação, vide TORRES. Ricardo Lobo. “A legitimação dos direitos humanos e os principios da ponderação e da razoabilidade''. In TORRES. Ricardo Lobo (org.). A legitimação dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Renovar 2002. pp. 397-449. Em especial (p. 432): "Tinto a razoabilidade quanto a ponderação passam a exercer a função legitimadora por serem principios vazios".
152 Cf. ÁVILA, “A distinção entre principios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade" c/t., passim. Noutro estudo em que se desenvolveram várias das considerações aqui expostas com vistas à solução de uma questão proposta, ressalvando maiores digressões, o autor deste estudo aderiu a o posicionamento do P r o f e s s o r Ávila, a g o r a retificado. Assim em GALDINO, Flavio. "O novo art. 1211 do CPC: a prioridade de processamento concedida ao idoso e a celeridade processual". Arquivos de Direitos Humanos. Vol. 4:524-576, esp. p. 534, nota 29: "Sem a pretensão de discorrermos sobre o tema nem adotarmos posição com ânimo de deOnitividade (...)".
153 Ainda uma vez, ÁVILA, Teoria dos principios cit., p. 79; GRAU. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito cit., p. 167.
49
Flávio Galdino
princípios operacionais, de que são espécies centrais o princípio da ^fdpõYcionálic(ãae“è"o principio da igualdade.
partir dessa configuração teórica, pode-se falar em princípios materiais, que criam situações jurídicas diretamente para as pessoas e princípios operacionais, que estabelecem estruturas de aplicação dos demais princípios (materiais), criando situações juridicas apenas de modo indireto, se for o caso.
^ Cte direitos fundamentais, neste quadro teórico, caracterizam-se como princípios materiais (evidentemente fundamentais), de que se passa a tráfcãirlãlségtíír.' ‘
1.7. Direitos fundamentais como princípios materiais
Conforme salientado anteriormente, a partir da segunda metade do século XX.-no momento em que a linguagem da justiça e dos direitos volta a dominar o debate jurídico-político no mundo ocidental, a renovaçãodas concepções acerca dos direitos fundamentais promove
'umavèidadeiia rèvõiução metodológica no Direito! com â retomada do estudo dos principios. .. '^ Chegou-se mesmo - no bojo da chamada teoria distintiva forte
entre regras e princípios - a identificar princípios juridicos e direitos fundamentais (isto é, a sustentar que possuem o mesmo conteúdo154). Essa “nova” percepção possui inclusive reflexos no plano do direito positivo, como está a demonstrar, por exemplo, o Ttatado de Roma, com a redação que lhe deu o 'Ratado de Maastricht, consoante o qual os direitos fundamentais constituem os princípios gerais do ordenamento Comunitário Europeu.
Pari passu a esse desenvolvimento teórico acerca das funções dos princípios, assiste-se à multiplicação deles. Fala-se mesmo nc direito dos principios.155 Se realmente vivemos a Era dos Direitos, pode-se dizer que vivemos - seja-nos consentida a expressão - * Era dos Direitos dos Princípios ou mais precisamente, a Era dos Direitos extraí- uos de PõncípiõsT É clara a mudança de paradigma. "
154 VIQO. Los principios jurídicos de., p. 19 et passim.155 O próprio título do capitulo pertinente da obra de ZAGREBELSKY. li diritto mieo cit., pp.
147 o seguintes: ~U diritto per princip i'■ EROS GRAU íala em mudança de paradigma e no paradigma dos principios (GRAU, Ensaio e discurso sobre a i i H e i ^ i e t a ç â o / o p l i c a ç ã o do Direito cit., p. 120).
50
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
É preciso deixar claro desde logo que a existência de uma norma, mesmo de uma norma importante, como sejãinum principio constiui-' cional ou um princípio de direitos fundamentais, não implica necessariamente o reconhecimento de um dueitCLSiubietivo.
—- — Cõmo visto no item 1.4, os princípios operam numa dimensão de ponderação, sendo otimi2adõs cbnlbrme as possibilidades juridicas e fáticãsrEssas possibilidades jüríciicas correspondem precisamente às operações de ponderação entre os princípios. E ainda há que se ter em conta as possibilidades fáticas (de que se ocupará o estudo mais adiante - item 7.3.2).
De acordo com esse quadro teórico, é possivel afirmar que a norma aplicada in concreto é o resultado da operação de ponderação entre as õutrãs normas- (nõmas^prmcípios). Corretamente afirma-se que se d á " üníãoperáção de concretização da n o rm a 15 - cuida-se de um procedimento e a~h'õfi^~‘'âpíiFàver'~é^õ~resultado desse procedimento.157 Da mesma lõrmãróque é irnportante para alguns desenvolvimentos subseqüentes do estudo, o direito subjetivo ou a situação jurídica subjetiva são resultados dessas operações] ‘
Essa é uma observação importante, pois permite desde logo afirmar que a existência de um direito subjetivo (mesmo de um direito fun- damentãirHepintíedas possibilidades jurídicas e fáticas existentes no momento cTe^soiüção do problema em questão. "
Quando se fala (item l . I ) què ãs normas de direitos fundamentais estabelecem a presunção de existência de um direito subjetivo funda- inental.é neste sentido: há uma norma que determina queum determi- nado estado de coisas (v.g., proteção/promoção de um direito fundamental) seja atingíâõ ria maior medida possivel. Mas, é preciso ficar claro, "a maior medida possivel” somente vai exsurgir como resultado da opêraç,aõ~deafficaçâo dôprirícipio, após a verificação das possiSP
Se de um lado os princípios juridicos em sua função normativa trazem consigo inúmeras vantagens, como seja potencializarem a efetividade dos direitos humanos.158 de outro, apresentam riscos e desvanta- ijêiis marcantes, c o i ..j seja a do Qruu j- - •- ' ■ ismo na esV "
€
€
C
í
156 Conforme a influente doutrina de MÜLLER. Métodos de trabalho do Direito Constitucional cit.. p. 62 et passim.
157 LEVI, An Introduction to JegraJ rcasonlng cit., p. 4.158 Por todos, ALEXY, ífeor/a de los denvrlios fundnmemales cit. p. 505: VlCO. Principios jurí
dicos cit., pp. 61 e seguintes.
51
Flávio Galdino
cação das normas, com o sério perigo do cometimento de arbitrariedades em nome delmncípios juridicos.
For essa razão, convém de logo advertir para os riscos daquilo que se pode chamar aqui banalização dos principios. Risco que se maximiza quando o instituto não é dominado pelos operadores jurídicos. Quando tudo passa a ser passível de fundamentação como se houvera um princípio fundante,159 corre-se o sério risco de descambar para a ilegalidade e a arbitrariedade, o que deve ser evitado a todo custo,
r- Os principios materiais que, condicionados pela realidade fática e pelos demais princípios (condicionantes juridicas), criam situações juridicas fundamentais são designados direitos fundamentais. São essas situações que passam a nos interessar. Tkis situações jurídicas são definidas entre nós a partir de uma categoria essencial, o direito subjetivo.
Assim, sem embargo de reconhecer-se que os direitos fundamentais são normas, no mais das vezes, normas-princípios (em sentido material: princípios materiais), a atenção deste estudo centra-se na
l caracterização dos direitos fundamentais como direitos “ subjetivos* j aborflandtros príncíjpiõs"ãpenàs~dê fòrma iricidéntàl. Não se trata de u uma opção aleatória. ”
Além do interesse superlativo na solução de problemas concretos em que estão colocadas as pessoas (e sem prejuízo de haver quem sustente que a abordagem principiológica torna desnecessária a análise garantistico-formal típica do direito subjetivo160), a opção funda-se na percepção de que mesmo o estudo dos direitos fundamentais enquanto princípios finda por resultar na análise da situação em que se vê colocado o indivíduo mediante a sua aplicação, isto é, a discussão principiológica deságua, mais cedo ou mais tarde, na questão dos direitos subjetivos ou, mais precisamente, das situações jurídicas subjetivas.
Direito subjetivo constitui, portanto, um conceito de importância vital para a análise dos direitos fundamentais. Mas afinal de contas, o que se deve entender por direito subjetivo? É o que se passa a estudar.
159 O autoi destas Unhas dedicou-se singelsmenle a estudai em caiátei preliminar, por exemplo, a comumente utilizada referência ao principio da celeridade processual, com o escopo de demonstrai' que ele (pelo menos por ora) nâo existe (!). Seja permitido remeter a GALDINO, Flávio. “O novo art. 1.211 do CPC: a prioridade de processamento concedida ao idoso e a celeridade processual". In Arquivos de direitos humanos, vol. 4 (Rio de Janeiro: Renovar, 2002), pp. 524-S76.
160 Assim, por exemplo, LIPARI, Nicolõ. "D iriu i fondamentali e categorie civilistichc ' . In Rivista di Diritto CivUe. Anno XLH. n° 4 (1996): 413-426, esp. p. 420.
52
Capítulo II Direitos Subjetivos: a origem
2. Breve digressão histórica: como nascem os direitos subjetivos?
Neste ponto inicial, ressalta a importância de uma breve digressão de ordem histórica a respeito da construção da idéia de direito subjetivo. Note-se que os comentários que se seguem possuem caráter meramente instrumental e, por conseguinte, sem nenhuma tomada de posição definitiva em relação às controvérsias que cercam os temas sob análise.
Já se disse que o Direito e os direitos apresentam a estrutura temporal da historicidade - o Direito pertence ao mundo da história1 -, continuamente adaptando-se às mutações sociais; quem quiser compreender o fenômeno jurídico deve ter em vista também o seu dever histórico.2 Destarte, a presente análise demanda, em sede preliminar, um brevíssimo escorço histórico sobre os direitos.
Nosso propósito neste item é tão-somente demonstrar que o con- ceito de direito subjetivo tradicionalmente utilizado deflui. sem embar- go dã indefectível origem iuspublicística. de uma construção privatis- tica insuficientepãra a operatividade dos direitos fundamentais, objeto precípuo do estudo. 'Itenciõnatambém demonstrar que o mesmo conceito é fruto de uma orientação metodológica que imaginava ter encon- trado "a~vérHade" sobre os direUôT^tfãves~âa referência aos direitos naturais.
Sem prejuízo de haver vozes autorizadas que advoguem a tese de que o direito subjetivo já havia sido concebido e institucionalizado na época antiga no mundo ocidental (pelos gregos e romanos, por exenv plo3), há duas concepções dominantes - coadjuvadas por outras inúme-
1 Na expressão conclusiva de COINC. Elementos fundamentais da Filsofia do Direito cit.. p. 228.
2 Assim, LARENZ, Metodologia da Ciência do Direito cit.. p. 261.3 Ad exemplum. é a opinião de PASSÒ. Guido. “Riflessiani logico-storicho su diritto sogget-
tivo e diritto oggetívo". In Rivista THmestrale di Diritto e Prócedura Civile, Anno XXVI
53
Flávio Galdino
ras variantes, irrelevantes aqui - acerca do nascimento dos direitos subjetivos, mais precisamente, acerca do momento em que a noção de direito subjetivo, tal como hoje a entendemos, começa a ser utilizada no discurso jurídico-político.
Assim, de um lado, encontram-se (i) os autores que pensam tratar- se de uma construção do pensamento juspolítico medieval e, de outro,(ii) os autores que defendem tratar-se de uma construção do pensamento juspolítico moderno.
Por evidente, o conceito politico-juridico de direito subjetivo não surge de um momento para outro; a exemplo do que ordinariamente acontece, aqui também, relembrando proposta acadêmica memorável, "natura" non saJtit. Ao revés, é produto da maturação intelectual dos tempos, sendo certo que seu conteúdo vem sendo igualmente objeto de discussão e constante evqlução. A questão é de saber quando o conceito de direito subjetivo passa a ser aceito em sede teórica e utilizado no discurso jurídico-político, ou seja, quando é institucionalizado.
Na verdade, seria mesmo pouco provável que uma espécie de experiência acumulada ao longo de milhares de anos fosse mantida desde sempre nos mesmos padrões de análise. Mesmo para quem advogue a tese de que os antigos no Ocidente já conheciam ou institucionalizavam o direito subjetivo (de que os romanos já conheciam a noção de direito subjetivo de propriedade, por exemplo), é imperioso reconhecer que sua teorização é muito posterior.
Da mesma forma, é difícil admitir tal entendimento a partir da manutenção da expressão designativa - ius, iura - pois seria de se esperar que essa expressão sofresse alguma espécie de mutação semântica ao longo dos séculos - embora até a Idade Média a língua-
(Milano: Giuffrè, 1972): 373-393. Na verdade. assumindo-se que o diieito subjetivo è fruto do individualismo, é difícil conceber o pensamento grego como berço do direito subjetivo cal como nòs o emendemos. Sobre o direito romano. VILLEY, Michel. Estúdios en torno a ia noción de derecho subjetivo. Valparaiso: Ediciones Universitarias de Valparaiso (sem "• :.'ncias acerta da tradução a tio ano), p. 25. Entre nós, veja-se FIGUEIKEuu Jfi.. César Crissiiima. A liberdade no Estado contemporâneo. São Paulo: Saraiva. 1979, pp. 21.23 ("na cidade antiga os homens não possuíam como nós a consciência da individuali- Oaue") e passim: VILAN1, Maria Cristina Seixas. Origens medievais da democracia moderna. Belo Horizonte: Inédita. 2000, pp. 20-21 e, sobre a noção de direito subjetivo entre os romanos, a contribuição BONALDO, FYederico. Consistência teórica do direito subjetivo de propriedade. Dissertação de Mestrado apresentada na Faculdade de Direito da UERJ. Rio de Janeiro. 2002. p. 45 (e, adiante, pp. 50 e seguintes, sobre a doutrina aris- totélica). concluindo minucioso estudo no sentido de que não haveria como deduzir a idéia de direito subjetivo entre os romanos (p. 64).
54
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nào Nascem em Áivores
gem da discussão política fosse ainda o latim*. É evidente que o tempo afeta a transmissão das idéias entre as gerações.5
A primeira corrente, composta por autores que acreditam tenha surgido o conceito em tela no pensamento medieval, atribui ao pensamento da escolástica franciscana quatrocentista, raiz genealógica do paradigma individualista da sociedade e do poder,6 a construção original do direito subjetivo.
Mais especialmente, a criação da noção é atribuída ao pensador, teólogo e filósofo GUILHERME DE OCKHAM7 (1300-1350), o qual. no seio do movimento filosófico chamado nominalismo,8 é considerado por muitos o pai do direito subjetivo.9
Em termos - talvez exageradamente - sintéticos, e sob o prisma da união entre os indivíduos, pode-se dizer que o nominalismo tece os fundamentos da passagem da universitas, comunidade política em que
4 Conforme a observação do TUCK. Richard. Natural fíights Tbeories - their origin and development. Cambridge: Cambridge University Press. 1979. p. 7. Vide ainda VILLEY. Estúdios en tomo a Ia noclón da derecho subjetivo cit.. p. 25 e seguintes e, eittre nós. BONALDO. Consistência teórica do direito subjetivo de propriedade c/c., p. 92.
5 Veja-se o estudo apurado do CIANNETTI, Eduardo. O mercado das crenças - filosofia econômica e mudança social (trad. bras. de Beliefs in action - economic philosophy and social change por Laura Toixelra Motta). São Paulo: Companhia das Letras. 2003. p. 161. Embora a análise do autor seja vertida especificamente sobre idéias econômicas, a tese c perfeitamente aplicável à ciência juridica. Vide também MA1NE, Henry Sumner. Ancient Law. New Brunswick: "IYans action. 2002. p. 340.
6 Conforme elucida HESPANHA, Antonio Manuel. Panorama histórico da cultura jurídica européia. Lisboa: Forum da História - Publicações Europa-américa.1997. pp. 62-63.
7 Não é possivel o concerto quanto à correta grafia do nome deste pensador (encontran- do-se quem use "de Ockham". “d'Occam". et alíi). Nossa opção, na impossibilidade de acesso aos textos originais, ó pela forma mais utilizada nas lontes consultadas. LOUIS DUMONT chega a referi-lo como “arauto do espirito moderno", “fundador do positivismo e do subjetivismo em direito (...)" - DUMONT, Louis. O individualismo - uma perspectiva antropológica da ideologia moderna (trad. bras. de Essais sur /‘individualismo - Une perspective antropologique sur 1'idéologia moderne por Álvaro Cabral). Rio de Janeiro: Rocco. 2000, p. 76. De acordo, em referência expressa ao positivismo, MORTATI, Vincenzo Piano. In Dogmática o interpretazione - I sriuristi medfevali. Napoli: Jovene. í3" 191. Igualmente do acordo. *5ARLET, A eficácia dos direitos fundamentais cit., p. 39. Sobre OCKHAM, consulte-se os capítulos específicos de VfLANl, Origens nnfuievaia dr democracia moderna cit., pp. 57 e seguintes, e de BONALDO. Consistência teórica do direito subjetivo de propriedade cie., pp. 96 e seguintes.
8 Sobre o nominalismo, veja-se, dentre outros, na literatura juridica. PÊREZ LUNO, Antonio-Enrique. "teoria de/ Derecho - una concopciôn de la experiencia juridica. Madrid: Tecnos. 1997, p. 31. Na literatura especializada, FERRATER MORA, José. Dicionário de Filosofia (trad. bras. de Diccionario de FUosoGa - versión abreviada por Roberto Leal Fferreira e Álvaro Cabral). São Paulo: Martins Fontes. 1998, p. 513.
9 VILLEY. Estúdios en tom o a la noción de derecho subjetivo cit. p. 152.
55
Flávio Galdino
os homens são pensados como partes indissociáveis do todo social, à socíetas, associação em que as vontades individuais constituem a base da ordem política.10 O indivíduo concreto é o que conta. O nominalismo anuncia ao mundo medieval a chegada do individualismo.11
Não raro o contexto histórico é revelador de informações relevantes. Envolvido em célebre contenda com o poder papal, GUILHERME DE OCKHAM dedicou-se a encontrar fundamentos para evitar que a sua Ordem religiosa (a Franciscana) fosse "forçada" a aceitar a titularidade do “domínio" dos bens que usava, com o que se expressaria contra o célebre voto de pobreza de seu fundador.
Desenvolve então seu pensamento filosófico e jurídico a partir da tentativa guiada de promover a distinção e a separação entre o poder religioso e o poder temporal (humano-positivo). Lança, assim, a tese de que os homens instituíram voluntariamente o poder político com a função essencial de repartir e assegurar o gozo da propriedade12 (ou daquilo que se lhe assemelhava àquela altura e que restava então, para os fins propostos, "indene” à ação do poder religioso). Este e outros “iura et libertates", ou “potestates”, isto é, poderes que são reconhecidos ao indivíduo pela comunidade política como medidas da justiça humana,13 constituiriam as raízes da subjetividade jurídica14 ou, no que nos interessa, do direito subjetivo.
10 Assim GOYARD - FABRE, Simone. Os principios filosóficos do Direito Poli tico inodemo (trad. bias. de Les príncipes philoscphiques du Droit Politiquo modeme por Irene Patemot). São Paulo: Martins Fontes. 1999, p. 79. Ifembém DUMONT, O individualismo cit., p. 88 et passim.
11 Confira-se a síntese de BORNHEIM, Gerd. “O Sujeito e a norma", in NOVAES, Adauto (org.). Ética. São Paulo: Companhia das Letras. 1992, pp. 247-280. esp. p. 253.
12 Sobre a obra filosófica de Ockham. descrevendo com razoável detalhamento os eventos históricos em questão, DE GENNARO. Antonio. Introduzione alia storía dei pensiero giurídico. Ibrino: G. Giappichelli Editore. 1979. Veja-se o capitulo It, intitulado II paradigma teologico (pp. 111-221}, especialmente quanta ao ponto referido no texto, p. 173. Vide também, sintetieamente, PECES-BARBA, Gregorio et alii. Curso de ttoría dei Derecho. Segunda edición. Madrid: Marcial Pons. 2000, pp. 275-276.
13 Intcrcssanto o ponto de vista de MAR1LENA CHAUÍ: "Na mesma linha dc c:parz^o ontre poder espiritual da Igreja e poder temporal da comunidade política, encontra-se o teólogo inglês Guilherme de Ockham, que, para melhor definir a justiça e bem comum, introduz a idéia de direito subjetivo natural. Para que a comunidade politica possa realizar a justiça, isto é. dar a cada um o que lhe ê devido segundo suas necessidades e seus méritos, é preciso que o legislador e o magistrado possuam um critério ou uma medida que defina o justo. Essa medida é o direito subjetivo natural" (CHAUf, Marilena. Convite á filosofia. 9a edição. São Paulo: Editora Ática. 1997. p. 393).
14 Ainda sobro a evolução do conceito de direito subjetivo, consulte-se SFORZA, Widar Cesarini. "Diritto soggotdVo". verbete na Enciclopédia dei Diritto. volume XII: 659-696, esp. p. 672.
56
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
Neste sentido é a opinião autorizada do filósofo francês MICHEL VILLEY, que se dedicou detidamente a estudar a história do direito subjetivo.15 É de se ressaltar que o autor empresta sua autoridade à tese de que a noção de direito subjetivo surge antes do próprio termo, remontando a OCKHAM,1 que já teria formulado o conceito. É posição justamente respeitada, com muitos adeptos.17
Sem embargo de haver quem conteste a existência de divisão entre a esfera pública e a privada durante a Idade Média,^ para esta primeira corrente de pensamento, como se pode perceber, o direito subjetivo nasce referenciando uma relação entre o indivíduo e o poder político (público e, a partir de então, estatal) - de base religiosa ou temporal, pouco importa aqui. Nasce, pois, de acordo com a consideração e qualificação atuais, eminentemente público.
15 É vasta a sua respeitada produção sobre o tema, destacando-se Seize Essa is de Philosophie du Droit (Paris: Dalloz. 1969). Neste estudo, consultou-se VILLEY, Estud/os en torno a la noción de derecho subjetivo, cit., passim: VILLEY. Michel. La tormation de la pensée juridique modeme (Quatrième edition. Paris: Les Édítion Montchetien. 1975: VILLEY. Michel. Filosofia do Direito - definições e fins do direito (trad. bras. de Philosophie du Droit por Alcidema Franco Bueno Torres). São Paulo: Atlas. 1977; e, em versão mais recente, VILLEY, Michel. Filosofia do Direito - definições e fins do direito - os meios do direito (trad. bras. de Philosophie du Droit por Márcia Valéria Martinez de Aguiar). São Paulo: Martins Fontes. 2003.
16 “O próprio termo "direito subjetivo" só data do século XIX. Mas a noção de direito concebido como o atributo de um sujeito (subjectum /uris; e que existe exclusivamente só na vantagem deste sujeito remonta pelo menos ao século XIV. Ela foi pela primeira vez dis- tinguida por Guillame d'Occam (...)"; VILLEY, Filosofia do Direito - definições e fins do direito cit., p. 120.
17 Vide SAMUEL, Geoífrey. Obligations and remedies. 2nd edition. London: Cavendish Publishing. 2000, p. 127. É a posição, entre nós, do estudo especifico sobre o tema de BONALDO, Conslstóncia teórica do direito subjetivo de propriedade, cit., pp. 96, 107. DUMONT, O Individualismo, cit., p. 76, nota S assume estar simplesmente resumindo VILLEY. Concordam COSTA JÚNIOR, Olímpio. A relação juridica obrigacional (situação, relação e obrigação em direito). São Paulo: Saraiva. 1994, p. 24. e também GONÇALVES. Aroldo Plinio. "O processo como relação juridica". In Técnica Processual e Teoria do Processo. Rio de Janeiro: AIDE. 1992, pp. 70-101, esp. pp. 7S-76. Parece concordar AMARAL, ftancisco. Direito Civil - Introdução. 3* edição. Rio de Janeiro: Renovar. 2000. p. 185. embora afirme, ao depois, que os direitos subjetives públicos surgem com a Revolução Francesa (p. 192).
18 SALDANHA, Nelson. O jardim e a praça - o privado e o público na vida social e na história. São Paulo: Edusp. 1993. esp. p. 42. Seja como for, h& certo consenso em que durante a Idade Média as regras de direito deveriam sempre estar fundadas na ucihtas com- munis: 'Vuiilitas. che era a base delle norme positive, non poteva essere che utililas com- muniu cf. MORTATI, Dogmatica e mterpretazione - 1 giurísti medievali cit.. p. 348.
57
Flávio Galdino
Mesmo admitindo-se como correta a tese de que a esfera pública só se juridiciza a partir da institucionalização do Estado na Era Moderna (e da formulação da respectiva categoria jurídica: o Estado), isto é, de que o direito público, cujas questões até então seriam objeto de análise apenas pela filosofia política, é fruto da construção teórica do século XIX,19 e de que, portanto, a Idade Média não o conheceu, ainda assim o direito subjetivo teria sido concebido originariamente tendo em vista a relação do indivíduo com o poder político, sendo pois, originalmente "público” .
De outro lado, o entendimento mais aceito - ao qual se adere neste estudo dá conta de que o conceito de direito subjetivo e a sua utilização no discurso jurídico-político sãoTprodutos da Era Moderna.20
O pénsámèritõ"júsriàturaTísta mèdieval, que construíra umalioção de direito natural enquanto norma objetiva, isto é, enquanto ordem - o conceito fundamental para compreensão dessa fase histórica21 -, cedeu espaço, transmudando-se paulatinamente. O jusnaturalismo dito moderno ressaltava já os aspectos subjetivos do direito natural, precisamente através do reconhecimento de vários direitos naturais,22 inatos ao indivíduo e oponíveis (ou exigíveis) ao Estado, pois que ante
19 LA TORRE, Massimo. Disawenture dei diritto soggettivo - una vicenda teórica. Milano: Giuítrè. 1996, pp. 33 e 41.
20 Assim, dentio outros citados a seguir, FINNtS, John M. Logga naturate e diritti naturati (trad. italiana do Natural Law and natural rights por Fulvio di Blasi, sob a supervisão de FVancesco Viola). Ibrino. G. Giappichelll Editore. 1996, pp. 224-225: PECES-BARBA, Curso de Teoria dei Derecho cit., p. 275: GOYARD-FABRE. Fundamentos da ordem jurídica cit.. p. XXXI. Entre nós, SOLON, A função do conceito de direito subjetivo de propriedade cit., esp. p. 8 . Embora adotando posição algo diversa. IGNACIO MASSINI. Carlos. El derecho, los derechos humanos y el valor dei derecho. Buenos Aires: Abledo-Perrot. 1987, p. 63 anota que somente a partir do século XIX a expressão se generaliza.
21 Sobre o tema. HESPANHA. Antonio Manuel. “Ias categorias dei político y dei jurídico en época moderna". Mimeo (45 p.). Retirado em maio de 2001 da página do Professor na internet em forma de arquivo de texto - http://members.nbci.com/am_hespanlia. Evita- se a citação do qualquer passagem do texto por recomendação do próprio autor.
- Assim o vwibet.' 'iii">?rvr. ■is.iurv, GUIDO t.'»SSÒ. in 2'JBBIO, ' i —'__- ‘ii.Dicionário de Politica, Volume 1 (trad. bras. do Dizionário di Política por João Ferreira e outros). 3* ed. Brasília: Ed. UnB. 1991. pp. 655-660. Sem embargo, noutro estudo, t ae autor sustenta a tese d i que as ordens objetiva e subjetiva co-implicam-se. e de que o pensamento antigo já as comprendia. inclusive a subjetiva (FASSÒ, Guido. "Rillessioni iogico-storíche su diritto soggettivo e diritto oggecivo". in Rivista Trimostrale di Diritto e Pioceduia Civíle. Anno XXVI (Milano: Giuffrè. 1972): 373-393, passim)■ Ainda no sentido do texto. LLOYD. Dennis. A idéia de lei (trad. bras. de The idea oílaw por Álvaro Cabral). 2* edição. São Paulo: Martins Fbntes. 2000, p. 96. Na literatura brasileira. FIGUEIREDO JR., A liberdade no Estado contemporâneo cit.. p. 50.
58
• introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Náo Nascem em Árvores
riores e superiores a ele - em uma palavra: as liberdades,23 as quais, positivadas, constituíram direitos públicos subjetivos face ao Estado, e, em aparente paradoxo, garantidos por ele. A relação com o "Estado" (Poder) faz ressaltar o caráter público que a noção em tela também traz em seu nascimento.
Isso não significa que se tenha abandonado a noção de ordem, a qual parece realmente ligada à própria noção de Direito24 (e também à de justiça). Com efeito, embora a expressão ordenamento jurídico (e a respectiva teoria) tenha sido “inventada" pelo positivismo jurídico no século XIX,25 a idéia de uma ordem imanente ao direito preexiste - a ordem é um valor para o direito, ora um fim em si mesma, ora um valor instrumental (para realização da justiça).2 Não há equivoco em se afirmar, sob determinada perspectiva, que a história consiste numa série de metamorfoses da ordem.27
23 De fato. o que se reconhecia infcialmente eram as liberdades. NELSON SALDANHA explica que a idéia de liberdade precede a de direito subjetivo publico. Em verdade, acentua o Mestre, somente após Hugo Gtócio e John Locke passou-se a falar em direitos naturais (em sentido subjetivo), pois antes proclamava-se apenas "o" direito natural. Com as revoluções liberais é que as liberdades passam a ser reconhecidas como uma categoria juridica genérica, o direito subjetivo. Assim, è possivel dizer que "Direitos sáo, portanto, um conceito genérico, onde as liberdades se subsumem como espécie. Historicamente a espécie motivou a conceituação do gênero: juridicamente o gênero qualifica a espécie"; (SALDANHA. Nelson. "Liberdades públicas", in Estado de Direito, liberdades a garantias. São Paulo: Sugestões literárias. 198Ó. p. 40). Entre nós. no mesmo sentido: TORRES, Ricardo Lobo. Os direitos humanos e a tributação. Rio de Janeiro: Renovar. 1995, p. 7, sob o sugestivo titulo "Da liberdade para os direitos", c p. 43: e FERRAZ Jr., Introdução ao estudo do direito cit.. p. 148. Na literatuia lusitana. VIEIRA DE ANDRADE. José Carlos. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Coimbra: Almedina. 1998, p. 13, observa que, a esta altura, "(...) os direitos nâo sáo ainda, em todo o seu alcance, direitos subjectivos".
24 Sobre a relação entre direito e ordem consulte-se a obra fundamental de SALDANHA. Nelson. Ordem e Hermenêutica - sobre as relações entie as formas de organização e o pensamento interpretativo, principalmente no Direito. Rio de Janeiro: Renovar. 1992. passim. Numa das muitas inspiradas passagens da ordem o Mestre sintetiza a relação: "A idéia de direito, desde o pensamento clássico sempre envolveu - tal como a idéia de justiça - as noções de c^orde;*"' ~ r"*v -• ■nar. h*"" tomo as dc n_"rto e sii^itria. nc"-v-c -j. J1 * gem para a idéia de ordem. (...) o Direito se caracteriza como oídem que vincula a institu- cionalidade politico-sodal e conteúdo das situações, que são situações dentro de uma daCd ordem" (pp. 168-169; sob>u a noçáu de ordem propriamente dita. pp. 29 e seguintes).
25 Conforme a lição de BOBBIO, Norberto. O positivismo juridico - Lições dc Filosofia do Direito (trad. bras. e notas por Márcio Pugliese, Edson Bini e Carlos Rdrigues, sem indicação do titulo original) São Paulo: Ícone Editora. 1995, p. 197.
26 BOBBIO. O positivismo juridico cit., p. 231.27 aíúmaçáo é, ainda uma vez. do Mestre NELSON SALDANHA. Ordem e Heimenèutica
cit., p. 82.
59
Flávio Galdino
A questão é, pois, de ênfase. Em verdade, talvez na época medieval já se começasse a fundamentar o reconhecimento de alguma esfera de ação individual tutelada como reflexo da ordem instituída (seja religiosa, seja "natural", seja humana) ou das ordens constituídas - já que se vivia uma situação de coexistência de ordens jurídicas diversas no seio do mesmo ordenamento jurídico (o assim chamado pluralismo jurídico).28 Todavia, a passagem para a Era Moderna terá representado, pelo menos, significativa mudança de perspectiva: o "direito subjetivo" (ou a figura que se lhe antecedeu) deixa de ser postulado da ordem, e a ordem toma-se subordinada em relação ao direito subjetivo.29
Com efeito, é bem possível que o nominalismo tenha sido o berço do pensamento antropocêntrico e individualista, o qual sem dúvidas abre caminho para a subjetivação do direito - talvez fosse o direito subjetivo in nuce.30
Mas é somente com o jusnaturalismo do século XVIII que o movimento, impulsionado pela laicização (ou secularização do pensamento), pelo empirismo e pelo racionalismo, toma-se realmente dominante,31 tanto sob o prisma teórico, por conta de uma formulação teórica consistente e acatada, como sob o prisma institucional - em razão da sua adoção generalizada.32 Na verdade, são vozes que entoam a mesma canção, mas em tons inconfundíveis.
28 HESPANHA, Panorama histórico da cultura juridica européia c/t., p. 92.29 Leonard Krieger. antigo Professor de História da Universidade de Vale (E.U.A.). afirmou:
"A múltipla e tortuosa era revolucionária, que foi de meados do século XVIII às últimas décadas do século XIX foi, para o tema da liberdade política, simples. (...) O período marcou uma curva importantíssima na história do Ocidente, pois testemunhou o desenvolvimento da liberdade, transformada de valor subordinado em dominante. Onde a liberdade tinha sido um postulado da ordem, esta agora se tornou uma condição da liberdade" {KRIEGER. Leonard. "Etapas na história das liberdades políticas". In FBIEDRICH, Carl J. Liberdade (volume U da coleção Nomos; trad. bras. de Nomos IV: Liberty por Norah Levy). Rio de Janeiro: O Cruzeiro. 1967. pp. 13-36, esp. p. 26). A seu turno, NELSON SALDANHA afirma que o “valor ordem serve de base para as liberdades" (SALDANHA, Nelson. Ordem e Hermenêutica cit., p. 71).Na feliz dicção de LA TORRE. Disawenture dei diritto soggettivo - una vicenda teórica cit.. p. 45: "È vero che Ia struttura política med/evale, in particolare la conligurazione cont- tratuale dei rapporU tra signore e vassallo, condene in nuce elementi di una teoria dei dirittí". Embora sem se dedicar ao tema dos direitos subjetivos (nem referir VILLEY), refira-se mais uma vez VILANI, Origens medievais da democracia moderna c/t , pp. 57 e seguintes (esp. p. 64: "Na obra de Guilherme de Ockham vislumbramos uma noção de liberdade mais tarde desenvolvida pelos liberais modernos").
31 HESPANHA (Panorama histórico da cultura juridica européia de.). a propósito do jusnaturalismo. fala em "ligações muito profundas com o nominalismo" (pp. 149 e 151. esp. nota 218).
32 Referindo-se diretamente aos direitos humanos, assim se expressa o clássico OTTO von GIERKE: “En este sentido, la doctrina medieval estaba ya. de una parte, imbuída de la idea
30
60
Introdução à Teoria dos .Custos dos Direitos - Direitos Mão Nascem em Árvores
'Iànto assim que somente com o iluminisms^eteçentesco, cujas premissas incluíam a liberdade e a igualdade qeneralizante entre os indivíduos, são repudiados os privilégios {privilegia) - os eventualmente individuais e notadamente os estamentais espécies de direitos reconhecidos em face dos soberanos pelas leis.escritasuou.unilateral-
-IHStlte-concedidos em caráter especial. (intuitu personae) pelo próprio •TjiBBBrantferevõgáveis a qualquer tempo,33 característicos da Era ante- "nõr (f/lêdieval) e vistos na nova Era como exêrcicio do arbítrio das autoridades políticas, de modo que a construção subseqüente - o direito
■ subjetivo, é uma prerrogativa definida abstratamente e acessível a todos os membros da comunidade política.34
Com efeito, não há dúvida de que a noção de direito subjetivo tal como nós o entendemos hoje só se pode afirmar numa atmosfera cultural na qual passa a ser exaltado^o valor da subjeüyidade humana - quando o homem ganha afrente do palco35 e os liames sociais começam a ser pensados em termos voluntários.36
Na verdade, evidentemente se reconheciam direitos - a retórica dos direitos e da justiça não surge na época moderna, é tão antiga quanto o homem -, há que se frisar apenas que na sociedade medieval os direitos encontravam-se atrelados ao status do indivíduo,37 isto é,
de tos derechos humanos innatos o indestructibiles correspondientes a1 indivíduo. Si bien la tormulación independiente y la classilicaciôn do tales derechos pertenecen a un estádio posterior de la teoria jusnaturalista, (...)" (von GIERKE. Otto. Tfeorias políticas de la edad media (sem indicação do titulo original: tiad. esp. por Piedad Garcia-Escudero). Madrid: Centro de Estúdios Constitucionales. 1995, p. 228). No sentido do texto, veja-se CAVALCANTI FILHO. Theóphilo. 7feoria do Direito. São Paulo: José Bushatsky Editor. 1976, esp. p. 113.
33 Von GIERKE, Tborías políticas de la Edad Media cit., p. 227. Sobre a passagem do Estado estamental ao libera), e também sobre os privilégios, v. UNGER. Roberto Mangabeira. O Direito na sociedade moderna - Contribuição à critica da teoria social (trad. bras. de Law in modem society - coward a criticism of social theory. por Roberto Raposo). Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira. 1979, p. 173 et passim. Ainda, SOLON. Ari Marcelo. A função do conceito de direito subjetivo de propriedade. (Dissertação de Mestrado submetida à FDUSP). Sáo Paulo: USE 1987. Mimeo, esp. p. 11.
34 Ainda sobre os privilegia, a obra fundamental de MORTATI, Dogmática e intorpretazio- n e -Ig iu r is t i medieval! cit., o capitulo V-Iussingulare e privilegium nelpensiero dei glos- satori, pp. 265-371, esp. pp. 277 e 351-352. Sobre o tema. entie nós - em contexto especifico veja-se TORRES. Ricardo Lobo. A idéia de liberdade no Estado Patrimonial e no Estado Fiscal. Rio de Janeiro: Renovar. 1991. Anotando a passagem do beneficio intuitu personae ao acesso geral, COING, 'Sirjnification de la notion de droit sub jcctif cit., p. 3
35 GOYARD-FABRE. Os Fundamentos da Ordem Juridica cit., p. XXIV.36 Cf. LA TORRE. Disavventure dei diritto soggettivo - una vicenda teórica cit., p. 44.37 Eric Hobsbawn indica várias diferenças entre os direitos decorrentes do status nas socie
dades pré-industriais e os direitos tal como reconhecidos ulteiiormente (HOBSBAWM.
61
Flávio Galdino
dependiam da sua quase sempre inflexível condição social (mais detidamente sobre o status, vide item 4.1).
Desde as origens do pensamento aristotélico reconhece-se a cidadania como uma relação de pertinência a uma determinada comunidade política. Na Idade Moderna é que essa idéia de cidadania vai englobar, além daquela relação de pertinência, direitos38 (entendidos aqui no sentido de direitos subjetivos) e, nesse passo, primordialmente em relação à comunidade política, embora se deva frisar que atualmente a cidadania extrapola os limites de uma determinada comunidade política para assumir outras dimensões, inclusive no plano internacional.
Neste sentido, parece correto afirmar que a semente individualista de OCKHAM somente floresce em direitos subjetivos quando finalmente iJuminada pelo pensamento do século XVII, razão pela qual este estudo adere ao entendimento de que o direito subjetivo "nasce" na Era Moderna. E aqui também, de acordo com esse segundo grupo de pensadores, consoante remarcado anteriormente, nasce público.
Destarte, seja qual for a premissa histórica aceita quanto ao nascimento dos direitos subjetivos (de acordo com a ênfase que se preten- da atribuir a este ou àquele evento), em ambas observa-se que a idéia de direito subjetivo surge originariamente pública39 - há sempre uma
“ referencia à relação do indivíduo com a comunidade política ou com o Estado (Poder), que denota a publicidade. Isto fica claro também a partir da observação de que em ambas as construções é a propriedade. então direito subjetivo de propriedade, que opera a transição para o mundo dos direitos. '
"Com efeito, seja qual for o momento em que se reconheça tenha surgido o direito subjetivo, dentre as referidas libgrdades. no,seio das quais florescem a idéia e o conceito, está precisamente a propriedade
Eric. J. Mundos do trabalho - novos estudos sobre a história operária (trad. de Wbrlds o l labour por Waldea Barccllos e Sandra Bedran) 3* edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 2000. p. 421).
38 CL COSTA. Pietro. “A pmposlto dell'idea moderna di cittadinama: un itinerário illuminis- tico". In De la ilustración al liberalismo - Symposium en honor al Profesor Paolo Grossi. Madrid: Centio de Estúdios Constitucionales, 1995, pp. 299-316. esp. p. 303.
39 Corrato. em caiáter meramente incidental e sem maiores digressões. COING. Helmut. "SignUicítion de la notion de droit subjectiT. In Archives de Philosophie du Droit. Tome IX - Lo droit subjectif en question- Paris: Siiey. 1964, pp. 1-1S, esp. p. 2. AUter, também sem maiores explicaçóes, a opinião autorizada de CARNELUTTI, Francesco. Teoria Geral do Direito. São Paulo: Lejus. 1999, p. 282: “O conceito de direito subjetivo nasceu e cresceu no terreno do direito privado*.
62
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
(liberdade de assenhorar-se se bens), cuio respeito oor parte do Estado flãTprõteção em face dos demais indivíduos assume relevo fundamen- faTnõ momento inicial. Há mesmo quem diga que é a propriedade que fasTcTelò'ÜeTíigação entre a liberdade (no sentido de direito natural) e odireito subjetivo.40
Mesmo no Brasil, as discussões sobre o regime escravocrata no século XIX revelam nitidamente a metamorfose do conceito de propriedade, de privilégio a direito natural a partir da influência de documentos como a Declaração dos Direitos do Homem e o Código Civil francês de 1804, com amplas implicações sobre os demais direitos civis e mesmo sobre os direitos políticos.41 A "conquista" da propriedade (entenda-se, dessa nova propriedade) é a viga central do sistema juridico brasileiro imperial.
Não que as épocas anteriores, inclusive a medieval, não reconhecessem a capacidade de assenhoramento da terra (e das coisas em geral), reconhecida que é desde o início dos tempos.4 a época moderna, porém, demarca a individualização da propriedade em grau máximo, bem como a concentração dessa titularidade com relação a uma única determinada ordem juridica (relembre-se que no período anterior eram várias as ordens jurídicas vigentes e coexistentes).
40 VILLEY. Filosofia do Direito cit.. p. 12S. De acordo, GORDILLO. Agustin A. Tratado de Derecho Administrativo - Parte General. 7bmo II. Buenos Aires: Ediciones Macchi. 1986. pp. XV-7,8; LOPES, José Reinaldo de Lima. ‘ Direito subjetivo e direitos sociais: o dilema do Judiciário no Estado Social de Direito". In Direitos humanos, direitos sociais e justiça (org. José Eduardo Faria). 1* ed. 2a tir. São Paulo: Malhciros. 1998. pp. 113-143. esp. p. 120: e ANTUNES, Paulo de Bessa. Uma nova introdução ao direito. 2‘ edição. Rio de Janeiro: Renovar. 1992. p. 1S9.
41 Sobre o tema. vide o estudo de GRINBERG, Kéila. O fiador dos brasileiros - Cidadania, escravidão e direito civil no tempo de Antonio Pereira Rebouças. Rio db Janeiro: Civilização Brasileira. 2002, pp. 210-211. Ainda sobro as questões jurídicas escravocratas e a importância da proteção à propriedade, vide PENA, Eduardo Spiller. Pajens da Casa Imperial - jurisconsultos. escravidão e a Lei de 1871. Campinas: Editora da UNICAMR 2001. passim.
42 ãobre o cor:rc:'.u ac ^:nprieJr;c cs rciuanos, TUCK, Natural Thecnes cit.. pp. 8 e seguintes; VILLEY, Estúdios en torno a la noción de derecho subjetivo cit., passim: (ambos concluindo que não poderia ser um direito subjetivo tal como nós o entendemos): e, entre nós, BONALDO. Consistência teórica do direito subjetivo de propriedade cit., p.69 (concluindo no mesmo sentido). Paia uma panorama especifico da propriedade agrária romana, permita-se a referência ao importante estudo de WEBER, Max. História agrária romana (trad. bras. de AõmiscJie Agrargcschiçhte por Eduardo Brandão). São Paulo: Martins Ibntes. 1994. Sobre a evolução da propriedade e a diferença entre a propriedade medieval e a moderna, veja-se o primeiro capitulo de SOLON, A função do conceito de direito subjetivo de propriedade cit.. esp. pp. 11 e seguintes.
Flávio Galdino
Assim sendo, consagrada a propriedade ou, mais precisamente, o direito individual e exclusivo de propriedade como integrando a inviolável esfera privada do indivíduo, na qual o Estado não pode em linha de princípio intervir, seu reoramento passa a ser, incontinenti, objeto de atenção quase exclusiva do Direito Privado43 (em especial do direi- to civil) e, na verdade, de grande atenção, pois o direito de propriedade passa a ser um dos pilares da civilística moderna e contemporânea (inclusive no Brasil).
Deveras, o direito de propriedade ocupava lugar central na cons- trução^civilistica, e essa centralidade é como que transferida à categoria juridica na qual ela estava inserida - o direito subjetivo.44 O direito de propriedade passa a ser visto como um atributo do indivíduo (a propriedade privada), que não poderia ser subvertido pela ação estatal.
Se é certo que, com efeito, a Era Liberal se desenvolve a partir do Estado, o é também que desde o berço ela expressa profunda aversão por ele - natural repulsa ao Estado absolutista anterior. Entendia-se (também) a ordem econômica como natural,45 acreditando-se fosse desnecessária e mesmo indevida a intervenção do Estado no exercício das atividades econômicas pelos particulares, devendo o Estado simplesmente defender essa esfera fundamental da liberdade, a econômi- ca46 - em especial a propriedade.
Sendo assim, o exercício da liberdade econômica envolveria apenas os particulares, de modo que o Direito, de certa forma, fecha os
43 Civilista de escol. PIETRO RESCIGNO (ala de um momento histórico de privatização da .propriedade: "(...) privatizzazione delta próprio tá, caratterc costante delle legislazioni deWOttocento"; veja-se RESCIGNO, “Per uno studiosulla proprietà", in Rivista di Diritto Civile Anno XVIII (1972): 1-67. esp. p. 7.
44 Sobre o ponto, vale conferir LOPEZ Y LOPEZ. Angel M.. "Gény. Dugvit y el derecho subjetivo: evocación y nota sobre una polemica". In Quademi Fiorentini per la storia dei pen- sioro giurídico moderno 20 (Milano: Giuffrè, 1991): 161-179, esp. p. 165. E, entre nós, novamente. BONALDO. Consistência teórica do direito subjetivo de propriedade cit.. p.124 e passim. Apenas a titulo exemplificativo, consulte-se a conclusão de DABIN. Jean. El derecho subjetivo (trad. esp. de Le droit subjectif por Ftancisco Javier Osset). Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado. 1955, pp. 128-129. em que o autor, que dedicou linhas importantes ao tema, claramente correlaciona a noção de direito subjetivo com a noção de dominio.
45 NUSDEO. Fábio. Curso do Economia - Introdução ao direito econômico. 2° edição. São Paulo: RT. 2000, p. 130.
46 Identifica-se a origem desse modelo de pensamento (econômico) em Adam Smith. Sobreo tema. GALBRAITH, John Kenneth. O pensamento econômico em perspectiva - uma história critica (trad. bras. de Economics in Perspective - a criticai history por Carlos Malferrari). São Paulo: Pioneira/EDUSR 1989. esp. p. 61.
Introdução & Teoria dos.Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Árvores
olhos ao que é público,^dedicando-se fundamentalmente ao que é pri- ~vãiiõST'(o Que traz dificuldade para a compreensão das atividades' materiais/prestacionais do Estado, conforme aduzido no item 6).
Destarte, sem embargo da inegável origem pública - medieval ou moderna - da idéia de direito subjetivo, seu desenvolvimento ocorre sob influência de uma ótica eminentemente privatistica. notadamente sob a égide da Pandectistica alemã do século XIX,48 corrente de pensamento que, sobre a base sólida do direito romano (sobre as Pandectas), buscava elaborar uma construção sistemática do Direito - um sistema marcado pela clausura e plenitude.49
Daí, dentre as muitas correntes de pensamento de que era composta, derivou uma ciência do Direito fundada em conceitos meramente formais e seus liames lógicos, que permitiriam inclusive o conhecimento de proposições jurídicas não expressas, deduzidas através da chamada genealogia dos conceitos - é a jurisprudência dos conceitos (Begriffsjurisprudenz).So Nesse momento constrói-se a idéia de configurar o Direito como uma pirâmide conceituai, que seria mais tarde retomada para exprimir uma pirâmide de normas.
A dominação que o modo de pensar privatista exerceu é perceptível sem qualquer dificuldade. De um lado, a nascente construção ius- publicística toma por empréstimo o método;e os conceitos desenvolvidos pela doutrina privatistica,51 notadamente no sentido da construção
47 NUSDEO. Curso de Economia cit.. pp. 134-135: "(...) durante toda a era liberal, (...) a menina dos olhos foi o direito privado (...) se os demais ramos também evoluíram. íoi. certamente, a um ritmo bem menor e em tons mais apagados
48 MICHEL VILLEY ressalta a influência da Pandectistica sobre a noção de direito subjetivo (veja-se FilosoGa do Direito c/t.. p. 122); de acordo, AMARAL. Direito Civil cit., p. 185. Em especial acerca da Pandectistica. vide a obra semina) de W1EACKER. Franz. História do Direito Privado Modemo (trad. port. de Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berúcksichtgung der Deutschen Entwicklung por A. M. Hespanha). 2» edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 1993, pp. 491 e seguintes, et passim.
49 WIEACKER. História do Direito Privado Modemo cit.. pp. 494, 497, et passim. COING, "Signification de la notion de droit subjectil' cit., p. 2.
50 Muitos autores dedicam-se ao tema. Por todos, veja-se HESPANHA. Antonio Manuel. Panorama histórico da cultura jurídica européia. Lisboa: Fórum da História - Publicações Europa-américa, 1997, p. 185. E ainda, LARENZ, Metodologia da Ciência do Direito cit., pp. 21 e seguintes.
51 Veja-se a competente demonstração de LA TORRE. Disawenture dei diritto soggettivo - una vicenda teórica c/c., p. 37. No mesmo sentido, PECES-BARBA, Curso de Derechos Fundamentales cit., p. 27. Em vernáculo, com atenção especial ao desenvolvimento dos conceitos do direito administrativo, o estudo de DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Do Direito Privado na Administração Pública. São Paulo: Atlas. 1989. esp. pp. 79 e seguintes, ressaltando a influência não só conceituai, mas também metodológica, do direito priva
Flávio Galdino
sistemática de conceitos juridicos por derivação. Os direitos públicos subjetivos então surgidos são emprestados das construções privadas sobre o direito subjetivo.
Esse empréstimo continuado, muitas vezes inconsciente,S2 acarreta problemas teóricos de elevada monta e, por vezes, resultados prátk cos"9èsastroiõs ja de^hà muito diagnosticados por alguns publicistas, sem que tenha sido apresentada nenhuma solução concreta ou definitiva para o problema.
Deve ser rejeitada, porém, a tese consoante a qual os esquemas privatísticos são sempre inadequados para o direito público,53 pois não é possivel âfirmar aprioristicamente a eterna e incondicionada incompatibilidade, que deve ser aferida in concreto. É possível, contudo, com
'táasê nas observações qutfsír seguem"(item*6T3 e item 15.2), afirmar que a construção dogmática privatistica do direito subjetivo é insuficiente para expressar situações juridicas de direito público.
De outro lado, e apenas ratificando a premissá~ãnterior, basta a demonstrá-la que duas das teorias até hoje de alguma forma dominantes acerca da natureza/conteúdo do direito subjetivo referidas no item 6.1 - a teoria da vontade e a teoria do interesse - são devidas célebres cultores do Direito Privado do século XDC: FRIEDRICH KARL von SAVIGNY e RUDOLPH von JHERING, respectivamente.
Assim, o conceito que nasce público, cresce privado54 no seio da então nascente e hoje dominante "Tfeoria Geral do Direito"55 (o privado
do (especialmente do esquema pandectistico) na criação do diteito administrativo, que seria “filho do direito civil" (p. 85). nascido através de técnicas de transposição.
52 HARIOU, André. “A utilização em direito administrativo de regras e principios do direito privado*. In Revista de Direito Administrativo 1:465-473, esp. pp. 469-470.
53 A afirmação é de JOSÉ CRETELLA JR. Sem embargo de não concordarmos com a assertiva, merecem referência seus estudos sobre o tema: “As categorias juridicas e o direito público'. In Revista dos Tkibunais 375:7-11; ‘ Reflexos do direito civil no direito administrativo". In Revista de Direito Civil 2:117-125: “Esquemas privatisticos no direito administrativo'. In Revista de Informação Legislativa 96: 253-262. Os dois últimos são repro- duçõos com algumas modificações do primeiro.
■14 É bB?,!>ct<» expressiva a cbsorvrçãc do MnrPANHA. un; i!oí a *r ó » M'*stãocom precisão: “Esta teoria dos direitos naturais (ou subjetivos), que começa por ter aplicações importantes nos dominios do direito público, era. na sua natureza intima, uma teoria de diteito privado, pois dizia respeito. originariamente, ao modo de ser das relações entre os indivíduos. B foi, de facto, nos dominios do direito privado que ela teve conseqüências mais duradouras, fornecendo a base para a construção doutrinai efectuada pela pandectistica alemã do século XIX': (v. HESPANHA. Panorama histórico da cultura juridica européia cit.. p. 154).
55 Veja-se também SALDANHA, Nelson. Formação da Ifeoria Constitucional. 2* edição. Rio de Janeiro: Renovar. 2000, pp. 190-3. onde o autor discorre sobre o privatismo predominan
66
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Árvores
"en te n d id o ” como geral), e essa evolução conceituai d e base eminentem ente privatistica e individualista despreza muitas notas marcantes da natureza pública dos direitos subjetivos reconhecidos (declarados ou constituídos) em face do Estado e, principalmente, dos direitos fundamentais.
Deveras, uma tal formulação conceituai de direito subjetivo, ao contrário do que se usa afirmar,56 é manifesta e absolutamente inadequada57 para designadas situações subjetivas referentes aos direitos subje-
n í ^ publicos, e bem assim para a assegurar-lhes a respectiva tutela, notadamente aquelas que referem situações juridicas"existenciais (cujo conceito é aprofundado no item 4.2, sobre situação jurídica).
Como se demonstrará adiante, os direitos subjetivos públicos devem ser conceituados a partir da especialidade da situação (ou relação) jurídica de natureza pública de onde promanam e, também, tendo em vista o tipo de prestação (que por ora pode ser entendido como dever juridico) a ela correlato. A natureza iusfundamental (e, portanto, pública) da prestação influi sobre o conceito do direito subjetivo, afastando a conceituação elaborada em base meramente privatistica, que é, repi- se-se, francamente insuficiente, também e inclusive para a compreensão das próprias relações privadas, tanto assim que, como será visto em linhas a seguir, os próprios civilistas buscam a sua substituição.
Por derradeiro, insta observar que, ao surgirem, os direitos são entendidos como naturais, inatos ao homem e preexistentes a qualquer organização política - é o jusnaturalismo, já antes referido. Em oposição ao jusnaturalismo medieval, em que o Direito e por conseguinte também os direitos possuíam origem divina. O jusnaturalismo moder
te no momento de elaboração da assim chamada teoria geral do Direito, o que determinou a tendência no sentido de transportar para o direito público o pendor dogmático encontrado no direito privado.
56 Assim em KELSEN, Tboria Geral do Direito e do Estado cit., p. 126, sustentando este autor r-r rwir<!Ívo| -grupa' rob r • ;_-mo direito ri Jl. os direitos públicos (por exemplo, os politicos). Ainda acerca da incorporação de modelos privatisticos pelo direito público, vide BOÜ3IO, Dalla strvtura alia (unzione cit., 105.
57 A inadequação das categorias privatistica^ já (oi anteriormente intuído por alguns autores, sem que tivéssemos encontrado autor que aprofundasse o tema. A propósito, tratando especificamente dos direitos subjetivos, confira-se FRANCO MONTORO, Introdução à ciência do diteito cit.. p. 477: “Entretanto, uma das limitações mais comuns que se verifica nas classificações tradicionais é sua vinculação ao direito privado. E, muitas vezes, a inadequação aos novos aspectos que assumem hoje antigos institutos juridicos, comoo direito de propriedade
67
Flávio Galdino
no {stricto sensu) professava a tese de que o direito é fruto da razão humana - é o jusnaturalismo racionalista.ss
O racionalismo moderno que serve de base ao jusnaturalismo de então (modemo), dentre outras características,59 imaginava ser possivel ao homem alcançar a essência dos objetos através da razão. Assim procede porque assume que o homem pode conhecer, através da razão, a essência (igualmente racional) das realidades - dai dizê-lo fundado numa racionalidade objetiva.60
É um ponto importante, pois significa dizer que o jusnaturalismo modemo - e o direito subjetivo nos moldes em que foi desenvolvido - implica a adoção de um modelo de pensamento essencialista (ou realista, confira-se o item 5.1), e que não se coaduna com as premissas adotadas neste estudo.
Em apertada síntese, pode-se dizer que, embora pública de nascimento, a categoria direito subjetivo é desenvolvida sob a ótica privatis- ta através de um modelo de racionalidade objetiva (essencialista) - o que se mostrará bastante inadequado.
58 Paia uma sintese da evolução histórica do pensamento jusnaturalista, veja-se FASSÒ, "Jusnaturalismo" cit.. passim.
59 Especificamente sobre as influências do racionalismo moderno no processo civil. SILVA. Ovfdio Baptista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canõnica. São Paulo: RT. 1996, pp. 102 e seguintes.
60 ConCra-so CHAUf, Marilena. Convite ã ÍUosofia c/t., p. 68 e passim.
68
Capítulo IIIDireito subjetivo: teorias críticas
i
v3. Direito subjetivo - as principais teorias críticas
Antes de apresentar as formulações conceituais dominantes em tema de direito subjetivo, passamos a apresentar as críticas que se formularam contra o conceito de direito subjetivo em si mesmo. Talvez se pudesse imaginar que o relato das criticas formuladas em face de um conceito deva ser apresentado depois dele. Não aqui, por uma razão expressiva que se passa a enunciar.
Deveras, a análise das teorias que negam a existência ou a relevância do direito subjetivo demonstra que o seu alvo imediato não é este conceito em si mesmo, mas as idéias que lhes servem de base. De outro lado, essas teorias demandaram formulações de conceitos que substituíssem o direito subjetivo, mas que, ao revés, interagiram com ele, o que determina a inversão da ordem de apresentação, em prol da melhor compreensão das idéias acerca da categoria em si mesma (que é exposta no item 6.1). Em sintese, observado o nascimento do direito subjetivo, passamos a apresentar algumas idéias que tentaram ceifar- lhe a vida (tendo resultado frustrado seu intento).
Muitas foram as teorias que negaram o direito subjetivo. Nosso propósito aqui é tão-somente apresentar, em linhas breves, porém firmes, as duas mais expressivas e importantes, que deixaram marcas profundas no pensamento juridico, determinando, inclusive, a formulação ou retomada de outras categorias (algumas delas também expostas a seguir). Assim é que o coletivismo de LEON DUGUIT e KARL LARENZ leva à formulação da situação e da posição jurídica; e o redu- cionismo normativista gera a retomada do conceito de status por GEORG JELLINEK, que trabalha, de certa forma e em sentido amplo, nas mesmas bases teóricas que HANS KELSEN viria a adotar, a saber, sob a influência do positivismo. Registre-se ainda a crítica realista do direito subjetivo, que será apresentada mais tarde, incidenter tantum, ao tratarmos dos conceitos jurídicos (capítulo V), tal como idealizada por ALF ROSS.
69
Flávio Galdino
Como sói acontecer em ciência, também o concfeito de direito subjetivo vem sofrendo permanente processo de aprimoramento por parte dos estudiosos, em boa medida em razão das tentativas de sua superação.
V l. A negação do diieito subjetivo através das concepções / \ coletivistas
Não é possivel deixar de registrar aqui algumas teorias que negaram a existência de direitos subjetivos - tanto seu valor científico como sua existência institucional. As principais objeções que se pode registrar são de fundo positivista-coletivista, e remontam ao início do século XX, na obra de LEON DUGUIT; posteriormente veio a critica de KARL LARENZ (que fundava seu sistema no conceito de posição jurídica). A exposição sucinta dessas opiniões será útil em momento posterior.
De plano, cumpre assinalar que é o debate ideológico entre coleti- vismo e individualismo que norteia - de modo preponderante - a negação ou a afirmação dos direitos subjetivos.1
Assim é que DUGUIT dirige suas armas contra duas características dos direitos subjetivos, quais sejam, os fundamentos (i) individualista e (ii) metafísico. Sustenta ele que o conceito de direito subjetivo é fundado numa premisàa individualista - numa concepção individualista da própria organização social - consoante a qual a sociedade deflui da associação voluntária entre os homens com o escopo de assegurar tais direitos. Para o autor, ao revés, o homem possui uma função instrumental na sociedade - uma concepção funcionalista do homem, inexistindo direitos subjetivos,2 de modo que sua idéia de direito seria fundada numa concepção essencialmente socialista (lato sensu, e sem vinculação a qualquer corrente de pensamento político). Também o caráter metafísico é objeto de crítica. Anotando que as principais con
1 É a observação de BERGEL, Jean-Louis. Teoria Geral do Direito (trad. bras. da Tb^.-.u Cénerale du Droit pui Maria Ermantina Galvão). São Paulo: Martins Fontes, 2001, pp. 30 e seguintes.
2 DUGUIT, Leon. Las transformaçiones gencrales dei derecho privado desde el Código de Napoleon (sem indicação do titulo original, trad. espanhola por Carlos G. Posada). 2» edição. Madrid: Francisco Beltian. S.d., p. 35: 'B I hombre no tiene derechos; la colectividad tompoco. Pero todo indivíduo tiene en la sociadad una cierta función que cumplir. una cier- ta tarca que e/ecutar (...)“; e aplica a noção, ad exempfificandum. ao direito de propriedade: "La propriedad no es ya el derecho subjectivo dal proprietário; es la función socisl dei poseedor de riqueza" (p. 8).
70
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Árvores
cepçõ es acerca do direito subjetivo giram em torno do conceito de vontade humana (v. item 6.1, onde se verifica que tais idéias encontram ressonância até hoje), DUGUIT assevera que esse conceito (ou fenômeno) suscita questões impossíveis de solução em sede científica positiva, e que, por isto mesmo, a noção de direito subjetivo encontra- se arru inada .3
Em momento de rara infelicidade, o jurista alemão KARL LARENZ, cuja imensa contribuição ao pensamento juridico ainda não foi corretamente dimensionada, aderiu ao nacional-socialismo (certamente sem compactuar com os horrores cometidos pelo respectivo governo alemão) e ajudou a desenvolver o respectivo modelo teórico. Sua crítica fundamental também se dirigia ao individualismo que marca o modelo jurídico liberal-burguês, e que o autor pretendia ver substituído por uma concepção coletivista. Assim, o ataque ao individualismo finda por se tornar ataque aos seus conceitos juridicos fundamentais: pessoa e direito subjetivo.
Nesta fase de seu pensamento, LARENZ deforma a "pessoa", entendida como ente titular de direitos em razão da simples existência (a subjetividade), chegando a afirmar que nem todos os homens são pessoas, isto é, titulares de direitos, mas somente aqueles que integram a comunidade política,4 e mesmo entre estes os direitos seriam diferidos em razão da posição que ocupassem. A “regra" vale também para as "não-pessoas” : haveria vários tipos de “sub-homens”.5
3 DUGUIT. Las transformaçiones generales dei derecho privado desde el Código de Napoleón cit., pp. 28-9: "(...) Podomos seiialar las manifestaciones exteriores de las volun- tades humanas. Pero cuál es Ia naturaloza de la voluntad humana? (...) He aqui unas quantas questiones cuya solución es imposible en ciência positiva. Por esto mismo la noción de derecho subjetivo se encuentra totalmente arruinada y com razón pvodo afirmar que es una noción de ordcn metafísico, que no puede sostenerso en una época de realismo y de positivismo como la nuestra".
4 Apud LA TORRE, “Nostalgia for the homogeneous community: Karl Larenz and lhe National Socialist theory ofcontract". EUI WorWng Paper 93/7 (San Domenico. 1993): 1- 95, esp. p. 16: “lt's not wery human being who is legaüy capable of rights, but only the Volksgenosse as Rechtsgenosso".
5 Assim é que no malfadado regime nacional-socialista alemão havia diferenças de tratamento entre os judeus (já considerados “uma categoria" abaixo dos demais). Judeus-ale- mães recebiam tratamento diverso dos judeus-tranceses, por exemplo, e mesmo naquele primeiro grupo, havia distinçòes enue os que eram ex-combatentes ou não, e assim por diante. Por interessante, conlira-se. o relato de ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém - um relato sobre a banalidade do ma), (trad. bras. de Eichmann in Jerusalem - a roport on the banality o f evil por José Rubens Siqueira). 2a reimpressão. Sáo Paulo: Companhia das Letras. 1999. Esp. p. 148.
Flávio Galdino
À luz dessas "premissas” , o conceito de pessoa seria assim um conceito superado pela história,6 substituído pelo conceito de posição legal (ou juridica) do individuo na sociedade.7 Neste quadro não há lugar para o direito subjetivo, que é eliminado.8 Esse modelo de posição jurídica corresponde grosso modo ao status vigente na época medieval (vide digressão histórica anterior, item 2), em que o indivíduo simplesmente representava uma particular condição social - uma função social, a qual, por ser excludente, é completamente incompatível com o direito subjetivo.9
As previsões desses professores não se tornaram realidade. Em primeiro lugar, a concepção funcionalista do indivíduo, e as concepções coletivistas em geral, não prevaleceram.
Historicamente, tais concepções forjaram (ou moldaram juridicamente) os regimes totalitários, que representaram - no plano institucional - uma proposta de organização da sociedade na qual os homens são supérfluos.10 Não é preciso rememorar com detalhe aqui o triste quadro a que foi conduzida a sociedade de então.11
Mas há espaço para uma observação histórica que merece reflexão. Estudos sérios demonstram que na Alemanha nazista, notadamente a partir de 1935, quando foram editadas as leis raciais nazistas, as chamadas Leis de Nuremberg, as discriminações odiosas contra
6 LA TORRE, "Nostalgia for tho homogeneous communíty.' Karl Larenz and the Nacionai Socialist theory o f contract" c/t., p. 20.
7 “The fundamentai concept o f future private law will no longer be the person. the abs- tractly equal bearer of rights and duties. but the Rechtgenosse, who as member of the commun/ty has a ivell-defíncd position of rights and duties". Apud LA TORRE, “Nostalgia for the homogeneous communíty: Karl Larenz and the National Socialist theory of contract” c/t., p. S.
8 LA TORRE, "Nostalgia for Cbo homogeneous communíty: Karl Larenz and the National Socialist theory o f contract" cit.. p. 10.
9 LA TORRE, “Nostalgia for tho homogeneous communíty: Karl Larenz and the National Socialist theory of contract" cit., pp. 20-21. *
10 LAFER. Celso. A rcconstiuçâo dos direitos humanos - um diálogo com o pensamento de Hannah Aiendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 19.
11 Consulte-se, ainda uma vez, o rolato de ARENDT, Eichmann em Jerusalem cit., passim.12 Trata-se do cuidadoso estudo de RIGG, Bryan Mark. Os soldados judeus de Hitler - a his
tória que não foi contada das leis raciais nazistas e de homens de ascendência judia nas forças armadas alemãs (trad. bras. de Hitler's Jewish Soldiers por Maicos Santanita). Rio de Janeiro: Imago. 2003, p. 59 et passim. No Brasil do século XIX, discutiu-se aceica da possibilidade de acesso de ex-escravos a determinadas funções militares (na guarda nacional), prevalecendo a idéia de que, embora livres, tais pessoas náo poderiam ocupá- las, criando-se uma situação de cidadania intermediária (vide GRINBERG, O fiador dos brasileiros c/t., p. 186).
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Árvores
judeus e mesmo contra meio-judeus (Mischlinge13) - cuja humanidade foi colocada em xeque - foram recebidas com festa pela comunidade nazista e também (!) por uma parcela da comunidade judaica que professava alguma espécie de ortodoxia mais radical, porque tais normas impediam os casamentos mistos (!?).
Estas leis raciais criaram novos status (vide item 4.1} para determinadas pessoas, como judeus e meio-judeus, negando-lhes cidadania passo a passo. Iniciaram restringindo determinados direitos: por exemplo, um soldado alemão era proibido de fazer compras em lojas náo- arianas (que, depois, foram impedidas de operar comercialmente). Passaram a restringir acesso a determinados cargos administrativos aos não-arianos.14
As leis chegaram ao cúmulo de proibir que um ariano mantivesse relações sexuais com uma meio-judia ou mesmo que se casasse com uma ex-mulher de um meio-judeu (por conta da assim chamada poluição racial).15 E terminaram com a lamentavelmente conhecida "solução final” (projetada também para os meio-judeus, ao menos por meio de esterilização em massa).
É terrível imaginar que algumas vítimas de grave discriminação, lastreadas no mesmo critério de discriminação, exaltassem tais leis e discriminassem as pessoas.16 É a situações deste tipo que a catalogação das pessoas em status pode conduzir...
Mas o status, com esse significado, não prevaleceu. Os sistemas políticos baseados nesse tipo de catalogação das pessoas foram condenados e execrados. E também no plano do pensamento, essa categoria alternativa ao direito subjetivo mostrou-se absolutamente insuficiente para a compreensão da sociedade e do próprio totalitarismo. E
13 As aludidas leis raciais nazistas deíiniarn a possoa e o seu status juridico segundo a religião dos seus avós (RIOG, Os soldados judeus de Hitler cit., p. 45).
14 RIGG, Os soldados judeus de Hitler cit., p. 46.15 RIGG, Os soldados judeus de Hitler cie., pp. 159 e 181r '• ' '16 Após a guerra, os filhos dos criminosos de guerra nazistas famosos, que eram bebês
quando tais crimes (oram praticados pelos seus parontes, sofreram com discriminação ao longo da vida - pelo simples fato de descenderem daquelas pessoas e de carregarem determinados nomes. Isto é, as vítimas da discriminação discriminaram seus semelhantes com base em critérios igualmente injustos, o que parece significar que a lição talvez não tenha sido suficientemente compreendida (vide os depoimentos em LEBERT. Norbert e LEBERT, Stophah. Tü carregas o meu nome: a herança dos filhos de nazistas notórios (trad. bras. de Denn du tragst meinen Namen por Kristina Michahcllcs). Rio de Janeiro: Record. 2004 (exemplo: Gudrun Himmler deixou de receber uma bolsa para estudos por ser filha de Heinrich Himmler).
73
Flávio Galdino
foi também teoricamente execrada com a sua superação, sendo essa descontinuidade temática uma dimensão da ruptura ocasionada por esses sistemas juridico-políticos totalitários.17
Por Sm. os conceitos criados para amparar suas concepções cole- tivistas - a situação e a posição juridicas - também acabaram absorvidos pela subjetividade,18 marca do individualismo, tão-somente realçando o direito subjetivo que prevalece até os dias de hoje.
3.2. A proposta de redução normativista
Ao lado das concepções coletivistas, também as concepções nor- mativistas - destacando-se a obra de HANS KELSEN19 - atacam o conceito de direito subjetivo, neste caso para retirar-lhe qualquer relevância teórica ou mesmo institucional. Ciente de que a complexidade da teoria kelseniana do direito supera em muito os lindes désse trabalho, ainda assim convém esclarecer alguns pontos.
A premissa normativista adotada pelo autor austríaco é de que todo o direito se reduz à norma, isto é, ao chamado direito objetivo.20 A característica da norma jurídica é determinar coativamente comportamentos humanos, o que é feito através da imposição de sanções aos comportamentos a ela desconformes. Assim, KELSEN relê o conceito de dever - originariamente de conteúdo moral, mas que, subvertido pelas teorias positivistas, passa a referir somente uma relação fática determinada pela coação21 - para concluir que a violação de um dever imposto pela norma juridica é condição de aplicabilidade da sanção nela prevista. Afirma-se expressamente que o dever é a contraparte da norma, mas não é nada quando separado dela.22
17 LAFER, A reconstrução dos direitos humanos cit.. p. 98.18 C(. desenvolvido no item 1.3. Sobre o tema, LEGAZ Y LACAMBRA. Luis. Filosofia dei
Derecho. Cuarta edición. Barcelona: Bosch. 1975, p. 7S1.19 Boa parte da construção kelseniana (oi elaborada na obra Hauptprobleme der
Seaatsrecheslehre entwickele aus der Lchro vom Rechessaeze, à qual contudo, não tivemos acesso, contando apenas com a competente análise de LA TORRE, Disawenturo dal tiiri:Z'j "g ge ttiv o - una vicenda teórica cit., pp. 181 e seguinte» (undc 6 sugerido o titulo que demos ao item). Mo mais, acompanhamos a construção desenvolvida pelo próprio autor, em KELSEN, Iteoria Geral do Direito e do Estado cit., passim.
20 Entre nós, parece ser a posição que adotou SAN TIAGO DANTAS. Programa de Direito Civil - Teoria Geral. 3a edição (revista por Gustavo Tepedino et alii). Rio de Janeiro: Forense, 2001. pp. 124-125.
21 SOLON, Ari Marcelo. Dever jurídico e teoria realista do direito. Porto Alegre: Sérgio Antonio Eabris Editor, 2000, p. 53.
22 KELSEN, Ifeoria Geral do Direito e do Estado cit., p. 84.
74
Introdução à Tborla dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem cm Árvores
Neste modelo confessadamente formalista (a lógica formal retoma o modelo piramidal dos conceitos para as normas), em que o direito não é conteúdo (isto é, admite qualquer conteúdo), mas tão-somente forma (daí dizê-lo positivismo formalista), não há espaço para o direito subjetivo, que funciona unicamente como possibilidade jurídica de colocar a sanção prevista numa determinada norma jurídica em movimento.2
Neste quadro teórico, é absolutamente impossível admitir-se qualquer idéia de direitos "jurídicos” preexistentes ao Estado (os direitos naturais) - até porque recusa-se qualquer possibilidade de conhecimento de valores extrapositivos atribuindo-se a essas construções naturalistas caráter meramente ideológico e não científico.24 A característica da pureza da teoria do direito consiste precisamente em “limpar” o direito de qualquer sentido axiológico.
Para KELSEN, a norma jurídica estabelece fundamentalmente deveres jurídicos,25 ocupando os assim chamados direitos subjetivos caráter meramente funcional, no sentido de ativar as sanções jurídicas previstas para o descumprimento dos aludidos deveres.26 O direito subjetivo enquanto categoria é eliminado ou, em forma mais direta: o direito subjetivo é, em resumo, o Direito objetivo.27
Nesta construção, é absolutamente indiferente a natureza (ou qualificação) do direito subjetivo em questão - pública ou privada, pois em qualquer caso será unicamente um meio de pôr em ação o direito objetivo.28
Na verdade, consoante bem observado,29 o reducionismo normativista de KELSEN representa o momento final de um modelo de pensamento que se iniciara no século anterior, com o surgimento do direito público enquanto ciência (vejam-se, no item 4.1 adiante, as observações acerca da retomada do positivismo com JELLINEK e seu sistema
23 KELSEN, Ifeoria Geral do Direito e do Estado cit., p. 116.24 Consoante a tese assentada na teoria pura do direito de que inexiste qualquer possibili
dade de resposta cientifica a questões de natureza moral (cf. KELSEN. Teoria Geral do Direito e do Estado cit., p. 114). É o ceticismo ético, marca do positivismo kelseniano. de que íala SANTIAGO NINO, Carlos. "El concepto da derechos humanos'. In Ecica y derechos humanos - un ensayo de fundamentactin. 2a edición. Buenos Aires: Editorial Astrea. 1989, pp. 11-48, esp. p. 16.
25 LA TORRE, Disawonture dei diritto soggettivo - una vicenda teórica cit., p. 210.26 é expressivo desse caráter funcionalista, a expressão "pôr em funcionamento*, utilizada
polo autor, v.g. em KELSEN, Ifeoria Geral do Direito e do Estado de., p. 118.27 KELSEN, Ifeoria Gora] do Direito e do Estado de., p. 116, expressis verbis.28 KELSEN, Ifeoria Geral do Direito o do Estado cit.. p. 116.29 LA TORRE, D/sawenturo dei dfriteosoggtettjVo-una vicenda eoorica c/t., pp. 1S4:184-185.
75
Flávio Galdino
de diieitos). Com base na idéia de que os direitos subjetivos nascem da autoiimitação do Estado, a então nascente doutrina iuspublicistica construiu a noção de que o direito subjetivo seria meramente um reflexo do direito objetivo.30 KELSEN afirmará expressamente que o direito subjetivo é um mero reflexo do dever jurídico.31 Embora no primeiro momento fosse mantida a tensão direito subjetivo-direito objetivo, com KELSEN elimina-se essa tensão, justamente eliminando o direito subjetivo.32
Como se pode perceber, o que KELSEN elimina em verdade, é a subjetividade, a personalidade em seu sentido ético.33 Não surpreende pois, que tenha afirmado que a pessoa em sentido juridico é apenas a personificação de direitos e deveres previstos em normas juridicas (dai a expressão sujeito de direitos) ou, mais precisamente, do conjunto de normas que prevêem esses mesmos direitos e deveres.34
Neste sentido, a principal critica que se pode desferir a KELSEN é a formalização absoluta do direito, retirando-lhe qualquer conteúdo axiológico. A redução do direito - bem como da pessoa humana e do direito subjetivo - à norma pura, tem essa conseqüência inaceitável (e inaceitada historicamente).
30 JELLINEK, Giorgio (ou Georg). Sistema dei Diritti Pubblici Subbiettivi (sem indicação do título origina], trad. italiana por Caetano Vitagliano). Milano: Società Editrice Libraria, 1912, pp. 77 e seguintes.
31 Apud LA TORRE, Disawen ture dei diritto soggettivo - una vicenda tcqrica cit., p. 186. No mesmo sentido (acerca do reflexo), GARCIA MAYNEZ, Introducción al estúdio dei derecho c it , p. 200.
32 LA TORRE. Oisawenture dei diritto soggettivo - una vicenda teorica cit., p. 193.33 LARENZ, Metodologia da Ciência do Direito cit., p. 103, é preciso ao descrever o pensa
mento kelseniano: "o essencial ó que a pessoa devo aqui ser tomada em consideração, para a ciência do direito, nâo segundo o seu significado ético - como um ser que auto- determina a sua própria ação, que está sob uma certa exigência de dever e, conseqüentemente, é responsável, tendo uma pretensão de 'respeito' em confronto com os outros e devendo a esses outros igualmente 'respeito' -, mas apenas no seu significado lógico- formal, como uma espécie de ponto de referência no sistema de coordenadas das relações juridicas".
34 KELSEN, Tb o ri a Geral do Direito e do Estado cit., pp. 136-137.
^Capítulo IV Direito subjetivo: as figuras correlatas
4. Direito subjetivo - os conceitos e categorias correlatas
Além das teorias que negaram a existência ou a relevância dos direitos subjetivos, mister observar ainda o desenvolvimento de várias categorias correlatas que buscaram em regra substituir, mas também eventualmente aperfeiçoar, o direito subjetivo.
Essa multiplicação de categorias, advirta-se desde logo, decorre em grande medida da insuficiência da noção tradicional de direito subjetivo para referir várias situações juridicas1 (voltaremos ao tema no item 6).
Assim sendo, desenvolveu-se ao longo do tempo também um amplo acervo de conceitos e/ou categorias correlatas, como sejam os conceitos^ de status (em especial na célebre formulação de JELLI- NEK3), situação juridica (subjetiva ou objetiva), pretensão (ato ou poder, material ou processual), interesses legítimos, faculdade, posição jurídica,4 direito potestativo (ou formativo), ônus, poder jurídico, ação (abstrata ou concreta)5 et alii. As quatro primeiras figuras indicadas merecem consideração específica a seguir, acrescendo-se a elas ainda a dos chamados direitos morais.
1 URRUTIGOITY. "E l derecho subjetivo y la legitimaciõn procesal administrativa" cit.. p. 221.
2 Sobre tais conceitos, permita-se referir, em português, a obra de VICENTE RÁO: O direito o a vida dos direitos, (vol. 2 - Ifeoria Geral do Direito Subjetivo. Análise dos elementos que constituem os direitos subjetivos). 3> edição (atualizada por Ovidio Rocha Bairos Sandoval). São Paulo: RT. Sem data. passim.
3 JELL1NEK. Sistema dei Diritti Pubblici Subbiettivi cit.4 É a categoria anunciada como centra) por VIEIRA DE ANDRADE, Os direitos fundamen
tais na Constituição portuguesa de 1976 cit.. p. 162, o qual, sem embargo, também continua a utilizar “o conceito tradicional de direito subjetivo, entendido aqui no seu sentido mais amplo”.
5 Sobre o tema, confira-se o estudo de HENNING, Fernando Alberto Corrêa. Ação concreta - relendo Wach e Chiovenda. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor. 2000. Veja-se ainda PONTES DE MIRANDA, ftancisco Cavalcanti. Itatado de Direito Privado. Tbmo 5. Rio de Janeiro: Borsoi. 1971, § 623. onde o autor desenvolve sua teoria em torno ao conceito de ação em sentido material.
77
Flávio Oaldino
4.1. Status
GEORG JELLINEK, certamente um dos cânones da literatura jurídica ocidental, construiu sua teoria dos direitos subjetivos (públicos) sobre a idéia de status, de certa forma retomando conceito que fora abandonado pelo liberalismo clássico (onde se pensava o indivíduo de per se, independentemente de suas relações com o Estado) e adaptando-o às exigências de seu tempo. Pode-se dizer que é uma primeira reação positivista^ ao predomínio do pensamento jusnaturalista, com o reconhecimento dos assim chamados direitos naturais, anteriores e superiores ao Estado.
Esta sua importante teoria, formulada ainda no século XIX, é de suma relevância, sendo objeto de análise critica em algumas das mais importantes obras do nosso tempo,7 inclusive no Brasil,8 onde tem sido utilizada para fundamentar o desenvolvimento teórico do importante conceito de cidadania.
O supracitado autor chama de status aos diversos feixes de relações entre o indivíduo e o Estado. A categoria proposta por JELLINEK xepresenta então um tipo de relação que qualifica o indivíduo a partir do modo (ou dos modos) de sua integração ao Estados (e, portanto, da conformação deste), estabelecendo agrupamentos de direitos do indivíduo em face do Estado e também deste em face daquele, acompanhados dos respectivos deveres correlatos.
Os vários direitos subjetivos (públicos) - em uma dada sociedade em um dado momento histórico - são sistematizados, assim, a partir da categoria fulcral dos status, falando-se, em relação ao indivíduo, em quatro categorias básicas de status, quais sejam, (i) passivo, no qual o indivíduo deve prestações ao Estado, (ii) negativo, no qual o indivíduo
6 LA TORRE. Disavventuro dei diritto soggettivo - una vicenda teórica cit., pp. 133 e seguintes.
7 Vela-se a obra seminal de ALEXY, Tkorla do los derechos fundamencales cit., p. 247.8 Entre nós. é de so relembrar a referência de RÁO, O direito e a vida dos direitos cit.. pp.
343 e seguintes. Consului-se ainda, entre outros, a sintese de TORRES. Os direitos humanos e a tributação cit., p. 54; bem como FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de direitos. 2* edição. Porto Alegre: SAFE, 2000, p. 101. MALISKA. Marcos Augusto. O direito ô educação e a Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor. 2001, pp. 138 e seguintes (sendo certo que a referência do autor é indireta, operando com a leitura feita por ALEXY da obra de JELLINEK).
9 JELLINEK. Sistema cit., p. 96. Acerca da qualificação. ALEXY. Téoría de los derechos /un- damentales cit., p. 248.
10 JELLINEK. Sistema cit.. p. 213, referindo “I diríttl dello Stato e delle Comunità”.
78
Introdução & Ifeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Arvores
é livre em relação ao Estado, (iii) positivo, no qual o indivíduo possui pretensões positivas diante do Estado11 e (iv) ativo, no qual o indivíduo exercita direitos de participação política no Estado.12 Percebe-se claramente uma linha ascendente (dependendo do juízo de valor em questão), da submissão total, à participação no Estado.13
O pensamento de JELLINEK não é individualista, ao revés - na expressão autorizada é statolacra.'14 Com efeito, para ele só há direitos no Estado, como expressões de autolimitação, na medida em que o Estado reconhece o indivíduo como sujeito de direitos.1 Sua construção é, em muitos momentos, paradoxal, pois funda os direitos da liberdade no Poder do Estado.
É expressivo observar que, muito embora referindo as categorias privatísticas (superando-as, mas delas partindo), JELLINEK reconhece à personalidade lugar central - e público - no seu sistema de direitos. É através da personalidade que o Estado qualifica o indivíduo atribuin- do-lhe direitos. A personalidade é a medida do statusA* A personalidade será então insuprimível - isto é, inseparável da pessoa humana,17 ao contrário dos direitos privados, que seriam separáveis da pessoa sem alteração de sua qualidade de sujeito de direitos, isto é, do seu status.18 É a marca da publicidade: os direitos só existem no Estado embo-
11 Thmbém chamado status civitatis. Segundo anota LA TORRE (Disawemurc dei diritto soggettivo - una vicenda teórica cít.. p. 177). ó o status pot excelência, fundamentando o complexo de prestações do Estado no interesse do indivíduo). Neste sentido, o status Jibertatis não exigiria tais prestações.
12 Conforme averbou JELLINEK em passagem clásica (Sistema cie., p. 98): “In questi quattro status. gvello passivo. queSo negativo, quello positivo, çueilo attivo, si compendiano le con- dizioni nelle quali può trovarsi 1'indivíduo nollo Stato come membro di esso. Prestazioni alto Stato. tibertà dallo Stato, pretese verso Io Stato, prestazioni per conto dello Stato sono i punti di vista da! quali può essere considerata la situaziene di diritto pubblico dell‘individuo“: veja-se, em português. RÁO. O direito e a vida dos direitos cit., p. 844; TORRES, Os direitos humanos e a tributação c/t., p. 54, e. do mesmo autor, TORRES, Ricardo Lobo. “A cidadania multidimensional na Era dos Direitos", ín Ifeoria dos direitos fundamentais (org. Ricardo Lobo Tbrres). Rio de Janeiro: Renovar. 1999, pp. 239-335, passim..
13 LA TORRE, Disawencure dei diritto soggettívo - una vicenda teórica cit., p. 180.14 LA TORRE, Disawenture dei diritto soggettivo - una vicenda teórica cit., pp. 144 e 172.15 LA TORRE, Disawemu/c dei diritto soggettivo - una vicenda teórica cit., pp. 148 e 169.16 JELLINEK. Sistema cit., p. 96: "7boricaniemo, la personaliti è un rapporto con Io Stato
quòlificante Vindlvlduo (...) Chi ha diritto 6 una persona".17 Embora o autor reconheça que sua quantidade é variável (*può essere accresciuta o dimi
nuta dalla Icgge", JELLINEK, Sistema cit., p. 96), abrindo caminho para o formalismo kel- seniano anotado acima (item 3).
18 LA TORRE, Disnwonture dei diritto soggettivo - una vicenda teórica cit., p. 167.
Flávio Galdino
ra não só para o Estado; a doutrina iuspublicística do século XIX atenua o valor da personalidade, mas não a elimina.19
De toda sorte, é de se ressaltar que a construção de JELLINEK, ao contrário do que pode parecer em razão da utilização do conceito de status, não é contrária ao direito subjetivo ou à subjetividade, nem refere algum tipo de função social (o que revela a "evolução" do conceito de status). Tão-somente refere uma posição jurídica do indivíduo em face do Estado, e não se confunde com a teoria da posição jurídica enquanto condição do indivíduo no organismo social, sentido em que é excludente do direito subjetivo (consoante desenvolvida por KARL LARENZ, cf. item 3). Na teoria de JELLINEK status e direito subjetivo se pressupõem e se co-implicam (o status necessariamente refere direitos subjetivos), enquanto na de LARENZ são mutuamente excludentes.20
Nas sociedades contemporâneas é possível detectar várias formas de status, sem que sejam excluídos os direitos subjetivos, ao contrário, apenas referindo determinada normatização jurídica. Anotam os estudos sociológicos, que enxergam a questão por outro prisma, que há dois tipos principais de status sociais,21 ambos verificáveis empirica- mente nas sociedades atuais (dentre os quais se incluem os status juridicos), a saber: os atribuídos e os opcionais, os quais, consoante fica claro através das expressões designativas, são classificados em razão da possibilidade de escolha pelo indivíduo.
Sob o prisma juridico pode-se exemplificar dentre os primeiros a maioridade (status definido pela idade cronológica), e dentre os segundos o estado civil de casado, que somente é assumido voluntariamente (status definido por determinada situação familiar). Como se vê, é possível verificar empiricamente a desejável manutenção de muitos status na sociedade hodierna, em situação de perfeita coexistência com os direitos subjetivos.
Sem prejuízo da importância teórica- e-da-utilidade da construção em tela, impende ressalvar que a utilização multissecular do conceito (ou da idéia) de status - na verdade, utilizado para situar o indivíduo
19 LA TORRE. Disawanture dei diritto soggettivo - una vicenda teórica cit., p. 188.20 LA TORRE "Nostalgia for lhe homogeneous commun/ty: Karl Larenz and the National
Socialist theory otcontract" c/t., esp. pp. 24-25.21 Assim, HILLER, E.T.. “Características do status social'. In CARDOSO, Fernando
Henrique, et 1ANNI, Octávto (orgs.). Homem e sociedade - leituras básicas de sociologia geral. 7» edição. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1973. pp. 75-87, esp. pp. 79-80.
80
In trodução à Tfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Arvores
em determinado contexto coletivo desde o direito romano - conduziu à indesejável polissemia,22 situação que denota extremo perigo para a ciência, principalmente a jurídica, havendo mesmo quem o desconsidera em razão da vagueza23 (há quem prefira e expressão "vaguida- de")- Além disso, eventual retorno acrítico ao status apresenta também riscos para a liberdade (vide item 3). Essa questão merece algum destaque.
Segundo importante construção teórica, deveras influente desde o século X K ,24 o processo de desenvolvimento das sociedades humanas pode ser descrito sinteticamente como a transição do status ao contrato (from status to contract). Na verdade, a descrição nâo é neutra, constituindo-se em apologia do ideário liberal individualista.25
De acordo com essa realmente relevante teorizaçáo, enquanto durante boa parte da história as relações entre os homens eram determ in adas pela posição (rectius: pelas várias posições) que o indivíduo ocupava na sociedade (rectius: nos vários círculos juridicos em que estivesse inserido, dado o pluralismo juridico de então), a partir de um determinado momento histórico, essa determinação torna-se autônoma, fruto de sua liberdade, por sua vez decorrente simplesmente de sua condição humana, vislumbrando-se na celebração de um contrato o seu meio primordial de atuação.
Assim é que, enquanto prevalece o status, as relações jurídicas são operacionalizadas de forma mecânica e passiva,26 ao passo que as relações contratuais dependem da atividade autônoma e delibera-
22 Sobre as várias significações do status, sinteticamente, veja-se PERLINGIERI. Perfis do Direito Civil - Introdução ao Direito Civil Constitucional (trad. bras. de ProBUi di diritto tívüe por Maria Cristina De Cicco). Rio de Janeiro: Renovar. 1997, pp. 132-134.
23 PERLINGIERI. Perfis do Direito Civil cit., p. 132.24 Cuja originalidade é atribuída a HENHY SUMMER MAINE em obra editada em 1866.
Consultou-se MAINE. Henry Sumner. Ancient N^.Brunfiwiçk; TYansaction. 2002, a referência encontra-se nas pp. 169-170, concluindo: ~wc may say that the movement of the Progressive societies has hitherto been a movepient from status to contract".
25 Ct ROPPO, Enzo. O Contrato (trad. portuguesa de II Contrato por Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes). Coimbra: Livraria Almedina. 1988, p. 26, indicando-o como “lei de Mame", mas ressaltando (p. 30) que não se trata de pura e simples descrição de um processo histórico (que efetivamente ocorreu), mas de "apologia substancial" da institucionalização da ordem liberal nas relações sociais. Amenizando a descrição, RESCIGNO (RESCIGNO, Pietro. "Situazíone e status neWesperienza dei diritto". Rivista di Diritto Civile. Anno XIX (1973). Pano Prima. Padova: CEDAM. pp. 209-229. p. 217) anota que se trata mais de uma tendência do que de uma verdade absoluta.
26 ROPPO, O Contrato cit., ainda p. 26.
81
Flávio Galdino
da do indivíduo, consagrando a ideologia liberal-individualista (cf. capítulo 3).
Nos dias Q!Lie correm é de se perguntar se as sociedades ocidentais não estariam fazendo o caminho inverso, e voltando do contrato ao status.27 Com efeito, o elevado grau de intervenção do Estado nas relações privadas suprime desde a liberdade de conformação interna dos contratos até, muitas vezes, a própria liberdade de contratar (fala-se, então, em contratos coativos - voltar-se-á ao tema no item 14.3). 0 regramento jurídico intenso e detalhado dos contratos - fala-se em standartização - conduz a uma renovada ordem de status (ou mais precisamente, de estados). As figuras do consumidor (principalmente!), do trabalhador "celetista” (especialmente entre nós), e outras que tais, seriam demonstrativas desse retorno ao status.28
O que importa salientar é que o movimento de retorno ao “status” é indicativo da desvalorização da subjetividade e da liberdade, notadamente - e no mínimo - de um de seus corolários mais importantes, qual seja, a autonomia da vontade, enquanto ideal tutelado pelo ordenamento jurídico.29
Já se advertiu aqui acerca dos riscos que um tal sistema jurídico traz em seu bojo. Basta relembrar ainda uma vez que sistemas autoritários condenados pela história e que assolaram o mundo na metade do século passado (século XX) fizeram do status uma categoria fu n d am e n ta l^ (vide item 3, acerca das teorias negativistas do direito subjetivo).
27 ROPPO. O Contrato cit., pp. 26-30. Vide ainda LA TORRE “Nostalgia for the homogeneous communíty: Karl Larenz and the National Socialist theory o í contract" cit.. esp. p. 13, onde, apresentando e discutindo uma determinada posição teórica já ultrapas ;ada, indaga "fírom contract to status. A now foudaüsm?". PIETRO RESCIGNO ("Situas ione e status neWesperienza dei diritto", pp. 218 e 222-223) afirma e defende expressamente o retorno ao status.
28 Embora sem a conotação negativa aduzida a seguir, não é por acaso que c doutrina con- sumlsta especializada a utiliza reiteradamente. Assim, por todos. CLÁUDIA LIMA MARQUES: "Assim, pode-se afirmar que a relação de consumo transforma o States dos seus agonies' (MARQUES, Cláudia Lima. "Proposta de uma teoria geral dos serviços com base no Código de Defesa do Consumidor". In Revista de Direita do Consumidor 33:79- 122, esp. p. 94): assim também. TEPEDINO, Gustavo. “As relações de consumo e a nova teoria contratual". In Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. pp. 199-215. esp. p. 213.
29 Cf. a observação de ROSCOE POUND. apud ROPPO, O contrato cit., p. 34.30 Critica de PERLINGIERI, Perfis do Direito Civil cit., p. 134, acerca do perigo de enfoques
neocorporativos a partir do status. E, mais uma vez, o apurado estudo sobre as leis raciais alemãs de 193S da lavra de R1GG, Os soldados judeus de Hitler c/t., passim.
82
Introdução 6 Tboria dos Custos dos Direitos - Direitos Náo Nascem em Arvores
Embora á utilização do conceito em tela na seara jurídica não seja privativa de regimes políticos condenáveis, comportando extensão para abrigar conteúdo adequado ao Estado de Direito,3' a verdade é que o perigo existe e não deve ser ignorado. A sobrevalorizaçáo do status como categoria acarreta riscos para a liberdade individual e seus corolários, como a liberdade de iniciativa e o direito de propriedade, valores afinal ainda fundamentais no nosso regime constitucional, sendo correta a advertência de que o retorno ao status. com a total deterioração do contrato, constitui perigo a ser evitado.
A opção teórica pelo status é possível, principalmente quando (i) se lhe retira o caráter funcionalista e (ii) o instituto passa a ser utilizado, embora ainda com viés discriminatório, com nítido caráter proteti- vo (como ocorre, por exemplo, na tutela dos consumidores), mas sempre com ciência dos riscos nela encerrados.32
Cientes desse risco, e também de que a teoria contratual privatistica é evidentemente insuficiente para explicar o fenômeno da cidadania,33 é possível construir a teoria da cidadania sobre o status e o direito subjetivo.
Na verdade, sob o prisma meramente instrumental, o status é uma categoria juridica, que, ao lado de tantas outras, como direito subjetivo, ônus, et coetera, buscam explicar os fenômenos jurídicos. E, para os fins deste estudo, o que impende gizar é que a utilização moderna do conceito do status não afasta a utilização do direito subjetivo. Ao contrário, nas aplicações contemporâneas da teoria formal e individualista de JELLINEK, incrementa-se o direito subjetivo.
4.2. Situação jurídica
Conforme demonstrado (vide a breve digressão histórica, item 2), a categoria do direito subjetivo é desenvolvida fundamentalmente no seio e através do método da doutrina jusprivatística e, sem embargo disso, o próprio direito privado - ao lado do direito público - já busca
31 Ainda uma voz, Perlingieri. Perfis do Direito Civil cic., pp. 133-4. Quase como um jogo de palavras, BERLIN, Isaiah. Quatro ensaios sobre a liberdade (trad. bras. de Four assays on liberty por Wamberto Hudson Ferreira). Brasília: Ed. UnB, 1981, pp. 158-161, fala da incansável procura do individuo pelo status de liberdade.
32 É a opção, consciente, de ROPPO, op. loc. c/t.33 TORRES, "A cidadania multidimensional na Era dos Direitos" c/t., pp. 249-250.
83
Flávio Galdino
substitui-la, de algum tempo, por considerá-la, ao menos nas suas formulações tradicionais, insuficiente.
Originariamente, dentro de uma concepção organicista ou comunitária da sociedade e do Direito (publicística, pois), a situação jurídica foi concebida para substituir o direito subjetivo. Através dela correla- cionam-se interesses e finalidades sem intermediação de sujeito,34 isto é, sem que a ele ou a atividade por ele desenvolvida fossem determinantes na operação jurídica, sendo o sujeito, então, um elemento meramente marginal nessa operação. Assim também a posição juridica - embora seja possivel identificar diferenças entre essas figuras, para os fins deste estudo, são categorias equivalentes.35 Cuida-se de construção elaborada por partidários das teorias negativistas (do direito subjetivo) referidas no item 3.
A revalorização da pessoa humana e da subjetividade36 (ou personalidade) determina ampla metamorfose conceituai da situação juridica, que é absorvida pelo sujeito,37 em última análise, o destinatário final da normatividade.
Com efeito, nos mais recentes estudos privatísticos, cada vez mais influenciados pelos ares da constitucionalização das relações privadas (fale-se em direito civil constitucional38) - revalorizada a pessoa humana, centro de gravidade do ordenamento -, vem ocupando lugar central a chamada situação juridica subjetiva.
Na verdade, a partir da distinção entre diversas figuras correlatas, como sejam ônus, poderes, e os próprios direitos subjetivos, entre
34 Sobre o ponto. FROSINI, Vittorio. "0 soggetto dei diritto como situazione giuridica". In Rivjsta di Diritto Civile, Armo XV (1969): 227-242, esp. p. 231. Entre nós. RÁO. O Direito e a vida dos direitos cit., volume U. pp. 518-519.
35 Ressaltando as diferenças, FROSINI, Vittorio. “Situazione giuridica", verbete do Novíssimo Digesto Italiano (pp. 468-471).
36 Neste sentido, REALE. Miguel.-"Situações juridicas e direitw Subjetivo*.'!» Revista da - Faculdade de Direito da USP: 9-24, onde o autor desenvolve algumas considerações acerca das situações juridicas, notadamente sobie o problema da subjetividade, que não constam do capitulo de mesmo titulo das suas Lições Pteliminares - REALE, Lições Preliminares de Direito cit.. Capitulo XIX.
37 FROSINI, “0 soggello dei diritto como situazione giuridica" cit., p. 232.38 Conforme o subtítulo (ao menos da edição brasileira) da importante obra de PERLINGIE
RI, Perfis do Direito Civil - Introdução ao direito civil constitucional cit. Consulte-se ainda TEPEDINO, Gustavo. “Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil". Jn Tfemas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar. 1999. pp. 1-22, e MATTJETTO, Leonardo. “O Direito Civil Constitucional e a Nova Teoria dos Contratos”. In TEPEDINO. Gustavo (org.). Problemas de Direito Civil - Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar. 2000. pp. 163-186.
84
Introdução à Tfeoría dos Custos dos Direitos - Direitos Náo Nascem em Árvores
outras que tais, construiu-se uma categoria genérica. As tais figuras seriam espécies do gênero situação Jurídica subjetiva,39 que representaria esse complexo de posições ativas e passivas do sujeito em sua relação com o ordenamento juridico.40
Mais importante do que isso, a situação juridica designa o fenômeno (jurídico) complexo da inter-relação concomitante entre várias das suas espécies (direitos subjetivos, pretensões, ônus, deveres, faculdades), podendo envolver vários sujeitos com posições jurídicas distintas e mesmo conflitantes entre si. Não se trata, pois, de um simples aglomerado taxinômico de institutos, de uma simples operação de classificação doutrinária. Assim, a situação jurídica potencializa a compreensão da realidade complexa e multifacetada das relações juridicas.
É bom notar que a categoria em tela não é de uso exclusivo dos privatistas, havendo muitos estudos publicísticos anteriores a utilizá-la como categoria genérica (registrando expressamente a insuficiência do direito subjetivo41), embora não central; de toda sorte, ainda e sempre sem dispensar os valiosos préstimos do direito subjetivo.
É bem verdade que em muitos estudos mais antigos, essa categoria situação jurídica assumia roupagem considerada hoje ultrapassada em termos técnicos.42 Mas isso não retira o valor dessas construções, que são etapas necessárias na evolução científica.
Nada ocioso, outrossim, observar que, sem embargo da inegável similitude - com efeito, status e situação são parecidos não há que confundi-los. Embora ambos sejam referentes a complexos de relações jurídicas (direitos, faculdades, poderes, etc.), o fazem de modo diverso e tendo em vista objetos diferentes.
Segundo uma concepção instrumentalista, a situação jurídica refere-se a um momento determinado: é como uma fotografia (uma visão
39 PERLINGIERI, Perfis do Direita Civii cit.. p. 105. - . ____40 RESCIGNO. “Situazione e status noWesperienza dei diritto" cit.. p. 211.41 Ad exemplam tantum, ZANOB1NI, Cuido. Corso di Diritto Amministrativo. Volume Primo:
Príncipi Generali. Ottava Edizioné. Milano: Giulfré. 1958. p. 173. que a utiliza para referir a "capacità, potestà, rapportò giurídico". Sobre a insuficiência, GARRIDO FALLA, Fernando. Tratado de Derecho Administrativo. Votumen l - Parte General. 12» edição. Madrid: Tbcnos. 1994 (a primeira edição da obra data de 1958). pp. 376 e seguintes, esp.
. , pp. 379-380.42 Por exemplo, jà em 1946. Carlos Maximiliano. Direito Intertemporal cit., p. 11:
“Classificam-se as situaçâes em positivas o negativas. É positiva a que envolve ou acarreta um direito subjetivo ou faculdade amparada por inerente ação; negativa ou passiva, se denomina a resultanto de restrições, proibições, incapacidades
85
Flávio Galdino
quase instantânea)43 do complexo de relações do respectivo titular, sem jamais determinar a sorte deste. Revela-se, assim, episódica, está* tica e indiferente. O status, a seu turno, é como um filme, captando a dinâmica da vida. E mais, um filme interativo. Através dele captam-se características dinâmicas e perenes do respectivo titular. Mostra-se, então, perene, dinâmico e influente.44
Dentre as várias possíveis distinções (e classificações) pertinentes a esta categoria,45 parece importante ressaltar duas delas, a saber, a distinção entre situações jurídicas (i) ativas e passivas, (ii) existenciais e patrimoniais.
Fala-se em situações jurídicas ativas e passivas para designar os seus pólos (não raro designados pelo termo posição jurídica). A referência é relevante apenas para especificar que o direito subjetivo constitui uma das várias espécies de situações ativas, tendo como correlato um dever, que a seu tumo também constitui apenas uma das várias espécies de situações passivas. Isto é, a correlação direito subjetivo-dever não é suficiente para expressar o conjunto de situações ocorrentes na vida jurídica.46
De outro lado, a diferenciação entre situações patrimoniais e existenciais tem em vista a natureza do interesse que constitui o núcleo da situação, sendo certo que, numa ótica personalista, os interesses ou as respectivas situações patrimoniais são apenas instrumentos para a realização dos interesses ou situações existenciais.47 Já se disse que a situação deve ser considerada um elemento da existência - e existir para o direito é ter personalidade, entendida como liberdade e autonomia para criar novas situações juridicas.48
43 Imagem utilizada também por CARNELÜTTJ, Ifeoria Geral do Oireito cit., p. 38.44 Sobre o tema, e notadamente sobre o status, confira-se RESCIGNO, "Situazione e status
neWesperienza det diritto" Cit., pp. 209-229. Em especial, acerca da distinção entie as figuras: “Mcssi a confronto, i terminí situazione e status esprimono tnodi profondamente diversi di valucazione. La situazione ba carattere episodico e temporaneo: un frammento di azione e di vita concluso nei confird ristretti di un rapporto com uno o piú soggetti o di una relaziona coi bani dei mondo estemo. Lo stato. al contrario, ríchiama l'idea di una con- dizionti personaJe destinata a durara, capace di dar vita a prerogaciVo e doveri, e di gius- tificare vicenda moltepici deWaUività e delia vita delia persona".
45 Como por exemplo: situações jurídicas abstratas (previstas na norma) e concretas (fáticas)', cf. COSTA JÚNIOR, A iclação juridica obtigacional cit., p. 11.
46 Esta divisão serve de base para o sistema desenvolvido por GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo e FERNÁNDEZ, Ibmás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Volume III. Cuarta edición, Madrid. Civitas, 1997, pp. 28 e seguintes.
47 PERLINGIERI, Perfis do Direito Civil cit., p. 106.48 LEGAZ Y LACAMBRA, Filosofia dei derecho cit.. pp. 748-749.
86
Neste quadro, afirma-se com autoridade que o direito subjetivo é insuficiente para designar as situações existenciais, uma vez que fora elaborado sobre a categoria do “ter" - em referência aos termos da dualidade entre sujeito e objeto e não sobre a categoria do “ser", onde não existe essa dualidade, eis que nas situações existenciais ambos os termos designam o “ser” .49
De toda sorte, o que nos importa anotar mais uma vez é que a construção de uma figura genérica - a situação juridica - não afasta as categorias, por assim dizer, específicas, como a posição juridica e o direito subjetivo,50 que permanece como categoria fundamental, mas que pode assim ser melhor conjugada com outras, explicitando-se-lhe os limites.
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Arvores
4.3. Pretensão
Ao lado do direito subjetivo, a ciência pandectistica alemã do século XIX desenvolveu outra importante figura, a pretensão,51 que viria mesmo a ser consagrada expressamente no Código Civil daquele país (o BGB que entrou em vigor em 1900), no § 194, que a definia como o poder de exigir de outrem um fazer ou um não-fazer,52 cumprindo a função importantíssima de auxiliar na delimitação dos contornos de outro instituto complexo, a prescrição.
Recentemente o Código Civil brasileiro de 2002 (na verdade forjado nas teorias dominantes no país no final da década de 1960) acolheu expressamente a chamada "teoria da pretensão” ao cuidar do fenômeno prescricional no direito privado (CC, art. 189).53
Não é possível aqui sequer inventariar as infindáveis controvérsias que envolvem o conceito de pretensão, valendo frisar que a utilização
€
C
c
í
495051
52
53
PERLINGIERI, Perfis do Direito Civil cie., p. 155.De acordo, COSTA JÚNIOR. A relação juridica obrigacional de.. p. 25.O mais completo e preciso estudo que conhecemos sobre o tema em língua portuguesa é a Dissertação de Mestrado de Andiè Fontes apresentada â FDUERJ: FONTES, André Ricardo Cruz. A pretensão como situação juridica subjetiva. Belo Horizonte: Del Rey. 2002. Sobre a relação entre a pandectistica e a formação do conceito de pretensão, veja-se, entre outros, HENNING, Ação concreta de., pp. 27 e seguintes.Segundo relata o autor do Projeto que originou a Parte Geral do Código Civil, adotou-se expressamente a teoria da prescrição da pretensão; vide ALVES, José Carlos Moreira. A Parte Geral do Projeto de Código Civil brasileiro - Subsídios históricos para o novo Código Civil brasileiro. 2o edição. São Paulo: Editora Saraiva. 2003, pp. 86-87: adota o art. 21S do Anteprojeto a tese da prescrição da pretensão
c
4
87
Flávio Galdino
dessa expressão é indicativa de uma extraordinária variedade de significados,54 não havendo concerto entre os autores. Segundo nos parece, tudo leva a crer que muitos dos autores que tratam da pretensão, no mais das vezes, permanecem encobertos por uma visão essencialista dos fenômenos juridicos (vide item 5.1). Assim como os demais conceitos juridicos, também a pretensão deve ser conceituada e' definida tendo em vista os elementos que a tornem útil na prática jurídica.
Felizmente, não é essa a tarefa a que nos propomos. Nossa observação restringe-se a assentar que o desenvolvimento do conceito de pretensão também não exclui o conceito de direito subjetivo, sendo ela. na verdade, definida de modo relacionai, isto é, em referência a ele. É o que nos incumbe evidenciar agora.
Preliminarmente, é preciso observar que para WINDSCHEID, indicado como criador do conceito de pretensão, o direito subjetivo encon- trava-se no vértice da pirâmide conceituai.55 Ora, se na lógica-formal da pandectistica os demais conceitos seriam extraídos por derivação dos conceitos superiores, náo há como negar que, originalmente, a pretensão derivaria do direito subjetivo.
Quanto ao cerne das discussões, impende notar que, na multiplicidade de concepções já fo rm u lad as,ss a idéia de pretensão pode ser referida a pelo menos dois conteúdos fundamentais, quais sejam, (i) a pretensão como ato e a (ii) pretensão como poder.
A pretensão-ato designa o ato praticado por alguém no sentido de exigir de outrem um determinado comportamento57 - é uma manifestação externa da conduta humana, de contornos simples: toda vez que se exige de outrem, mesmo informalmente (uma notificação extrajudicial, por exemplo), uma determinada conduta, verifica-se a manifestação de uma pretensão (ato).
Com fulcro nesta idéia, a pretensão-ato é a noção utilizada pela processualística brasileira contemporânea, notadamente pelos estu-
• • • - " « . r . • .. -u.-r * -■ -.. . -
54 Sobre o tema. consulte-se ORSI, Luigi Verbete “Pretesa', na Enciclopédia dei Diritto. pp. 359-373. esp. p. 360.
55 LARENZ, Metodologia da Ciência do Direito cit., p. 37.56 Além das destacadas a seguir, merece referência o primoroso estudo de HOMERO FREI
RE. "Da pretensão ao direito subjetivo". In Estudos Politicos e Sociais, Vol. I. número 2 (1968): 393-443, uma publicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para este autor, a pretensão é um prius em relação ao direito subjetivo, na verdade, uma “aspiração’' a direito subjetivo, que só passa a existir após o efetivo reconhecimento pelo juiz (esp. pp. 433 e seguintes).
57 HENNING, Ação concreta cit., p. 34.
88
Introdução à Tboria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Áivores
diosos do direito processual civil, originaríamente fundada no conceito de exigência de subordinação do interesse alheio ao próprio, e que modernamente tem sido afirmada como constituindo o próprio mérito do processo,58 devendo ficar claro que esta pretensão em sentido processual59 só faz sentido em referência a um órgão estatal perante o qual a exigência é formulada.
Como se percebe, neste primeiro sentido, a pretensão não se confunde com o direito subjetivo. Pode haver pretensão sem que haja direito subjetivo. Basta pensar nas hipóteses em que a pretensão formulada não seja acolhida pelo órgão jurisdicional, isto é, em que alguém manifesta sua pretensão e, ao final do processo, o juiz julga improcedente o pedido formulado, com a premissa de que o autor (o pretendente) não possui o direito subjetivo invocado. Entre nós, via de regra, a sentença de improcedência teria caráter declaratório negativo - declarando a inexistência do direito subjetivo afirmado pelo autor da ação.
Por sua vez, a pretensão-poder corresponde à idéia de direito subjetivo.6® É representativa, pois, de uma posição juridica de exigibilidade, na qual o titular de um direito (designado aqui como direito subjetivo) tem o poder6* de exigir da outra parte da relação juridica em questão uma determinada prestação ou, mais precisamente, tem o poder de exigir de outrem um determinado comportamento.62 É a concepção de direito material, por assim dizer.
58 Fica claia a concepção processualistica de pretensão-ato na seguinte passagem: "Cluem pretende, manifestando exteriormente sua exigência, quer impelir o outro a uma conduta apta à satisfação desta ou quer. de alguma forma, obter o bem da vida ou situação jurídica que a satisfaça. Mais do que isso: falhando todas as demais tentativas de determinação do conceito de mérito (telação litigiosa. lide) e nâo sendo ele coincidente com as questões de mérito, a indicação da pretensão tem sido vitoriosa em doutrina e é satisfatória* - DINAMARCO. Cândido Rangel. 'O conceito de mérito em processo civil". In Fundamentos do processo civil moderno. Volume 1.3a edição. São Faulo: Malheiros. 2000, pp. 232-276, esp. pp. 254-25S. Em sentido equivalente, ARRUDA ALVIM. 'Ratado de .Direito Processual Civil. 2° edição. São Paulo: RT. 1990, p. 502. De acordo com esse entendimento, CÂMARA, Alexandre FVeitas. "O objeto da cognição no processo civil". In Escritos de direito processual. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2001. pp. 69-87, esp. p. 83. Veja-se também ORSI. “Pretesa" cit., p. 371.
59 DINAMARCO, “O conceito de mérito em processo civil" cit., p. 270.60 HENNING (Ação concreta cit., p. 36): “Deve ser notado que a pretensão poder correspon
de de perto à idéia de direito subjetivo exigivel: possuir pretensêo-poder é ser titular de diteito subjetivo cuja satisfação pode ser exigida" (vide também p. 42 et passim).
61 No seio de suas opiniães muitas vezes expostas de forma desordenada (algumas mesmo de forma contraditória) esta parece sei a posição de PONTES DE MIRANDA. Itatado das açôes. "forno I. (atualizada por Vilson Rodrigues Alves). Campinas: Bookseller. 1998, pp. 68-69.
62 Neste sentido. FONTES, A pretensão como situação juridica subjetiva cit.. p. 20.
Flávio Galdino
Neste segundo sentido, a pretensão se confunde com o direito subjetivo (aliás, a concepção que deu origem ao instituto) - em indefectível duplicação conceituai, que lhe rendeu criticas quanto à utilidade63 -, ou pelo menos constituiria o núcleo do direito subjetivo64 A pretensão é poder atribuído ao titular do direito subjetivo para exigir de outrem um determinado comportamento (em juízo ou fora dele).
Neste sentido, também a pretensão pode ser caracterizada como uma espécie de situação juridica subjetiva^ ativa (sobre essa categoria, vide item 4.2).
A autonomia da pretensão em relação ao direito subjetivo costuma ser demonstrada através da referência à existência de alguns exemplos de direitos subjetivos que seriam desprovidos de pretensão. Tendo essas categorias se desenvolvido à luz do direito privado, os exemplos seguem essa linha. Seriam exemplos (i) o direito a termo (enquanto não decorrido o prazo em questão66) - situação em que existente o direito subjetivo nâo seria ele ainda exigível, isto é, dotado de pretensão-poder, e o (ii) direito de crédito prescrito ou, mais corretamente, o direito de crédito cuja pretensão tivesse sido atingida pela prescrição - hipótese em que a irrepetibilidade do pagamento eventualmente efetuado pelo devedor da divida prescrita seria demonstrativa da subsistência do direito subjetivo mesmo após extinta a pretensão pelo decurso do tempo. Os argumentos são, para dizer o mínimo, discutíveis, valendo um breve exercício teórico sem maiores "pretensões” , como convém aqui.
Na primeira hipótese, dos direitos a termo, parece-nos bastante razoável a formulação no sentido de que a pretensão já existe, mesmo enquanto não transcorrido o prazo em questão, somente não é eficaz - segundo nossa modesta compreensão, talvez o termo funcione como fator de eficácia,67 e não como elemento da existência do direito (ou da
63 ORSI. “Pretasa' c/t. p. 366.64 For todos, REALE, Lições Preliminares cit. p. 257. GOMES, Orlando. Introdução ao
Direito Civü. 18» edição (atualizada por Humberto Thcodoro Jr.). Rio de Janeiro: Forense. 2001, p. 109.
65 FONTES, A pretensão como situação juridica subjetiva cit., passim.66 É o exemplo de HENNING, Ação concreta cie., p. 36.67 Sobre os planos da existência, validade e eficácia (em noções que, s.m.j., podem inclusi
ve ser transpostas para outras íamos do direito), veja-se a importante obra de AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio juridico - existência, validade e eficácia. São Paulo: Saraiva. 1974.
90
Introdução ã "Ifeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Árvores
pretensão). Se assim não for, exigibilidade será tomada como sinônimo de eficácia, o que não parece, prima facie, tecnicamente adequado.
Na segunda hipótese, sem prejuízo de ser atualmente dominante a tese referida,68 parece igualmente razoável o entendimento de que a prescrição não possui exatamente efeito extintivo da obrigação ou da pretensão, mas tão-somente faz surgir para o devedor o poder de argüir uma exceção (no sentido de defesa).6 Até o momento em que fosse utilizada tal exceção haveria exigibilidade, que seria atingida por um ato processual, e não exatamente pelo decurso do tempo, isto é, pela prescrição - neste viés de orientação, a função da prescrição seria a de criar uma defesa para a parte. Seja como for, são questões que demonstram a amplitude das controvérsias que envolvem o tema.70
E, no bojo dessas controvérsias, ressalta a importância de se observar que, na verdade, a prescrição é um fenômeno complexo (um processo71), tão complexo que a observação redutora do direito privado, muitas vezes com incabiveis ares de teoria geral do direito, não se presta a explicar o fenômeno, por exemplo, no campo do direito tributário (não por acaso, um setor do direito público), onde se Teconhece que o decurso do tempo, aliado a outros fatores evidentemente, gera a extinção do direito.
Não é nosso intento, todavia, penetrar nas profundas discussões-a respeito do conceito de pretensão, senão salientar que a idéia de que um "poder de exigir um comportamento” realmente parece ser elemento que deva figurar no conceito de direito subjetivo stricto sensu. Tornaremos ao ponto no item 6.2, no momento de demonstrar a opera- tividade do conceito de direito subjetivo.
68 Sobre o toma. conferir COMFARATO. Fábio Kònder. 'Natureza do prazo extintivo da ação de nulidade do registro de marcas". In Revista de Direito Mercantil n. 77 (1990): pp. 57- 64.
69 Em termos similares, o proveitoso estudo de KATAOKA, Eduardo TSkcmi Dutra dos Santos. "Considerações sobre o problema da prescrição'. In Revista Forense 348: 437- 443. No mesmo sentido é a orientação de Fábio Kbnder Comparato.
70 A quem admitir a idèia de que a prescrição atinge a pretensão, cumpre explicar com precisão o que resta do direito subjetivo em questão, e, mais importante, qual a utilidade daquilo que resta.
71 Aguarda-se a publicação da dissertação de mestrado produzida por Gustavo KLOH. A prescrição civil e o principio da segurança juridica. Rio de Janeiro: Fbculdade de Direito da UERJ. 2003 (a esta altura disponível na Biblioteca da Faculdade), em que o autor desenvolve a origina) teoria da prescrição como procedimento, Corte nas lições do italiano Bruno Itoisi.
91
1
' I)
I
1
1
I
3
Flávio Galdino
Por ora, basta observar que, como se vê, a importante figura da pretensão não exclui a do direito subjetivo. Ou bem a pretensão se confunde com o direito subjetivo (seriam sinônimos) ou bem retira dele seu conteúdo, sem nunca abandoná-lo por completo.
4.4. Interesse legítimo
Pari passu às construções de viés eminentemente privatistico, a doutrina administrativista desenvolveu o conceito de interesse legítimo para designar situações em que os titulares das relações jurídicas entabuladas com a Administração Pública não disponham de direitos subjetivos propriamente ditos, embora titularizem determinadas situações jurídicas defensáveis perante o Estado.
Cuida-se de categoria desenvolvida originalmente no direito italiano, onde é causa de célebres debates doutrinários.72 Hoje encontra- se prevista no texto constitucional daquele país, bem como na Carta constitucional espanhola.
A distinção original parece ser derivada dos critérios de repartição de competência jurisdicional e administrativa. Adotado o contencioso administrativo, restaria às cortes administrativas competência para conhecer e questões envolvendo interesses legítimos, competindo às cortes jurisdicionais as questões referentes a direitos subjetivos.73 Mas, ao menos no que concerne ao presente estudo, essa não é a diferença fundamental.
Segundo a formulação original, a principal diferença entre essas categorias residiria na natureza do interesse tutelado.7-* Tendo por pressuposto a noção de que o interesse é o cerne do direito, distingue- se entre o interesse ligado diretamente ao indivíduo - o direito subjetivo -, e o interesse público, que afeta o indivíduo de modo meramente indireto - o interesse legítimo -, de modo que, nesta segunda situação.
:Sic a proteção, juodica terç^eip iPleres.g.e.gejal,, beneficiando o indivíduo incidenter tantum.
72 Sobre o tema, consultai o denso estudo de SCOCA. FYanco Caetano. Contributo sulla Bgura dell'intere$se legittimo. Milano: Giufíiè. 1930.
73 Na expressão de SEABRA FAGUNDES, tratava-se da pedra angular do sistema de controle jurisdicional; assim em SEABRA FAGUNDES, Miguel. O controlo dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Forense. 1957. pp. 141-142, n« 4.
74 Entre nós, SEABRA FAGUNDES, O controle dos atos administrativos pelo Foder Judiciário cit., pp. 141-142, n°4.
92
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
Autorizada doutrina rejeitou peremptoriamente a possibilidade de utilização dessa categoria no direito brasileiro. Centrava-se a crítica (i) na inexistência de previsão legal acerca da mesma e (ii) na inadaptabili- dade da categoria ao nosso sistema de tutela dos direitos.75 basicamente em razão de inexistir um sistema de contencioso administrativo entre nós, com o que os tais interesses restariam completamente desprotegidos, o que não se poderia admitir.7 Cumpre analisar esses argumentos.
O primeiro argumento - talvez não o tenhamos compreendido bem não parece relevante. Muitas categorias jurídicas são fruto exclusivo de elaboração dogmática, em nada faltando-lhes conteúdo por não estarem contempladas em algum texto normativo. Salvo engano, a expiessão direito conformativo gerador (vejam-se as referências no item 6.2) não desfruta de nenhuma previsão legal e nem por isso tem a sua utilidade contrastada, servindo como útil instrumento de análise juridica. A utilização de determinada categoria pela lei simplesmente a institucionaliza no discurso e maximiza sua utilidade, mas não é constitutiva da sua existência ou de sua utilidade.
De toda sorte, no direito brasileiro, já não mais subsiste a crítica em relação à ausência de previsão no direito positivo (e vigente), pois a Lei Federal 8.112 de 11.12.1990 contempla expressamente a categoria interesse legítimo.77
O segundo argumento desafia análise um pouco mais detida.De início e voltando ao direito italiano, o berço do instituto, é
importante observar que nos dias que correm essa categoria já perpassou os umbrais do direito administrativo, merecendo uso também no direito privado, constituindo categoria substancial78 (e não meramente formal) atinente à Teoria Geral do Direito.79 Neste sentido, os interesses legítimos são utilizados para caracterizar a situação juridica em
75 Assim, BARBOSA MOREIRA. José Carlos. Direito àpiícaclo -'acórdãos e votos. Rio de Janeiro: Forense. 19&7, pp. 119 e seguintes. De acordo, expressamente, BANDEIRA DE
' ' MELLO, Celso Antonio. “Proteção jurisdicional dos interesses legítimos no direito brasileiro", in Revista de Direito Administrativo 176: 9-14.
76 BARBOSA MOREIRA. Direito aplicado cit.. p. 120.77 O texto legal encontra-se vazado nos seguintes termos: Lei 8.112/91. Art. 104. É assegu
rado ao setvidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legitimo. Faça-se justiça e reconheça-se que a crítica aludida havia sido lançada antes da promulgação dessa Lei.
78 SCOCA, Contributo sulla figura deli 'interesso legitimo cit., passim.79 CANNADA-BARTOLI, Eugênio. Verbete "Interesse (dir. amm.)" inserido na Enciclopédia
dei Diritto XII: 1-28, esp. p. 9.
93
Flávio Galdino
que se encontra uma pessoa submetida a um poder (voltaremos a essa figura no item 6.2), sendo tutelável tanto em sede administrativa quanto em sede jurisdicional stricto sensu.
Assim, e considerando que o "poder” representa uma situação juridica em que uma pessoa pode intervir na esfera juridica de outrem, independentemente da concordância dessa última, que se encontra então em situação de sujeição, refere-se o interesse legítimo para caracterizar as aspirações (que não configuram direitos subjetivos propriamente ditos) da pessoa sujeita ao poder.80
Essa utilização na esfera privada demonstra que a crítica à categoria sob o prisma exclusivo da repartição de competências não subsiste mais, muito menos no direito brasileiro, onde inexiste essa repartição e realmente carece o operador do Direito de instrumentos para caracterizar situações que não se apresentem - ao menos prima facie - como direitos subjetivos.81 A questão é realmente complexa e está ainda a merecer estudo mais aprofundado.
De toda sorte, consoante essa orientação, poder-se-ia classificar as situações do indivíduo em relação ao Estado nos seguintes te rm os:82
(i) há interesse simples quando a norma tutela exclusivamente ointeresse público, isto é, quando o direito desconsidera os interesses de fato do indivíduo;
(ii) há interesse legítimo quando a norma tutela prioritariamente ointeresse público, ocasionalmente beneficiando o indivíduo;
(iii) há direito subjetivo quando a norma tutela precipuamente o interesse do indivíduo.
80 PERLINGIERI, Peiíis do Direito Civil cit., p. 130. Consulta-se ainda SCOCA, Contributo sulla Agrura dcU 'intaresso legitimo cit., p. 70.
81 MIGUEL REALE paieco admiti-la nesses termos. Assim REALE, Lições preliminares de Direito cit., pp. 2S8-259: "Há casos em que não chega a haver direito subjetivo, mas simples interesse legitimo, ao qual se liga uma pretensão fundada naquele interesse. Ê assim que o art. 3a do Código de Processo Civil declara que. para propor ou contestar ação (e a ação o, como veremos, um direito público subjetivo) é necessário ter interesse e legitimidade. Pode o juiz, a final, concluir pela inexistência do direito subjetivo pretendido pelo autor, mas não pode desde logo repelir a ação. se do complexo das razões de fato e de direito expostas na petição inicial resultar a existência de um interesse legitimo, como tal entendido uma pretensão razoável cuja procedência ou nâo só pode resul- tai do desenvolvimento do processo.
Em tais casos, o legitimo interesse ó equiparado a um direito subjetivo, em caráter provisório, dependente da decisão final da demanda
82 Assim MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 12* edição. Rio de Janeiro: Forense. 2001, pp. 213-214.
94
It
I
1
I I4 íi I
Introdução & Ifeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Árvores
A casualidade é uma nota desta categoria, referindo-se então a interesses legítimos - ocasionalmente protegidos - como direitos subjetivos menos perfeitos ou reflexos,83 que são protegidos porque eventualmente coincidem com o interesse público.^
A lateie, anota-se ainda uma outra categoria, dos interesses condicionalmente protegidos - que seriam direitos subjetivos imperfeitos (düítti affievoiiti).85 Outra noção complexa que infelizmente não é possível estudar aqui.
O interesse legitimo designa uma determinada relação entre o indivíduo e o Estado. Na medida em que se entenda de modo diverso essa relação, o conceito deve acompanhar a mudança. Assim é que o “interesse legítimo” foi cunhado numa época em que a relação do indivíduo com o Estado não revelava senão uma situação de sujeição. Nesse momento, o interesse legítimo restringia-se ao interesse do indivíduo à legalidade dos atos administrativosBG (o que, aliás, também já era reconhecido, ao menos incidenter tantum, no direito brasileiro87); numa palavra, é a concepção do indivíduo como simples "administrado", que expressa uma situação meramente passiva.88
A partir do momento em que se altera a concepção do Estado, isto é, em que ele se torna instrumento de realização da personalidade humana, intervindo na sociedade em forma de prestações sociais, o
83
84
85
87
88
Assim, BANDEIRA DE MELLO. Oswaldo Aranha. Principios Gerais de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense. 1969. p. 203: “Elas oferecem o conceito de interesse ocasionalmente protegido quando são impostas tendo em mira somente o interesse coletivo, embora, por retração, satisfaçam, ocasionalmente, os interesses de certos indivíduos, de modo mais imenso que o da generalidade dos cidadãos". De acordo, MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos - conceito e legitimação para agir. 3* edição. São Paulo: RT. 1994, p. 60.ZANOBINI, Corso di Diritto Amininistrativo, cit., p. 187. GARCÍA DE ENTERRÍA e FER- NÁNDEZ, CUrso de Derecho Administrativo, cit., p. 42.Ve)a-se também NAL1NI, José Renato. "Direito subjetivo, interesse simples e interesse legitimo". Revista de Processo 38: 240-250, esp. p. 244.MASSERA. Alberto. “Indivíduo e amminístrazione neilo Stato sociale: alcune considera- zioni sul!:i questiona delia situazioni giuridiche soggetive". In Rivists “IHir-estrale di Diritto e Procedura Civile XLV (Milano: Giuífrè, 1991): 1-54, esp. p. 34.MANCUSO, Interesses difusos - conceito e legitimação para agir cit., pp. 58 e seguintes. É também muito interessante a referência à tutela jurisdicional da ação popular, onde se sustenta quo o autor da ação não invoca um direito subjetivo individual próprio; susten- ta-se essa figura tutelada por intermédio da ação popular è bem próxima do interesse legitimo.GARCÍA DE ENTERRÍA e FERNÁNDE2. Curso de Derecho Administrativo cit., p. 17: “Este término da "administrado" es, realmente, poco teliz; comopaticiplo pasivo dei verbo administrar, parece orgüir una posiciin slmplemente pasiva de un sujeto (...)".
I ?' í
í :€c'íí
95
Flávio Galdino
interesse legítimo há de acompanhar essa mudança. Em síntese, no Estado Social, o conceito de interesse legítimo atende a finalidades diversas, mostrando-se claramente insuficiente a sua caracterização como simples meio de correção da ilegalidade89 (o que, aliás, já era reconhecido também, ao menos mcidenter tantum, no direito brasileiro). A transmutação da sujeição opressora do indivíduo em participação legitimante da administração, acompanhada da correlata instrumentalização do Poder no Estado Social, redireciona o interesse legítimo, passando este a ser considerado como meio de tutela do interesse da pessoa, perdendo aquele caráter ocasional. O interesse da pessoa humana é sempre o principal.90
Naquilo que efetivamente nos importa, permanece o direito subjetivo como categoria vital, desenvolvendo-se o interesse legítimo mais uma vez como uma categoria relacionai, isto é, delimitada em comparação com o direito subjetivo, ressaltando a importância deste.
4.5. Direitos morais
De tempo recente, vêm surgindo algumas teorias que buscam definir os direitos humanos a partir de uma categoria de direitos morais - rectius: que identifica direitos humanos e direitos morais. Essa categoria, de formulação recente e contornos ainda indefinidos, remete-nos à ética ou à moral como fonte material de validez dos direitos humanos, por oposição às categorias juridico-positivas, em relação às quais a fonte de validade é a positivação com base em algum critério formal pré-estabelecido.
Impõe-se assinalar, a bem da verdade, que em sede doutrinária não tão recente quanto a que se passa a referir a seguir, já se aludia à categoria dos direitos subjetivos morais, que teriam fundamento de validade nas normas morais.1bi Ocorre que essa anterior construção
''teórica-não rendeu ensejo-a maiores desenvolvimentos como a que se- passa a desenhar.
Sem sequer podermos apresentar muitas sutilezas do debate que o tema suscita, e considerando que a discussão com detalhamen
89 Neste sentido, MASSERA, “Indivíduo e amministraziona nelío Stato sodale: alcune consi- derazioni sulla questione dcllo situazioi giuridiche soggetive" cit., p. 41.
90 MASSERA, 'Indivíduo e amnúnistrazione netlo Stato sociale: alcune considerazioni sulla questione delle situazioi giuridiche soggetive“ cit., p. 50.
91 DABIN, El derecho subjetivo cit., pp. 61 e seguintes.
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Árvores
to das questões concernentes à fundamentação dos direitos humanos escapa aos limites inicialmente propostos a este trabalho, cumpre-nos aqui apresentar os contornos gerais dessa categoria, tão-somente com o escopo de demonstrar que ela também não exclui a categoria direito subjetivo.
À primeira vista, e com arrimo em noções recebidas nos primeiros dias do curso jurídico, a expressão direitos morais - principalmente em português (mas o mesmo fenômeno ocorre em espanhol) - soa inconsistente, senão mesmo como um equívoco retumbante, pois, por oposição teremos que falar - em pleonasmo inescondível - em direitos juridicos^2 ou em direitos subjetivos juridicos93 (ou em direitos institucionalizados).
Tal expressão parece realmente trilhar a senda da confusão entre o que é direito e o que é moral. No máximo, de acordo com a tradicional explicação simplificadora que faz uso de figuras geométricas - a moral e o direito retratados como dois círculos secantes - a expressão direitos morais parece referir alguma categoria que, além de positivada, é placitada por determinado padrão de moral.94 Não é este o caso.
A explicação para o aludido suposto "equívoco” , na verdade inexistente, está em que a designação em questão é originária do direito norte-americano, onde a expressão right - já entendida tão-somente em sentido subjetivo (vide item 1) - é mais ampla e menos formalizada do que direito, admitindo o qualificativo moral, dai moral rights,95 cuja tradução é realmente direitos morais.
De algum tempo a esta parte, a expressão tem sido adotada em larga escala por autores formados nas escolas de língua espanhola, que dedicam grande atenção ao tema, parecendo estar “consagrada” (derechos moraies), ou quando pouco, difícil de ser substituída, e efetivamente construída por oposição aos direitos juridicos.96
92 Aparente inconsistência denunciada mesmo por quem admite Vcatégoria: SANTIAGO NINO. "E l concepto de derechos humanos" cit., p. 14: GARCÍA ANON, José. “Los derechos humanos como derechos moraies: aproximaciõn a unas teorias con problemas de concepto, fundamento y validez". In BALLESTEROS, Jesús. Derechos Humanos - concepto, fundamentos, su/etos. Madrid: Tecnos, 1992. pp. 61-85. esp. p. 61.
93 DABIN, El derecho subjetivo c/c., p. 61.94 Sobre esta e ouUas tradicionais distinções enue moral e direito, por todos. REALE.
Lições Preliminares do Direito cit., p. 43, e DREIER, Ralf. "Derecho y moral". In GARZÓN VALDÉS. Ernesto (comp.). Derecho y Blosofia. Barcelona: Editorial Alfa, 1985, pp. 71-110.
95 PECES-BARBA, Curso de Derechos Mjndamentales cit., p. 49.96 Expressão que dá titulo a importante capitulo da referida obra de KELSEN, Teoria Geral
do Direito e do Estado cit., p. 107. Curiosamente, a tradução mexicana - da lavra de nin
97
Flávio Galdino
A construção original é atribuída a RONALD DWORKIN,97 o qual compreende a solução de casos judiciais através da remissão a princípios morais, estabelecendo então diferença entre os direitos legais (ou melhor, jurídicos - e assim traduzimos legal) e os assim chamados direitos morais.98
O autor conclui que os cidadãos têm direitos e deveres morais entre si e direitos políticos - também na órbita moral - contra o Estado, exigindo que, na solução dos casos, o texto jurídico retrate esses direitos morais (e, portanto, os princípios morais respectivos), e que eles sejam aplicados.99
A tese é desenvolvida em modelo argumentativo tipicamente norte-americano, a uma porque referida a casos judiciais que integram a experiência particular daquele país,10» e a duas porque a formação político-jurídica daquela nação permite a referência a princípios morais implícitos na sua Constituição,101 e, sem embargo disso, o argumento passou a ser utilizado e desenvolvido também fora dos Estados Unidos.
Tem-se assim os direitos morais como exigências éticas, bens, valores, ou mesmo razões de que são titulares todos os homens pelo simples fato de o serem,102 São direitos inatos, inalienáveis, universais, absolu-
guém menos do que Eduardo Garcia Maynez - preferiu utili subjetivo' (KELSEN, Hans. Tbario Conoral dal Derecho y dcl Esta do. México: Imprenta Universitaria. 1949, esp. p. 76).
97 Desenvolvida primeiramente em DWORKIN, 7òking rights seriously cit.. capitulo IV (Hard cases) e passim. Sobre DWORKIN, consulte-se CHUER1, Vera Karam. Filosofia do Direito e modernidade - Dworkin e a possibilidade de um discurso instituinte de direitos. Curitiba: JM Editora. 1995.
98 O autor afirma que " The Constitution /uses legal and moral issues, by mahing the validity of a law depend on tho answor to comptex moral problems, JiJto the problem oI whether a particular statuto respect the inherent equality o f men" (DWORKIN, Tàking rights seriously cit.. p. 185).
99 DWORKIN, Ronald. “Os juizes políticos e o Estado de Direito", in Uma questão de principio (trad. bras. de A matter of principio por Luis Carlos Borges). São Faulo: Martins Fontes. 2000. pp. 3-39, esp. p. 7.
100 Exemplifica-se oom a seguinte pergunta formulada por DWORKIN (Tàking rights seriously cit., p. 186): *Does an american over have the moral right to break the law?', respondida ao depois (p. 189): "Mfe say a man has the right to break the law, evefl though the State has a right to punish him, onjy when we think that, because of his convíctions, ho does no wrong in dolng so~. Perceba-se que a pergunta refere um americano, e a resposta, um homem.
101 É expressiva a seguinte pasagem de DWORKIN, Ronald. Et domioio de la vida - Una dis- cusión acerca de) aborto, Ja eutanasia y la libertad individual (trad. esp. de Life's domi- nion por Ricardo Caracciolo). Barcelona: Ariel. 1994. p. 207: ’ (-..) Debemos ser una nación de principios: nuestra Consritucíón debe representar convicciones (...)“.
102 GARCÍA ANON, "Los derechos humanos como derechos moraies: aproximación a unas teorias con problemas de concepto, fundamento y validez' cit., p. 61. Vide ainda a análise de CRUZ PARCERO, Juan A.. “Dorechos moraies: concepto y relevância". In IsonomiaIS (2001). pp. 60 e seguintes.
98
; f 1Introdução à Ifeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Arvores v j
tos, logicamente anteriores e superiores ao Estado (e, portanto, aos %"direitos jurídicos" de origem estatal), até porque, reclama-se respeito faos direitos humanos pelos sistemas jurídicos por parte dos Estados que Jnão os reconhecem, precisamente porque não os reconhecem. *03 ^
A formulação da categoria dos direitos morais representa, de algu- fma forma, a retomada de idéias jusnaturalistas, pois eles fazem as vezes J no direito contemporâneo, dos direitos naturais da Era Moderna,104 o jque não quer dizer que sejam categorias fungíveis, apresentando carac- ^teres diferenciados,10® havendo ainda hoje quem sustente - com autori- Jdade - a existência de direitos naturais stricto sensu.106 ^ I
As teses que propugnam a aceitação dos direitos morais, em ver-dade, professam uma espécie de jusnaturalismo impróprio,107 atípi- Jco108 ou, ainda, mais especificamente, de um reducionismo jusnatura- ^ |lista impróprio. Ç
Com efeito, partindo-se da premissa de que ambas as qualidades ^dos direitos humanos - a ética e a juridica - são complementares, a res- * |trição do argumento fundante a uma delas pode ser caracterizada como <*Treducionista109 e também impróprio porque, ao contrário do jusnatura- ^ lismo tradicional, fundado na natureza humana, os direitos morais |seriam fundados em determinadas razões justificativas (os princípios <[ morais em questão).
O ponto suscitado é relevante: independentemente da aceitação |da categoria em questão, converge-se em que os direitos humanos ou fundamentais possuem uma dimensão de validade moral - e a validez moral depende da possibilidade de justificação racional da sua funda- mentalidade110 (as razões justificativas aduzidas anteriormente) e, C
í!
103 SANTIAGO NINO, "E l concepto do derechos humanos" cit.. p. 15: “son lógicamente inde- | pondientos de esta recopción juridica". ^
104 TORRES, Os direitos humanos e a tributação cit.. p. 44: PECES-BARBA. Curso de | Derechos Fhndamentales de.. p. 49. (í
105 GARCÍA ANON. Josá. “Los derechos humanos como derechos moraies: aproximación a J unas teorias con problomas do concepto, fundamento y validez* de.. pp. 68-69. ^
106 FINNIS. Leggo naturais e diritti naturali cit.. p. 216. |107 PECES-BARBA, Curso de Derechos fbndamentales de.. p. 48. ^108 CL GARCÍA ANON, "Los derechos humanos como derechos moraies; aproximación a unas |
teorias con problemas do concopto, fundamento y validez" de.. p. 65. ^109 PECES-BARBA, Curso de Derechos Fúndameneales de.. p. 40. |110 Assim ALEXY, que refere cinco marcas que diferem os direitos humanos dos demais
direitos, a saber, eles são direitos universais, fundamentais, preferenciais, abstratos e Jmorais. Cf. ALEXY, Robert. 'Direitos fundamentais no Estado constitucional democráti- ^co". In Revista de Direito Administrativo 217:55-66, esp. p. 60. |
99 C.
Flávio Galdino
para isto, pouco importa que eles sejam positivados ou mesmo eficazes. O plano aqui é outro, a saber, da validade.
Os direitos morais se constituem, assim, em razões morais, justificações racionais para a ação humana. Partindo-se da premissa de que a moral impõe às pessoas determinados deveres (deveres morais), admitir-se que o sistema moral é baseado apenas na imposição de deveres significaria conceber um sistema moral e normativo emprobre- cido (the mora? impoverishment ehesis),111 destinado a estimular hábitos servis nas pessoas. Além disso, é importante que as pessoas reconheçam-se umas às outras como titulares de direitos, em vez de conceberem-se como meros objetos de deveres morais.
O sistema moral deve ser concebido através, quando possível, de deveres morais e de direitos morais. Até porque, no plano moral, em muitas circunstâncias, nos é dado imaginar situações em que os titulares possuem apenas direitos e não deveres, como é o caso de crianças, que titularizam várias posições morais ativas, sem estarem adstritas, em linha de principio, aos mesmos deveres morais das pessoas adultas. n 2
De outro lado, os defensores da categoria sustentam que não se trata sequer de jusnaturalismo (sobre o jusnaturalismo, v. item 2), muito menos redutor. Argumenta-se que o jusnaturalismo, de um modo geral, pressupõe duas premissas, a saber, de (i) que existem princípios morais válidos independentemente de reconhecimento estatal e (ii) que um determinado sistema normativo não será reconhecido como direito se não atender àqueles princípios.113
Essa segunda tese carece de maior interesse, uma vez que o que seja chamado direito - isto é, o conceito de direito - depende daquilo que assim se convencionar chahnar114 (vide item 5 sobre conceitos jurídicos), sendo correta a afirmação 'de que podemos conceituar como quisermos as ferramentas de nosso trabalho intelectual, o que importa é saber se elas servirão ao propósito teórico a que se destinam. 1]s
A primeira tese jusnaturalista é a que interessa aos defensores da categoria. Sus tenta-se a existência de principios rtiorais" com'base nós quais afère-se a validade do direito positivo (jurídico), e mais do que
111 CRUZ PARCERO, “Derechos moraies: concepto y relevancia" cit., pp. 60-61.112 Assim TUGENDHAT, Emst. Lições sobre a ética (trad. bras. de Vorlesungen über Ethik ■
- por uma equipe coordenada por Ernildo Stein). Rio de Janeiro: Vozes. 2003. pp. 348-349.113 SANTIAGO NINO, “BI concepto de derechos humanos' cit.. p. 16.114 SANTIAGO NINO. " 0 concepto de derechos humanos“ cit., p. 17.115 KELSEN, Traria Geral do Direito e do Estado cit.. p. 7.
100
Introdução à Ifeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem om Árvores
isso, argumenta-se que tais principios constituem as razões justificativas (base) para tomada de decisões pelos juizes nos casos concretos: os direitos são construídos argumentativamente a partir da moral.116
Na verdade, segundo este entendimento, essa base náo torna o argumento jusnaturalista, pois mesmo quando o juiz simplesmente aplica uma regra jurídica positivada, esta aplicação implica uma atitude de adesão normativa (adhesión normativa) por parte do juiz, o que já seria explicitação de um certo princípio moral que determina a obediência ao ordenamento jurídico, e que resta tanto mais saliente enquanto juízo valorativo na medida em que seja necessário solucionar as constantes indeterminações contidas nas normas jurídicas.117
Serão argumentos, segundo nosso entendimento, confessada e induvidosamente iusnaturalistas, e essa é uma opção que não deve ficar encoberta. É típico do jusnaturalismo fornecer padrões para avaliação do direito estatal e para limitação dos governos.118
Muitas críticas são opostas a essa categoria, sendo a mais grave, ao nosso ver, a de que não se oferece resposta convincente quanto ao conteúdo desses direitos morais113 (ou quanto ao critério para identificá-los de forma relativamente segura), o que nos parece, salvo melhor juízo, incompatível com necessidades de segurança jurídica.
De toda sorte, o que importa assinalar para os fins do presente estudo é que essa categoria dos direitos morais não exclui a categoria do direito subjetivo.
Normalmente, as relações entre o Direito e a Moral são colocadas em dois prismas, o descritivo e o normativo (ou valorativo).120 O prisma descritivo sugere a questão de saber quais dentre as múltiplas concepções morais existentes nas modernas sociedades pluralistas são (estão) efetivamente convertidas em direito (jurídico) - o que nos permite tentar aperfeiçoar a figura geométrica referida anteriormente para
116 CHUERI, filosofia do Direito e modernidade cíc., p. 141. j117 SANTIAGO NINO, "El concttpto de derechos humanos" cit., pp. 20-22. 1118 UNGEK, O direito na sociedade moderna cit., pp. 85,88.119 PECES-BARBA, Curso de Derechos Fhndamentales cit., p. 50.120 DREIER, ■Derecho y Moral" cit.. pp. 71-72. Sobre a redefinição das relações enue o direi
to e a moral, bem como sobre a aparência moral dos direitos fundamentais consoante a concepção úer HABERMAS, cuja obra ainda prescinde de uma análise mais detida e refletida por parte do autor, vide MAIA. Antonio Cavalcanti. “Direitos humanos e a teoria do discurso de da democracia*. In Arquivos de Direitos Humanos volume 2 (2000): 3-80, esp. pp. 46 e seguintes.
101
Flávio Galdino
dizer que os muitos círculos morais serão em alguma medida secantes ao círculo do direito positivo.
Já sob o prisma normativo, a questão consiste em saber quais dentre as concepções morais devem ser transformadas em direito (ou em direitos). Pôde-se dizer, então, com a devida permissão, que, as muitas concepções morais "aspiram" tomar-se juridicas (aqui também no sentido de eficazes).
O mesmo raciocínio pode ser aplicado aos direitos morais. Ikis direitos são aplicados in concreto: (i) ou porque já estão positivados através da positivação - e a redundância é inescapável - dos respectivos princípios morais que lhes servem de base, (ti) ou porque do cotejo entre eles e os direitos positivados verificou-se que a estes deveria ser negada validade (por restarem contrários àqueles princípios morais).
Em ambas as hipóteses, pode-se dizer que esses direitos morais, ao serem concretamente aplicados, foram de alguma forma positivados e, assim, tornaram-se direitos jurídicos, até porque a coerção é típica dos direitos positivos.121
Ocorre que a categoria utilizada para designar tais direitos jurídicos é precisamente o direito subjetivo. Neste sentido, parece dizer que a categoria dos direitos morais também não exclui a dos direitos subjetivos. Antes, mais uma vez com a devida licença,' os direitos morais aspiram tomar-se direitos subjetivos, ressaltando a importância desta categoria jurídica.
É bem verdade que o fato de (eventualmente) tornarem-se direitos positivos não lhes subtrai o caráter moral, pois sua validez no plano moral não é afetada pela positivação.122 Mas essa subsistência não afeta a correção da assertiva de que eles, seja como for, aspiram a tornar-se positivos.
São demonstrativos da veracidade desta última afirmação os fatos de que (ii) os autores que defendem a categoria dos direitos morais utilizam os esquemas conceituais dos direitos subjetivos para trabalhá- la,123 e de que (ii) os autores contra e a favor dessa tese, indistintamente, referem a uma pretensão de incorporação desses direitos morais ao ord- «ismenío jurídico. *2*»
121 Sobia serem os diieitos morais teethless, vide a abordagem de Cass Sunstein e Stephen Holmes no capitulo 10 abaixo.
122 ALEXY, “Direitos fundamentais no Estado constitucional democrático" cit., p. 62.123 Por todos, SANTIAGO NINO, “E l concepto de derechos humanos" cit., pp. 25 e seguintes.124 Consoante PECES-BARBA. Curso de Derechos Auidamentaies cit.. p. 36 (“(...) vocadón de
incorporarse al Derecho positivo"), e GARCÍA ANON, ‘ Los derechos humanos como dero•
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
Foi precisamente o que aconteceu com os direitos naturais sete- centistas, que foram apropriados pelo Estado e transferidos para outra ordem, a ordem juridica, a fim de tornarem-se efetivos - é a apropriação dos direitos pelo Direito.*?5 Enquanto no terreno moral as pessoas estariam incondicional e naturalmente protegidas, no mundo juridico, estarão protegidas apenas artificialmente enquanto portadores de direitos subjetivos.126
A latere, é importante registrar a questão dos direitos morais de fundo religioso, o que se faz, mais uma vez, de modo meramente ilustrativo. Utiliza-se como exemplo o caso do direito judeu.127
A principal característica dos direitos de fundo religioso, e que os difere essencialmente do direito secularizado é o objeto da regulação. Enquanto o direito leigo é referido às relações entre os homens, o direito religioso, além dessas, cuida das relações entre os homens e Deus, especificamente dos deveres dos homens para com Ele.
A questão é importante: enquanto o direito leigo gira em torno de direitòá entre os homens, o centro de gravidade dos direitos religiosos são os deveres para com Deus. Em um exemplo simples, numa relação de crédito e débito entre dois homens regida por um direito religioso, o direito do credor a receber seu crédito é elemento incidental, o valor primário a ser preservado é o dever para com Deus de cumprir os seus mandamentos.12
Insta observar que a referência religiosa, olhada de fora da religião, representa uma concepção moral (ocasionalmente de fundo religioso, mas não necessariamente), que prevalece enquanto fonte de validez do direito numa determinada sociedade. Em suma, no direito de fundo religioso identificam-se as dimensões moral e legal (ou juridica).129 Neste sentido, os direitos jurídicos são os direitos morais.
O caso judeu - repita-se, tomado aqui meramente a título exempli- ficativo (tendo o mesmo fenômeno ocorrido também em relação a
clios morzles: apioxi^ncó1’ a unas lecrias con problemas <í« cuin:-pto, ,'ú:,damento y vali dez" cit.. p. 61: " (...) y tíenen la pretonstón da ser incorporados al ordenamíento juridico como derechos juridico-positivos si no estuvieran ysen é l".
125 GOYARD-FABRE, Os Fundamentos da Ordem Juridica c/t., pp. XXXI-XXX1V.126 HABERMAS, "Sobro a legitimação pelos direitos humanos" cit., p. 68.127 A partir do panorama oferecido por SILBERG, Moshe. "Law and morais in jewish juris•
prudence". In Harvard Law Review 75 (2): 306-331.128 Afirmação com relação ao direito judeu em SILBERG, "Law and morais in jewish juríspru-
dence” de., pp. 312-313.129 Ainda SILBERG. “Law and morais in jewish /urisprudence” cit.. p. 321.
103
Flávio Galdino
outros credos) - revela-nos outras características muito interessantes desses direitos morais-religiosos. Destacam-se aqui duas.
Em primeiro lugar, o fato de que, ao menos no Estado de Israel (eventualmente, pelas vias próprias do direito internacional privado, também no Brasil 13°). o Direito Tàlmúdico é diretamente aplicável ainda hoje a diversas questões, além de informar de um modo geral a interpretação das leis, até porque a utilização por estas de conceitos talmú- dicos permite ao intérprete servir-se da casuística estudada ao longo dos séculos no seio daquele Direito religioso, 13i o que certamente atribui ao direito posto de elevado conteúdo moral, até porque o Direito religioso não se constitui unicamente de leis, mas também dos ideais, emoções e valores que o sustentam.132
Em segundo lugar, merece relevo a "desnecessidade” de coerção, pois na medida em que os corpos religiosos não disponham de meios coercitivos para execução dos seus respectivos preceitos, a obediência deriva efetivamente dos principios morais compartilhados na fé.133
De toda sorte, a correlação entre direitos morais e direitos juridicos reforça a tese da essencialidade da categoria direito subjetivo ao discurso jurídico-político contemporâneo.
o tema, veja-se o estudo de direito comparado (acerca da influência exercida pelo direito hebraico sobre o direito de família brasileiro) de LEÃO. Sinaida De Gregorio. A i: :luência da Lei hebraica no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Jurís. 1998 (sobre a referência do texto, esp. p. 188).
131 Sobre o Direito Iblmúdico, vide o curso ministrado por Ze'ev W. Falk na Universidade de São Paulo: FALK, Ze'ev W. O Direito Iblmúdico. São Paulo: Editora Perspectiva. 1988 (a referência do texto na pp. 14-15).
132 FALK. O Direito Tblmúdico cit., p. 11.133 Muito interessante quanto ao ponto a leitura de SILBERG, "Law and morais in jewish
jurispmdenco" de., p. 322.
104
í Capítulo V'4%
Os Conceitos, as Categorias e as Definições Jurídicas
5. Conceitos, categorias e definições jurídicas
No início deste estudo, ficou registrado que os direitos fundamentais sáo hoje entendidos como direitos subjetivos, mas também como princípios que norteiam todo o ordenamento jurídico. Esta observação é demonstrativa de que, ao debruçar-se sobre seu objeto de trabalho, o estudioso do Direito encontra fundamentalmente normas. Normas juridicas. Ikis normas, mesmo as mais simples que se possa imaginar, são formadas a partir de conceitos.
Gasta observar uma norma jurídica, qualquer uma, para verificar que ela necessariamente serve-se de conceitos. Por exemplo: “Matar alguém" (estabelecida no Código Penal brasileiro, art. 121) é uma norma (aparentemente) simples, que contém dois conceitos "matar” e “alguém". Integrando normas juridicas, essas expressões designarão conceitos jurídicos. “Direito subjetivo”, o tema em análise neste passo da exposição, è um conceito jurídico. Assim também, as figuras correlatas expostas ainda há pouco; todas elas são conceitos jurídicos.
De outro lado, estudando esses conceitos, o operador do Direito os qualifica e ordena segundo determinados critérios. Consoante a concepção assumida neste estudo, as categorias juridicas são os resultados dessas operações de qualificação e ordenação dos conceitos jurídicos. Neste sentido, o direito subjetivo é também uma categoria jurídica. Em ambos os casos, conceitos juridicos e categorias juridicas são expressos em linguagem a partir de definições.
Dada a caracterização dos direitos fundamentais a partir do conceito de direito subjetivo, mister aprofundar ésses temas! '*
5.1. Os conceitos jurídicos e os seus objetos
Conceitos - inclusive os jurídicos - são representações mentais e abstratas dos objetos,1 materiais ou não. Cuida-se de operação de
1 For todos, é a orientação de BERGEL, Ifeoria Gera) do Direito cit.. p. 254.
105
Flávio Galdino
construção ou apreensão intelectiva de objetos (entendidos ai os fatos reais e também o direito).
Logo de inicio, convém registrar importante posição teórica consoante a qual os conceitos jurídicos não referem, por assim se dizer, diretamente os objetos, mas tão-somente sua significação. Segundo este entendimento, os conceitos juridicos simplesmente referem-se a determinadas significações atribuíveis aos objetos, já que estes - os objetos dos conceitos jurídicos - são abstratos.2 Embora a conclusão seja coerente com as premissas, tudo parece depender do entendimento acerca do que sejam os objetos e do modo pelo qual os mesmos são compreendidos. Seja como for, a questão não é relevante aqui, pois não interfere com o desenvolvimento que se segue.
5.2. O que são conceitos e definições juridicas
Há duas formas fundamentais de conceber o fenômeno “conceito", isto é, de saber o que é um “conceito", quais sejam, (i) a concepção realista ou essencialista e (ii) a concepção convencionalista ou instrumentalista (ou ainda, nominalista).3 De acordo com a concepção essencia- lista, os conceitos refletem a essência dos objetos conceituados.
De outro lado, consoante a orientação convencionalista, os conceitos referem, como a própria nomenclatura indica, convenções entre as pessoas que os utilizam, uma espécie de pragmatismo conceituai (con- ceptual pragmatism4).
Seja qual for a orientação que se adote, mister não confundir os conceitos e as suas definições. O conceito é a representação mental e abstrata de um objeto, ao passo que definição é a expressão lingüística do conceito.5
2 GRAU, Ecos Roberto. Direito, conceitos e normas juridicas. São Pauto: RT. 1988. p. 62.3 Assim. PECES-BARBA. Curso de 7bor/a dei Derecho cit., p. 251. E também, ARA PINIL-
LA, Ignacio. Las transformaçiones do los derechos humanos cit., pp. 20 e seguintes. Consulte-se também LUZZATI, La vahghezza delle norme cit.. p. 87, e CHAUÍ. Convite à filosofia cic., pp. 68-69.
^ 14a expressão de XANTOROW1CZ, Hermann. The definition o f law. Cambridge: Carabrigde Univorsity Press, 1958, p. 5.
S Com razão, quanto ao ponto. BERGEL. Teoria Geral do Direito cit.. p. 256: “a definição de um conceito deve descrever sua substância e revelar seus critérios distintivos’ . Neste sentido, GRAU, Direito, conceitos, e normas juridicas cit., p. 64. referindo termo como a expressão verbal do conceito, e ressaltando depois (p. 71) que "a definição jurídica é a explicitação do termo”. A seu turno (ao nosso ver sem razão, talvez um lapsos calamií PECES-BARBA afirma sem ressalvas que “los conceptos jurídicos (...) son definiciones juridicas" ( Curso de Tfeorfa dei derecho cic., p. 2S6.
106
Introdução à Tooria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvotes
Desse modo, de acordo com a tese essencialista, as definições jurídicas, isto é, as palavras utilizadas para referir um conceito teriam ligação essencial com ele e com o respectivo objeto conceituado (o que se designa por realismo verbal: verbal realism). Já de acordo com o convencionalismo, as palavras - e a linguagem como um todo - representariam simplesmente símbolos convencionais, inexistindo qualquer relação necessária e essencial entre elas e os objetos que designam.6
Por mais não fosse, a tese convencionalista foi comprovada pela literatura, aliás amiúde referida mesmo nos textos jurídicos sobre o tema. Com efeito, após a demonstração insuperável - também em beleza - de que uma rosa terá sempre o doce perfume de uma rosa independentemente do nome que se lhe dê,7 parece evidente o predomínio da posição convencionalista.8
Em verdade, inexiste qualquer relação necessária entre uma palavra e um objeto. O que existe são convenções que se destinam a permitir a comunicação entre as pessoas. A alteração de um termo pelo qual se designa um determinado objeto em nada interfere na existência desse objeto. O máximo que pode ocorrer é restar dificultada a comunicação. Os conceitos e suas definições são, portanto, convenções. Mas nem sempre foi assim e, na verdade, nem todos pensam assim.
É demonstrativa do predomínio exercido durante largo tempo pelo modo essencialista de apreciar os fenômenos jurídicos, a constante e indefectível referência nos estudos jurídicos à chamada "natureza juridica". Herdeira de concepções jusnaturalistas ontológicas (de racionalidade objetiva) e, portanto, transcendentais, a “natureza jurídica” induz ao equívoco de se considerar existente uma relação essencial entre a definição de um conceito juridico e o respectivo objeto concei-
CARfUÓ. Notas sobre derecho y Icnguaje cit.. pp. 91-92; GRAU. Direito, conceitos, e normas juridicas cit., p. 56." What 's in a name? /That wich wo cali a rose / Byany other name would smell as swcet ”. SHAKESPEARE, WiUiam. "The most excellent and lamentable tragedy o í Romeo and Juliet". Acf IT. Scene .'I. Ir. The Complete Works (Eds. Stanley Wells e Gary Thylor) Oxford: Clarendon Press. 1988.Por todos. KANTOROWICZ. Thedefinitionoflawck..p. 5: "This shows wherein thelegi- timate function o f definitions really lies. They have certainly not tho dignity of a statoment oftruth and the convenient copula 'is' is highly misleading, for it implies the tacit assump- tlon that the name o f a thtng proves the existence of the thing named and Chat the name canvcys by itself tho knowicdga o f the essential features o f tho thing. These are two more relics o f verbal magic. (...) Any quostion posed b y any Science as to che moaning o f a ce/m can bo answered only ifth o intention is to ask what in this particular science ought to be understood by this particuiar term (or other Symbol)”.
107
Flávio Galdino
tuado. Com tempo, o fetichismo ilusionista da "natureza jurídica''9 passou a exercer evidente função conservadora, pois aquilo que é natural, não poderia ser questionado em bases teóricas.
Ocorre que, consoante já observado, inexiste relação necessária - ou natural - entre os conceitos e os objetos conceituados. Isso que equivocadamente pode ser tomado como "natural", em verdade, é uma operação intelectual consistente em qualificar os objetos "juridicos” (isto é, aos quais se atribui relevância jurídica). É uma operação intelectual de formulação de categorias jurídicas, as quais, muito antes de serem “naturais", são completamente "artificiais" (embora, ressalte- se, expressos em linguagem corrente ou natural).
5.3. A s categorias jurídicas
Na verdade, perguntar acerca da "natureza juridica" de um determinado objeto (juridico) nada mais é do que referi-lo a uma categoria jurídica existente (rectius: preexistente), isto é, previamente delineada, no sentido de "convencionada". Em síntese, "atribuir natureza" jurídica significa qualificar ou classificar esse objeto.
Isto, como se percebe, nada tem a ver com a "natureza” do objeto ou com a sua essência, nem há nada de "natural" nos conceitos e categorias jurídicas, os quais, repita-se, são convenções. Item a ver, isto sim, com a qualificação do objeto em questão.10
Não se trata de mero preciosismo terminológico. Para quem não é ambientado nas questões jurídicas, a expressão natureza jurídica não raro é causa de grandes dissabores. O que importa é salientar que “explicar a natureza juridica" de algum “objeto" não é senão qualificar essa “objeto" através de categorias predeterminadas. Encaixá-lo em molduras previamente delimitadas e convencionadas.
Sem embargo, e realmente renunciando a qualquer preciosismo, importa reconheçej. ,que .esta linguagem ‘mâttifesláiíiente imprópria11
9 A expressão é tomada por empréstimo de WARAT. O direito e sua linguagem cit.. p. 58.10 O que resulta claro, afinal, na observação da atividade consistente em "auibuic" nature
za juridica a um instituto. Segundo enunciado célebre, a qualificação é "a determinação da natureza de tuna relação de direito cujo efeito é classificá-la numa das categorias existentes* (CAPFIANT, apud BERGEL, Teoria Geral do Direito cit.. p. 52).
11 ARA PINILLA, Las transformaçiones de los derechos humanos cit., esp. p. 25: "Única- mente en un sentido impróprio, y a partir también dei caràcter puramente convencional dei lengvaje, puede, por consoguíente, hablarse de la naturafeza jurídica de una institu- clón qualquiera".
108
Introdução è Ifeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
da “natureza juridica" parece estar irremediavelmente consagrada, ao menos entre nós, sendo reiteradamente utilizada, inclusive no presente escrito.
De modo a eximir de dúvidas o estudo, renova-se a importância de tratarmos das categorias juridicas, muito utilizadas, porém pouco exploradas em direito.12 Senão vejamos.
Quando se conceitua um objeto, explicitando-o através de uma definição, pode-se fazê-lo de forma mais ou menos genérica - e isso é uma escolha13 da pessoa que efetua a operação de conceituação (que deve fazê-lo segundo determinadas convenções). Exemplifica-se: pode- se referir o ato que corporifica a transmissão (ou tradição) de um bem móvel entre duas pessoas como um contrato (rectius: como a execução de um contrato), conceito que, a exemplo dos demais, nâo refere necessariamente nenhuma essência.14 É possível ser mais especifico, e dizer que se trata de um contrato bilateral. É possível ser ainda mais especifico, e afirmar que se cuida de um contrato bilateral oneroso. Como se vê, já não se trata apenas de estudar os fenômenos e conceitos em si mesmos, mas de compará-los para aproximá-los ou dissociá-los.
Referimos, assim, às categorias juridicas como prolongamentos dos conceitos juridicos, sempre e igualmente convencionais, na medida em que sejam úteis à respectiva aplicaçáo.15 Esse. enfim, e a bem da verdade, a utilidade de se estudar a "natureza jurídica” .16
Esclarecido o ponto, é correto afirmar que a pergunta acerca da natureza jurídica de um determinado instituto jurídico bem pode ser substituida pela questão de saber em qual categoria jurídica ele se integra. Os conceitos e as categorias juridicas não são, portanto, figu-
12 Utilizando a expressão categoria juridica noutro sentido, isto é. como figura genérica (pura. no sentido de que fosse livre de especificidades que a vinculassem a determinado ramo do direito) pertencente à teoria geral do,djtqiu> da.qualdetiy^rianvas figuras públicas e privadas. CRETELLA JR., José. “As categorias juridicas e o direito público" cit., p. 121. Parece-nos que a concepção expressa no texto é mais útil, sendo a utilidade oúnico critério válioso de aferição desse tipo de construção teórica instrumental. Registre-se ainda, por oportuno, que os estudos filosóficos também atribuem outro significado (completamente diverso) à expressão categoria (sobre o tema. consulte-se CHAUÍ, Convite à filosofia c/£., p. 79).
13 For todos, WILSON, John. Pensar com conceitos (trad. bras. de Thinking w/th concepts por Waldéa Barcellos). São Paulo: Martins Fòntes, 2002, pp. 4-6.
14 De acoido, quanto ao ponto, MACEDO Jr., Ronaldo Potto. Contratos relacionais e defesa do consumidor. S&o Paulo: Max Limonad, 1998, p. 151.
15 BERGEL, Teoria Geral do Direito cit.. p. 2S5.16 ARA PINILLA, Las transformaçiones de los derechos humanos cit., esp. p. 29.
109
Flávio Galdino
ras contrapostas. TYata-se apenas de perspectivas diversas (eventualmente coincidentes). Segundo estabelecido como premissa neste estudo, enquanto o conceito refere uma relação com um objeto, a categoria designa relação entre conceitos.
Um outro exemplo facilita a compreensão. Respondendo à indagação acerca de qual seja a natureza juridica da "cessão de crédito", não incorrerá em equivoco quem simplesmente responder que se trata de um "negócio juridico". Com isso, estará tão-somente utilizando este último conceito para qualificar aqueloutro fenômeno jurídico. Poderia- se muito bem dizer somente que a "cessão de crédito" é uma espécie do gênero "negócio juridico". Isto quer dizer que, em alguma medida, os conceitos em questão são correspondentes (as categorias, como dito anteriormente, revelam relações entre os conceitos): a cessão de crédito possui outros elementos autônomos e distintivos que não são tomados em consideração no momento de estudar-lhe a "natureza juridica" (rectius: de qualificá-lo).
De outro lado, se assim for necessário, pode-se mexer nas dimensões da moldura onde deve entrar a figura que se pretende qualificar. Assim, e de volta ao exemplo, pode-se dizer que a “cessão de crédito” é uma espécie de "negócio juridico abstrato" ou, nos moldes tradicionais, que essa é a sua natureza juridica. Ambas as respostas, a mais ampla e a mais restrita, estão corretas, apenas expressam graus diferentes do mesmo fenômeno ou, melhor dizendo, graus diferentes de precisão.
Essa última observação Temete a um tema por demais importante para o tema central do primeiro capítulo do estudo (os direitos fundamentais como direitos subjetivos), qual seja, o conteúdo e as medidas dos conceitos e das categorias juridicas.
5.4. O conteúdo e as medidas dos conceitos e das categorias juridicas
De acordo com o que foi visto anteriormente, pode-se afirmar que os conceitos e categorias jurídicas são instrumentais. Do ponto de vista cientifico, existem para viabilizar a aplicação do Direito, isto é, das normas jurídicas.17
17 Por todos. GRAU, Direito, conceitos, e normas juridicas cit.. p. 66.
110
Introdução è "teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
Neste sentido, e considerando que as normas jurídicas nâo são meramente descritivas, mas também prescritivas, as categorias a que elas se referem também o serio. A questão é relevante.
Consoante salientado, o escopo do Direito é prescrever comportamentos humanos, inspirando-se em valores, sem jamais perder o contato com a realidade. O Direito é, realmente, um modo de pensamento orientado a valores, de modo que as normas jurídicas são prescritivas e não meramente descritivas (cf. item 1.2). Suas categorias terão esta mesma finalidade - daí dizer-se que também esses conceitos e categorias são normativas ou prescritivas.18
Deve-se ressaltar novamente a ineliminável carga axiológica contida nas categorias jurídicas - em uma palavra: as valorações19 sobre a realidade (igualmente referidas item 1.2). Conceitos e categorias jurídicas carregam em si valorações sobre a conformação dos comportamentos humanos. Mais uma vez: dai porque dizê-los prescrítivos (e não meramente descritivos). Exemplifica-se com o conceito jurídico de “filiação” .
De acordo com a simples observação da realidade (o ser), o conceito juridico de filiação deveria corresponder ao evento biológico que lhe dá causa. A visada meramente descritiva indica quem é pai por meio da simples observação. Mas nem sempre foi ou é assim.
No Brasil, por exemplo, até o advento da Constituição Federal de 1988 (art. 227, parágrafo 6n, in fine), o conceito juridico de filiação não correspondia ao evento biológico. Isto porque o Direito positivo brasileiro valorava negativamente alguns tipos de filiação (v.g. a filiação resultante de relação adulterína) e, por essa razão, não lhes reconhecia determinados efeitos jurídicos (cumprindo assim uma função de desestímulo ao comportamento diverso daquele prescrito na norma, o dever-ser).20 A Constituição Federal de 1988 não acolheu essa valoração negativa e, na verdade, inspirada noutros valores, atribuiu os mesmos efeitos a qualquer tipo de filiação biológica. Nos dias que correm, parece haver séria inclinação a superar-se essa nota genética e voltar-se a determinadas notas do comportamento
18 ENGISCH, Introdução ao pensamento juridico cit., pp. 210 e seguintes.19 Assim, mais uma vez por todos, GRAU. Direito, conceitos, e normas juridicas cit.. pp. 66-
67, referindo-se aos conceitos juridicos como "signos de predicados axiolôgicos".20 O exemplo é de ENGISCH. Introdução ao pensamento jurídico cit., pp. 16-17. O mesmo
exemplo 6 utilizado neste contexto por FACHIN, Luiz Edson. Teoria critica do direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 189.
111
Flávio Galdino
humano como paiâmetro fundamental de determinação da filiação (jurídica), evidentemente baseada noutros valores.21
De qualquer modo, resta claro que o conceito jurídico de "filiação" transporta em si forte carga valorativa e a simples existência de vários tratamentos díspares em épocas ou espaços diversos demonstra a existência da respectiva valoração (ou valorações diferentes22).
Essas valorações incidem sobre os objetos que o Direito considera relevantes, em geral sobre as estruturas e situações idealizadas pelas normas (e pelos seus conceitos), e aqui retornamos à medida das categorias juridicas.
Embora os conceitos jurídicos não tenham referência necessária à existência real dos objetos conceituados, eles certamente serão tanto mais úteis quanto consigam captar a realidade que pretendem con fo rm ar.2 3 e isso vale para a teoria do direito como um todo: um teste fundamental para qualquer teoria diz respeito à sua capacidade de explicar a realidade e de orientar com correção a conduta real das pessoas24 e, para tanto, os conceitos científicos que refletem situações reais devem, na maior medida possível, ser concebidos com base na realidade.
Neste sentido, é licito afirmar que o Direito no mais das vezes destaca elementos da realidade aos quais atribui significação jurídica, desprezando os demais elementos, e o faz através de valorações - a própria escolha dos elementos que possuem relevância já é um ato de valoração uma decisão de aplainar particularidades para que a generalização possa seguir em seu caminho.25
21 Sobie o tema. FACHIN. Luiz Edson. Estabelecimento da filiação e paternidade presumida. Porto Alegre: Sérgio Antonio Ffebris Editor. 1992.
22 Coneto FORNACIARI JR., Clito. “Dos conceitos juridicos”. In Revista de Informação Legislativa 66 (1977): 139-1S0, esp. p. 142.
23 BERGEL. Ifeoria Geral do Direito c/t., p. 267.24 Conforme a observação de POSNER, Richard. Economic analysis o f law. Fourth edition.
Boston: Little, Brown and company. 1992, pp. 17-18.25 Expressão, lançada no terreno genérico da teoria social, de UNGER, O Direito na socie
dade moderna cit., pp. 30-31. Especificamente para o direito. LARENZ, Metodologia da Ciência do Direito c/t., p. 294, e COING, Elementos fundamentais da Filosofia do Direito cit.. p. 122 ("generalizar significa, em suma, indiferença diantè de diferenças, e até certo ponto redução da complexidade''). Sobre as generalizações como características das regras juridicas (prescritivas - e também das simples descrições), STRUCHINER, Direito e linguagem c/t., pp. 8S-86.
112
Introdução à Teoria dos Cgstos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
Como já referido, os conceitos e categorias serão ainda mais úteis se suas definições puderem bem expressar esses dados da realidade (ou condicionantes naturais26) e essas valorações.27
E essa é a questão da medida dos conceitos e categorias juridicas: o que deve ser contemplado nos conceitos e categorias juridicas?
É impossível, e mesmo indesejável, regrar tudo com detalhamento.28 Também não é desejável, dado o escopo do Direito de alcançar a paz social (possível), a existência de completo vazio juridico em áreas de potenciais conflitos intersubjetivos. É preciso encontrar a justa medida.
Duas as questões fundamentais que se apresentam a essa tarefa de formulação dos conceitos jurídicos (e de suas definições), e merecem ser destacadas, a saber, (i) a infinitude de situações reais é impossível de ser prevista detalhadamente pelo Direito, embora a elas devam ser aplicadas as normas, e (ii) a natural ambigüidade dos termos utilizados nas definições cria dificuldades no momento de aplicação das mesmas. Vejamo-los mais detidamente.
O problema fundamental a ser colocado é de que os conceitos são representações gerais ideais e abstratas, e a generalidade e a abstração, ao menos normalmente, são incompatíveis com a complexidade ou, quando compatibilizadas, sua expressão lingüística é de difícil compreensão - quando pouco, de difícil uniformidade de compreensão.
Esse é um problema sério, pois as valorações levadas a efeito pelo Direito através de suas normas (e da respectiva aplicação) e de suas categorias somente são passíveis de serem legitimamente exigidas quando valem para todos e por todos são compreendidas29 - não se olvide que o Direito é também um sistema de legitimação30 das práticas sociais.
Tkmbém por essa razão, o Direito deve preferencialmente fazer uso dos termos em seu sentido comum, isto é, no sentido em que são
26 A expressão é de REALE, Lições preliminares de Direito cit., pp. 186-187..27 A sistematizaçáo que ora se apresenta simplifica algumas noções mais complexas acer
ca das possíveis espécies de conceitos juridicos (deontológicos. axiológicos e antropológicos). Pensamos que essa simplificação não compromete a correção das noções lançadas no texto e melhor atende ao estudo, em que possuem caráter meramente instrumen- tal. Sobre o tema, ALEXY, 7ioría de los derechos fundamentalos cit., p. 139.
28 BERGEL. Tteoria Geral do Direito cit., p. 251.29 Neste sentido, GRAU, Direito, conceito e normas juridicas cit., p. 62, usando a idéia de
validade em lugar da noção de legitimidade, a qual, sem embargo e com as vênias devidas, parece-nos mais adequada.
30 HESPANHA, Panorama histórico da cultura juridica européia cit.. p. 16.
113
Flávio Galdino
usualmente empregados na linguagem corrente pelas pessoas cujo comportamento pretende dirigir,31 o que, por evidente, nem sempre é possível, pois o direito, enquanto ciência, também trabalha com conceitos ideais que não integram a linguagem corrente das pessoas.
A notória incompatibilidade entre a complexidade da vida real e a abstração simplificadora dos conceitos e categorias juridicas conduz ao fenômeno que se usou denominar, de modo bastante expressivo, "expropriação dos fatos pelo direito".32
Sob o prisma da aplicação das normas, essa incompatibilidade leva o operador jurídico muitas vezes a encaixar como que “à força" as situações reais concretas nos conceitos e categorias jurídicas contidas nas normas, que passam então, na inspirada formulação do jurista, a contar com pressupostos procusteanos,33 34 o que é francamente inadequado.
Em contraponto, resta claro que a maior especificidade de um conceito, a seu turno, gera restrições ao seu âmbito de aplicação,35 o que também não é desejável, haja vista a jà antes referida inviabilidade de normatizar autonomamente todos os misteres da vida humana. Ademais, a maximização de detalhamentos torna o conceito difícil de
31 LARENZ, Metodologia da Ciência do Direito cit., p. 451.32 ffeliz a sinteso de FRANÇOIS RIGAUX. que (ala muito adequadamente na expropriação
dos fatos pelo direito: "O que a vida comporta de emoção, de singularidade inédita que não mais se repetirá, é eliminado, não pocque estes elementos não são comunicáveis - a arte, a poesia, uma relação afetiva fazem-nos partilhá-los -. mas porque sáo « stranlios ao magistério do direito. Eis por que o direito exptopria os fatos. Estes são despojados do quo têm de peculiar, de singular, de individual. Talvez tais elementos encontrem alguma pertinência numa fase posterior do raciocínio judiciário, para a escolha da pena. o cálculo do perdas e danos, um julgamento em eqüidade, mas não antecipemos, tr.itase no momento da pesquisa do direito aplicável" (RIGAUX. FVançois. A lei dos juizes (trad. bras. de La lol des juges por Edimir Missio). São Paulo: Martins Fontes. 20CO. po. 47-48).
33 A expressão feliz é de DWORKIN. El domínio de la vida - Una discusíón acerca dei aborto, la outanasia y la libortad individual cit., p. 134: "E l anâlisis puede proceder sólo por abstracción, poro la abstraccíón, que ignora Ja complejidad y las interdeperdon -ias de la vida real, oscurcce gran parte do la matéria sobre la que se toma cada dccUión concreta y efecliva Asi. no disponemos di nln<jt>na fórmula para las decisiones reales, sino, a Io sumo, de un esquema para entender los argumentos y decisiones quo desarrollamos en Ia vida reaL Hcmos sustenido que hacemos mal. a la hora de entender y evaluar estos argumentos y decisiones, si intentamos a ajustarlos a presupuestos procusteanos acerca de la personalidad y los derechos dei feto".
34 Personagem mitológica, Procusto setia um bandido, caracterizado por servir-se de um leito - o famoso leito do Procusto - que utilizava para submeter suas vitimas a hediondas torturas, basicamente porque a vitima jamais se ajustaria às dimensões do leito.
35 LUZZATI, La vaghozza delle norme cit., p. 83; SANTIAGO NINO. "E l concepto do derechos humanos" c/t., p. 12.
114
Introdução à Tfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Náo Nascem em Áivoies
se adaptar tanto aos fatos da vida, como às alterações provocadas pela evolução dos comportamentos humanos que se pretende normatizar.
lbma-se preciso encontrar a solução e, nesse sentido, quase imprescindível mesmo é a utilização dos chamados conceitos abertos, que melhor atendem às necessidades de especificação e adaptabilidade dos conceitos e categorias juridicas.
5.5. A abertura dos conceitos e categorias jurídicas
Em lugar de conceitos e categorias (supostamente) rigidamente definidos em referência às mínimas especificidades dos objetos conceituados (e, enfim, da própria vida), extremamente detalhistas e de significação univoca, centra-se hoje a Ciência do Direito em formular e operar com conceitos abertos, também chamados elásticos ou maleáveis.36
Em verdade, todos os conceitos, pelo simples fato de serem definidos por palavras, possuem textura naturalmente aberta. Esses conceitos caracterizam-se justamente por permitirem maior grau de adaptação dos enunciados juridicos, em especial dos enunciados normativos, à realidade fática no momento de sua aplicação
Na verdade, as expressões da linguagem natural e, por conseguinte, da linguagem juridica, de um modo geral são dotadas de textura aberta.37
Primeiramente, como visto anteriormente, deve-se considerar que a elaboração da definição de um conceito ou de uma categoria parte (quase sempre) do sentido usual que os termos possuem na linguagem corrente ou comum - e é bom que seja assim.38 E muitos desses termos
36 BERGEL. Teoiia Geral do Direito cit., p. 261. Ainda, SILVEIRA, Alípio. Hermenêutica jurídica. Volume IV. 2* edição. São Paulo: Brasiliense. S.d., pp. 105 e seguintes.
37 Sobre a textura aberta (referida à construção de HART). LUZZATTI, La vaghezzo delle norme c/t., p. 155 {“daU’impossibilità di delimitarli completamente rispetto ad ogni possi- bilo íatco o situazione"); CARRIÓ, Notas sobre derecho y lengua/e c/t., p. 35; vide também a contribuição da STRUCH1NER, Direito e linguagem cit.. passim
38 "Qualquer tentativa de definição de um conceito deve adotar como ponto de partida o uso comum da palavra" (KELSEN, Teoiia Geral do Direito e do Estado c/t., p. 7). Neste sentido, "o direito com isto também adere ás imprecisões do idioma, e ele estreita o significado das regras juridicas, porque ela sempre está atada a tradições lingüísticas ou intelectuais de uma certa comunidade lingüística" (COING, Elementos fundamentais da Filosofia do Direito cit., pp. 279-280), ‘fembém CARRIÓ. Notas sobre derecho y lenguaje cit.. p. 55 (por servir-se do mesmo material, “el lenguaje juridico t/ene basicamente las mismas características que los lenguajes naturales'); GRAU, Direito, conceitos e noimas juridicas cit.. p. 58.
Flávio Galdino
polissêmicos, sendo certo que várias das ambigüidades que esta linguagem desperta serão sentidas também pelo Direito. Constitui tarefa da interpretação precisar-lhes o sentido e o alcance em uma determinada operação de aplicação/criação do Direito.
A seu turno, o desenvolvimento e a utilização ampla de uma linguagem técnica (formal, como a linguagem matemática, por exemplo) e sofisticada podem ser extremamente desvantajosas. Em primeiro lugar, porque podem conduzir à ausência de controle social efetivo das decisões expressas nessa linguagem, o que é muito ruim do ponto de vista democrático - o preço da clareza e da precisão pode ser demasiadamente elevado.39
Além disso, mesmo as expressões especializadas, técnico-juridi- cas, possuem grande margem de variabilidade de significação (basta lembrar novamente dos inúmeros conceitos jurídicos indeterminados). Ao contrário de ser um problema insolúvel, afirme-se que essa riqueza expressiva da linguagem é o que torna o Direito e os direitos suscetíveis de adequação à multifacetária realidade da vida.40
Neste sentido, é correto dizer-se que a vagueza das normas jurídicas é intencional41 (rectius: a utilização de termos vagos nas normas é intencional) e depende de uma opção do legislador, sendo digno de registro, contudo, que não se deve confundir vagueza intencional com má redação ou obscuridade,42 resultado inoportuno da má utilização da técnica legislativa, aliás, infelizmente muito freqüente entre nós.
Nos dias que correm, a técnica da vagueza/polissemia é uma opção pragmática do legislador no sentido de regular diversos interesses e permitir a mutação do texto para adaptar-se a novas circunstâncias, através de processos de redefinição.43
39 Conformo adverte GIANNETTI. O mercado das crenças - filosofia econômica e mudança social c/t., pp. 176-177 e 215. ^........
40 LARENZi Mélódológia da"Ciência do Direito "cit., p. 233.41 Fala-se, a propósito, em metodologia fuzzy, consoante CANOT1LHO. J. J. Gomes. “Meto- “ dologia “fuzzy “ y "camaleones normativos" en la problemática actual de los derechos eco-
niniicos, sociaies e culturates". 7n'Derechos y Libertados 6 (1998): 35-49. Ainda sobre a vagueza, LUZZATI, La vaghezza delle norme cit., pp. 83 e seguintes; GUASTINI, Le íonti dei diritto e 1’interpretazione cit., p. 350; WARAT, Luis Alberto. Mitos e teorias na interpretação da Lei. POrto Alegre: Síntese. Sem indicação do ano. p. 96 e. do mesmo autor, WARAT, O direito e sua linguagem c/t., pp. 76 e seguintes.
42 Cl. MAKT1NS-COSTA, A boa-fé no direito privado c/t., p. 311.43 Correto, FARIA, O Direito na economia globalizada cit., p. 132 (falando expressamente
em "pragmática", tema que será retomado adiante). Sobre os processos de redefinição a partir de variáveis axiológicas, WARAT, Mitos e teorias na interpretação da Lei c/t., pp.94 e seguintes.
116
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
A “clareza do texto" não é nem pode ser uma premissa interpreta- tiva absoluta. A "clássica” parêmia in Claris cessat interpretatio (diante da clareza não há que se interpretar) deve ser vista com o tradicional temperamento, pois a clareza é muito mais o resultado da atividade hermenêutica do que uma premissa, sendo certo que o eventualmente elevado grau de determinação do texto e das expressões nele utilizadas presta-se apenas a reduzir a intensidade da atividade inter- pretativa no seu sentido cri ativo. 44
Os contrapontos necessários dão conta de que a indeterminação(i) des atende às necessidades de segurança jurídica - afinal um dos escopos fundamentais do próprio Direito; bem como (ii) presta-se a manipulações ideológicas e práticas de dominação.45 São realmente problemas, mas já se disse que infelizmente não é possível ter, sempre e ao mesmo tempo, todo o melhor de dois mundos.
Some-se a isto que as normas jurídicas são entendidas e estruturadas preferencialmente como princípios, e, na medida em que o ordenamento jurídico consagra, através deles, valores contrapostos, sem que os respectivos conflitos determinem a exclusão do princípio em alguma medida preterido (sobre colisões de direitos e conflitos entre princípios, vide os itens 1.5 e 7.3.2), o valor respectivo permanece integrando o sistema juridico.
Ou seja, os princípios ajudam a manter o sistema jurídico aberto.46 Entenda-se: é operando através de conceitos abertos (com menor grau de determinação47), que os princípios mantêm o sistema aberto.
44 TORRES, Normas de interpretação e integração do Direito Tributário cit.. pp. 63 e seguintes; GRAU. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito cit.. p. 62. LEVI atribui ao “folclore" juridico a crença em normas claras que independem de interpretação (LEVI, An introduction to Jegai reasoning c/t., p. 6).
45 É a crítica do mesmo FARIA: "Concebido de um modo pragmaticamente vago e ambíguo, seja para possibilitar interpretações distintas conforme as especificidades da realidade sõcial.ècònõrfiica e política'.'seja^pará permitir um ajuste'funcional entre o sistema juridico e seu "meio ambiente", seja para atuar como uma espécie de "guideline law“ ou de “framework law", o direito pode assim ser visto como um instrumento prático dirigido ã representação simbólica de determinados valores e comportamentos. Nessa perspectiva pragmática, o discurso jurídico é dotado de capacidade para tornar possivel o exercicio de práticas de controle e dominação". (FARIA. José Eduardo. Direito e economia na democratização brasileira. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 76).
46 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do Direito (trad. port. de"áysiemdenken und Systembegriff in der Jurisprudez. por A. Menezes Cordeiro). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 1989. p. 109 et passim.
47 Sobre o grau de determinação dos principios, veja-se ÁVILA, Humberto Bergmann. "A distinção entre principios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade", fn Revista da Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USE Vol. 1 (1999): 27-54, esp. p. 42.
117
Flávio Galdino
Em sua maior parte, os conceitos jurídicos são indeterminados (embora nunca indetermináveis). Argumentou-se que, na verdade, os conceitos jamais podem ser indeterminados, pesando a indetermina- ção não sobre eles, mas sim sobre os termos com que eles são expressos - preferindo-se, assim, falar em conceitos de termos indeterminados.48 A questão não é relevante aqui e, sem embargo de a crítica provir de autoridade, a terminologia conceitos juridicos (ou juridicamente) indeterminados parece estar consagrada entre nós.4
A rigor, são raros os conceitos estritamente determinados em Direito, exemplificando-se com aqueles que referem números [v.g. 60 km/h), nomes próprios (v.g. Brasília) e alguns termos técnicos (v.g. quadrado),s° restando a maioria absoluta dos conceitos jurídicos indeterminada em alguma medida. Todavia, quando nos referimos a conceitos juridicos indeterminados, é comum querermos referir-nos a conceitos que contam com elevado grau de indeterminação.
Esses conceitos jurídicos apresentam termos como interesse público, boa-fé, operações arriscadas, mulher honesta, serviço adequado, e muitos outros que tais, os quais necessitam ser preenchidos valo- rativamente no ato de aplicação da norma.
Na verdade, e o ponto é relevante, a multiplicidade dos valores e interesses presentes na sociedade contemporânea condiciona pragma- ticamente a interpretação das normas juridicas, em especial das normas constitucionais.51
Mais uma vez, nesse momento, mostra-se em cores vibrantes o caráter valorativo da atividade de criação e aplicação do Direito, evidenciado pelo fato de que o preenchimento dos seus conceitos, em especial dos conceitos jurídicos com elevado grau de indeterminação, é feito através de valorações.52 Como se vê, tal operação referida a
48 GRAU, Direito, conceitos e normas jurídicas c/t., pp. 65-66.49 Por todos, BARBOSA MOREIRA. José Cailos. “Regras de experiência e conceitos juridi
camente uvleteiminados*. la Tbmas de Direito Processual - Segunda Série. 2« edição. São Paulo: Saraiva. 1S88, pp. 61-72.
50 LARENZ, Metodologia da Ciência do Direito c/t., p. 283; ENGISCH, Introdução ao pensamento jurídico cit., p. 208.
51 NEVES. Marcelo. "A interpretação jurídica no Estado Democrático de Direito". In GRAU, Eros e GUERRA FILHO, Willis Santiago (orgs.). Direito Constitucional - Estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros. 2001. pp. 356-376, esp. p. 365.
52 “A necessidade de um pensamento orientado a valores surge com máxima intensidade quando a lei recorre a uma pauta de valoração que carece de preenchimento valorativo, para delimitar uma hipótese legal ou também uma conseqüência juridica- , (LARENZ,
118
Introdução á Tooria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
valores e valorações não é privilégio do jusnaturalismo, como já se afirmou (veja-se item 4.5, sobre os direitos morais).
É através de atividades hermenêuticas que o aplicador do Direito valora as normas jurídicas e a sua relação com a realidade - fatos e valores que se encontram em uma constante e intensa relação dialética.5
Em parte, essas são atividades de compreensão do sentido normativo a que correspondem as expressões lingüísticas de que faz uso o Direito,54 e que possuem como limites os sentidos possíveis (na expressão de origem alemã, mõgliche Wortsinn) dessas mesmas expressões (ou termos) empregadas para definir os respectivos conceitos jurídicos,55 é que permitem a adaptação do Direito às circunstâncias da vida e dos tempos.
Com efeito, na atividade hermenêutica, o sentido do termo jurídico será determinado preponderantemente pelo contexto de sua aplica- ção,S6 de modo que o passar do tempo e a aplicação reiterada fazem agregar ao termo novas significações.
Prova disso é que a compreensão de uma expressão muitas vezes revela que, por baixo de uma continuidade terminológica, existem alterações semânticas profundas.
Como já se disse, as palavras e os conceitos são como a "moeda" - sofrem variação continua em seu "poder de compra” , embora seu valor nominal permaneça inalterado.57 Isso vale para o Direito e para a comunicação humana em geral.
Metodologia da Ciência do Direito cit., p. 310). ENGISCH laia em "conceitos carecidos de um preenchimento valorativo" (Introdução ao pensamento juridico cit., p. 213).
53 LARENZ. Metodologia da Ciência do Direito cit., pp. 293 e seguintes; Tfcmbém TORRES. Ricardo Lobo. Normas de interpretação e integração do direito tributário. 3» edição. Rio de Janeiro: Renovar. 2000, p. 47.
54 LARENZ, Metodologia da Ciência do Direito cit., p. 2B2.55 Novamente, LARENZ. Metodologia da Ciência do Diieito cit.. p. 485; de acordo, expres
samente. TORRES, Normas de interpretação e integração do direito tributário cit., p. 24t. Ainda acerca do “sentido literal' COING, Elementos fundamentais da Filosofia do Direito cit., p. 136.
56 Dal falar LARENZ (Metodologia da Ciência do Diceito cie,, p. 686) que se trata de conceitos juridicos doterminados pela função, salientando que eles "hâo de determinar-se de acoido com a sua função em cada complexo de regulação" (p. 687). Relembre-se ainda a idéia de “âmbito da norma" desenvolvida por MÜLLER, Métodos de trabalho do Diieito Constitucional cit.. p. 57.
57 O exemplo 6 de GIANNETTI, O mercado das crenças - filosofia econômica e mudança social cit., p. 157.
Flávio Galdino
O instituto jurídico, então, terá permanecido com seu valor facial, mas preenchido por outros sentidos,sa no mais das vezes porque as pessoas não se deram conta ou não se convenceram de que era necessário mudar o nome.59
Pode-se designar o fenômeno propriamente como uma “metamorfose normativa", facilmente identificável no que concerne aos conceitos de liberdade e de propriedade^ (vide a respectiva evolução no item 2, onde foi oportunamente ressaltado o problema das mutações semânticas da propriedade).
Nem as normas jurídicas são estatuídas, nem os conceitos e categorias são formulados para a eternidade; mas também não o são para um só dia.61 O que os torna suscetíveis de acomodarem-se às inconte- niveis especificidades e mutações da realidade é a sua indeterminação. Indeterminação e abertura são duas faces da mesma moeda:62 a abertura significa a potencial intedeterminação ou vagueza do conceito, que se manifesta concretamente em maior ou menor grau em razão da precisão estabelecida pela norma em questão.
5.6. Conceitos e categorias abertas como ferramentas de aplicação de regimes jurídicos - nota sobre a critica realista
Mas, afinal de contas, para que serve a formulação de conceitos e categorias jurídicas? De acordo com a posição adotada neste estudo, a principal função dos conceitos e categorias jurídicas é auxiliar o operador jurídico na aplicação dos assim chamados "regimes juridicos". Por
58 HESPANHA. Panorama histórico da cultura juridica européia cie., pp. 18-19.59 MAINE, Anticnt Law cit., passim, esp. p. 319, obra em que o autor estuda a evolução de
diversos conceitos centrais da cultura jurídica do£eii tempo....... — >*- *' 60 NEVES. “A interpretação juridica no Estado Democrático de Direito* c/c., p. 366. Um
exemplo simplório dessa “metamorfose" que sofrem os conceitos pode ser indicado com a idéia de “liberdade". Ê celebre a distinção entre o sentido atribuído à liberdade pelos antigos (liberdade na Pólis) e o sentido moderno (liberdade em face da Pólis). O sentido mudou, mas o "valor facial" continuou o mesmo. O mesmo ocorre com a propriedade, conforme demonstra à saciedade M1LL. John Stuart. Capítulos sobre o socialismo (trad. bras. por Paulo Cezar Castanheíra). São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo. 2001, p. 112: “Um dos erros mais freqüentemente cometidos, que ó fonte dos maiores erros práticos nos assuntos humanos, é o de supor que o mesmo nome sempre represente o mesmo agregado de idéias. Nenhuma palavra foi mais sujeita a esta espécie de malentendido do que a palavra propriedade".
61 LARENZ. Dcrecho justo cit.. p. 29.62 Mais uma vez, por todos. STRUCHINER. Direito e linguagem cit.. p. 17.
120
Introdução à Ifeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Náo Nascem em Árvoies
regime jurídico entende-se aqui uma rede mais ou menos complexa de normas jurídicas que determinam a constituição de situações juridicas para as pessoas.63
É neste sentido, por exemplo, que se fala em aplicação do regime jurídico-administrativo ou em aplicação do regime de serviço público.64 A verificação de que uma determinada situação real configura o pressuposto de aplicação de uma norma (na expressão usual: incidindo a norma sobre o suporte fático ou sobre o predicado fatual) determina a aplicação de um regime juridico. Essa operação passa, necessariamente, por um momento de aplicação do Direito. Para tanto, também necessariamente, a norma em questão há de ser interpretada.65 Mais precisamente, seus termos hão de ser interpretados. Assim, em última análise, pode-se dizer que determinados termos ativam seus respectivos regimes juridicos.
Essa observação, que transforma os conceitos jurídicos (através de seus termos) em ativadores de regimes jurídicos foi exemplarmente relatada por ALF ROSS,66 justamente a propósito do direito subjetivo, objeto desta parte do estudo, para demonstrar que este, assim como os demais conceitos jurídicos, é uma ferramenta teórica de apresentação (de efeitos previstos nas normas).
Essa é a outra crítica ao conceito de direito subjetivo a que fizemos referência no item 3.2, produzida pela chamada teoria realista do direito formada no seio da escola escandinava.67 Mister explicar melhor
63 Ê o alguns preferem chamar instituto juridico: "Instituto juridico é o complexo das normas que contém a disciplina juridica de uma dada relação juridica (...)" (ANDRADE. Manuel A. Domingucs. Ifeoria Geral da Relação Juridica. Volume 1. Reimpressão. Coimbra: Almedina. 1997. p. 5).
64 Usando a expressão regime juridico no sentido do texto, veja-se BANDEIRA DE MELLO. Celsó Antonio. Curso de Diieito Administrativo. 13* edição. São Paulo: Malheiros. 2001. p. 25 e seguintes: e GRAU. A Ordem Econômica na Constituição dc 1988 cit.. p. 159. Veja- se ainda a obra especifica de Dl PIETRO. Do Direito Privado nn Administração Pública c/t., passim. '
65 Uma vez que interpretação e aplicação são momentos que se co-implicam; por todos. TORRES, Normas de interpretação e integração do direito tributário cit.. pp. 30-31.
66 ALF ROSS. Direito e justiça (ttadução brasileira do texto em inglês - On law and justice, por Edson Bini). São Paulo: Edipro. 2000, pp. 203 e seguintes.
67 Sobre a teoria realista do Direito, veja-se, entre nós, com profundidade. SOLON, Dever juridico e teoria realista do direito c/t.: sobro Ross. especialmente pp. 87 e seguintes. E. do mesmo autor, SOLON. A (unção do conceito de diteito subjetivo de ptopriedade cit.. pp. 50 e seguintes. Por evidente, a expressão "realista", utilizada para referir esta escola. não pode induzir ao equivoco de se considerar que se trata de posição essencialista.
Flávio Galdino
o ponto, ainda que de forma simplificada, usando o mesmo exemplo de ALF ROSS: a propriedade, já tantas vezes referida neste estudo.
Pode-se imaginar um sistema juridico que contenha os seguintes enunciados (E), que ligam conseqüências juridicas (C) a determinadas hipóteses normativas (fatos - F):
Enunciado n° 1 (E l ) : se uma pessoa ocupa legitimamente uma res nullius (sinteticamente, um bem sem dono) (F l) tem direito a reivindicá-la de quem em momento posterior injustamente a detenha (C l);
Enunciado na 2 (E2): se duas pessoas celebram um contrato de compra e venda de um bem imóvel, o comprador, adimplidas suas obrigações, e transcrito o direito junto ao registro próprio (F2), pode exigir que se lhe entregue o bem (C2);
Enunciado na 3 (E3): se uma pessoa empresta a outra uma coisa sua (F3), vencido o prazo do contrato, tem o direito de recebê-la de volta (C3).
No direito brasileiro, esses três enunciados podem ser referidos a normas sobre propriedade. A propriedade (ou o direito subjetivo de propriedade) funciona então como hipótese normativa geradora de determinadas conseqüências juridicas.
Nos três enunciados, uma das partes envolvidas na relação é proprietária de uma coisa e, por conseqüência, é titular de determinados direitos ou situações juridicas. A propriedade funciona assim como elemento de ativação de um determinado regime juridico "proprietário": quem seja identificado como proprietário tem direito à coisa sua, podendo servir-se dos instrumentos materiais e processuais que o ordenamento jurídico concede para sua proteção.
Desse modo, o ordenamento juridico sistematiza condicionantes fáticas e conseqüências jurídicas através da referência à propriedade. E lícito afirmar, então, que a “propriedade" è uma ferramenta técnica utilizada pelo Direito que representa a conexão sistemática entre fatos e conseqüências juridicas - dai porque fala-se em ferramenta técnica de apresentação68 e refere-se à construção em questão como teoria da representação.69
O raciocínio válido para a propriedade e para o direito subjetivo também vale para muitas outras categorias jurídicas. Basta pensar em títulos executivos, imunidades tributárias, usufruto, serviço público e
6B ROSS, Diieito e justiça cit.. p. 205.69 LA TORRE. Disawentura dei diritto soggectjVo - una vicenda teoiica cit., p. 323.
122
Introdução & Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem cm Árvores
assim por diante. São categorias conceituais (empíricas) que explicamo funcionamento do ordenamento jurídico.70 São realmente o que nós podemos designar, em que pese certa redundância, como conceitos operacionais.
A simples referência a essas categorias jurídicas faz detonar uma complexa série de conseqüências jurídicas, cujo conjunto constitui o respectivo regime jurídico.7! Funcionam, pois, realmente, como expressões taquigráficas72 plenas de significado.
Essa observação nos permite ainda concluir que as medidas dos conceitos deverão observar um critério de utilidade. Deste modo, é a operatividade do conceito - aquilo que o toma operacional - que determina os elementos dele constantes.
Ftíse-se que aceitar-se essa observação não induz de modo algum a aceitação de outras conclusões sustentadas pelas teorias realistas, registrando-se múltiplas adesões a essa especifica contribuição de ALF ROSS entre autores que trilham os mais variados percursos teóricos.73
Todas essas considerações serão úteis posteriormente na tarefa de qualificar os direitos fundamentais como direitos subjetivos, delimitando-se a abrangência desse conceito.
70 GORDILLO, Dratado de Derecho Administrativo c/t., pp. XV-8.71 De acordo, BERGEL, Ifeoria Geral do Direito c/t., p. 252 e também (com ressalvas) LLOYD.
A idéia de lei cit., p. 380 (especificamente sobre a propriedade: 'A propriedade nada mais à rio que uma expressão abreviada para designar todo um conjunto de regras..."). E. ainda, LUM1A. Elementos de teoria e ideologia do direito cit., p. 108 (que fala também em "(órmula abreviada, por assim se dizer estenográfica...").
72 A expressão, como sempre inspirada, ó de DWORKIN, El dominio de la vida cit.. p. 151. servindo-se do exemplo das sociedades anônimas: ‘Declarar que las sociedades anônimas son personas constituye una cspecie do expresión taquigráfica para describir una compleja red de derechos y obligaciones (...)".
73 Por todos, FERRAZ Jr., Introdução ao estudo do direito cit., p. 151; GRAU, Direito, conceitos e normas juridicas cit., p. 79. SANTIAGO NINO, Introducción al análisis dei derecho cit.. p. 211.
123
Capítulo VI Os Direitos Fundamentais como Direitos Subjetivos
6. Direitos fundamentais como direitos subjetivos
Sem embargo das muitas e contundentes criticas recebidas (item 3), da formulação de muitas categorias correlatas, algumas tendentes a substituí-lo (item 4), e da compreensível ausência de univocidade do conceito, o direito subjetivo continua sendo categoria essencial ao discurso jurídico, redobrando-se a importância de estudá-lo, o que se torna possível agora, após serem assentadas as noções que permitem saber o que é um conceito e como ele deve ser operacionalizado (item 5). É o se se passa a fazer.
Destarte, em um primeiro momento se estará identificando e criti- cando algumas das concepções dominantes acerca do direito subjetivo (item 6.1), formuladas que foram em matrizes privatísticas e essencia- listas, manifestamente insuficientes páradesignãr o fenômeno global, e muito especialmente para referir, enquanto categoria central, os direitos fundamentais, na verdade, o objeto central deste estudo. O objetivo é identificar as debilidades dessas concepções, com vistas a propor possíveis meios de superá-las em etapa posterior.
No mesmo sentido, ao depois, discorre-se sobre as múltiplas faces operativas do direito em sentido subjetivo (item 6.2), para concluir queo conceito de direito subietivo. devidamente depurado e aperfeiçoado pelo desenvolvimento das referidas categorias correlatas, pode continuar a ser uma categoria fundamental para a sistematização dos direi-
f õ i T f i j r ^ n i ^ *ct". c ~
í
c.
í
6.1. Direito subjetivo: ' conceito
Força é reconhecer que os direitos subjetivos, historicamente, já admitiram variadas conceituações, destacando-se, sem prejuízo daquelas teorias que negaram a própria existência òü relevância dessa categoria jurídica, duas formulações, quais sejam, as que ligam o direi-
i
127
Flávio Caidino
to subjetivo ao poder decorrente ou identificável na vontade do respectivo titular, e aquelas que o ligam simplesmente ao interesse do titular
~{õ direito subjetivo como interesse juridicamente protegfãoyíFala-se, então, em teoria da vontade (voluntarista ou psicológica)
e teoria dqjnteresse (utHTtarista ou téleológica), conforme façam prevalecer um ou outro elemento na respectiva conceituação/ sem que se
a possa deixar de registrar que cada um desses modos de ver o direito subjetivo possui um sem-número de variáveis, cujas peculiaridades, contudo, não são objeto de nossa preocupação aqui. É dos temas mais controversos do Direito. Rios de tinta foram lançados a esse propósito, literalmente, de modo que há fartíssima bibliografia sobre o tema, aqui1 e alhures.2
Essas duas teorias tornaram-se objetos de acirradas discussões eI críticas agudas, expostas de modo simplificadíssimo a seguir. Objetou-
se à primeirateoria (da vontade) que há muitasjpessoas que não pos- ; ' suem vontade (exemplificando-se com o titular de um crédito que não ' deseja cobrá-lo), ou não a podiam expressar validamente (como os inca- ' pazes de um modo geral), mas ainda assim possuem direitos subjetivos,i A resposta encontrada pelos adeptos foi a retificação da teoria, aduzin-1 do-se que a vontade em questão não era a doindividuo..mas-do-próprio | ordenamento jurídico, retirando-se assim qualquer significado ao indivi- ("3üõTrecaindo-se, decerto modo na redução normativista antes referida, j e deformando-se a teoria em questão nos seus próprios fundamentos.
À segunda teoria - o direito subjetivo como interesse juridicamente protegido - objetou-se que em muitas situaçôeg.existem,direitos subjetivos sem que; se possa identificar um interesse do titular no sen-
'H3ãênTquestão, como ocorre, por exemplo, com os direitos políticos.
1 Assim sendo, as referências aqui são meramente ilustrativas. Destaca-se entio nós a obra célebre de RÁO, O direito o a vida dos direitos c/t., passim. Veja-se também REALE, Lições Preliminares de Direito c/t.. pp. 247 e seguintes; MACHADO NETO. A. L Compêndio de Introdução à ciência do direito c/t., pp. 20S e seguintes: FRANCO MONTORO. Introdução à ciêncin do direito c/c., pp. 437 e seguintes; FERRAZ JR. Introdução 30 estudo do direito c/t.. pp. 148 e seguintes; CAVALCANTI FILHO, Teoria do Direito c/t.. pp. 107 e seguintes.
2 Idem: DABIN, El derectio subjetivo cít.. passim; GARCIA MAYNEZ, Introducción al estúdio dei derecho cít.. pp. 193 e seguintes: LA TORRE. D/sawenturo dei diritto soggettivo - una vjeenda toor/ca cít., esp. p. 312, et passim; PÉREZ LUNO, Antonio-Enrique. Téoria dei Derecho cit., pp. 53 e seguintes; PECES-BARBA, Curso de Ikoria dei Derecho c/t., p. 275; FROSIN1, Vittorio. “Diritto Soggettivo". verbete no Novíssimo Digesto Italiano (pp. 1047- 1050); COMPORTI, Mario, 'formalismo e realismo in tema di diritto soggettivo". In Rivista di Diritto Civile XVI (Padova: CEDAM. 1970); 435-482.
128
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Oiroitos Não Nascem em Árvores
sendo certo que, de outro lado, muitos interessesjráquenão são tutelados pelo direito. De outro lado, as mesmas criticas opostas à teoria da
"vontade foram argüidas em face da teoria do interesse.3Em matéria de direito subjetivo, tertium datur, e assim, a partir da
conjugação daquelas duas principais teorias já referidas elaborou-se a chamada teoria mista ou eclética.'» referindo-se a construção original mais uma vez ao genio do alemão GEORG JELL1NEK.5 que inclui no conceito de direito subjetivo ambos os elementos antes aludidos, o
"Interesse Têlemento objetivo) e a vornadg. (elemento subjetivo), carac- ~t§nzando-o. conceitualmente, como um interesse juridicamente prote- gido e que at^m_aqjrespectivp_titular o ^ o ^ ^ d e querer algo (igualmente admitindo múltiplas variáveis nas formulações que se seguiram). É possível afirmar que este é o entendimento até hoje de alguma prevalecente entre os autores nacionais.
Todas essas construções revelaram-se claramente insuficientes para referir os direitos humanos (e mesmo pára referir outras situações jurídicas de direito público).
Um capitulo inicial deste estudo (item 2)c tinha a função de demonstrar que, embora público de nascimento, o direito subjetivo foi desenvolvido através de categorias privatísticas. Evidènciou-se ainda que se tratava também de construções essencialistas, isto é, que procuravam esclarecer a ligação entre a expressão direito subjetivo e alguma essência a que estivesse adstrita (direitos naturais cognoscíveis através da razão humana). Convém agora retomar e acentuar estes pontos.
Na verdade, de modo sintético, a divergência secular - mesmo entre os doutrinadores de direito privado - quanto ao conceito de direito subjetivo não é ocasional. Com efeito, também essa divergência decorre de diferenças quanto a outras concepções fundamentais do Direito. Assim é que a concepção do direito subjetivo como interesse juridicamente protegido é fruto da jurisprudência dos interesses, enquanto a teoria da vontade deriva da jurisprudência dos conceitos6
3 Como observa GARCIA MAYNEZ. Introducción al estúdio dei derecho cít.. p. 197. "el inte- rés es un medidor de /os objetivos de Ia voluntad".
4 Por todos. REALE. Lições Preliminares do Direita cit., p. 253; RÁO. O Direito e a vida dos direitos de.. p. 494.
5 JELLINEK, Sistema dei diritti publici subbíettivi cit., p. 49: “II diritto subiettivo per tanto è Ia potesta di volere che ha J'uomo, ríconoscíuta e protetta dali 'ordinamen to giurídico, in quanto sia rivolta ad un bens o ad un interesse
6 Sobre o tema. por todos. ÜRRUTIGOITY. “El derecho subjetivo y Ia legitimaciòn procesal administrativa‘ cit.. p. 228.
129
Flàvio Galdino
que informou marcadamente a Pandectística (consoante referido no capítulo 2).
Produto do individualismo que informa a Pandectística, o conceito de direito subjetivo tipicamente utilizado pelos autores, inclusive e 110- tadamente no Brasil,7 é desenvolvido sob o prisma estritamente priva- do, tendo como pressuposto ou protótipo uma relação jurídica simples
"õuuna8 entre dois indivíduos singularmente considerados, duas par- 'tésTvia dê regra de conteúdo puramente obrigacional9 - um credor e um dèvêdõrde luna prestação patrimonial - e de solução instantânea.
Cuida-se de relação direito-dever, que se mostra (i) extremamente simplificadora em sentido negativo, ou seja, a ponto de deformar o oBjeto que pretende designar, omitindo alguns de seus caracteres fundamentais e que (ii) pressupõe uma relação entre sujeitos em tqrno.de um objeto, referindo quase sempre uma situação de pertinênciai° e, em regra, disponibilidade.
Não é à toa que nessas concepções dominantes, as vontades individuais - expressas nos negócios jurídicos privados por meio de simples manifestações, e que exaltam o caráter de disponibilidade inerente à formulação - e os interesses individuais (e igualmente privados) são tidos como elementos fundamentais da categoria."
7 Nos termos da critica aguda de FACHIN. Tleoria critica do direito civil cit.. p. 211: “Nessa perspectiva, é possível dizer que a elaboração teórica e jurisprudencial filiadas stricto scrtsu ao Código Civil brasileiro está ainda no século XIX*.
8 Numa célebre formulação privatista sobremodo referida entre nós: "relação jurídica una ou simples será aquela que se analisa num só direito subjetivo (poder jurfdico) atribuído a uma pessoa e no correspondente dever ou sujeição imposta a outra pessoa" (ANDRADE, Tfeoria Geral da Relação Jurídica cit., p. 4; registrando-se que o autor ressalva a aplicabilidade especifica de suas construções às relações privadas (p.l. nota I).
9 Bastante expressiva a afirmação de LOPES, "Direito subjetivo e direitos sociais: o dilema do Judiciário no Estado Social de Direito' cit.. p. 120: 'Estas concepções modernas de direito subjetivo têm a característica do reflexo: funcionam quando se trata de dois indivíduos, duas partes. A questão se complica quando se trata de [alar de direitos, liberdades para a manutenção da vida em geral, não apenas das trocas individuais". F<=ta bila- . . . . . • - sária ao conceito direnu subjetivo, impiica. dentte outros efeitos, a mutação da noção de direito real, cm uma palavra, determina a pessoalização do direito r-al, com conseqüências muitas vezes indesejáveis, como anota SILVA, Jurisdição e execução na tradição romano-canônica cit., p. 140 et passim.
10 Consoante PERL1NGIERI. Perfis do Direito Civil cit., p. 155. Nada estranhamente, "Pertinência-domlnio" é a expressão utilizada por DABIN para redefinir o direito subjetivo (DAB1N, El derecho subjetivo cit., p. 100).
11 TYata-so - vontade e interessa - de conceitos antropológicos, conforme anota ALEXY, 7borla de /os doreuhos fundamontales c/t., p. 140.
130
Introdução à Tooria dos Custos dos Direitos - Direitos N io Nascem em Árvores
Essa configuração puramente_privatista, que foi importada pela doutrina publicista do século XIX12 e repetida a-criticamente por gerações a fio, repita-se, é absolutamente inadequada até mesmo para designar a atual compreensão privatísticá cio direito subjetivo,13 e muito especialmèntè para referir os direitos humanos ou fundamentais. 4
Ao lado d is sõ; ‘cõnsõãhtê“óib se r vado anteriormente (ainda o item 2), insista-se na observação de que essas construções fúndam-sg numa espécie de racionalidade objetiva, nõTsentido de que procuram através da razão alcançar à essência de um objeto determinado - in casu, o Híriit^süHjeTívo. São então, além do mais, concepções essencialistas15 (sobre essencialismo e convencionalismo, vide item 5.1), as quais são de todo inadequadas, ao menos de acordo com a linha adotada neste estudo. A vontade, o interesse, ou mesmo_ambos, seriam as essências que o conceito-de direito subjetivo estaria a descrever.— “Este~cáfátér essenciaUsta resta claro a partir da consideração de que essas correntes cientificas não procuravam aperfeiçoar seus conceitos, mas sim substitui-los. No mais das vezes, contudo, a opção era por sustentar a correção conceituai mesmo diante de criticas muitas vezes irrespondiveis, até porque o que é simples fruto da observação da natureza, em regra não pode ser aperfeiçoado pelo operador ou pelo observador (ignoravam eles também qualquer relação dialética entre o sujeito cognoscente e o objeto conhecido). Neste quadro teórico, o conceito de direito subjetivo não poderia assim ser "trabalhado” para receber conteúdo que melhor instrumentalizasse seus fins.
12 Ainda uma vez, WIEACKER. História do Direito Privado Moderno c/t., p. 492: “Seguidamente, sobretudo von Jhering, Geiber e Laband prosseguiram na elaboraç&o do método construtivo da pandectística e transportaram-no para outras disciplinas, sobretudo para o direito público’’. Sobre o processo de juridificação dos direitos, evidenciando que os direitos privados subjetivos foram forjados em etapa anterior aos públicos, vide NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Editora Acadêmica. 1994. p. 144.
13 COMPOR-™ "R>rrnaf/smoere»Wsmo/n'em» «wM?iti'vo*c/t.. T’ <155: dirit- to privato, m soscanza, ò andaco evofvendosi secondo un ordine oggettivo soc/ale. cho non sembra piú porro quale nozione cen traio dei sistema quella dei diritto soggotivo, in specie tal nozione iiiic-a in senso tradizionale"
14 De acordo, quanto ao ponto, AMARAL, Gustavo. Direito, escassez e escolha - em busca de critérios juridicos para lidai com a escassez de recursos e as decisóes trágicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pp. 98 e 106.
15 Sobre o essencialismo e o instrumentalismo na conceituação do direito subjetivo, é imptescindivel LA TORRE, Disawenture dcl diritto soggettivo - una vicenda teórica etc.. pp. 312 e seguintes.
131
Flávio Galdino
Com a ascensão do pensamento instrumentalista, fundado numa racionalidade icrualmente instrumental, isto é. definida como uma relação de adequação entre meios e fins, a perspectiva do conceito de Hirmtõsubjetivo sofre profunda alteração.
Na verdade, nâo existe nenhuma realidade a que s q refira o conceito de direito subjetivo. Cuida-se de uma figura conceituai dotada de historicidade, ou seja, não existe nenhuma essência a que ele deva necessariamente re ferir-se . 17 É um conceito construído a partir das necessidades dos operadores do direito.
Aqui restringimo-nos a referir a construção realista de ALF ROSS - que defendeu a sua tese precisamente a partir do conceito de direito subjetivo (tendo como parâmetro central o direito de propriedade) - vide item 3.2.
Ora, sendo o direito subjetivo um instrumento técnico de representação de uma operação jurídica, seu conceito pode abarcar os elemen- tos qué mèlhor atendam às finalidades que ele pretende servir, evitando os resultados estéreis das conceituações simplistas, baseadas em um procedimento meramente "intelectualístico" desconectado da realidade.18 Como usualmente ocorre com os conceitos e categorias jurídicas, também os elementos que compõem o direito subjetivo decorrem de escolha dos operadores jurídicos.
Nesse passo, entãcCmostra-se relevante estudar as muitas faces que o conceito de direito subjetivo, já liberto de sua prisão essencialís- tica. e a coberto das reduções privatísticas, pretende apresentar - isto é, as finalidades que pretende servir.
6.2. A operatividade da categoria “direito subjetivo"
Designa-se por operatividade do conceito de direito subjetivo o conjunto das funcões"aue ésta categoria cumpre ou pretende cumprir quando aplicada. Considerando que o conteúdo a ser atribuidQ'a~umá categoria jurídica será determinado pela utilização que dela se faça ou
16 LA TORRE. Disawenture dei diritto soggettivo - una vicenda teórica de., pp. 313, 323. Houve quem sugerisse o abandono do direito subjetivo, pot não acieditai na possibilidade de adaptação às novas concepções - vide URRUTIGOITY. "E l derecho subjetivo y Ia legitimación procesal administrativa' cit., p. 303.
17 Sobie o tema. MASS1NI. El derecho, los derechos humanos y el valor dei derecho de., p. 41 e seguintes.
18 COMPORTI. “fbrmalismo e realismo in tema di diritto soggettivo" de., p. 450.
132
Intioduç&o & Teoria dos Custos dos Diieitos - Diieitos N&o Nascem em Áivores
se pretenda fazer (relembre-se: a medida do conceito jurídico é deter- minãaiTpéiã sua utilidade). importa "õBservar qual seja essa utilização para que seja possível bem delinear o conceito e torná-lo operativo.
Para facilitar a compreensão da explanação que se segue, formulamos quatro situações hipotéticas relativas a direitos subjetivos ditos fundamentais, designando as funções que nessas situações cumpre a expressão “ter direito” .
Imaginemos, pois, as seguintes situações referenciadas ao direito brasileiro, notadamente à nossa Constituição Federal, sendo certo que as situações aqui previstas em modo simplificado também são reguladas pela legislação infraconstitucional, o que não é relevante para os fins da exposição: 1
(A ) Situação 1: de acordo com o disposto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal, dizemos que uma pessoa portadora de deficiência física (e que não pòssui meios para manter-se) tem direito subjetivo (fundamental) a receber do Estado um salá- rio-mínimo por mês, para designar uma situação em que esta pessoa pode exigir tal quantia do Estado, que tem dever de pagá-la. Uma pessoa que não é portadora de deficiência não tem direito subjetivo.
(B) Situação 2: de acordo com o disposto no art. 5», inciso XXII. da Constituição Federal, dizemos que uma pessoa tem direito subjetivo (fundamental) de usar a sua propriedade imóvel, ai compreendido o direito de nela entrar, para designar uma situação em que esta pessoa não pode ser indevidamente impedida de entrar na sua propriedade por uma outra pessoa. Dizemos que esta outra pessoa, por sua vez, tem dever de não entrar indevidamente na propriedade do primeiro. Alguém que não seja proprietário, não tem direito de entTar no imóvel.
(C) Situação 3: de acordo com o disposto no art. 229 da Constituição Federal dizemos que um pai tem direito subjetivo (fundamental) de educar (no sentido lato da expressão) seu filho, para designar uma situação em que o filho tem dever de obedecer às determinações educativas de seu pai. Um vizinho da família não tem direito de educar o aludido filho.
(D) Situação 4: de acordo com o disposto no art. 150, inciso VI, letra c), dizemos que um partido político tem direito subjetivo (fundamental) de não sofrer imposição tributária por meio de imposto sobre sua renda, para designar uma situação em que
J33
Flávio Galdino
os entes tributarites têm dever de não criar impostos sobre a renda dessas entidades. Uma casa noturna não tem direito.
Em todas estas situações, amparados no texto constitucional, referimo-nos àquilo que usualmente entende-se por direitos subjetivos fundamentais, com seus correlativos deveres, e ainda figuramos tercei* ras pessoas que não possuem os tais direitos. De acordo com a linguagem usual, não se pode dizer que as assertivas formuladas estejam propriamente "erradas". Mas "certo” ou "errado", tout court, não é a questão aqui.
Na verdade, como se percebe, em situações efetivamente díspares, utilizamos sempre a mesma nomenclatura, simplificando as situações a ponto de deformá-las ou, o que é mais grave, a ponto de que as expressões "ter direito" e “ter dever” passam a não mais ser tão úteis quanto possível na comunicação, pois não expressam adequadamente o conteúdo que pretendem designar. A demonstração é simples.
Basta a verificação de que as situações jurídicas da pessoa portadora de deficiência fisica, do proprietário, do pai e do partido político são completamente diversas, e ainda assim dizemos simplesmente que eles “têm direito”, tout court. Do mesmo modo, as situações do Estado, do filho e da pessoa que não é proprietária são absolutamente diversas, e ainda assim dizemos simplesmente que eles “têm deveres” , igualmente tout court. Mais grave ainda a situação no que se refere a quem "não tem direito” , pois estão no mesmo barco a casa noturna que pode ser tributada e o vizinho de não pode educar o filho de outrem. Assim é que os termos em questão não comunicam adequadamente os objetos conceituados.
Já se disse, com insuperável autoridade, que a ciência do direito sem técnica não passa de um equívoco formidável. Assim, para que a operação jurídica de aplicação do direito seja mais eficiente, mister delimitar melhor os conceitos que se referem a estas situações, mesmo com consciência de que essas situações jurídicas são desenvolvidas muito mais ao sabor das necessidades práticas do que a partir de cri- t^vV.s lógicos.1?
Nesta quadra, assume relevo a clássica construção teórica de W. N. HOHFELD,20 a qual, embora já antiga, ainda hoje desfruta de indu-
19 Consoante a anotação de FERRAZ Jr., Teoria da norma juridica cit., p. 76.20 Consultamos também a tradução italiana: HOHFELD, Wesley Newcomb. Concetti giuri-
dlcí fondamontali. Tbrino: Giulio Einaudi Editore. 1969. Est* edição traz a tradução dos
134
Inuodu;ão á Ifeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Àj votos
bitável piestígio fora do Brasil. merecendo a análise detida, não raio representativa de alguma forma de adesão (mesmo, e talvez até principalm ente, fora da cultura da common law, onde foi idealizada) sem embargo das críticas correlatas, de autores de gTande envergadura, de que são exemplos ALF ROSS.21 ROBERT ALEXY.22 GREGORIO PECES- BARBA MART1NEZ,23 LON FULLER24 H. L. A. HART,25 CARLOS SANTIAGO NINO,26 MASSIMO LA TORRE,27 HENRY SHUE,28 JOHN FIN- NIS.29 CARL WELLMAN.30 ANTONIO ENRIQUE PÉREZ-LUNO.31 KLAUS ADOMEIT.32 MANUEL ATIENZA.33 DENNIS LLOYD;34 GENA- RO CARRIÓ.35 MATTI NIEMI.36 PATRÍCIA SMITH ,37 GIUSEPPE
três famosos ensaios de Hohteld, Some fundamental legal concoptions as applled in legal reasoning I e lí, e A vital school o f jurisprudence and Lê w. trazendo ainda a tradução dos estudos Hohíelds contríbutions to lhe Science o f Law, de Walter Wheeler Cook. e. Õber Hohfelds System der jurídischen Orundbegríffe, de Manfred Moritz. E ainda, a tradução espanhola: HOHFELD, Wesley Newcomb. Conceptos jurídicos fundamentales. Quinta edición. México: fbntamara. 2001.
21 ROSS. Direito e justiça cit., pp. 192 e seguintes.22 ALEXY, Tboria de los derechos fundamentales cit., pp. 202 e seguintes.23 PECES-BARBA, Curso de Derechos FUndamemaies cit., pp. 462 e seguintes, aplicando-a
precisamente para delinear os direitos fundamentais.24 FULLER. Lon L. La moral dei derecho (trad. mex. de The morality o f Law por Francisco
Navarro). México: Editorial F. TOllas. 1967, pp. 149 e seguintes (com criticas agudas)25 HART. H. L. A.. "Are there any natural rights?" e “flentham on legal ríghts". In LYONS,
David <org.). Rights. Belmont: Wadsworth. 1979, pp. 14-25 e 125-148.26 SANTIAGO NINO, Introducción al anáüsls dei derecho cit., pp. 207 e seguintes: vide tam
bém SANTIAGO NINO, "E l concepto de dercchso humanos' cit.. p. 25.27 LA TORRE, Disawenture dei diritto soggettivo - una vicenda teórica cit., pp. 374 e
seguintes.28 SHUE, Henry. Basic rights-subsistence, affluence and U.S. foreign policy. Second Edition.
New Jersey: Princeton University Press. 1980, p. 14 e passim.29 FINNIS, Legge naturale e diritti naturali cit., pp. 216 e seguintes.30 WELMANN, Car). Real rights. New York: Oxford University Press. 1995, p. 6 et passim.31 PÉREZ-LUNO, 7feorfa dei Derecho c i t . pp. 60 e seguintes.32 ADOMEIT. Introducción a Ia teoria dei derecho - lógica normativa, teoria dei método, poli-
tologia jurídica cit., p. 101.33 VTIFNZA. Manupl "Sobr“ los limite* <íe Ia Ubertad da •"■prpçríAn". tn l Va? Ia justicia -
Una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico. 3a reimpressiõn. Barcelona: Ariel. 1997, pp. 36-61, esp. p. 46.
34 LLOYD, A idéia de lei cit., pp. 402-403.-35 CARSIÓ, Notas sobro derecho y lenguajo cit., p. 303 (na verdade, um capitulo que se
constituiu na apresentação da tradução do livro de HOHFELD).36 NIEM1. Matti. HOHFELD y el anàlisis de los derechos (versão original em finlandês, sem
indicações mais detalhadas sobre a tradução d» edição inglesa). México: Fontamara. 200137 SMITH. Patrícia (ed.). The nature and process o f Law - an introduetionto Legal
Philosophy. New York: Oxford University Press. 1993, pp. 53 e seguintes.
135
Flávio Galdino
LUM 1A.38 não havendo explicação razoável para que tenha passado quase completamente despercebida entre nós.39
Na verdade, muitas são as sistematizações sugeridas na doutrina especializada. Procuramos levantar as várias propostas formuladas, destacando-se aqui as efetuadas por HANS KELSEN, ROBERT ALEXY.40 CARLOS SANTIAGO NINO, GARCÍA DE ENTERÍA, LUIGI FERRAJOLI,41 entre nós por TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR .« e, de modo mais simples, por FRANCO MONTORO.43 Servimo-nos da formulação de HOHFELD por ser a mais útil para os fins a que se propõe a ■presente exposição, como se passa a evidenciar.
De acordo com essa importante construção, e constata-se que no direito americano o fenômeno se repete, o direito subjetivo (right) è uma "expressão camaleão*‘, mostrando-se insuficiente a análise das muitas questões suscitadas em simples termos de direito-dever,44 já que estas figuras não são expressivas das várias posições que os sujeitos ocupam nas suas múltiplas relações e situações.
Lastreado em ampla investigação da prática dos tribunais, e sempre referenciando os casos por eles julgados, o típico estilo expositivo norte-americano, e novamente muito interessado em situações de propriedade, HOHFELD identifica qu^ro sentid/s fundamentais que essas expressões - direito e dever - possuem na linguagem jurídica. O
38 LUMIA. Elementos de teoria e ideologia do Diieito cit., p. 106.39 Registre-se a análise empreendida por LOPES, “Direito subjetivo e direitos sociais: o
dilema do Judiciário no Estado Social de Direito" cit.. p. 115. Faça-se também alusão lau- dativa à critica breve de FERAZ Jr.. Iboria da norma ju/idica cit.. p. 76. e à lembrança passageira de AMARAL, Direito, escassez e escolha cit., p. 44.
40 ALEXY, Tboria de los derecho? fundamentales cit., p. 186. Este autor, que considera o sistema de HOHFELD deveras fecundo, porém incompleto (p. 207) apresenta sua proposta de sistematização a partir de ttês categorias, quais sejam, (i) direitos a algo, (ií) liberdades e (iii) competências (esta última também no sentido de direito de conformação, p. 227).
41 FERRAJOLl, Derechos y garantias cit., pp. 37 e seguintes.42 FERRAZ Jr., Tfeoria da norma juridica cit., p. 80 e seguintes, distinguindo - através de
uma análise pragmática - (i) dever jurídico, (ii) poder jurídico e (iii) direito sujetivo.43 FRANCO MONTORO, Introduç&o à ciência do direito cit., pp. 447 e 484.44 HOHFELD. Concetti giuridici fondamentali cit., p. 16: ‘ Uno degli ostacolipiú grandi alia
chiara compronsione, airesposizione incisiva ed alia giusta soiuzione di problemi giuridici sorgo spesso dalla supposiziono, espressa o tadta, che tuttj i rappotti giuridici possano essoro ridottí a 'diritti' e 'doverf\ (...) i vocaboli camaJeontici sono un pericolo (...)". De acordo, GRAU. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 cit.. p. 132. Expressão semelhante - camaleão normativo - é empregada por CANOTILHO (“Metodologia "fuzzy" y “camaJeonas normativos" en la problemática actual do los derechos econômicos, socialcs e culturales". p. 38), que a atribui a JSENSEE. que com ela “pretendia senalar la inesta- bilidad e imprecisión normativa de un sistema juridico abierto (...)“.
136
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
modo escolhido por HOHFELD para bem delimitar as categorias ativas foi a indicação dos opostos e correlativos das posições sob,análise.
Ássíin é que são indicadas as categorias ou posições (i) ativas - que designam a posição ocupada pelo titular do direito em correiScaò com as posições (ii) passivas - que designam a posição da outra pessoa frente a quem pode-serâteer que o titular possui um direito e por oposição Ss posições (iii) inativas45 - a situação que se encontra alguém que não é titular nem ciodireito nem do dever em questão. As posições passivas^ são os correlativos e as posições inativas são os opostos.
Na análise relacionai, refere-se como posição o espaço ocupado por uma pessoa. Sob o prisma dogmático (e classificatório). cada posição correspode a uma determinada categoria jurídica. Daí porque são usadas indistintamente nesse momento do trabalho.
São posições ou categorias ativas:
(a) pretensão (c/aún): uma pessoa tem pretensão quando pode exigir de outrem um determinado comportamento, que constitui, para esta outra pessoa, um dever, logo, pretensão deve ser entendida como a possibilidade de exigir de outrem um determinado comportamento. ..
(b) faculdade [privilege):“*& uma pessoa tem faculdade quando pode praticar um determinado comportamento, sem que ninguém possa legitimamente impedi-la, logo, faculdade deve ser entendida como a possibilidade de comportar-se de uma deter- minada maneira (sem afetar a esfera juridica_de outrem).
(c) potestade ipovver):47 uma pessoa tem poder quando pode interferir na esfera jurídica de outrem, logo, potestade deve ser entendida como a possibilidade de intervir na esfera jurídica de outrem.
45 A expressão “inativa' não consta dos textos consultados, mas parece-nos ser, s.m.j.. a que melhor designa o oposto da posição ativa, referindo quem não seja titular do direito em questão.
46 A expressão original utilizada par HOHFELD é privilege. tendo sido traduzida ao espanhol como privilegia (NINO, introducción al enélisis dei derecho cit., p. 208) ou liberta d (ATIENZA, Tras la justicia - Una introducción ai Derecho y al razonamlento jurídico cit.. p. 46). Em italiano também pieferiu-se privilegio (HOHFELD, Concetti giuridici fonda- mentalí cit.. p. 17). Registrando essas versões, parece-nos melhor, em português, a utilização da expressão (acuidade, utilizada na tradução brasileira da obra de ROSS, Direito e justiça cit., p. 193.
47 Evitamos utilizar a expressão “poder* de molde a não confundir essa categoria com a pretensão, que se define por um poder de exigir um determinado comportamento.
137
Flávio Gaídino
(d) imunidade {inmunity): uma pessoa tem imunidade quando não pode ter sua esfera jurídica modificada por outrem, logo, imunidade deve ser entendida como a impossibilidade de sofrer intervenção em sua esfera jurídica. ^
Em correlação, são posições passivas:
(a) dever (duty): uma pessoa possui um dever quando está adstrita a um determinado comportamento, logo, dever deve ser entendido como a adstrigão à prática deum determinado comportamento.
(b) não-direito (no-right):48 uma pessoa possui um não-direito quando não lhe é autorizada ou lhe é vedada a prática de um determinado comportamento, logo, o não-direito deve ser entendido como a impossibilidade de praticar um determinado comportamento. « —
(c) sujeição (Uability): uma pessoa encontra-se em estado de sujeição quando sua esfera jurídica pode sofrer intervenção por outrem, sem que ela possa impedir, logo, sujeição deve ser entendida como a possibilidade de sofrer intervenção em sua esfera jurídica, , ^ s
(d) impotência (disability): uma pessoa é impotente quando não pÕHemtervir sobre a esfera jurídica de outrem, logo, impotência deve ser entendida como a impossibilidade de intervir na esfera jurídica de outrem.
São posições inativas: (a) não-direito, (b) dever, (c) impotência, e(d) sujeição - que já foram identificadas como posições passivas.
'Adotando esse modelo, pode-se voltar agora às situações hipotéticas referidas anteriormente e reformulá-las em termos talvez mais precisos:
(A1) Situação 1 reformulada: de acordo com o disposto no art. 203, inci~o V, da '^uüütiLuiçãG r&derúl, que uma pessoa
48 O termo não é (e)iz. e fugindo exatamente aos escopos de clarificação conceitua) propostos. muito pouco expressivo. Ibdavia. é a tradução direta do termo originalmente utilizado. o que foi melhor seguida em tantos idiomas quantos tenham chegado ao nosso conhecimento (não agradou também a tradução por "ausência de pretensão” constanto em UJM1A, Elementos de ieoria e ideologia do Direito cit.. p. 107). Na verdade, na falta de um termo mais adequado, optamos por mantê-lo. Aceita-se sugestões.
138
Introdução à Taoria dos Custos dos Direitos - Direitos NSo Nascem em Árvores
portadora de deficiência física (que não possui meios para manter-se) tem pretensão a um salário-mínimo por mês, para designar uma situação em que esta pessoa pode exigir tal quantia do Estado, que tem dever de pagá-la. Uma pessoa que não é portadora de deficiência tem um não-direito.
(B') Situação 2 reformulada: de acordo com o disposto no art. 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, dizemos que uma pessoa tem a faculdade de usar a sua propriedade imóvel, aí compreendido o direito de nela entrar, para designar uma situação em que esta pessoa não pode ser indevidamente impedida de entrar na sua propriedade por uma outra pessoa. Dizemos que esta outra pessoa, por sua vez, tem um não-direito de impedir o primeiro de entrar na sua propriedade. Alguém que não seja proprietário, tem o dever de não entrar no imóvel.
(C ) Situação 3 reformulada: de acordo com o disposto no art. 229 da Constituição Federal dizemos que um pai tem a potestade de educar (no sentido lato da expressão) seu filho, para designar uma situação em que o filho tem sujeição, isto é, está sujeito a obedecer às determinações educativas de seu pai. Um vizinho da família é impotente em relação à educação do filho de outrem.
(D’) Situação 4 reformulada: de acordo com o disposto no art. 150, inciso VI, letra c), dizemos que um partido político tem imunidade, de molde a não sofrer imposição tributária por meio de imposto sobre sua renda, para designar uma situação em que os entes tributantes são impotentes para criar impostos sobre a renda dessas entidades. Uma casa noturna tem sujeição, isto é, está sujeita à tributação.
A partir destas hipóteses podemos estabelecer os seguintes nexos entre as situações ativas, passivas e inativas:
(A")sempre que sc refere uma pretensão ná um dever correlato. A ausência de pretensão refere uma situação d«Tnão-diréítbT
(B” ) sempre quê se refere uma faculdade, há um não-direjtõ çprre - lato. A ausência de faculdade refere uma situação de dever.
( C j sêmpre que se refere uma potestade. há um estado de sujeição correlato. A ausência de potestade refere uma situação de Impotência. —
Flávio Galdino
(D") sempre que se refere uma imunidade, há uma impotência corre- lata. A ausência de imunidãcíê refere uma situãçao de sujeição.
O esquema de HOHFELD, ou melhor, a adaptação que se busca promover desse esquema é prestadia a demonstrar que as concepções tradicionais acerca dos direito subjetivos encontram-se superadas. Por mais não seja, porque afasta a idéia corrente de que àquilo que chamamos direito fundamental corresponde sempre um dever. A não ser que se utilize um conceito larguíssimo de dever, tornando a expressão incapaz de comunicar o que realmente significa,49 somos levados a concordar em que _há “direitos" (melhor designados por outros termos) que não impõem deveres.
Embora não seja de interesse aqui aprofundar esses conceitos, deve-se registrar que, a bem da verdade, as noções aqui apresentadas não são propriamente novas.
O que chamamos de pretensão refere aquilo que se considera de modo predominante, o núcleo do direito subjetivolvidè item 4.3 acerca da noção de pretensão-poder). Renunciamos às muitas discussões que envolvem o tema da pretensão, mas salientamos que a característica central comumente reconhecida, qual seja, o poder de exigir de outrem um determinado comportamento é o que realmente distingue o direito subjetivo em sentido estrito {= pretensão-poder) das outras categorias referidas. Com base na sistematização que se vem de elaborar, resta claro que esse poder, malgrado possa não esgotar o conteúdo que se pretende atribuir ao direito subjetivo, é prestadio a diferenciá-lo de outras categorias, o que não é senão a função precípua de todo esforço de classificação e sistematização.
A seu turno, aquilo que chamamos potestade cumpre as mesmas funções do que se usa chamar poderSQ e do que se costuma referir como direito potestativo (ou ainda direito formativoSi), isto é, aquelas figuras
49 Neste sentido também, a critica de MOREIRA ALVES: "Há as {acuidades jurídicas, há os chamados direitos potestativos. os interesses legítimos, e assim por diante. É flagranteo excesso de generalidade desta noção (direito subjetivol" (MOREIRA ALVES. José Carlos. 'Direito subjetivo, pretensão e ação'. ín Revista do Processo 47:109-123, esp. p. 112).
50 Por todos, RE ALE, Lições preliminares da Direito cit., p. 259: "O pátrio poder não è um direito subjetivo sobre os filhos menores. (...) Essas estruturas juridicas, nas quais não há uma relação do tipo pretensão-obrigação, mas sim uma do tipo poder-sujeição, têm a denominação imprópria de “direitos potestativos*. que séo duas palavras inconciliáveis*.
51 Na linguagem de PONTES DE MIRANDA. Randsco Cavalcanti, Datado de Direito Privado c/t.. Tomo 5, § 566, os direitos íormativos seriam espécies de do gênero direito
140
Introdução à Tfeoiia dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
que têm como correlatas situações de sujeição52 à interferência de outrem.53 De fato, possivelmente a potestade pode ser entendida como o gênero a que se remetem essas duas outras categorias, a saber, (i) o poder - interferência na esfera jurídica de alguém em beneficio desta pessoa, de que seriam exemplos (i.l) o pátrio poder e (i.2) os goderes funcionais54 (e.g. dos órgãos públicos); e o (ii) direito potestativo - interferência na esfera jurídica de alguém em benefício próprio, de que seria exemplo, o direito de escolha nas obrigações alternativas.55
Dever Istrícto sensu) e sujeição, são categorias absolutamente incompatíveis; afirma-se mesmo que são antitáticas.56 Simplesmente porque a potestade (v.g. na qualidade d i”direíto potestativo) tem por principal característica prescindir do comportamento alheio para sua satisfação, incurso que e'stá~ênTsüjeição,57 enquanto a pretensão é justamente dirigida a este.c.omportamento.
Também a faculdade encontrou lugar adequado enquanto espécie designada por direito subjetivo. Não por acaso o exemplo trazido foi o
_“aireTto’"subjetivo” de propriedade, que é referível a um conjunto de faculdades (pelo menos Eeiisar, de gozar e de dispor - Código Civil de 1916, art. 52458), entendida esta última figura efetivamente como a possibilidade concedida a alguém de comportar-se de determinada maneira (ora, se é um conjunto de posições jurídicas, melhor designá-la como
potestativo, que refere a situação em que "à pessoa é dado o poder de influir na esfera juridica de outrem'. Assim também PONTES DE MIRANDA, TVatado das ações cit., p. 56.
52 Ibmbém GARCIA DE ENTERRÍA e FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo cit., p. 29.
53 HOHFELD, Conceíti giuridici fondameneaü cit., p. 32. ALEXY, Teoria de los derechos /un- damentaies cit.. p. 234.
54 GARCÍA DE ENTERRÍA e FERNÁNDEZ. Curso de Derecho Administrativo cit.. p. 29. Celso Antonio BANDEIRA DE MELLO (Curso de Direito Administrativo de.. p. 32) fala em poder-dever (ou mesmo devei-poder) do administrador público de atuar no interesse da coletividade, que é a marca característica do poder. A utilização da expressão “dever" faz clara a complexidade da função pública, que não so caracteriza por uma simples situação de sujeição, mas que compreende outras situações jurídicas, como sejam deveres a que estão adstritas as autoridades.
55 PONTES DE MIRANDA, Tratado das ações de.. p. 56.56 FONTES. A pretensão como situação juridica subjetiva cit., p. 56.57 GOMES, Introdução ao direito civil de., pp. 109; 118-119. ANDRADE, Teoria Geral da
Relação Juridica cít., p. 17.58 O CÔdigo utiliza a expressão direitos, certamente no sentido de faculdades. Bem a pro
pósito. a análise de REALE: "Outro exemplo de situação subjetiva é a faculdade, no sentido estrito desta palavra, representando uma das formas de explicitação do direito subjetivo: quem tem o direito subjetivo de propriedade tem a faculdade de usar o bem (...)" (REALE. Lições preliminares do direito cit., p. 259).
141
Flávio Galdino
situação juridica). Discutível é a questão de saber se há alguma figura correlata à faculdade, como seja o aludido não-direito, pois há quem sustente que se trata de uma espécie de situação jurídica ativa unilateral.59
Tudo isso demonstra que as figuras em questão já são conhecidas, valendo aqui apenas o esforço de diferenciá-las e sistematizá-las, bem como de reconhecer que aquilo que entendemos por direitos fundamentais também pode assumir outras formas que náo se^onfundem com o rígido esquema direito(pretensão)-dever.
Nã verdade, o objetivo aqui é deixar claro que, sem embargo da utilização reiterada e muitas vezes descuidada da expressão direito subjetivo, cuida-se de várias situações ou operações diferenciadas, e nem todas elas têm um dever (em sentido estrito) correlato.
Mas tudo isso não nos permite olvidar a realidade. A expressão direito subjetivo está consagrada pelo uso. O simples fato de que a Constituição da República a utiliza, seja na formulação completa “direito subjetivo" {y.g., CF, art. 208, § lo), seja na forma abreviada “direito" (mas inequivocamente referindo-se à categoria em tela, CP, art. 5a, V, por exemplo), já é motivo mais do que suficiente para determinar a precisão de seu conteúdo. Não por outra razão a expressão resta consagrada também pela práxis institucional juridico-politica, e é provável que se mantenha assim.
O entendimento dominante dá conta de que, se um direito fundamental está protegido, essa proteção efetua-se sob a forma de direito subjetivo.so Com efeito, sem embargo da ausência de univocidade no conceito, muito menos no que concerne ao respectivo conteúdo, continuamos a expressar-nos diutumamente em termos de direitos subjetivos, quer em tema de direito privado, quer na seara do direito público,61 inclusive e principalmente em relação aos chamados direitos humanos ou fundamentais.62
Çfl sentido, FONTES. A p«»ensào como situaç&o juridica subjetiva cít.. p. 84.60 Assim, como visto acima, em ALEXY, Tfeorja de las derechos fundamentales cit.. p. 480:
CANOTH.HO. Direito Constitucional e Teoria da Constituição cit.. p. 1179.61 Por *odos. CAVALCANTI FILHO. Ttecria do Diieilo cit.. p. 107: “Do direito subjetivo, o
menos que se pode dizer é que, não obstante as numerosas críticas que lhe são dirigidas, subsiste como um conceito central, quer do direito privado, quer do direito público*.
62 Ainda. BARROSO, Luis Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. 3* edição. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 101: 'A idéia central em torno do qual gravita o tópico ora desenvolvido é a idéia de direito subjetivo".
142
Introdução à Tteoria dos Custos dos Diioitos - Direitos Não Nascem em Árvores
Na medida em que não é possível modificar essa práxis, a solução parece ser deixar bem claro que a expressão direito subjetivo refere-se a várias espécies de situações jurídicas distintas, se possívefiSpêcifi- •parnttFgê^Te que espécie se trata caso a caso e. ainda, que nem todas elas possuem um dever strícto^sensu como correlato. ‘ *----- “Na esfera privada, a situação jurídica ganhou seu espaço, já tendosido possível extremar as várias situações referidas do direito subjeti- vo. Sem embáfgõTíTêsta altura de nosso desenvolvimento cultural e Institucional, não parece minimamente possível propor a substituição da expressão díreitos fundamentais por situações jurídicas de direito fundamental Ftuto de sólida modelação histórica, as expressões dirèi-
~tos humanos e direitos fundamentais encontram-se carregadas de matizes j deológicos que não podem ser transmitidos por algum eventual substituto. 1 1
Nestes termos, reconhecendo que o direito subjetivo continua / / sendo categoria vital, referimos sua utilização como situação jurídica ativa (item 4.2), passível de ser decomposto em várias faces ôperátívãs:
"‘ pretensão, faculdade, potestade e imunidade.
6.3. O direito subjetivo como categoria essencial aos direitos fundamentais
cc
cEm célebre palestra proferida na sede do Instituto dos Advogados
Brasileiros no Rio de Janeiro aos 25 de maio de 1929, o insigne CLOV1S BEVILAQUA afirmava: "Tbdos acceitam a noção do direito subjectivo. como necessária à compreensão da actividade jurídica, embora haja divergência na explicação da idéia".63 A verdade estava com ele e ainda está com a sua afirmação precisa, que conserva atualidade, pois os direitos subjetivos continuam a ser uma categoria^ jurídica cgntral, devendo, contudo, serfemodelada para permitir a sua operacionaiiza- ção, no sentido de maxlmizãf á proteção dos direitos fundamentais que
"se definem atravésllela.As análises anteriormente elaboradas autorizam algumas conclu-
S,V*« ... •rciais, como soj- nv.
cc
0) o conceito de direito subjetivo nasce público, mas desenvolve-se sob ótica estritamente prívatística de direito-dever, o
63 BEVILAQUA. Clóvis. “Direito subjetivo". Revista de Critica Judiciária. Vol. IX (6): 409- 418, esp. p. 414.
143
Flávio Galdino
que é manifestamente incabível para designar direitos fundamentais;
(ii) as concepções dominantes em torno ao conceito de direito subjetivo decorrem de posições teóricas essencialistas, igualmente insuficientes;
(iii) embora objeto de críticas agudas, e sem embargo das múltiplas tentativas de desenvolvimento de conceitos correlatos, o direito subjetivo manteve-se como categoria essencial.
Conceito que é, o direito subjetivo não refere um conteúdo necessário, isto é, não há nenhum conteúdo essencial a que ele necessariamente se refira.
De acordo com o que se concluiu (item 6.1 e item 6.2) o direito subjetivo é tão-somente um instrumento de representação que realiza* a conexão sistemática*éntre situações e consegüências jurídicas prevís: 'tas pelo ordenamento jurídico - uma ferramenta teórica de apresentação. Em outras pálávras.õcònteúdo do conceito de direito subjetivo é determinado, em cada momento histórico, pela utilização que dele se faz, segundo as valoraçôes então vigentes.
Com efeito, este estudo assume posição convencionalista (item 5.1) no sentido de que os conceitos, enquanto representações mentais abstratas, não se referènHTnenKuma essência, antes, assumem o con- teúdo que õs tornem mais~úteis as lúiálidades eleitas.
Assim, rejeitando-se as formulações essencialistas, afirma-se que o conceito jurídico de direito subjetivo não pode ser adequadamente formulado sem que se tenha em vista o âmbito de sua aplicação.
A análise do âmbito de aplicação do direito subjetivo. revela,que é possível atribuir-íhe pelo menos quatro tipos de significações, ou seja, cíe operações jurídicas que são realizadas através da referência a ele, a saber: pretensão, faculdade, potestade e imunidade, com as implicações antes referidas (ainda o item 6.2). De plano, a análise aponta para o fato úts que a construção de origem privatista que reduz essa categoria a uma relação direito subjetivo-dever é insuficiente para descrever esses fenômenos no que diz respeito aos direitos fundamentais.
Destarte, de acordo com as premissas adotadas neste estudo, pode-se dizer, evidentemente sem a intenção de esgotar a matéria, que o direito subjetivo deve ser entendido como a representação de várias situações jurídicas consistentes em pretensões, faculdades, potesta- des e imunidades. De certo modo, para os~ direitós~fundãmentaiir"cr
Introdução à 7boria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
direito subjetivo faz as vezes da situação jurídica. Direitos fundamen- "táis são situações jurídicas. ~ '
De outro lado, o excurso teórico que se vem de desenvolver, embora tivesse também o escopo de clarificar algumas noções necessárias à análise que se segue, tinha como principal função esclarecer que os direitos humanos podem ainda ser expressos como direitos subjetivos, dês que cientes das advertências que se vem de fazer.
O direito subjetivo é uma categoria jurídica e utilizamos as categorias jurídicas, e dentre elas o direito subjetivo, para qualificar os fenômenos jurídicos (dentre eles os direitos fundamentais).
Ao qualificar-se um determinado fenômeno jurídico, não se tem intento meramente dogmático, ao contrário, a qualificação visa permitir a aplicação do regime jurídico referente à categoria em questão ao tal fenômeno. É também neste sentido que se diz o direito subjetivo é uma ferramenta técnica de apresentação, indicando o regime jurídico a que se submete determinado fenômeno. ^
Assim, em última análise qualificar os direitos fundamentais como j direitos subjetivos nada mais significa do que dizer que a eles aplica- { se o regime jurídico dos direitos subjetivos. -J
Durante muito tempo laborou-se com a idéia de que a característica central do direito subjetivo seria o dever por parte de outrem, isto é, a exigência de um determinado comportamento. Já se viu que essa concepção é inadequada. Além disso, ela revela o desvio de perspectiva que a conduziu à inadequação do conceito de direito subjetivo, no sentido de que o Estado assume o compromisso de tutelar os direitos - o Estado, sim, tem um dever de tutelar direitos, sendo-lhe exigível um determinado comportamento.
A essa exigibilidade chama-se sindicabilidade, justicialidade ou ainda /ustiriaJMKdade, que representa a possibilidade de acesso ao aparato estatal jurisdicional para tutela daquilo que se reconheça como direito subjetivo do indivíduo.
Mas não é possível confundir (i) a situação jurídica existente entre as partesjfiuma_determinada relação de direito_fundamental. a qual, repita-se, pode ser representativa de pretensões, faculdades, potesta- des, e imunidades (com as respectivas posições passivas e inativas - item 6.2), è"(ii) a situação existente entre^_indwídup. e_o^sj^ado, que avoca o monopólio da força para tutela dos direitos, e que possui deveres, perante direitos subjetivos dos indivíduos.
™ Se, em um determinado sistema jurídico, como afirma-se seja o caso do ordenamento jurídico brasileiro, todos os direitos subjetivos
14S
Flávio Galdino
fundamentais são sindicáveis, isto é. dotados de exigibilidade em sede judicial, também essa característica deve ser considerada na respectiva formulação conceituai. Dal também a utilidade de referir-se às categorias jurídicas como instrumentos de representação, pois resta facultado o acréscimo de elementos a elas - até porque, a medida do conceito, como visto, é a respectiva utilidade na aplicação.
Pode-se então, provisoriamente, compreender os direitos fundamentais como direitos subjetivos, representando situações valoradas positivamente pelo ordenamento - ai entendido também e principalmente o momento de aplicação do Direito - dotadas de exigibilidade em face do Estado, a fim de que este conforme a realidade ao dever-ser jurídico, tutelando pretensões, faculdades, potestades, e imunidades dos indivíduos.
Esta formulação provisória dos direitos fundamentais deverá ser depurada, acrescentando-lhes outros elementos que no curso do estudo se mostrem relevantes e úteis.
De toda sorte, e é o que nos importa por ora, a noção de direito subjetivo permanece sendo utilizada, e permanece seridó fundamental ao discurso jurídico, notadamente parcTos direitõs fundam entais.64
64 Assim considera ALEXY. Tboria de los derechos fundamentales cit., p. 183.
146
Capítulo VII Os Direitos Fundamentais
Positivos e Negativos
7. Direitos fundamentais: positivos e negativos
Como já observado, para os fins do presente estudo, interessa-nos uma determinada categoria de direitos subjetivos - os direitos fundamentais ou direitos humanos, salientando-se desde logo que há a grande controvérsia acerca de saber quais dentre os muitos direitos do homem são dotados de exjàjbiUd^d^õiTsindicabiHdade em sede juris? dícional (ou ainda, quais são direitos subjetivos stricto sensu). ficando afastadas, dados os limites e escopos do presente trabalho, as muito complexas questões acerca da justificação ou da fundamentação dos direitos humanos.1
De plano, cumpre observar que a própria nomenclatura que envolve o tema suscita escrúpulos. Sem embargo da existência de críticas acerca da própria vagueza dos termos envolvidos,2 nossa preocupação dirige-se ao fato de que, com o fito de examinar o mesmo fenômeno, por influências várias, os doutores servem-se de rótulos os mais diversos, causando muitas vezes, indesejável confusão teórica, com graves conseqüências de ordem prática. Assim, para ficar apenas na esfera genérica, fala-se, indiscriminadamente, em direitos do homem, liberdades públicas, direitos humanos, direitos fundamentais et coetera.
1 Isto n&o significa que ainda (dada nossa manifestação anterior em estudo como graduando) eslcj^.,èüJ iúnj DOESIU ;io ponto orr qua asse1 "uu “que •• ■»■<>> ..i<*ve de a~-oo tempo, com relação aos direitos do homem não era mais o de fundamentá-los. e sim o de protegô-los" (BOBBIO, Norbeito. A Era dos Direitos (trad. bras. de LEtà uni Dãitti por Carlos Nelson Coutinho). Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 2S). A questão da fundamentação permanece de suma relevância, ganhando vulto a cada dia. M exemplum tanium. o em caráter intiodutivo, consulte-se os diversos estudos incluidos na obra coletiva coordenada por RICARDO LOBO TORRES: Tfeoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar. 1999. Alhures, PEREZ LUNO. Antônio E. Los derechos fundamentales. Sèptima edición. Madrid: Tbcnos. 1998.
2 Como leva a efeito BOBBIO, A Era dos Direitos cit., p. 17.
147
Flávio Galdino
No plano jurídico-positivo, registre-se que a nossa própria Constituição da República de 1988 parece utilizar indiscriminadamente os termos em questão, ora utilizando direitos humanos (art. 4°, II), ora preferindo direitos fundamentais (Titulo II) - expressão esta realmente dominante no Texto Magno.
Assim, sem embargo de haver vozes respeitáveis a salientar as diferenças entre as tais categorias, recomendando o uso dessa ou daquela em contextos determinados,3 no presente escrito, preferindo- se as expressões ‘direitos humanos' e 'direitos fundamentais', e seguindo-se prestigioso entendimento da doutrina especializada, todas as expressões são tidas por sinônimas.4
Em realidade, no estudo do fenômeno direitos humanos pode se servir o estudioso de várias classificações. Pode-se falar, por exemplo, em direitos fundamentais de matriz estatal e de matriz internacional, absolutos e relativos, assegurados e garantidos,5 individuais ou coletivos, e assim por diante. Interessa-nos aqui, conforme anunciado, a classificação dos direitos fundamentais em positivos e negativos.
7.1. Direitos positivos e liberdades positivas
Com efeito, mais especificamente, importa aqui uma determinada tipologia de direitos (subjetivos) fundamentais, que alguns autores implicitamente atribuem a ISAIAH BERL1N, enquanto fruto de uma famosa conferência pronunciada no ano de 1958 na Universidade de Oxford.6 Cuida-se aqui da divisão entre direitos fundamentais chama
3 For todos, PEREZ LUNO, Los derechos fundamentales cit., p. 44.4 A expressão direitos fundamentais - mais uma influência tedesca - originariamente era
utilizada para designar o momento de recepção no otdenamento positivo dos direitos humanos. Sobre as questões terminológicas, esclarecendo a origem de cada uma das expressões, e ressaltando a irrelevância das diferenças sob o prisma prático, veja-se MELLO. Celso Renato Duvivier de Albuquerque. Direitos humanos e conditos armados. Rio de Janeiro: Renovar. 1997, pp. 9 e seguintes. Vide ainda SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional. 16* edição. São Paulo: Malheiros. 1999, pp. 179 e seguintes (referindo, p. 182, que a expressão direitos fundamentais do homem 6 a mais adequada). Afirmando tratar-se de expressões sinônimas, veja-se TORRES, Os Direitos Humanos e a TVibutação c/t., pp. 8 e seguintes, cuja posição é por nós adotada.
5 Sobra esta. por todos, veja-se PONTES DE MIRANDA. FYancisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1946. 3» edição. Tbmo IV (arts. 129-141. 5 14). Rio de Janeiro: Borsoi. 1960. p. 268. Sobre as classificações em geial. confira-se MORAES, Dos direitos fundamentais cit.. pp. 171 e seguintes.
6 Assim, por exemplo. BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. "Cidadania e res publica: a emergência dos direitos republicanos'. In Revista de Direito Administrativo 208 (1997): 147-
148
Introdução á Iteoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
dos “positivos” e direitos fundamentais chamados "negativos" (para BERLIN. liberdade positiva e liberdade negativa).
Com a devida vênia, não nos parece tivesse a importantíssima construção de BERLIN a invocada precedência histórica.7 Ademais, embora as idéias de "positivo" e "negativo” desenvolvidas pelo aludido autor sejam em alguma medida semelhantes às referidas no presente estudo, ou seja, digam respeito à relação entre a liberdade e a autoridade, seu enfoque é bastante diverso, sendo antes de natureza filosófica (ou mesmo política) que jurídica, destinando-se a estudar preferencialmente o conflito entre as duas mencionadas espécies de liberdades,8 sendo certo que, tendo sido escrito no auge da Guerra Ftia (1958), constitui-se em libelo em defesa da preponderância da liberdade negativa (em desfavor, portanto, da positiva).9
Ademais, no estudo referido BERLIN não trata das prestações positivas do Estado. Em realidade, BERLIN fala em liberdade positiva no sentido de autogoverno e participação,10 sem tocar o caráter pres- tacional dos direitos respectivos. Este autor também opera com a importante diferença entre a liberdade de e a liberdade para. que se constitui em instrumento sobremodo útil para muitos autores11 no sentido de diferenciar a liberdade em si mesma da liberdade consistente nas condições necessárias para o seu exercício.
181, esp. p. 158. invocando o clássico ensaio de BERLIN, “Ttoo concepts ofliberty". originalmente publicado em 1958 (há tradução para o português: BERLIN, Quatro ensaios sobre a liberdade cit.): "Essa distinção, que na sua (ormulação contemporánoa se deve a Isaiah Berlin (...)”.
7 Apesar da referência provir de autoridade, acreditamos que a distinção de BERLIN, é claramente inconfundível com a ora analisada, sendo também posterior (o que se confirma, por simples exemplo, a partir da referência constante da nota S38 infra).
8 BERLIN. Quatros ensaios sobre a liberdade cit.. p. 164.9 Neste sentido, SUNSTEIN/HOLMES, The cost of rights de.. p. 239, nota 3: " The distinc-
tion becween negadve rights and positivo rights should no: be confused wich the simifar- sounding distinction between negativo and positive libeny, popularized by Isaiah Berlin
Criticando, noutro passo, em parte, a construção de BERLIN, veja-se o mesmo HOL- MES, Stephen. “Los regias mordaza o la política de omisión”. in Constitucionaf/smo y democracia (ttad. mexicana de Constitutionaiism and democracy por Mónica Utrilla de Neira). México: Fondo de Cultura Econômica, 1999. pp. 49-88. esp. p. 53-4.
10 Refere este sentido, entre nós. SILVA. Curso de Direito Constitucional Positivo cit., p. 235.11 BERLIN, Quatros ensaios cit., p. 142. Entre nós, TORRES. Os Direitos Humanos e a tribu
tação cit., p. 129.
149
Flávio Galdino
7.2. Sobre positividade e negatividade
O presente estudo dirige-se à análise da classificação dos direitos fundamentais formulada a partir da necessidade ou não de prestação
'positiva por parte do Estado para sua efetivação,12 e que, por variadas razoes históricas confünde-se, ao menos em parte, com a tradicional divisão entre direitos fundamentais da liberdade e direitos fundamentais econômicos ou sociais.
Mister ressaltar que a expressão "positivo", aqui utilizada para qualificar os direitos, nada tem a ver com a fonte de onde promanam os mesmos. A ressalva é pertinente porquanto, a exemplo do próprio direito, também a expressão positivo - enquanto qualificante daqueloutro - possui mais de um significado. Usualmente refere-se o direito positivo como sendo o conjunto de normas vigentes (rectius: válidas) em um determinado ordenamento jurídico. É um dos pólos de uma outra importantíssima dicotomia desenvolvida entre os cultores da ciência juridica, entre direito positivo e direito natural.
Desde os tempos romanos, passando pela Era Medieval, o Direito era visto como a conjugação de ordens complementares, sem prejuízo ainda de suas múltiplas manifestações, como sejam, principalmente, o direito natural (o justo conforme a natureza) e o direito positivo (o justo fundado na lei humana)-13 Em determinado momento histórico14 passou-se a considerar a preeminência, notadamente sob o prisma da vali-
12 Ninguém menos do que PONTES DE MIRANDA assinalava a diferença pelo menos desde a Constituição Republicana brasileira de 1946. Assim: "DIREITOS FUNDAMENTAIS POSITIVOS E NEGATIVOS. É de advertir-se, porém, em que, falando-se de direitos fundamentais negativos o de direitos fundamentais positivos, não se alude ao conteúdo dos direitos subjetivos fundamentais, e sim à pretensão do Estado. É classificação que só atende a isso. (...) Quando se distinguem direitos fundamentais positivos e direitos fundamentais negativos apenas se alude ao papel do Estado na prestação...'; (PONTES DE MIRANDA, Comentários à Constituição de 1946 cit., p. 277). Com texto essencialmente igual, o mesmo autor no? Comentários '* C^r ^ii ün,io de 1967 - com a Zmeniia n® 1 de lSrü9. Tbmo IV (arts. 118 a 153, § Io). 2* edição. São Paulo: RT, 1974, p. 661.
13 BOBBIO aduz que a distinção entre a esfeia do direito natural e a do direito positivo existe desde sompro. embora com significados variáveis ao longo da bistória; veja-se BOBBIO, O positivismo jurídico c/t., pp. 15 e seguintes.
14 VITTORIO FROSINI indica como marco histórico a obra fundamental de HUGO (Lehrbuch des Naturrechts aIs elne Philosophio des positivon fleefits, datada de 1798). É recomendável a consulta ao verbete desse autoi. Diritto positivo na Enciclopédia dei Diritto (p. 655). Sobre o fenômeno histórico da positivaçâo do direito, consulte-se as interessantes observações de FERRAZ Jr, Introdução ao estudo do direito cit., pp. 73 e seguintes.
150
Introdução à Iteoria dos Custos dos Direitos - Diieitos Não Nascem em Árvotes
% I-
-
??
dade, da ordem positiva sobre a natural (que seria então a ordem negativa, ou o não-direito). Desde então, a expressão direito positivo designa, precipuamente, e por oposição ao chamado direito natural, as normas reconhecidas como válidas, isto é, estatuídas de acordo com regras de competência previamente estabelecidas, em determinado momento histórico em determinado ordenamento jurídico.1*
Não é este, certamente, o sentido atribuído à expressão direito positivo aqui. No presente estudo, a expressão direito não se refere a uma determinada ordem jurídica objetiva, mas sim aos direitos subjetivamente considerados.
Saliente-se ainda, que a utilização dos qualificativos positivo/negativo no presente estudo também não diz respeito em especial à aptidão do respectivo direito subjetivo - rectius: do seu exercício - para criar ou extinguir relações jurídicas, como na formulação juspriva- tística de ANDREAS VON THURl6 (também chamados direitos de extinção). Essa situação é referida entre nós, habitualmente, como direito potestativo (categoria esta referida, ainda que superficialmente, no item 6.2).
No presente estudo, a dicotomia positivo/negativo diz respeito a duas situações interligadas, a saber:
(i) a necessidade.ou não de prestação estatal (em caso negativo tir-se-ia mera omissão) para consecução de direitos fundamentais, de modo que a expressão direitos positivos refere-se. êín especial, a direitos que demandam prestação estatal para sua efetivação e,
(ii) em estreita correlação, os custos que essas prestações ocasio- nam para o Estado, de“fòrma que positividade refere-se também a dispêndio de recursos.
í
c
í
í
í
í
í
Observe-se então, por importante, que o critério em que se baseia a citada classificação - a dicotomia positivo/negativo - é fundado no
is
16
Este. inclusive, é um dos critérios indicados pelos autores para diferir o direito natuial do positivo, uma vez que aquele é conhecido através da razão humana: sobre o tema. mais uma vez BOBBIO, O positivismo jurídico cit., p. 23.VON THUH, Andreas. Derocho Civil - Ihoria General dei Derecho Civil Alemán. Volumen I (trad. argentina de Dor Ai/gemeine Tbil des Deutschen Bürgerlichen Rechts por Tilo Ravà). Buenos Aires: Depalma, 1946. p. 244. A estes 'direitos negativos" PONTES DE MIRANDA (Tratado cit. § 566. p. 2B1). chama de direitos fotmativos extintivos.
151
Flávio Galdino
pressuposto de que existem direitos subjetivos (fundamentais) cuja efetivação independé~completamente da atuação positiva dò Estado, oú sê)ã^í^êpéncle'dé qüãrqüéf prestãção pública, não gerando custos, daí serem chamados direitos negativos (integrando na célebre classificação de GEORG JELLINEK antes referida, item 4.1, um status negativo do indivíduo frente ao Estado).'?
Na primeira das acepções, positivo, e negativo são^expressões empregadas para qualificar o dever18 correlato ao direito em questão, sobre saber se se trata de uma prestação facere ou non facere, in casu, a cargo do Estado, que via de regra ocupa o pólo passivo da relação jurídica que tem como objeto um direito fundamental. A não-turbação da propriedade privada constitui um non facere, uma obrigação negativa, ao passo que a entrega de merenda escolar a crianças cujas famílias não podem arcaroom ós custos respectivos configura um facere. uma obrigação positiva.
Assim sendo, a omissão não gera custos para o Estado, ao passo que as prestações relativas aos deveres positivos ocasionam despesas.
CÍom essas explicações prévias, passa-se a analisar a utiíidãde dessa categoria e a importância de se estudá-la.
7.3. A importância instrumental da distinção entre direitos fundamentais positivos e negativos e a relevância da análise crítica
Não é ocioso remarcar que o principal juizo de valor que pesa sobre as classificações não versa sobre sua correção, mas sim sobre a sua utilidade. Realmente, em se tratando de um objeto de valor cientifico meramente instrumental, a "classificação" - e o respectivo critério subjacente - devem ser avaliados, pressupondo-se por óbvio sua coerência intema, em vista de sua utilidade.
17 Faia J.“ LLINEK (Sistema cit., p. 117), então, no status libertatis, que o autor chega a assimilai, para fins explicativos, à conformação dos direitos reais, cuja observância está precisamente na ausência de turbação por parte dos demais indivíduos: “Neila stessa maniera coma al diritto reale corrispondo iI dovere puramente negativa da parte deite per- sane, che eventualmente si trovino in rapporto com colui che ne è investito, di non recar- g li moléstia, cosi alio status negativo corrisponde un anaiogo dovere da parte di tutte le autorità...".
18 Sobre deveres positivos e negativos, consulte-se MONTORO, Introdução à ciência do direito cit., p. 459.
152
Introdução à Tteoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
Neste sentido, tem-se esta classificação (positivo/negativo) em e sp ec ia l como extremamente relevante e útil,19 pois a partir dela parece possível retirar conseqüências teóricas e práticas da mais alta relevância, como sejam:
(i) no terreno dogmático: estabelecer uma linha histórica evolutiva dos Estados e, mais importante,
(ii) sob o prismajgrático: discemir entre os direitos fundamentais que são de pronto exxgTviiíTdõ Estado eosque não são sindicá- vãl^Ipso Yáctò, orientando~se assim as escolhas da sociedade.
São conseqüências teóricas e, mais importante do que isso, práticas verdadeiramente relevantíssimas. Vale observá-las mais de perto, com o fito de compreender a extensão da aplicação da classificação positivo/negativo.
7.3.1. Do liberal ao social - a história contada pela lente da positividade
Consoante já salientado (item 2), é bastante comum a afirmação de que, com a ascensão do pensamento liberal (stricto sensu, na Idade Moderna) de matriz Individualista, o Estado passou a reconhecer as liberdades individuais de corte natural, as quais, positivadas, consti- ^hiíiam direitos públicos subjetivos face ao próprio Estado. Tàis seriam os únicos direitos exigiveis do Estado, e que se constituiriam em meras abstenções (não-intervenção) por parte dos entes públicos.
l!figualmente comum referir-se, então, à passagem desse Estado guarda-noturno, que funcionava tão-somente, na imagem sempre referida, como um algodão entre os cristais (os indivíduos) - o Estado Liberal, ao Estado Social.20 o qual longe da postura meramente omissi- va típica da fase anterior, deveria intervir nas relações interindividuais com o escopo de realizar justiça social, efetuando por si mesmo ou por terceiros (ou sejaTcttfétlTÕü indiretamente) prestações positivas de molde a - tomando por empréstimo a imagem qué!Tgrande]urista forjou a outro propósito - afeiçoar a realidade sensível, na medida do pos
19 Por todos, VIEIRA DE ANDRADE. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976 cit., p. 1S4 (referindo ainda direitos de defesa e diioitos a prestações).
20 Expressão que, aliás, dá titulo a importante obra de PAULO BONAVIDES: Do Estado Liberal ao Estado Social. 6® edição. São Paulo: Malheiios. 1996.
153
Ftávio Galdmo
sível, àquilo que, segundo o Direito (rectius: segundo os direitos sociais), ela deveria ser.
Este movimento é valorado positivamente, no sentido de uma evolução, servindo-se o estudioso da História do Direito como discurso legitimador das práticas vigentes. A última etâpa da narrativa jurídica (o presente, dos direitos sociais) é idealizado como se fora uma meta finalmente alcançada, descrevendo-se a história através de um padrão universal de evolução.21 A positividade, ou seja, a existência de prestações positivas do ^tadãâTorflümp es£ágio de uma evolução.■ Ò traço marcante desta decantada evolução institucional é justamente o reconhecimento de determinados direitos, chamados então econômicos e sociais - tidos, sob o prisma intelectual, como heranças dos movimentos socialistas e da doutrina social da Igreja Católica, e que tem por marcos históricos institucíonãis^ Cònstituiçáõlríêxicãngrde 1917 e Constituição alemã de Weimar22 de 1919. São direitos cuja observância - depende de uma prestação positiva do Estado. Consoante salientado nos itens que se seguem, concorreu fundamentalmente para a institucionalização destes direitos a doutrina econômica “keynesiana” .
Assim, enquanto o Estado do tipo ‘Liberal' é referido como aquele cuja constituição reconhece apenas direitos negativos (liberdades) - o caráter declaratório é estampado de modo inconfundível na marca das Declarações de Direitos do Ocidente23 - eis que apenas atestava a existência de coisa anterior no sentido lógico e temporal, e prioritária no sentido axiológico,24 o Estado Social e sua constituição reconhecem os direitos positivos, consubstanciados na exigibilidade juridica (ou justi- ciabilidade, ou ainda sindicabilidade) de prestações estatais positivas, daí porque falar-se que através dessa evolução transita-se da simples pretensão de omissão para a proibição de omissão.25
------ O Estadó do Bem-estar sódãrinvocá á necessidade de assegurarigualdade mátènal, desviando-se da mera tutela formal, e a igualdade
21 Sobre a História do Direito como discurso legitifador, vide IIESPAN: N\ -r.üorama histe- -ico da cultura juiíuiba européia cít., pp-16-20.
22 Sobre a República de Weiinar, consulte-se GUEDES, Marco Aurélio Feri. Estado e Ordem Econômica e Social - a experiência constitucional da República do Weimar e a Constituição brasileira de 1934. Rio de Janeiro: Renovar. 1998.
23 Sobre as Declarações de Direitos, seu sinefetismo e sua ambição universalista. veja-se GOYARD-FABRE, Os princípios filosóficos do Direito Político moderno cit.. pp. 329 e seguintes.
24 SALDANHA. ‘ Liberdades públicas' cit.. p. 39.25 PiOVESAN. Flávia. Proteção judicial contra omissões legislativas. São Paulo: RT, 1995, p. 29.
154
Introdução à Tsoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
em sua feição material demanda prestações estatais que criam pré- condições para o exercício das liberdades.26 Sustenta-se ainda que os direitos econômicos e sociais inovam no sentido de que provocam a discussão sobre os critérios de justiça distributiva aplicados no direcionamento das prestações estatais.27
Como se vè, a história dessa evolução pode ser contada através da lente da positividade dos direitos, contrastando rigidamente direitos negativos e positivos. Nesta visada, enquanto o Estado Liberal assume postura de abstenção, tutelando direitos negativòs.~õ Estado Social cbamá a si também a função de tutelar direltõs positivos.28
7.3.2. A escassez dos bens e recursos, as colisões de direitos e as escolhas trágicas da sociedade
Consoante se usa afirmar, com arrimo em noções econômicas basilares,29 os limitados recursos e bens existentes são insuficientes para satisfazer as ilimitadas necessidades humanas. Necessidades, bem entendido, também em senso econômico (e não no filosófico), isto é, no sentido de qualquer manifestação de desejo que envolva a escolha de um bem capaz de contribuir para a realização do indivíduo.
Isto não significa que o sentido filosófico de necessidade seja despido de qualquer importância. Não é. Ao revés, essa noção é utilizada por importante setor do pensamento jurídico contemporâneo na complicada tarefa de fundamentar os direitos humanos, construindo a noção de necessidade como uma situação pessoal - sem embargo de objetiva - que oferece caráter de inescapabilidade (inescapability), e relacionando-a com valores que fundamentam os direitos huma
26 Consulte-so MIRANDA, Jorge. "Os direitos fundamentais - sua dimensão individual e social". In Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política (CDCCP-RT) 1: 198-208. esp. pp. 199-200; e também COMES. Carla Amado. Contributo para o estudo das operações materiais da aC.- ni;'ra,io pública e ds seu cunticlo juiisdi.ior.al. Coimbra: Coimbra Editora. 1999. p. 22.
27 LOPES, "Direito subjetivo e direitos sociais: o dilema do Judiciário no Estado Social de Direito" cíc., p. 127. Vide ainda BOBBIO, Dalla struttura alia funzlone cit., p. 103.
28 Esta. como anota JORGE MIRANDA, a "opinião tradicional" (MIRANDA. 'Os direitos fundamentais - sua dimensão individual e social" cit.. passim).
29 Servimo-nos de literatura básica: PINHO, Diva Benevidos. e VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandova). Manual de Economia - Equipe de Professores da USP. 3» edição. S&o <‘aulo: Saraiva. 1999; NUSDEO. Curso de Economia de., passim. Vide também POSNER. Econonuc analysis o f Law cit., p. 3.
Flávio Galdino
nos.30 No presente estudo, consoante advertido, não nos dedicamos às questões de fundamentação filosófica dos direitos humanos, e utilizamos a noção de necessidade em seu sentido econômico.
A seu turno, "bem" é qualquer coisa - material ou imaterial - capaz de atender a uma dessas necessidades humanas. A distinção é Importante, pois, rnismcTsõb o prisma filosófico, necessidades e meios de satisfazê-las não devem ser confundidos. Por evidente, para prover tíens econômicos são necessários recursos.
Sob a ótica da escassez, isto é, sob o prisma econômico, os bens podem ser divididos em (i) livres e (Ti) econômicos. Os bens livres são aqueles sobre os quais, por qualquer razão, em determinado momento, a escassez.não projeta efeitos - como o ar atmosférico, por exemplo (ainda. ). Bens econômicos são aqueles dotados de utilidade e que sofrem osefeitos.daescassez - como a comida, por exemplo. Por evi- àente trata-se de qualificação dos bens marcada pela transitoriedade, pois a utilidade e a escassez dependem, do contexto histórico e ecgnô- mico^sob análise.31
Houvesse bens (ditos então livres) e recursos ilimitados, e sequer existiria a economia, que se dedica precipuamente à questão de como produzir o máximo de bens econômicos a partir da escassez de recursos. Não os há, e é preciso alocá-los (isto é, distribuir os que existem). O cerne das modernas teorias da justiça é precisamente o estudo da distribuição de bens e recursos entre os homens - alterando-se drasticamente o prisma clássico da filosofia moral e política, da justiça individual para a justiça na comunidade. Afirma-se mesmo que a sociedade humana é uma sociedade de distribuição, operacionalizando a alocação de bens por meio de múltiplos procedimentos, critérios e agentes.32
Sem embargo de eventual desempenho ótimo dos referidos procedimentos e critérios, fato é que os recursos,continuam limitados, ocasionando o fenômeno da escassez, que impõe à comunidade - principalmente ao poder público estabelecido conforme a organização política adotada em dada sociedade - a complexa tarefa de direcioná-los. A- escassez gera conflito entre os homens em torno aos bens. Não raro,
30 ANON ROIG, Maria José. "Flindamemac/ón de los derechos humanos y necesidades b isi- cas". Ai BALLESTEROS, Jesús. Derechos Humanos - concepto, fundamentos, sujetos. Madrid: Tecnos, 1992, pp. 100-115. esp. p.103.
31 Por todos, NUSDEO, Curso de Economia ctt., pp. 31 e seguintes.32 WALZER, Michael. Spheres o f justice. New York: Basic Books, 1983, p. 3 {vide itens 1.6 e
13.2 sobre a igualdade complexa).
156
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Náo Nascem em Árvores
leva ura homem a subjugar o outro e torná-lo mero instrumento33 de satisfação de suas próprias necessidades e interesses; nesse caso, a escassez subjuga a própria idéia de humanidade.” Ainda na seara econômica, parece importante referir os bens públicos, principalmente porque o conceito econômico não coincide com o conceito jurídico, pois a qualificação “público" atende a finalidades diversas num e noutro conceito. — .... .
Em Direito, um bem é considerado público quando sobre ele se r»ncHt.in nm regime rinminial público sftja em razão da titularidade, sêjlfporque ele se encontra de alguma forma vinculado ao atendimento de finalidades públicas; a classificação diz respeito, portanto, à titularidade do bem ou à sua afetação.34
Em Economia, um bem é considerado público quando o respectivo uso/consumo é indivisíveU.e.não-exçlusivo.3 A defesa nacional e os prestímos do corpo diplomático servem como exemplos de bens públicos em sentido econômico, pois é prestada à população em geral, não havendo meio preciso de determinar o beneficio auferido individualmente (o que coloca a importante questão de como ratear os custos de produção destes bens), nem havendo como impedir que algumas pessoas se beneficiem desse bem - a utilização dele por um indivíduo não exclui (dai porque dizê-lo não-exclusivo) a utilização por outro indivíduo.
Possivelmente essa caracterização econômica dos bens públicos corresponde a uma outra classificação juridica, consistente em diferenciar serviços públicos prestados (i) ut singuli ou individuais e (ii) u£ uni- versi ou gerais.3 Os primeiros consubstanciam prestações individualizadas (diretas) e permitem a cobrança específica do benefício propor
33 SANTIAGO NINO. “El concepto de derechos humanos" cit., p. 2.34 Sobre bens públicos, confira-se MOREIRA NETO, Curso de Direito Administrativo cit-, p.
329; BANDEIRA DE MELLO, Curso de Direito Administrativo cit.. p. 7SI; c. também. FREITAS, Juarez. “Da necessária reclassificação dos bens públicos". In Estudos de Direito Administrativo. 2° edição. São Paulo: Malheiros, 1997, pp. 64-77.
35 Sobre estes conceitos, REZENDE, Fernando. Finanças Públicas. 2* edição. São Paulo: Atlas, 2001, p. 27; e GIAMBIAGt, Fabio. et ALÉM, Ana Cláudia. Finanças Públicas - Teoria e Prática no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 1999, p. 20. Seria realmente de todo relevante que o Direito volvesse os olhos para as classificações econômicas dos bens. tomando-as Juridicamente operacionais, ao invés de insistir em teimosamente ignorá- las, consoante adverte NEGREIROS, Tferesa. Tteoria do contrato - novos paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar. 2003, p. 387.
36 Sobre o tema, por todos. MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 4» edição. São Paulo: RT, 2000, p. 372; e DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 10° edição. São Paulo: Atlas. 1998, p. 90.
157
Flávio Galdino
cionado aos usuários, em regra por meio de tarifas ou taxas. Os segundos não possuem destinatários determinados, e normalmente são custeados por outras fontes de receitas públicas (e.g. impostos).
Na verdade, a categorização econômica dos bens públicos desti- na-se a demonstrar a tese de que, mesmo na sociedade liberal-capita- lista, o Estado deve necessanamente tuncionar cqnio agente econômico. riirrrealidãdê.há alguns bens que não despertam interesse no setor ‘privado, seja por serem “bens livres”, seja por adimplirem as características dos chamados “bens públicos” ; o setor privado - o mercado - só possui condições de operar por meio do “princípio da exclusão", isto é, quando é possível quantificar o beneficio auferido individualmente em razão do uso/consumo de um bem. e excluir a sua utilização por outros indivíduos (que não aquele que pague o respectivo preço).
Destarte, mesmo sem que se tome qualquer consideração valora- tiva sobre a operação de um mercado, isto é, em um sistema de mercado em concorrência perfeita, que atenda satisfatoriamente as necessidades por bens econômicos em geral, o Estado será necessário para prover às pessoas os bens públicos.37
De toda sorte, havendo escassez de bens, seja qual for a sua natureza, surge o conflito, e esse conflito intersubjetivo em tomo a bens escassõspode ser observado de vários prismas diferentes. Dois deles importam aqui. Enquanto para o estudioso do Direito ajalocação de recursos normalmente (mas não" exclusivamente) envolve uma colisão <3êTHõrmâFjuHdicas a ser solvida através da ponderáção dos princípios envolvidos (sobre conflitos normativos e critérios de solução, vide item 1.5), para o agente político envolve urna opçãp.
Assim/numa hipótese simplificada - renunciando-se ad argumen- tandum tantum à complexidade das colisões de frente a determinada situação de insuficiência de recursos para atender a dois direitos fundamentais invocados por duas pessoas (ou grupos die pessoas), a solução determina a ponderação entre os respectivos princípios jurídicos em questão.
Configurem-só os seguintes termos: se, numa determinada comunidade, uma parte dela postula a instalação de rede de canalização de gás, e a outra parte postula a instalação de uma escola de formação técnica, e inexistindo provisão de fundos suficientes para atender a ambas as demandas, surge um conflito entre (invocados) direitos fun-
37 GIAMBIAGI e ALÉM, Finanças públicas cit., p. 21.
158
38 PINHO. Manual de Economia cit., p. 225.39 CALABRESI, Guido, et BOBBIT, Philip. Dragic Choices - The contlicts society confronts in
the allocation o f tragically scarce resources. New York/London: W. W. Norton 8i Company. 1978.
40 Ainda sobre as escolhas e os sacrifícios. BERLIN, Quatro ensaios sobre a liberdade c/t., p. 167: o mundo que se nos depara na experiência comum è aquele em que nos defrontamos mm poções entre fins ’gualmemc últimos, exigências igualmonto absolutas, sendo que a realização de parte desses Qns e dessas exigências deverá necessariamente acarretar o sacrifício de outras*.
41 Sobre a eventualmente desejável manutenção dos conflitos entre os valores como meio de promoção da participação e da deliberação democrática, consulte-se SUNSTE1N. Cass. Ono caso at a time - judiciai minimalism on the Supreme Courc. Cambridge: Harvard University Press. 1999. Passim, e, ainda uma vez, o nosso estudo, GALDINO. Flavio. "Sobre o minimalismo judicial de CASS SUNSTEIN" in Arquivos do direitos humanos. Vblume 2: 173-215 (Rio de Janeiro: Renovar. 2000).
42 CALABRESI e BOBBIT. TVagic choices cit., p. 19.43 TORRES, Ricardo Lobo. O Orçamento na Constituição. Rio de Janeiro: Renovar. 1995. p. 36.
159
if
damentais, e a questão de saber onde tais recursos devem ser aloca- Idos será decidida à luz da remissão aos princípios jurídicos em que os Ctais direitos estejam previstos. É a visão jurídica do problema. E talvez ^também a econômica, podendo-se afirmar que a alocação de recursos Iem uma sociedade está sempre associada a um sistema de atribuição f de direitos.» ^
Qualquer que seja a solução encontrada em sede jurídica, sob o Iprisma político ela envolve uma opção, e, por conseguinte, implica o tsacrifício em alguma medida do invocado direito preterido. Em muitas ^situações, seja qual for a solução (isto é, ainda que seja a melhor ou a mais justa ou a que atende ao maior número), é uma opção trágica. €
A partir da retórica da tragédia, GUIDO CALABRESI è PHILIP 1BOBBIT39 demonstram que a escassez de recursos econômicos e finan- iceiros públicos impede a realização de todos os objetivos sociais, de tal sorte que a realização de alguns desses relevantes objetivos impõe necessária e inevitavelmente o sacrifício de outros, igualmente impor- _ itantes,40 e por mais imprescindíveis que sejam. *
Não sendo possível - e muitas vezes, nem desejável41 - a solução (íimediata da permanente tensão entre os valores subjacentes42 aos mencionados objetivos sociais em conflito, há a necessidade de serem feitas escolhas. Essa opção entre valores denuncia o inafastável con- £teúdo ético das escolhas públicas.43 Escolhas realmente trágicas.
Assim, quando afirmados direitos que demandam prestações estatais entram em choque, é inevitável uma opção, trágica no sentido j I £ de que algum não será atendido (ao menos em algumã medida).
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem on' Árvores 1
ccc
Flávio Galdino
Se não há recursos públicos para prestar educação, lazer, infra- estrutura básica e saúde em uma dada sociedade em um dado momento. será necessário optar por um ou por alguns deles - efetuando trade- ofís 44 expressão de difícil tradução mas que pretende designar essa situação de escolha efetuada dentro do conjunto de oportunidades. Um exemplo simples pode ajudar.
Na verdade, todos os dias as pessoas fazem essas opções. Uma família estuda o seu orçamento e faz opções por (i) lazer sofisticado ou (ii) ensino de qualidade, dentre outras despesas. Partindo-se da premissa de que os recursos da família são limitados, é necessário efetuar trade-offs. Assim, por exemplo, quanto maior se tornar a despesa com ensino de qualidade, menos recursos sobrarão paTa o lazer sofisticado. Com o Estado acontece exatamente a mesma coisa. Também o Estado efetua trade-oí/s todos os dias.
Também o Estado possui recursos escassos, vivenciando a necessidade de realizar escolhas, sacrificando ainda que parcialmente outras opções que se apresentavam no conjunto de oportunidades disponíveis. Diante de um orçamento “apertado” , o Estado faz a opção entre investir em (i) moradia ou (ii) educação. Lamentavelmente, nem sempre há recursos para ambos. Para o Estado, muitas dessas opções são dramáticas - impondo dificuldades e responsabilidades aos agentes públicos. São as escolhas trágicas...
Não é ocioso lembrar que nas tragédias típicas não há possibilidade sequer de ponderação entre os valores oü còmpromisso - há apenas "à'èsc5ffial"que gera o sacrifício integral daquilo que não.foi escolhido.45 ******* Soa como trülsmo dizer que os estudos econômicos influenciam ãs escolhas públicas. Pode-se mesmo dizer que, nos dias que correm, diante do distanciamento da realidade que os estudos jurídicos apresentam, as escolhas são influenciadas preponderantemente, pela racionalidade econômica (voltaremos ao ponto - vide o item 12). Por mais não fosse, e apenas para exemplifiçar, é licito afirmar que a influência no plano poli- tico-institucional da doutrina econômica keynesiana46 foi fator determinante nos comportamentos dos governos no longo século XX.
44 Sobre a idéia do trode-o//e sua correlação com a escassez, por todos. STIGUTZ. Joseph E. et WALSH, Carl E. Introdução à microeconomia (trad. de Principies o f microoconomlcs por Helga Hotfmann), pp. 9 e seguintes.
45 POSNER, Richard. Fiontiers o f legal theory. Cambridge: Harvard University Press. 2001, p. 136.
46 Baseada na obra do economista JOHN MAYNARD KEYNES. O "déficit" tornou-se uma dos notas marcantes de sua obra: "Restava Isegundo Keynesl apenas um, e um só, curso
160
Introdução à Tfcoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Arvores
Dentre as teorias desenvolvidas por aquele economista, considerado o fundador da macroeconomia, destaca-se a de que o déficit orçamentário público é uma imposição da necessidade da atuação governamental eficiente em determinados ciclos econômicos, nota- damente em épocas depressivas, com o escopo de ativar os setores econômicos para a superação do ciclo depressivo, uma vez que o mercado seria incapaz de utilizar de maneira eficiente os recursos disponíveis.47 ■
Este modo de pensar realmente determinou o comportamento político, ou seja, as escolhas públicas, durante várias décadas do século XX. as quais assistiram ao exponencial incremento dos gastos públicos, originados pelos esforços das grandes guerras e pelas demandas ocasionadas pela expansão demográfica e pela vida urbanizada.48 De certa forma, pode-se dizer que a análise macroeconômica destina-se mesmo a orientar a gestão da coisa pública.
Já não se pode dizer o mesmo acerca das escolhas no plano puramente jurídico. De acordo com a racionalidade juridica dominante, fala- se em colisões entre normas. Em regra, as soluções para as colisões oferecidas pelas cortes judiciais - com amparo na doutrina juridica “vigente ou tradicional" - ignora por quase completo qualquer análise econômica (e os trade-offs reãis). ~
Na verdade, de modo geral, sequer são cogitados os efeitos econômicos das decisões judiciais. Delato, sem medo de incorrer em rigor excessivo, é possível afirmar que a análise juridica ignora quase completamente as variáveis econômicas envolvidas nas questões que lhe sacTpõstas para solução (tornaremos ao ponto no capítulo 12).
Em primeiro lugar, o juiz possui um ambiente de visão limitado pelas pretensões postas pelas partes, ignorânâcTõs êfèítos sociais dos seus julgados - o que limita o seu conjunto de oportunidades ~(e ,_põr- Tanto, as escolhas disponíveis),.o que afeta a qualidade da decisão. O juiz também não possui, no mais das vezes, instrumentos mínimos
de ação: a intervenção do governo para aumentar o nível dos gastos em investimentos - empréstimos e verbas governamentais para finalidades públicas. Ou seja, um déficit intencional'; (GALBRAITH, O pensamento econômico em perspectiva cit.. p. 211). Vide também PINHO. Manual de Economia cít., p. 48; e. sintcticamente. NUSDEO. Curso de Economia cit., p. 141, e FARIA, O Direito na economia globalizada cít., p. 113.
47 PINHO. Manual de Economia cit., pp. 26S-266.48 GIAMBIAGI e ALÉM, Finanças Públicas cit., p. 47; REZENDE. Finanças Públicas cit., p. 18.
161
Flávio Galdino
paia prever, por exemplo, as conseqüências não intencionais49 das suas degisõe.s. ......
Quando um juiz condena uma pessoa à prisão, estará ao mesmo tempo gerando sofrimento para os filhos desta pessoa. Esta é uma conseqüência não intencional da decisão. Possivelmente inevitável, mas, pelo menos previsfvel e admitida como uma espécie de custo aceitável para o bem comum (que consistiria no afastamento de uma pessoa perniciosa da convivência social).
Em sentido econômico, essas conseqüências não intencionais são consideradas externalidades.~Ãssim, por exemplo, quando em uma determinada atividade o empreendedor não arca com todos os custos de produção ou não recebe todos os benefícios dela, que serão percebidos por terceiros, diz-se que há extemalidades (negativas ou positivas, conforme o caso). Ajtividadejudicial - e talvez isso possa ser dito dos operadores do direito em geral - simplesmente jgnora as externa^ lidades çomo regra.
De toda sorte, de acordo com a análise Jurídica, ao menos consoante a concepção dominante entre nós - que será detidamente desenvolvida no capítulo 9 a escassez de recursos só criará colisões de direitos e opções trágicas "(fiando se tratar de direitos fundamentais ‘sociaisTnunca quando se tratar de direitos da liberdade. Uma vez que ós diféitõs ihdividuais ou da Úberdade não dernàndam prestação estatal (recursos), somente os sociais estarão sujeitos às escolhas trágicas.
Assim, parece correto dizer que a conduta meramente omissiva do Estado é exigível de plano e ipso facto pelo indivíduo, ao passo que a "ação positiva", também ao menos aparentemente, parece demandar análise prévia das possibilidades reais ou materiais para sua execução. Em suma, os direitos individuais (ou da liberdade), não integram as opções dadas às escolhas trágicas.
Novamente, à guisa de exemplo, observe-se que, de acordo com essa tipologia, serão puramente negativos os direitos de ir e vir e o direito de propriedade - exemplo aliás paradigmático » ’*■■ o respeito pela propriedade privada por parte do Estado e seus agentes, em princípio, dispensa qualquer ação positiva, ao contrário, - repele. Não
49 Sobro o tema das conseqüências nâo-intoncionais vide ELSTER. Jon. Peças e engrenagens das ciências sociais (trad. bras. de i'!uts and bolts for the social scienccj por Antônio lYAnsito). Rio de Janeiro: Reluine-Dumará. 1994, p. 113.
162
Introdução & Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem cm Árvores
se exige, com efeito, uma prestação estatal positiva para que seja possível o exercício destes direitos.
Com fulcro no mesmo critério, serão positivos, por exemplo, os direitos à educação e à saúde, os quais não podem ser autonomamen- te exercidos pelos indivíduos de per si, demandando atuação estatal em forma de prestação positiva para sua efetivação.
Esta é a distinção fundamental entre direitos positivos e negativos. Os primeiros são objeto de colisão por força da escassez de recursos, ao pàssò gueossegundüssãoindiferentes àescassez/ ~ ~ ‘
Esta talvez seja, realmente, a mais importante classificação dos direitos fundamentais, senão sob o aspecto dogmático, pelo aspecto prático (de sua utilidade), sob a ótica da e fe tiv id ade.so e, mais importante ainda, por orientar as escolhas sociais.
7.3.3. Relevância da análise crítica
Analisando tudo o que vem de dizer, é licito concluir que a positi- vidade, ou mais precisamente, a distinção entre direitos positivos e negativos é realmente o principal vetor de orientação:
(i) no plano teórico, da formulação de uma linha evolutiva dos Estados contemporâneos, do Liberal ao Social; e.
(ii) nô plano prático, da distribuiçacTde recursos escassos em relação ao atüãdimento de 13í rStôVfühâámèlít ais. * '“
É tema, portanto, da mais alta relevância, justificando-se a análise detida dos modelos de pensamento que consagram essa diferenciação entre direitos negativos e positivos, com o escopo de saber se a premissa em questão é correta ou não, por mais não seja, porque alterações nas premissas, via de regra, determinam alterações nas conclusões, in casu, nos modelos de alocação de recursos e direitos.
SO Sobre a efetividade dos direitos constitucionalmente protegidos (rectius: prometidos) veja-se BARROSO, O direito constitucional e a efetividade de suas normas c/t., passim. Ainda sobre a doutrina da efetividade, vide a contribuição critica e original de SOUZA NETO. Cláudio Pereira de. "Fundamentação e norenatividade dos direitos fundamentais: uma reconstrução teórica à luz do principio democrático". In Arquivos de Direitos Humanos volume 4 (2002): 17-61.
Capítulo VIII Direitos Fundamentais: as Gerações
8. Sobre as chamadas gerações de direitos
A tentativa de estabelecer a evolução dos direitos humanos no Brasil a partir de “modelos" ou “esquemas" teóricos certamente leva ao contato com inúmeras referências às chamadas “gerações de direitos".1
Preliminarmente, contudo, é muito importante salientar que os modelos teóricos (ou fases da dogmática juridica) cuja 'evolução' busca-se estabelecer em seguida (item 9), não se confundem de modo algum com a delimitação, já tradicionalmente referida pelos autores, dos direitos fundamentais em fases ou gerações históricas - há ainda quem prefira falar em dimensões ou gestações históricas.
Enquanto as referidas gerações têm em vista a prática institucional, isto é, o desenvolvimento real das instituições juridico-políticas, nosso estudo, nesta parte, dedica-se à evolução das idéias formuladas acerca dos direitos fundamentais.
Ainda assim as tais gerações merecem atenção crítica em separado, notadamente para demonstrar que (i) elas encontram-se comprometidas pelo excesso de preciosismo dos autores, e que (ii) a sua importação a-crítica tem revelado equívoco na análise da situação brasileira.
Com efeito, a aproximação critica ao tema das "gerações" demonstrou que as mesmas, por várias razões, afiguram-se inadequadas para a descrição do fenômeno de que pretendem tratar, pelo menos no Brasil. O presente capítulo, em linhas breves, pretende evidenciar essa inadequação.
Neste sentido, primeiramente alude-se às bases da “classificação geracional” (item 8.1), para de logo demonstrar que inexiste uniformidade de conteúdo em relação a cada uma das gerações- Tàmbém em relação ao número há divergências. Já se vislumbra, pois, uma inadequação intema, por assim dizer.
1 Uma versão preliminar deste estudo (oi anteriormente submetida à comunidade acadêmica: GALDINO. Flavio. “Reflexões sobre os chamadas gerações de direitos humanos". In RTDC 12 (2002): 59-70, tendo sido revista e aumentada para a presente edição.
165
Flávio Galdino
Mais importante, a tentativa de incorporar as gerações tal como desenvolvidas noutros paises à tradição jurídico-política brasileira revela a sua mais absoluta inadequação (neste caso, inadequação externa, isto é, em relação ao fenômeno que deveria designar). A parcela seguinte do capítulo (item 8.2) tenciona evidenciar que a experiência brasileira não se coaduna com as tais gerações de direitos humanos descritas pelo aludido estudo inglês.
Em conclusão deste capitulo, sustenta-se que a inadequação da classificação geracional torna veramente desaconselhável o seu uso.
8.1. A visão da classificação geracional no pensamento jurídico brasileiro
A tradicional formulação geracional apresenta alguma utilidade para compreensão dos fenômenos em questão, embora suscite hoje muitas cautelas, pois, como também sói acontecer com as construções dogmáticas, os vários autores - muitos deles no afã de inusitada originalidade, que neste caso também padece do vício da inutilidade - atribuem conteúdos diversos às várias gerações.
Em verdade, não há uniformidade sequer quanto ao número de gerações a serem listadas (três, quatro ou cinco?). Na medida em que a linguagem não seja unívoca, torna-se perigosa à ciência a sua utilização. Por exemplo: quais são os direitos de terceira geração? A resposta depende do autor consultado, o que é perigoso do ponto de vista científico. O de que se há mister em ciência - em especial do Direito - é a precisão terminológica.
Atribui-se a construção geracional originária a T.H. MARSHALL.2 Este autor, professor emérito de Sociologia da Universidade de Londres, estudando o desenvolvimento histórico (institucional) da cidadania na ingiaterra, dividiu-a em três elementos predominantes, o civil, o politi-
2 Tlrata-iB tio livro Südology ac che czossroads and other essays; há tradução para o vernáculo intitulada Cidadania, classe social e status (uad. bras. de Meton Porto Gadelha). Rio de Janeiro: Zabar Editores. 1967. onde indica-se a data da obra original: 1963. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA ("Cidadania e res publica: a emergência dos direitos republicanos" cit., p. 162), dos poucos autores que adota expressamente a genealogia de MARSHALL, indica Citzenship and social dass, segundo ele. originalmente publicado em 1950: livro este a que, contudo, ainda não tivemos acesso, tomando materialmente impossível a referência direta. Ainda sobre MARSHALL, confira-se a sintese de ESPADA, João Carlos. Direitos sociais da cidadania. São Paulo: Massao Ohno Editor. 1999. PP-16 e seguintes.
Introdução à Ifeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
co e o social, e buscou estabelecer as sucessivas fases em que surgiram os respectivos direitos na prática político-juridica inglesa.
Em apertáâa síntese, observou MARSHALL, argutamente, que, na prática institucional inglesa, o exercício das liberdades civis - amparado pelo Poder Judiciário razoavelmente independente - permitiu o acesso dos indivíduos aos direitos políticos, os quais, consolidados pela ação partidária, conduziram à aprovação de legislação que consagrou finalmente os direitos sociais.3 Cuida-se dê^studõ de natureza sòciólogicaT tendente a verificar, empiricamente, como os direitos se HSsénvolveram na sociedade estudada.
O estudo de MARSHALL tem a virtude de tornar a cidadania um parâmetro na investigação científica em torno aos direitos,4 embora eventuais falhas na comunicação entre os estudos sociológicos e jurídicos possam ser causa de imprecisões e mesmo de conclusões equivocadas (como em verdade ocorre). Muitas vezes, objetivando referir a evolução empírica dos direitos, isto é, no plano da efetividade social, escritores referem-se à simples "evolução normativa” que cuida apenas da sucessiva positivação de normas.
Os autores brasileiros, de um modo geral, não têm hábito de fazer referência a esta construção original, embora sirvam-se dela em essência, ainda que por fontes indiretas.
Com efeito, a construção teórica aparentemente mais utilizada e referenciada entre"n’ó i5lbêm como alhures6), difere fundamentalmente três gerações de direitos fundamentais, a saber:
3 MARSHALL, Cidadania, classe social e status cit., p. 63: e ainda CARVALHO. José Murilo de. Cidadania no Brasil - o longo caminho. Rio de Janeito: Civilização Brasileira, 2001, p. 220.
4 Consoante FERRAJOLI, Luigi. Dorcchos y garantias - La ley dei mâs débil (compilação e tradução espanhola por Perfecto Andrês Ibánez e Andrea Greppi). Madrid: Editorial Rotta, 2001, pp. 97 e seguintes, onde este autor desenvolve profundo estudo acerca da cidadania adotando como parâmetro o modelo de MARSHALL.
5 Veja-se PIOVESAN, Proteção judicial contra omissões legislativas cit., p. 31, n® 18 (com referência ao "precioso" trabalho MARSHALL). Vide também FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 2» edição. São Paulo: Saraiva. 1998, p. 6 et passim, e oCtiAViDEá. Paulo. Curso de Direito Cuusuiucionai. 6* ed. São Paulo: Ma- lheiros, 1996. pp. 514 e seguintes, os quais, sem fazerem referência a MARSHALL, atribuem a construção original a KAREL VASAK (pp. S8 e 517, respectivamente), em referência a um texto de 1979. Muito interessante - até porque parte de outro paradigma - a construção do NEVES, A constitucionalização simbólica cit., pp. 144 e seguintes, referindo uma etapa prévia às aludidas gerações que seria o reconhecimento dos direitos subjetivos privados.
6 CANOTILHO, Direito Constitucional e Iboria da Constituição cit., p. 362. ARA P1N1LLA. Lãs transíormacioncs de ios derechos humanos cit., pp. 112 e seguintes.
Flávio Galdino
(i) direitos de primeira geração: os direitos individuais e políticos - verbi aratia.liberdade de expressão e participação política
(ii) direitos de segunda geração: os direitos sociais, culturais e econômicos - exempli gratia, direito à presta^ão assistenciaí Be saúde - e
(iii) direitos de terceira geração: os chamados direitos de solidariedade ou da fraternidade7 - como sejam direitos de titularidad e coletiva ao meio ambiente saudável e ao desenvolvimento.
Tàl como referida, essa r.lassifigggãn inariequadajtgm sendo em- pregada pela jurisprudência brasileira, inc^isive pela jurisprudência do Supremo /ItibunaLFederal,8 o que aumenta sobremodo o interesse em estudá-la mais detidamente.
Fato é que a aludida classificação geracional foi ampliada por alguns e modificada por outros, passando a prever uma quarta geração9
7 Quanto ao fundamento comum de tais direitos - fraternidade ou solidariedade - não há concerto entre os autores. PAULO BONAVIDES. Curso de Direito Constitucional cit., p. 523 fundamenta na fraternidade. FERREIRA FILHO, Direitos humanos fundamentais cít., p. 57, prefere fixar o fundamento na solidariedade. Parece haver razão na observação de RICARDO LOBO TORRES, "A cidadania multidimensional na Eca dos Direitos" c/c.. p. 241, no sentido de que ambas as expressões são fungíveis (e ambas por demais abstratas), explicando que "solidariedade” substituiu no século XX o termo 'fraternidade", o qual, fruto célebre da Revolução Francesa, teria perdido vigor durante o século XIX.
8 De fato, é a classificação adotada em vários julgados do Supremo lYibunal Federal, como fazem certo as decisões seguintes: STF, Ttibunal Pleno, ADI 51/RJ. Relator o Ministro PAULO BROSSARD. julgado em 2S.10.1989. e STF. Primeira Turma. RE 134297/SE Relator o Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 13.06.1995. Confira-se ainda a expressa adesão da Ministra ELIANA CALMON, do Superior TYibunal de Justiça, em sede doutrinária (CALMON, Eliana. "As gerações dos direitos e as novas tendências". Jn Revista de Direito do Consumidor 39:41-48).
9 PAULO BONAVIDES, por exemplo, fala nos direitos à democracia, à informação e ao pluralismo como direitos de quarta geração (Curso de Direito Constitucional cit., pp. 524 o seguintes). 'Kuribém CELSO LAFER fala em direitos de quarta geração, especificando que se uata, ao lado dos de terceira geração, de direitos de titularidade coletiva, diversamente daqueles que integram as duas gerações anteriores, de titularidade individual, sem, convido, especificar detalhadamente os respectivos elencos (A reconstrução dos direitos humanos cit., p. 131). INGO SARLET, embora afaste a existência de uma quarta geração, segundo ele ainda pendente de reconhecimento (in A eficácia dos direitos fundamentais cit., p. 52). refere a posição de LAFER. sem ressalvas (p. 171), o que poderia fazer presumir adesão. FÀBIO KONDER COMPARATO (COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva. 1999, p. 255 et passim) usa falar em “etapas de afirmação dos direitos humanas" e também refere uma quarta etapa, de direitos cuja titularidade pertence à humanidade integralmente considerada.
168
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
e até mesmo uma quinta geragão de direitos fundamentais,10 cujos con- teúdos restam ainda carentes de especificação mais consistente.
Ocorre que tais ampliações ê~mô3ificações não se encontram perfeitamente assentadas (nem justificadas, seja permitido afirmar), havendo ampla controvérsia entre os doutores acerca dos respectivos conteúdos e mesmo quanto aos seus fundamentos,11 controvérsia esta que alcança, aliás, também as demais gerações aludidas (e até mesmo fora do Brasil12), tornando a utilização da nomenclatura geracional, acaso desacompanhada dos devidos esclarecimentos, muito pouco informativa e, portanto, desaconselhável em sede científica.
Ademais, como se passa a demonstrar em seguida, as gerações brasileiras não seguircum - e seria de estranhar justamente se o fizes- "sim^ o modelo inglês, ao contrário do discurso muitas vezes acritica- mente reproduzido.
8.2. Algumas luzes sobre as gerações brasileiras de direitos humanos
Muito se tem dito acerca do risco que representa a importação a- crítica de modelos e idéias produzidas noutros países, noutras culturas.^ No que concerne às classificações geracionais, alguns estudos, por assim se dizer, “extrajurídicos", vêm demonstrando, já de algum
10 Lembre-se de JOSÉ ALCEBÍADES DE OLIVEIRA JÚNIOR inclui em uma quarta geração direitos relacionados à biotecnologia (v.g. de manipulação genética) e na quinta direitos decorrentes da realidade virtual {in Teoria jurídica e novos direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2000, p. 86).
11 Ad exomptum tancum, registre-se que FÁBIO KONDER COMPARATO empresta sua autoridade ao entendimento de que a solidariedade ó o fundamento dos direitos sociais - geralmente indicados como de segunda geração ao contrário dos que entendem tratar-se do fundamento referente à terceira geração, conforme supra-indicado. Confira-se COMPARATO, A afirmação histórica dos direitos humanos cit.. p. 52.
12 GANOTILHO, Direita Constitucional e Tteoria da Constituição cít.. p. 362, que inclui os chamados direitos sociais na terceira geração (mais precisamente, dimensão), e fala em uma quarta geração, que seria integrada pelos direitos dos povos ou da humanidade (e.g. direito de autodeterminação, direito ao desenvolvimento etc.).
13 Sobre o tema, veja-se YAZBEK, Otávio. “Considerações sobre a circulação e transferência dos modelos jurfdicos". In QRAU, Eros e GUERRA FILHO, Willis Santiago (orgs.). Direito Constitucional - Estudos em homenagem a Paulo Ronavides. São Paulo: Malheiros. 2001. pp. 640-557. Vide também URRUTIGOITY, "El derecho subjetivo y ia legi- timadón procesal administrativa' de., p. 304.
169
Flávio Galdino
tempo, a imprecisão consistente na utilização dogmática do modelo evolutivo inglês,14 quando aplicado à experiência brasileira
Em primeiro lugar, critica-se a própria fragmentação dos direitos em gerações históricas, ao argumento de que os direitos humanos "constituem üm tõdõ incindivel, indivisível, servindo as infundadas divisões para segregar e postergar a realização de alguns deles, ts
Ainda neste sentido, critica-se a própria idéia de sucessividade dos direitos humanos, argumentando-se que seu surgimento foi conci> mitante. Ademais, a idéia de sucessividade parece contrariar os postu- lid os da indivisibilidade e universalidade dos direitos humanos, que se vêm sedimentando cada vez mãis ria dõutriha.1 Nesse passo, a critica talvez seja injusta, pois a análise de MARSHALL pretendeu descrever realidade e nãq julgá-la - e a história realmente registra a adição gradativa de direitos às pessoas.17 ~ ”" Essa última crítica ainda dirige suas armas à própria expressão “gerações de direitos humanos", sustentando a necessidade de sua substituição por “dimensões de direitos humanos", que melhor designaria o fenômeno18 (embora a expressão dimensões seja utilizada também para referir outras construções teóricas nessa mesma temática1 )
14 Sem prejuízo das demais obras referidos, inspira-nos fundamentalmente a obra de CARVALHO. Cidadania no Brasil cit.. Com a expressão cidadania, o autor refere-se aos direitos individuais, políticos e sociais indistintamente. Concorda expressamente com ele a historiadora GR1NBERG, O fiador dos brasileiros cit., p. 31.
15 Conforme a critica aguda de PIOVESAN. Flávia. Direitos humanos e o Direito Constitucional Internacional. 3a edição. São Paulo: Max Limonad. 1997, pp. 19-20. Cuida- se de alteração no posicionamento da autora, a qual, consoante já observado, noutra obra. exaltava sem ressalvas as virtudes dessa classificação - PIOVESAN. Proteção judicial contra omissões legislativas cit., p. 31, na 18.
16 Por todos, as referências de WEIS, Carlos. Direitos humanos contemporâneos. São Paulo: Malheiros. 1999, p. 42; mais adiante (p. 43) este autor refere-se à perigosa improprieda- de da locução, que não permite enxergar a indivisibilidade da dignidade da pessoa humana.
17 Correta GRINBERG. O fiador dos brasileiros cit., p. 11 S.18 Ressalva PAULO BON AV1DES que “o vocábulo " dimensão" substitui com vantagem lógi
ca e qualitativa o termo "geração", caso este último venha a induzir apenas sucessão ■ •r,m<ir>gii;a e, portanto, caüucidade do» direlUiá tias gerações antecedentes, o que não ó verdade" (Curso de Direito Constitucional cit., p. S2S). posição a que aderem expressamente o português CANOTILHO. Direito Constitucional e Teoria da Constituição cit.. p. 363, n“ 27, INGO WOLFGANG SARLET. A eficácia dos direitos fundamentais. Potto Alegre: Livraria do Advogado. 1998, p. 46, e GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1999. p. 40.
19 Utilizando a expressão "dimensão" em sentido diferente - aplicado á importante noção de ddadania, e, concessa venia, muito mais adequado, consulte-se TORRES, "A cidadania multidimensional na Era dos Direitos" cit.. p. 252 (até porque a expressão goraçáo
170
Introdução i Traria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
havendo registro ainda de que se prefira a expressão “gestação dedireitos humanos".20
Além dessas criticas e já no que concerne ao Brasil, especificamente, é licito afirmar - em linhas simplificadas - que, ao contrário do que ocorreu na prática institucional inglesa, na práxis brasileira vieram^ em primeiro lugar os direitos sociais, seguidos ao depoisjpela expansão cl5S"díreitos políticos, e hoje, finalmenté. pelos direitos civis, os quais," embola prometidos, ainda restam sistematicamente violados e inacessíveis a boa parte da pQDulacão.
A análise histórica21 realmente demonstra que no período do Império (1822-1889) não havia efetividade de quaisquer direitos. O despótico período coloriüf(Í500 - 1822) deixara de herança um país sem cidadãos, praticamente sem a experiência da liberdade.22
' ' Fortemente marcado pela escravatura (total ausência de liberdade individual)- o Brasil foi o últimio"pãís^e Tradição cristã e ocidental a libertar os seus escravos (1888), o que implicava a completa desquali- ficação jurídica de boa parte da população (os escrávoserãm considerados coisãs)."iendo certo que mesmo as pessoas livres (em sua maior parte analfabetas) não dispunham das liberdades eventualmente nominalmente prometidas.23
parece consagrada na linguagem cientifica). Posição curiosa é a de VIEIRA DE ANDRADE. que a utiliza em vários sentidos diversos ao longo de seu livro (Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976 cit.. exempli gratia capitulos I o V).
20 Assim. MORAES. Guilherme Braga Peõa de. Dos Direitos Fundamentais - contribuição para uma teoria. São Paulo: Ltr. 1S97, p. 70.
21 Cuidando-se de texto juridico, a exposição histórica procura primar pela simplicidade, analisando apenas os "grandes movimentos* históricos.
22 A aguda sensibilidade de MIGUEL REALE registra que no periodo colonial a dispersão populacional, observando-se alguns contingentes de pessoas alheias ao Poder central eis que instaladas em espaços onde este não exercia atuação, deu origem a “espontâneas vivências de liberdade", experiência muitas vezes inconsciente, mas verdadeiramente livre; REALE, Miguel. "Dimensões da liberdade na experiência juridico-social brasileira". In REALE, Miguel. Nova fase do direito moderno. 2» edição. São Paulo: Saraiva. 1998. pp. 171-177, esp. p. 172.
23 Kcr~. partiam, consoante observa ORLANDO GOMES, exercer os direitos ci' >n legalmente estruturados (GOMES, Orlando. Raizes Históricas e Sociológicas do Código Civil Brasileiro. Salvador: Livraria Progresso. 1958). Este autor anota que o Código fora formulado para ser aplicado i elite cultural e econômica do Pais (p. 33), cujo contingente populacional se aproximava de trezentas mil pessoas, deixando à margem da legislação civil os demais nove milhões (p. 39) e denotando claro descompasso entre o direito escrito e a realidade. Sem embargo, o autor reconhece e enaltece a função educativa desempenhada pelo Código na evolução cultural do pais (p. 71). De acordo. REALE, "Dimensões da liberdade na experiência juridico-social brasileira" cit.. p. 175. Ibmbém de acordo, comentando as constituições simbólicas brasileiras, NEVES, A constitucionaUzação simbólica cie., p. 154.
171
Flávio Galdino
Lembre-se que nesta época se estava longe de reconhecer o que hoje chamamos forca normativa aos textos constitucionais, completamente despidos de efetividade (no sentido de eficácia social), embora a discussão acerca da extensão do direito de propriedade no positivismo juridico que então se instaurava, tivesse guiado durante todo o período o tema da escravatura,24 em sua complexa conjugação com o liberalismo idealizado que se professava no Parlamento e nos auditórios acadêmicos.
À guisa de exemplo, observe-se o habeas corpus, direito civil na sua acepção mais lata, por excelência. De origem anglo-saxônica, este instrumento multissecular de proteção à liberdade individual, e mais do que isso, de proteção à própria integridade física do indivíduo foi completamente deformado (e piorado) pela prática institucional brasileira do final do Império e do início da República. Com efeito, consoante a própria expressão designativa - habeas corpus (tenhas o corpo) dessa garantia defluía a necessidade de imediata apresentação do preso perante o juiz, para controle da regularidade da detenção, e, principalmente. da respectiva integridade física.25 Hoje, no Brasil, o instituto assume características quase predominantemente recursais.
O único ensaio de verdadeira cidadania registrado no período imperial (e já na República Velha) diz respeito aos direitos políticos Tque sequer integravam o conceito então vigente* de cidádaniã25) '- ' houve eleicõe_s.inintgrruptasLde-1822.a 1930 no pais. Mas estes também não passaram de simples promessa, uma vez que as práticas eleitorais impediam o desenvolvimento da cidadania, tudo agravado pela famigerada reforma eleitoral de 1881 .27 Direitos sociais não eram sequer
24 PENA, Pajens da Casa Imperial cit., pp. 72,115 et passim.25 IV» interessante, merece registro o premiado estudo de KQERNER, Andrei. Habeas cor
pus, prática judicial e controle social no.Brasit (1841-1920). Sâo Paulo: IBCCrim. 1999.- - Passim et esp. p. 119: "Esses resultados não são surpreendentes, pois as icgras de utili
zação do habeas o o i j j u s traduzem a articulação entre a prática judicial, as práticas .a- legais de controle social é a estrutura da sociedade escravista, brasileira. A estrutura social colocava de forma permanente o problema do controle da mobilidade fisica dos pobres livres o dos escravos e, pois, nela era central a prática, pelas autoridades públicas, da efetiva ou virtual detenção a-Iegal desses Individuos. Naquela sociedade, esses indivíduos não eram integrados à ordem juridica e política enquanto cidadãos, mas subordinados por mecanismos de violôncia explicita e/ou favor".
26 Sobre o tema, GRINBERG, O fiador dos brasileiros cít., pp. 112-113.27 José Murilo de CARVALHO (Cidadania no Brasil cít., pp. 38-39) refere o fenômeno como
"tropeço" de 1881, ano em que o Poder Legislativo constituído aprovou reformas eleitorais, introduzindo o voto direto, ainda censitário, tendo sido elevado o limite de renda.
172
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
cogitados. Durante a primeira República (1889 - 1930) este quadro não foi alterado em nada-
Após a revolução de_1930. notadamente a partir de 1937, ocorre curioso fenômeno. Em um Estado totalitário, em que a representação política não passava de fachada, e em que os direitos individuais não eram tutelados. floresçeram.ojS-direitos sociais28 - em verdade, se for o caso, a primeira geração brasi7eíra dejlireLtos fundamentais.29
O olíjeto 'centrai'da política populista de então foi a expansão das garantias_.s_ociais dos-.trabalhad.oxes... A cidadania - leia-se: direitos sociais -, neste momento, era diretamente referida não a um conjunto de valores políticos consagrados, mas sim a um sistema de estratifica- ção ocupacional definido pela legislação social - é, na linguagem especializada já consagrada, a cidadania regulada.30
Em realidade, tais direitos sociais consistiam em privilégios específicos de determinadas classes de trabalhadores politicamente Influentes, excluindo-se muitas outras (como os desde sempre marginalizados trabalhadores rurais, por exemplo), e eram decorrentes de alianças setoriais. Não é o Estado fundado na cidadania, mas a cidadania dependente do Estado (da burocracia estatal).31
Ainda assim, convém ressalvar que a tutela dos direitos sociais restringia-se a direitos sociais trabalhistas (e eventualmente previden- ciários), não englobando muitas outras situações jurídicas que são
bem como aperfeiçoado o sistema de controle dessa renda. 0 resultado íoi a diminuição drástica do contingente eleitoral numa ainda incipiente formação política. Com a reforma, reduziu-se o contingente de votantes de 13% - o que correspondia a mais de um milhão de pessoas, bastante superior à Inglaterra da mesma época, com apenas 3% - para 0,8% da população, o que representou um retrocesso deplorável e duradouro.
28 CARVALHO, Cidadania no Brasil cit.. pp. 110 e seguintes.29 A exemplo do que ocòrrera na ésfera tnfernâcióris). Deveras,'observa CELSO MELLO, o
intemacionalista, que no âmbito do Direito Internacional, a primeira geração dos direitos fundamentais é constituída pelos direitos sociais (cujo marco histórico de reconhecimento na seara internacional ófe criação da OIT - Organização Internacional do Ttabalho cm 1919). ao contrário do Direito Interno, em que integram a segunda ou mesmo terceira geração (consulte-se MELLO, Direitos humanos cit. p. 43); no mesmo sentido. PIOVESAN, Direitos humanos e o direito constitucional internacional, pp. 19-20.
30 A terminologia é de SANTOS, Vfonderloy Guilherme dos. Cidadania e justiça - a política soáal na ordem brasileira. 3* edição. Rio de Janeiro: Campus, 1994, p. 68.
31 A que inspiradamente se chamou estadania, ao invés de cidadania. Assim em CARVALHO. Cidadania no Brasil cit., pp. 61. 221. Ainda sobre o tema. WOLKMER. Antonio Carlos. Constitucionalismo e direitos sociais no Brasil. São Paulo: Acadêmica, 1989, esp. p. 48 et passim.
173
Fl&vio Galdlno
entendidas como direitos sociais, como sejam direito à saúde, direito à moradia, direito à educação e assim por diante.
Os direitos políticos mostram sua face no periodo que va ide 1945 a 1964, quando são violentamente assaltados pelo golpem ilitar de março daquele ano. Uma face ainda disforme eis que o populismo - marca do período, antecedido e sucedido por momentos de marcante autoritarismo - desfigura a cidadania embrionária, inexistindo sociedade organizada em torno a direitos.
Somente com a redemocratizaçáo, já em 1985, o país voltaria a expressar valores democráticos, que são, como se sabe, companheiros indissociáveis dos direitos politicos. Neste ponto, é de se ressaltar quão benfazeja tem sido a nossa experiência institucional recente, recheada de eventos politicos conturbadores, sem que tivessem sido colocadas em risco as instituições, respeitado o exercício dos direitospolíticos.32
Registre-se, exemplificaüvamente, o singular episódio do impeach- ment do primeiro presidente da República eleito em décadas (ainda em 1992) e a “queda” de dois Presidentes do Senado Federal em 2000 e 2001 (típicos representantes de oligarquias regionais ameaçados de cassação em razão de, no mínimo, falta de decoro parlamentar). Tudo isso, insista-se, sem que, ao menos aparentemente, fossem colocadas em xeque as instituições democráticas.
Neste quadro, é desoladora a situação dos direitos civis (scrícto sensu). Ensina MIGUEL REALE que as palavras são as melhores testemunhas de seu tempo. Sem que tenhamos que referir estatísticas, nosso cotidiano incorpora e revigora expressões como chacina, massacre, detenção arbitrária, bala perdida, superlotação de cadeias, seqüestro, tortura, e tantas outras que nos envergonham diante do mundo civilizado e de nós mesmos enquanto nação.
A violência, inclusive e principalmente a estatal-institucionaliza- da, é a marca mais cruel da violação sistemática e organizada dos direitos humanos. Enorme contingente populacional tradicionalmente só conhece o Direito e o Foro através do Código Penal, como ‘ incursos" ou vitimas, o que faz com que não se trate de acesso à justiça como direi
32 Ressaltando as virtudes do novo constitucionalismo brasileiro, e tributando à formação de um sentimento constitucional no pais a estabilidade política, BARROSO. Luis Roberto. “Doze anos da Constituição Brasileira de 1988', in Temas de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, pp. 3-48.
174
Introdução à Tèoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
to, mas sim de um dever.33 Também a liberdade, afirma-se, é distribuída de forma injusta no país,34 refletindo no Direito os altíssimos níveis de injusta concentração de renda entre nós. Neste sentido, oportuno anotar que estudos especializados35 observam que a desigualdade aumentou após 1988, sugerindo que os indivíduos mais ricos foram “mais capazes” de defender (também juridicamente) sua renda real do que os mais pobres através das várias crises econômicas que o país atravessou.
Sem embargo, há luz no fim do túnel. De fato, tem-se assistido à incorporação do discurso dos direitos ao discurso público (e também ao popular). Os institutos e a práxis constitucionais vêm permitindo a judicialização das relações sociais (e da política), dotando finalmente o Poder Judiciário de uma inédita capilaridade,36 tornando-o e ao próprio Direito, aos poucos, aptos a assimilarem conflitos outrora afastados, e permitindo a tutela de diversos direitos - como, por exemplo, os direitos dos consumidores - antes excluídos da arena judiciária, ou, quando admitidos, pessimamente tutelados.
A seu turno, pode-se dizer que uma das principais preocupações da moderna processualística é a universalização da tutela jurisdicio- nal.37 Essa evolução é importantíssima. Inexiste cidadania plena sem direitos civis na base. Fala-se, com insuperável autoridade, em um modelo cívico como base da cidadania.38
Em todo o período abordado é sintomática a ausência de referência no discurso juridico dominante à cidadania propriamente dita, pelo
33 Consoante a observação de FALCÃO, Joaquim de Arruda. "Acesso à justiça: diagnóstico e tratamento*. In Associação dos Magistrados Brasileiros (org.). Justiça: promessa e realidade. Rio de Janeiro: Nova Ftonteira, 1936, pp. 269-283. esp. p. 274.
34 Na eloqüente expressão de BARROSO, Luis Roberto. “Eficácia o efetividade do direito à liberdade". In Arquivos de Direitos Humanos 2 (Rio de Janeiro: Renovar. 2000): 81-99. esp. p. 99.
35 BONELLI. Régis e RAMOS, La ura. 'Distribuição de renda no Brasil: avaliação das tendências de loi.go praze e mudanças na desigualdade desde meados dos anos 70”. In Revista de Economia Política 50 <1993): 76-97.
36 A expressão é de VIANNA. Luiz Werneck; CARVALHO, Maria Alice Rezende de; MELO. Manuel Palácios Cunha; et BURGOS, Marcelo Baumann. A judicialização da politica e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: REVAN, 1999, p. 43.
37 For todos, D1NAMARCO. Cândido Rangel. 'Tutela jurisdicional*. In DINAMARCO, Cândido RangeL Fundamentos do processo civil moderno. Volume II. 3* edição. São Paulo: Malheiros, 2000, pp. 797-837.
38 Consoante a proposta do saudoso SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. 2* edição. São Paulo: Nobel, 1993, p. 99.
Flávio Galdino
menos no sentido em que hoje a entendemos e que a expressão gera- póes pretende inculcar.
^ Durante largo tempo - talvez desde sempre - o conceito de cidadania utilizado pelos estudiosos de Direito foi reduzido, deformado para receber conteúdo quase exclusivamente normativista, como que um atributo concedido pelo Estado, confundindo-se em boa medida com o conceito - formal - de nacionalidade. Pena ilustre afirmou, já desde há muito, que cidadão e nacional eram expressões equivalentes.39 De outro lado, falou-se, muito a propósito, que a cidadania foi aprisionada pela nacionalidade.40 Assim também, houve quem falasse em cidadania no sentido de direitos civis. São abordagens claramente insuficientes.
A cidadania é pressuposto dos direitos humanos, devendo o con- ceito ser compreendido em suas múltiplas dimensões.41 O presente
_estudo pretende contribuir de alguma forma nessa ingente tarefa de construção do conceito de cidadania.
E a contribuição crítica possível tenciona demonstrar que o modelo de gerações de direitos de MARSHALL, em que se identifica em linhas gerais uma primeira geração de direitos da liberdade, seguidos por direitos políticas e ao fim por direitos sociais, não é adequado para referir a experiência brasileira, em que a evolução revela traços bastante diversos. Mesmo em caráter metafórico - sem pretensão de precisão na descrição histórica,42 pois -, em aplicação à análise dos direitos humanos no Brasil, é equivocado, pois parte de premissa inconsistente, devendo ser evitado.
Em conclusão, é correto afirmar que seria tolo achar que só há um caminho para a cidadania.43 Como se sabe, muitos caminhos levam a Roma. E a cidadania brasileira vem trilhando seu próprio caminho, com marchas e contramarchas, mas caminhando.
39 RUI BARBOSA. República: teoria e prática - textos doutrinários sobre direitos humanos e polit.~os consagrados na Primeira Constituição Republicana (org. Hildon Rocha). Petrópolis: Editora Vozes/Câmara dos Deputados, 1978, p. 72.
40 Assim ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Cidadania: do Direito aos direitos humanos. São Paulo: Editora Acadêmica, 1993, p. 29.
41 Dentre os muitos autores que vêm se dedicando ao tema, confira-se TORRES, “A cidadania multidimensional na Era dos Direitos" de.. passim; LAFER, A reconstrução dos direitos humanos cit., pp. 150 e seguintes.
42 Neste sentido, WEIS, Carlos. Direitos humanos contemporâneos cit., p. 41.43 CARVALHO, Cidadania no Brasil cít.. p. 239.
176
Introdução à Tfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
No que se refere às gerações de direitos, além de outras possíveis críticas (conforme referido no item 8.1), a ausência de uniformidade quanto ao número de gerações e, muito especialmente, quanto ao con- teu3õ‘dê cáHá ünia das gerações de direitos humaiwFtõrna'aTsüa üti- Uzã^õ"- ãó' minôs ~se déisacóimpáhhada das explicações pertinentes
“(comcTè usual) realmente desacqnselhável.Em sede crítica, a verdade, via de regra ignorada pela retórica
dominante nos estudos de Direito, está em que o modelo de “gerações de direitos" de MARSHALL, idealizado para descrever a evolução bri- tamca7~hão é necessariamente adequado para outras sociedades (nem era essa a sua pretensão41)). Em especial, no que nos interessa, vê-se que esse modelo vemsendo utilizado de forma irrefletida e a-critica no Brasürembora seja manifestamente inadequado para descrever a "evolução” da cidadania brasileira.45
O modelo de MARSHALL revela a evolução institucional britânica (ou anglo-americana), e que foi incorporada ao discurso dominante no mundo ocidental - inclusive nas Constituições brasileiras, sem que a nossa prática política pudesse demonstrá-la. Sua utilização a-critica, em aplicação à análise dos direitos humanos no Brasil, é equivocada, pois parte de premissa inconsistente, devendo ser evitada.
De toda sorte, repise-se que os modelos ou fases que se tenciona estabelecer no presente trabalho não se confundem com a referida formulação geracional, já que observam critérios diversos, sendo oportu- ncTréssalvar, contudo, qüê"tãis critérios não são meramente tangentes, senão secantes mesmo, na medida em que cuidam do mesmo objeto - os direitos fundamentais.
Sem embargo, repita-se: trata-se aqui de um breve inventário de idéias (evolução ideológica) acerca da positividade dos direitos fun
44 Correto quanto ao ponto VIEIRA. Liszt. Cidadania e globalização. Rio de Janeiro: Record. 1997. p. 22.
45 Cf. ANDRADE, Cidadania: do Direito aos direitos humanos cit., pp. 68 e seguintes. Muito embora sem maiores explicações, FLÁVIA PIOVESAN expressa o entendimento de que se trata de noção historicamente infundada - PIOVESAN, Direitos humanos e o direito constitucional internacional cít., p. 19. No sentido do texto, BARRETO, Vicente. "O conceito moderno de cidadania”. In Revista de Direito Administrativo 192 (1993): 29-37, esp. p. 33. E ainda: WEIS. Carlos. Direitos humanos contemporâneos cit., p. 40: ~A classificação tradicional, porém, tem sido objeto de recentes criticas, as quais apontam para a nâo-correspondência entre as gerações o o processo histórico de nascimento e desenvolvimento dos direitos humanos".
177
Flávio Galdino
damentais. e não de história institucional dos próprios direitos fundamentais. " .....•
Tbdávia. deve-se de logo ressalvar, na medida em que a diferença entre os direitos de liberdade e os direitos econômicos e sociais repousa justamente na positividade destes últimos, que os resultados finais da avaliação que se leva a cabo acerca dos direitos positivos e negativos farão descortinar um equivoco amparado também naquelas classificações geracionais (embora, sob o prisma da história institucional, o critério abstrato de divisão em gerações persista válido - errada mesmo está a importação a-critica da evolução britânica).
E mais. a discussão desenvolvida acerca da positividade dos direitos (especialmente dos direitos fundamentais) busca demonstrar que novas luzes iluminam essa temática, com amplos e profundos reflexos sobre as complicadas e sempre atuais questões em torno da sindicabi- lidade dos direitos fundamentais, em especial dos chamados direitos sociais.
i l
Capítulo IX Modelos de Pensamento sobre Direitos no Brasil
9. Evolução das idéias acerca dos direitos positivos e negativos no Brasil
Uma vercão anterior deste capitulo foi publicada sob os auspícios do Professor Ricardo Lobo Ibrres: GALD1NO. i-lavio. “O custo dos direitos '. in TORREÔ. «ícarUo Lobo. Legitimação dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Renovar. 2002. pp. 139-222, esp. p. 157. Neste sentido, em vernáculo, COMPARATO, A afirmação histórica dos direitos humanos cit.Para nos servirmos das expressões ao gosto dos ingleses, pode-se afirmar que a primeira parte do presente estudo versa sobre a law in the books, e não sobre a law in oction. Sobre a diferença entre as várias perspectivas no estudo de cunho histórico - história dosinstituições, das fontes, ou da dogmática juridica, et alii. v. HESPANHA. Antônio Manuel. História das Instituições. Coimbra: Almedina, 1982, pp. 11 e seguintes.
179
fSem embargo do grande interesse que essa evolução institucional
desperta,1 não nos importa neste momento a linha evolutiva das instituições jurídicas (ou a história dos direitos do homem2); de fato, inte- ressa-nos por ora a evolução das idéias, a qual demanda outro tipõ de , ;analise histórica, diversa daquela e fundada precipuamente na produ- "ção acadêmica e intelectual, cujas obrasse tomam por assim dizer os ^"fatos históricos” sob análise.3
Assim, tem-se poT escopo aqui tão-somente apresentar um panorama - de traços simples, porém seguros - da concepção atualmente ^ admitida acerca dos direitos fundamentais, enquanto sejam positivos ou negativos, e do processo intelectual que se seguiu até o presente momento. Cuida-se de estudo de caráter instrumental, e que se destina a fundar as bases para a demonstração de que a obra posteriormente submetida a análise - The cost o f r igh ts - consubstancia um momento de amadurecimento da concepção corrente acerca dos direitos.
O estudo que se segue, contudo, tem seu objeto restrito à produção de idéias tal como difundidas no Brasil (rectius: a partir da produção de autores brasileiros) nos últimos quarenta anos aproximadamen-
ccci
ccc
Flávio Galdino
te, fazendo-se referência às fontes estrangeiras apenas quando seja indispensável, e mesmo assim, as citações dessas fontes são meramente ilustrativas, estando longe dos escopos do autor, e mais ainda de suas possibilidades reais, elaborar a história circunstanciada das idéias jurídicas no pais sobre os direitos fundamentais. Assim, o objetivo do capítulo é apenas inventariar algumas teorias mais influentes, de molde a evidenciar as tendências e idéias dominantes. Este escopo justifica as múltiplas citações efetuadas, algumas vezes longas, sempre em pé de página, consideradas indispensáveis, contudo, para a demonstração das idéias aludidas no texto, e de sua evolução.
E nestas circunstâncias que nos parece importante evidenciar a evolução ocorrida até que se chegasse à presente fase. A observação permite-nos condensar em cinco momentos diversos a evolução das concepções acerca dos direitos tendo em vista a aludida tipologia positivo/negativo.
Servimo-nos da expressão modelos teóricos sem laborarmos em confusão em relação à expressão modelos jurídicos, enquanto entendidos como estruturas normativas com força prescritiva sobre a sociedade conforme a construção devida a MIGUEL REALE. De acordo com esta importante formulação, o presente estudo desenvolve-se a partir de modelos dogmáticos.4
Pot evidente, não se trata de compartimentalização em modelos teóricos puros ou fases estanques, precisamente demarcadas em quadras históricas. Ao revés, tem-se aqui um simples esforço de identificação de tendências dominantes, as quais, como sói ocorrer no seio da produção intelectual, são marcadas antes pelos sinais de predominância do que pela exclusividade.5
9.1. Síntese dos modelos teóricos sugeridos neste estudo
O tema é realmente de extrema atualidade e suma importância: Por mais não fosse, abstraindo-se de sua relevância prática, o porte dos autores que se dedicam a ele já demonstraria seu relevo teórico. De
4 REALE, Lições preliminares de Direito cit.. pp. 176, 184 et passim.5 Embora em referência a movimentos históricos de longa duração, é aplicável aqui a
explicação de HESPANHA (vide História das Instituições de., p. 37) de que a periodização é. antes que uma divisão meramente arbitrária, uma necessidade interna da própria historiografia.
180
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvorec
outro lado, nada ocioso salientar que se trata de posições - acerca da positividade e mesmo a propósito das gerações antes citadas - também expressamente reconhecidas e utilizadas pelos nossos tribunais, inclusive pelo Supremo TCbunal Federal.6
Demonstrado o interesse superlativo no tema em análise, e com as aludidas ressalvas, procuramos estabelecer cinco_ njodelos. j:eóricos (que talvez possam ser caracterizados como fases de uma evolução dogmática ou conceituai7), a saber: ....... ” ’
/ (I) modelo teórico da indiferença: o caráter positivo da prestação■ estatal e o respectivo custo são absolutamente indiferentes aoí pensamento juridico.| (II) modelo teórico do reconhecimento: a produção intelectual1 funda-se no reconhecimento institucional de direitos a presta
ções (ditos sociais), o que implica reconhecer direitos positivos; ao mesmo tempo afasta-se a pronta exigibilidade desses novos direitos.
(IH) modelo teórico da utopia: a crítica ideológica e a crença em despesas sem limite igualam direitos negativos e positivos, a positividade dos direitos sociais permanece reconhecida, mas o elemento custo é desprezado.
(IV) modelo teórico da verificação da limitação dos recursos: o custo assume caráter fundamental, de tal arte que, mantida a tipologia positivo/negativo, tem-se a efetividade dos direitos sociais como sendo dependente da reserva do possivel.
(V) modelo teórico dos custos dos direitos: revela a superação dos modelos anteriores; tem-se por superada essa tradicional tipo-
^ logia positivo/negativo dos direitos fundamentais.
Vejamo-los com maior detenção.
6 Multiplicam-se os exemplos. Ad exemplum tantum, veja-se a decisão proferida no julgamento. pelo Ttibunal Pleno da Corte, do Mandado de Segurança 22164/SR de que (oi Relator o eminente Ministro CELSO DE MELLO (publicado no DJ. Parte I, de 17.11.1995, p. 39206). o qual (az ainda referência inclusive a uma nota de "essencial inexauribilida- de" dos direitos de terceira geração (ditos direitos de solidariedade).
7 A expressão "fases" pode conduzir ã conclusão de que se trata de idéias que se substituem ao longo do tempo, o que certamente não ocorre, e é extensamente demonstrado pelas referências a muitas obras e autores contemporâneos, razão pela qual preferimos utilizar o termo "modelos teóricos", embora desejemos salientar que tratamo-las (as idéias) efetivamente como fruto de uma evolução, na medida do possível, igualmente retratada no texto.
181
Flávio Caldino
9.2. Modelo teórico da indiferença
Neste momento desconsidera-se simplesmente a existência de direitos fundamentais "positivos", e, bem assim, as prestações estatais necessárias à sua efetivação. A existência de uma prestação já seria passível mesmo de descaracterizar um direito como individual (classe que compreendia os hoje chamados direitos fundamentais).
A produção intelectual é reflexo aqui da orientação política libertária e liberal, consagrada também teoricamente desde a Revolução Rancesa de 1789, de matiz estritamente individualista - não surpreende que os primeiros direitos a serem "reconhecidos" doutrinariamente tenham precisamente sido chamados individuais (como se viu, a prática política nacional não acompanhou esse modo de pensar - item 8.2).
Reconhecendo-se os direitos de liberdade como sendo imanentes ao homem, e, portanto, anteriores e superiores ao próprio Estado, de tal sorte que este apenas os declara (daí, frise-se mais uma vez, a utilização da expressão Declaração de direitos), não havia sequer espaço para discutirem-se as prestações estatais necessárias à sua efetivação.
Destarte, a produção teórica original (predominantemente européia), de viés clara e confessadamente jusnaturalista,8 não esboçava consideração acerca da necessidade de prestações estatais positivas para efetivação de direitos públicos subjetivos, ou sobre a relevância do conteúdo econômico dos direitos individuais, de sorte que a intervenção estatal no domínio econômico privado era não apenas evitada, mas repudiada.
Salvo melhor juízo, é possível afirmar que a produção acadêmica nacional de que se trata neste estudo não alcança este momento histórico, ingressando no debate quando este modelo já se encontrava praticamente superado, encontrando eco apenas pela voz de célebres autores europeus cujas obras traduzidas? desfrutaram de grande pres-
8 Sobre o tema, coníira-se, ainda uma vez, FASSÒ, "Jusnaturalismo" cit., passim.9 O jurisconsulto italiano GtORGIO DEL VECCHIO. autor de algumas das mais importan
tes obras da literatura Juridica deste século, e que influenciou marcadamente - em boa medida devido à tradução para a lingua portuguesa de suas obras - a produção cientifica nacional, exprimia o pensamento referido no texto de lorma enfática, in verbis: “Mas é verdade também que grande parte das normas jurídicas se refero a relações sem qualquer conteúdo econômico - por exemplo, os direitos fundamentais" (DEL VECCHIO. Giorgio. In 'Direito e Economia". In Direito, Estado e Filosofia (trad. de A. Rodrigues Queiró, sem indicação do titulo original). Rio de Janeiro: Livraria Editora Politécnica
182
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nào Nascem cm Árvores
tígio e colheram grande influência, bem como de alguns autores nacionais, hoje considerados clássicos.
Constitui curioso hábito nacional que as traduções cheguem ao nosso idioma quando as respectivas idéias já foram superadas - à guisa de exemplo relembrem-se os nefastos efeitos que a recepção tardia das idéias de HANS KELSEN causou à produção intelectual pátria. Sem embargo, faz-se aqui a referência com o fito de demarcar o momento anterior àqueles de que efetivamente nos ocupamos.
Apenas para ilustrar a anotação, as referências do clássico RUI BARBOSA expressam vigorosamente a idéia de que a existência de uma prestação pública não só questiona, mas efetivamente afasta qualquer possibilidade de caracterização de uma situação como direito individual, categoria a esta altura ainda completamente impregnada das idéias jusnaturalistas da era moderna, considerando-se naturais os direitos, como verdadeiros "atributos essenciais" da individualidade,10 e que exigiam do Estado unicamente conduta absenteista.
9.3. Modelo teórico do reconhecimento
Reconhece-se a algumas situações jurídicas que demandam prestação positiva do Estado a categoria de direitos subjetivos (fundamentais).
Por influência dos movimentos intelectuais de esquerda e do pensamento cristão (basicamente proveniente da Igreja Católica), bem como pela crescente necessidade de intervencionismo estatal, os textos constitucionais principiam a elencar como direitos determinadas situações jurídicas cujo conteúdo difere do simples absenteísmo, aparentemente típico dos direitos fundamentais individuais.
São os direitos que viriam a ser chamados econômicos e sociais (e, ainda, culturais), e que no Brasil, consoante remarcado anteriormente (ainda item 8.2) tomam-se efetivos antes dos demais.
Neste passo, a verificação empírica permite reconhecer que os então novos direitos - ao contrário das liberdades clássicas - dependem da atuação positiva Estado, no sentido de que os mesmos somen
Ltda. 1952). A referência é antes uma homenagem do que uma critica ao autor, que (azia questão da expressar seu apreço pelo Brasil. Embora a ciência evolua, não se pode menosprezar a contribuição daqueles que estabeleceram pilares sólidos para que ela pudesse avançar.
10 RUI BARBOSA. República: teoria e prática cit., p. 93.
183
Flávio Galdino
te se efetivam através da prestação estatal dita positiva: "surgem" então os assim chamados direitos fundamentais sociais.
Dizer “surgem os direitos sociais" quer significar o reconhecimento da juridicidade de determinadas situações subjetivas previstas no ordenamento em geral, e em especial na Constituição, em favor dos indivíduos. Ainda não se colocava - no momento inicial, o problema da efetividade de tais direitos, ou, mais precisamente, da força normativa das normas constitucionais (dentre as quais destacam-se as atributi- vas de direitos fundamentais).
O dado temporal - expresso na idéia de "surgimento” - é deveras importante aqui. Importa observar que estamos analisando uma construção dogmática baseada em uma determinada leitura da história institucional dos direitos do homem, e o que se tenciona remarcar é que esta idéia de "surgimento” dos direitos fundamentais sociais como direitos a prestações estatais implica a noção de que, antes deste “surgimento” , não havia nenhuma positividade nos direitos antes reconhecidos, (in casu, nos individuais ou da liberdade), o que é realçado pela lição dos doutores, n
Reconhecer, através de uma análise histórica institucional, que os direitos sociais e o Estado intervencionista do bem-estar social efetivamente surgem em um determinado momento histórico, não significa - ou ao menos não deveria significar, ao contrário do que se usa afirmar12 -
11 Lavrou a pena ilustre de CAIO TÁCITO: " (...) o florescimento de direitos econômicos e sociais, que passam a impor ao Estado um elenco de deveres positivos (...)”: (CAIO TÁCITO. “Os diicilos do homem e os deveres do Estado'. Irt Temas de Direito Público - Estudos e paieceres. Rio de Janeiro: Renovar. 1997, pp. 393-40S. esp. p. 399.
12 Neste sentido, do 'surgimento' da positividade através do reconhecimento institucional dos direitos sociais, veja-se o que diz BARROSO (grifos nossos): ~Os direitos individuais, (s/c) impõem, em essência, deveres de abstenção aos ãrgáos públicos, preservando a iniciativa e a autonomia dos paiticulares" (...) "Os direitos econômicos, sociais e culturais, identificados, abreviadamente, pomo direitas sociais, são de formação mais recente, remontando à Constituição mexicana, de 1917, e à de Weimar. de 1919. Sua consagração' maica a superação de uma perspectiva estritamente liberal, em que se passa a considerar o irdividuo para aJám de sua condição individual. Com eles surgem para o Estado certos deveres de prestações positivas, visando à melhoria das condições de vida e à promoção i igualdade material', (BARROSO. Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas cit.. p. 99). Apenas para referir, embora não seja objeto precipuo do presente estudo, a literatura portuguesa possui célebre pensamento no mesmo sentido: "Desde logo, surge, também aqui, uma nova categoria de direitos, que poderemos para já designar por direitos a prestações (Leistungsrechte) ou direitos de quota-parte (Thilhaberechto). Distinguem-se das liberdades e dos direitos (democráticos) de participação. desde logo porque representam exigências de comportamentos estaduais positivos (...) os direitos não são. em si, direitos contra o Estado (contra a lógica estadual), mas
184
Introdução à TBoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Árvores
reconhecer que a “positividade” igualmente só surge neste mesmo momento histórico (este é um vicio do pensamento tradicional que o presente estudo também tenciona esclarecer mais adiante).
De qualquer modo, é possível evidenciar uma evolução a propósito do reconhecimento dos direitos sociais. Assim, verifica-se que houve quem vislumbrasse nos direitos econômicos e sociais simples extensões das liberdades clássicas,13 sem notarem (ou ao menos remarcarem) seu caráter especificamente positivo e prestacional.
Houve ainda autor muito ilustre que fez ressaltar tão-somente o caráter intervencionista (estatal) desta fase, e, salientando a antes excepcional intervenção no domínio privado, não deitou atenção no caráter precisamente prestacional (em verdade, a essência da positividade) desses direitos, muito menos na prestação individualizadamen- te considerada14 (como seja o direito de uma pessoa a uma determinada prestação estatal).
Evolui-se para a especificação da positividade. Assim, sem embargo, pode-se dizer que este é o momento ou modelo dogmático em que se remarca conceitualmente a essencial diferença entre os direitos fun-
slm direitos através do Estado' (VIEIRA DE ANDRADE, Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976 de.. p. 50 - sem os grifos do original).
13 Tratar-se-ia, talvez, de uma fase ou modelo intermediário: reconhece o direito è prestação, sem perceber nitidamente a diferença entre o positivo e o negativo. Neste sentido, situa-se CAVALCANTI. Themístocles Brandão. Princípios Gerais de Direito Público. 3« edição. Rio de Janeiro: Borsoi, 1966. p. 204 (exemplificando-os com os direitos ao trabalho e à moradia - rectius: “ao teto").
14 Veja-se a doutrina do ilustre EVARISTO DE MORAES FILHO: "O que, por outro lado, distingue os direitos sociais da antiga declaração dos direitos do homem e do cidadão é o fato da veidadeiia oposição de base conceituai. Estes segundos são limitativos dos poderes do Estado, limitam-lhe o arbítrio, cercando-o de certas liberdades e franquias dos indivíduos como cidadãos isolados. Sá o direitos de caráter negativista, em relação aos poderes públicos, fiéis ao próprio espirito individualista das revoluções dos fins do século XVin. Os primeiros - direitos sociais - são garantias positivas, inscritas no texto constitucional. em favor dos grupos sociais, da sociedade e de suás manifestações. O papel do Estado aqui nâo è negativista, de absenteismo. de omissão; pelo contrário, manifesta-se concretamente. intervindo em favor de certas realizações materiais ou culturais. O seu papel é ativo, e não mais passivo, de mero espectador. T\ido isso acompanhou o próprio desenvolvimento da legislação social ordinária, rompendo com o tradicional individualismo juridico, egoísta, regulado simplesmente pelas normas do direito civil. Pela nova realidade económico-social, já com medidas concretas de intervenção estatal, somente faltava dar mais um passo para atingir a esfera mais elevada da constitucionalização daquela legislação.' (MORAES FILHO, Evaristo de. “Da ordem social na Constituição de 1967', in Estudos sobre a Constituição de 1967 (org. THEMÍSTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI). Rio de Janeiro: FGV. 1968. pp. 174-205, esp. p. 179, sendo certo que no parágrafo posterior se faz referência ao texto de Esmein transcrito na nota 424).
185
Flávio GaJdino
damentais, classificando-se-lhes a partir da distinção^ entre positivos ou negativos, conforme demandem ou não uma atuação positiva, em verdade, uma prestação por parte do Estado.16
9.4. Modelo teórico da utopiaAcredita-se que a diferença entre os direitos fundamentais sociais
(e econômicos) e os individuais é meramente ideológica. Em sentido correlato, há vigência de um normativismo estrito, isolando os juristas, os quais cultuam a crença de que as soluções para os problemas da vida, são passíveis de serem encontradas no plano normativo.
Optou-se por chamar utópica esta fase, porque a influência no plano político-institucional da doutrina econômica keynesiana17 - repita-se: fundada na premissa de que o déficit orçamentário público é uma imposição da necessidade da atuação governamental eficiente em determinados ciclos econômicos de certo modo justifica a crença no meio acadêmico juridico, que a nosso ver beira a utopia, na ausência de limites às prestações públicas (na prática, quase sempre ignorada pelos teóricos, sem o co-respectivo ingresso fiscal, ainda que este também, por sua vez, seja elevado ad absurdum); e são estas prestações
15 Também neste sentido as observações de ORLANDO GOMES: "Quanto aos direitos sociais, os preceitos constitucionais que os declaram se distinguom porque impõem deveres ao Estado" ("Direitos ao Bem-estar social"; in Anais da Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Rio de Janeiro: OAB. 1974, pp. 203- 225. esp. p. 221).
16 Neste viés a observação clara de PAULO BRAGA GALVÀO (datada, em 1981): "Neste ponto já se pode fixar a distinção básica entre os direitos individuais e os que posteriormente seriam chamados sociais, para o que recorremos à lição de um constitucionalista do século XIX. Esmein: “Os direitos individuais apresentam todos uma característica comum: limitam os direitos do Estado mas não lhe impõem qualquer obrigação positiva, qualquer contraprestação em favor dos cidadãos-; (ESMEIN. Éfomonts de Droit Constitutionnel. 2» ed. Paris: Librairie de la Sociétó du Recueil General des Lois et des Arrèts. 1899. p. 353)"; GALVÀO. Paulo Biaga. Os direitos sociais nas constituições. Sáo Paulo: LIV, 1981. p. 13).
17 Baseada na obra do economista JOHN MAYNARD KEYNES. O "déficit" tornou-se uma das notas marcantes de sua obra: "Restava |segundo Keynes] apenas um, e um só, curso de ação: a intervenção do governo para aumentar o nível dos gastos em investimentos - empréstimos e verbas governamentais para finalidades públicas. Ou seja, um déficit intencional"; (GALBRAITH, O pensamento econômico em perspectiva c/t., p. 141. Observe-se, contudo, que. segundo consta, o próprio Keynes não chegou a propor alguma tese fundada na total e absoluta inesgotabilidade dos recursos públicos.
186
Introdução à Ifeoría dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Árvores
que propriamente caracterizam o Estado Social {Sozialstaat tedesco) ou do Bem-estar social (na expressão americana - Welfare State).16
Essa premissa "econômica" anteriormente referida - da “inesgotabilidade" dos recursos públicos via de regra não se mostra clara nos textos jurídicos, que, aliás, não se preocupam com os pressupostos de natureza econômica, mas podem ser tidas por implicitamente r* conhecidas, dadas as conclusões obtidas.
Nestes termos, supostamente afastados quaisquer óbices econômicos, grassou livre a critica ideológica da distinção entre direitos positivos e negativos. Mais precisamente, na verdade, e é o ponto que nos importa destacar, não se negava propriamente a mencionada distinção - reconhecia-se que determinados direitos demandam prestação positiva e outros conduta meramente omissiva. Negava-se-lhe apenas qualquer relevância. Com efeito, na medida em que "os recursos financeiros não faltariam”, a distinção seria absolutamente irrelevante sob o prisma prático, que é o que realmente importa.
De outro lado, é preciso salientar que o pais respirava (e, de certo modo, ainda respira) o normativismo de inspiração kelseniana. A recepção tardia, e porque não dizê-lo, anacrônica, de algumas idéias originais de HANS KELSEN, otimizada pelo status político autoritário experimentado pela história recente do país, permite a redução de todas as questões, ao menos no seio da produção juridica, à norma (em especial à regra positivada). Sob este prisma, a questão que se coloca para o operador juridico é a de saber se uma norma prevê ou não um determinado direito, e em que extensão. A solução alvitrada pelo aludido operador não ultrapassa o plano estritamente normativo (por vezes em sua feição meramente literal), o que conduz, muitas vezes, à elaboração de “soluções” injustas ou incondizentes com a realidade concreta.
Interessa salientar também, no plano conceituai, que os custos financeiros são vistos aqui como absolutamente externos ao conceito do direito, de tal sorte que o reconhecimento dos direitos subjetivos fundamentais precede e independe de qualquer análise relacionada às possibilidades reais de sua concretização [rectius: efetivação). Em síntese: o conceito e a eficácia dos direitos subjetivos especificamente considerados (v.g. direito à educação) são analisados em vista dos tex-
18 Embora sejam raras as referências na literatura especificamente juridica. confira-se o relato autorizado de RICARDO LOBO TORRES. O Orçamento na Constituição cit.. p. 11 ct passim, (obra que contém ainda amplo acervo bibliográfico).
187
Flávio Galdino
tos normativos, sem qualquer consideração concernente às possibilidades de reais de efetivação.
Assim, nessa fase, a critica da doutrina mais autorizada dirige-se ao fato de atribuir-se efetividade máxima aos direitos individuais e mínima aos direitos sociais19 (rectius: às normas constitucionais respectivas).
Com efeito, afastada qualquer barreira de natureza econômica - observam autores respeitáveis - não há diferença, senão ideológica, entre os direitos sociais e os individuais, desfrutando todos eles, desde que previstos na Constituição, da mesma estatura, sendo, portanto, igualmente acionáveis ou sindicáveis judicialmente2*) (cabendo a um Poder Judiciário dotado de bem fundamentado ativismo judicial implementá-los21).
Importante observar que não tratam os autores de afastar a diferença entre os direitos positivos e os negativos, inclusive expressamente reconhecida pelos mesmos, mas sim, desconsiderando quaisquer aspectos econômicos (custos) ou de outra natureza qualquer, diferente da normativa, assinalar a sua acionabilidade (ou justiciabilidade)
19 Neste sentido. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional 6a ed. São Paulo: Malheiros. 1996. p. 518. Este justamente celebrado professor reduz ao plano normativo a questão, abstraindo da problemática envolvendo a exigüidade de recursos para implementação dos direitos sociais: "(...) passaram por um ciclo de baixa normatividade (...) em virtude de sua própria natureza de direitos que exigem do Estado determinadas prestações materiais nem sempre resgatáveis por exigüidade. carência ou limitação essencial de meios ou recursos. (...) Atravessaram, a seguir, uma crise de observância e execução, cujo fim parece estar perto, desde que recentes Constituições, inclusive a do Brasil, formularam o preceito da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais*.
20 Neste exato sentido, ad exemplam, a opinião de FLÁVIA PIOVESAN, que enuncia em termos peremptórios a sua posição: “Acredita-se que a idéia da não acionabilidade dos direitos sociais é meramente ideológica e nâo cientifica'*; (PIOVESAN, Direitos humanos e o Direito Constitucional Internacional cit.. p. 198 et passim). Alhures, e.g.. PECES- BARBA MAKTINEZ, Gregorio. “Los derechos econômicos, sociales e cu/turafes: su gênesis ysuconcepto". iniDerechos y liberMdes, n» 6 (199{(): 15;34, esp. p .27. _
2 l' Ibmbém-nesiè'sèritido, cüm-a—reisalva que se s"egue. a òp!niâó'tío‘KRELL,'Andreas J. "Controle judicial dos serviços públicos básicos na base dos direitos fundamentais sociais“. in SARLET, Jngo Wolfgang (org.). A Constituição concretizada - construindo pontes entre o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2000, pp. 25-60. Esse autor, que enfrenta o problema da eficácia dos direitos a partir da norma (rectius: da eficácia e da efetividade das normas constitucionais) e do principio da separação dos poderes, reconhece em diversas oportunidades os custos como impeditivos da realização de direitos (Kg., p. 29: “A eficácia dos direitos fundamentais sociais a prestações materiais depende naturalmente dos recursos públicos disponíveis"), mas afirma, cora fulcro em outro autor que “não podemos admitir é que os direitos fundamentais tornem- se (...) pela insuficiência (...) crônica de fundos estatais (...) letra morta"; dai porque inclui-lo no grupo chamado “utópico".
Introdução è Tboria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
plena, notadamente dos direitos sociais, em tudo idêntica à dos direitos da liberdade.
Note-se ainda, por oportuno, que fazemos referência neste passo apenas a um grupo de autores havidos como de vanguarda e que utilizam a norma para conferir eficácia irrestrita aos direitos, ou seja, abstraindo daqueles que usam a mesma construção redutora e normativis- ta para Tetirar a eficácia (e/ou a efetividade) de alguns ou todos os direitos fundamentais sociais.22 A mesma água que serve ao leite, pode carregar o veneno.
É preciso fazer justiça, então, e reconhecer que as formulações originais acerca da eficácia, da efetividade e da força normativa das previsões constitucionais “surgem” (agora sim a expressão é adequada) - no Brasil - justamente com o escopo de tornar realidade as referidas previsões, antes vistas como mero ideário de princípios morais,23 consagrados em normas meramente programáticas.24
A ressalva é importante, pois aqueles autores e suas obras, muitos deles enfrentando com coragem momento político adverso, produziram a discussão que se mostrava viável ou possível, muitas vezes com o sacrifício da própria liberdade. Pequena amostra do difícil equilíbrio entre o que é necessário e o que é possível. A ressalva não retira, contudo, a validade da observação de que se trata de orientação que consagra redução normativista e de que a mesma resta superada, não
22
23
24
Como denuncia JOSÉ EDUARDO FARIA: ‘As normas programáticas são utilizadas, deste modo, para acomodar situações, contemporizar conflitos entre interesses exdudentes e acobertar acordos" (FARIA, Direito e economia na democratização brasileira cit-, p- 81). SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3* edição. São Paulo: Malheiros. 1998, cuja edição original remonta a 1967. Veja-se também BARROSO. O direito constitucional e a efetividade de suas normas cit.. p. 103, com amplas referências bibliográficas.A expressão foi utilizada por alguns para explicar a ausência de efetividade de certas normas de proteção a.direitos sociais. Sobre tais normas,-cônsulto-sè FERRARI, Normas constitucionais programáticas cit.. passim. Esta autora, aliás, é representativa da mesma fase utópica comentada no texto. Com efeito, ao conceituar as normas programáticas. a autora assume que (p. 176) “as notmas constitucionais definem (...) projeções de comportamentos que devem ser efetivados dentro das possibilidades do Estado e da sociedade", salientando que “não existem remoções mágicas de obstáculos". Ao depois, contudo, parece forçar a conclusão de que as possibilidades econômicas podem ser desconsideradas. ao afirmar que (p. 188) “Portanto, não é aceitável argumentar para o seu não cumprimento a falta de desenvolvimento socioeconômico". concluindo: (p. 23S). “o que não é aceitável é que. em nome da reserva do possivel, isto ê, sob o argumento da impossibilidade de realizá-lo por questões financeiras, materiais ou politicas, o comando constitucional acabe destituido, completamente, de eficácia”.
189
Flávio Qaldino
constituindo senão uma (importante) etapa da evolução que se tencio- na narrar.
Feitas essas observações, então, o que nos importa é gizar a absoluta indiferença com que a positividade e o respectivo custo das prestação estatais é tratada pelos autores (e obras) que se situam neste modelo dito utópico.25
9.5. Modelo teórico da verificação da limitação dos recursosA verificação empirica de que os recursos financeiros estatais são
limitados revigora sobremaneira o interesse na distinção entre os direitos fundamentais positivos e negativos, atribuindo-lhes mesmo maior relevância.
Neste modelo, volta a ser relevante a existência de uma diferença essencial entre os direitos fundamentais negativos (via de regra indicados como direitos individuais e politicos) e os positivos (usualmente referidos como direitos sociais), notadamente no que concerne à sua eficácia juridica e social.
A própria nomenclatura utilizada pelos vários autores que tratam dessa temática espelha a diferença aludida. Não sem sentido são utilizadas as expressões direitos de defesa2 (Abwehrrechte, na formulação alemã) para referir as liberdades puramente negativas (com as especificações que se fará a seguir), e direitos de crédito2? ou de prestação^ (para referir os direitos sociais).
A (invocada) superação dos paradigmas deficitários keynesianos, ou ao menos das suas formulações originais, conduz à revisão das políticas de despesas públicas deficitárias, sustentando-se que as mesmas devem limitar-se à receita do Estado. Tem-se o equilíbrio orçamentário
25 Neste viés, além dos autores anteriormente citados, vide MELLO. Direitos Humanos cit.. pp. 33-34.
26 SARLET, A eficácia dos direitos fundamentais cit.. p. 259. Taimbém alhures, como. entre os portugueses. VIEIRA DE ANDRADE, Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976 cit., v.g., p. 192. A esse propósito, na lingua inglesa, falou-se cm securicy rights (SHUE; Basic rights cit.. p. 13).
27 LAFER, A Reconstrução dos direitos humanos cit.. p. 130. CLÈVE. Ciémerson Merlin. 'Sobre os direitos do homem*, in Itemas de Direito Constitucional. São Paulo: Editora Acadêmica. 1993, pp. 121-127, p. 125.
28 CANOTILHO, Direito Constitucional e Taoria da Constituição cit., p. 362. A reloiência a.' este autor deve-se ao fato do o mesmo escrever no nosso idioma (ou vice-versa), além de in&uenciar sobremodo a produção nacional.
190
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
como importante objetivo a ser alcançado. Não desaparece propriamente o Estado Social, mas renova-se. e influenciado pelo "liberalismo social", limita-se, transmudando-se naquilo que RICARDO LOBO TORRES usa chamar Estado Social Fiscal (em tudo preferível à expressão Estado de prestação - Leistungstaat, consoante averbam os autores alemães)-29
Assim sendo, a realidade finalmente projeta raios de luz sobre o antes hermeticamente fechado pensamento jurídico e seu produto, o “mundo jurídico". O operador jurídico, ainda sem conseguir incluir na medida necessária a realidade em seu espectro de considerações, passa a ter em conta ao menos as impossibilidades materiais das prestações públicas, ainda que os direitos a tais prestações estejam expressamente previstos no texto constitucional e, nesta qualidade, sejam objeto de reconhecimento em sede jurisdicional.30
É preciso observar que esse modelo de pensamento continua seguindo, muita vez, uma orientação predominantemente “normativis- ta” (e, portanto, redutora). Apenas passa-se a “admitir", e não poderia ser de outro modo, que a absoluta impossibilidade material faz com que a dicção normativa seja um pouco mais do que “o nada" sob o prisma prático, sem prejuízo do reconhecimento de seu caráter programá- tico, fruto de sua inegável dimensão prospectiva,3i e da otimização de sua fimção negativa,32 verbi gratia, no sentido de impedir o legislador
29 Ainda uma vez a sintese segura de RICARDO LOBO TORRES: 'Mas a vetdade é que o modelo do Estado Social não desaparece totalmente. Passa por modificações importantes, com a diminuição do seu tamanho e a restrição ao seu intervencionismo. Deixa-se influenciai pelas idéias do liberalismo social, que se não confundem com as do neolibe- talismo ou do piotoUbeialismo nem, por outro lado. com as da social democracia. Continua ser Estado Social Fiscal, podado em seus excessos, ao fito de obterá sintese entre o que os alemães chamam do Estado de Impostos (Steuerstaat) e Estado de Prestações (Leistungstaat)''; (TORRES, O Orçamento na Constituição cit.. p. 15).
30 Sobre o ponto, em especial acerca da exaustão da capacidade orçamentária, entendida como *a situação que se manifesta quando inexistem recursos suficientes para que a administração possa cumprir determinada ou determinadas decisões judiciais”, veja-se o como de hábito excelente parecer de EROS GRAU, “Despesa pública - conflito entre princípios e eficácia das regras juridicas - o principio da sujeição da administração ás decisões do Poder Judiciário e o principio da legalidade da despesa pública", in Revista Trimestral de Direito Público 2: 130-146, esp. p. 144.
31 Sobre as normas programáticas. SILVA. Aplicabilidade das normas constitucionais de.. pp. 135 e seguintes.
32 Discorrendo detalhadamente sobro os efeitos das normas programáticas, confira-se a sínteso conclusiva de BARROSO, O direito constitucional e a efetividade de suas normas cit.. pp. 117-118.
191
Flàvio Gsldino
de adotar medidas que sejam contrárias a determinado programa estabelecido na Constituição, ou ainda permitindo o reconhecimento de sua nulidade, acaso sejam efetivamente adotadas.
Este reconhecimento se dá em vários níveis, e com graus variados de valorização dos textos das normas positivadas (ou regras) na Constituição (daí falarmos em orientação “normativista").
Alguns autores salientam que se deve extrair o conteúdo dos direitos das regras constitucionais, conforme a respectiva "densidade normativa” . Pensamos que este modo de pensar atribui maior ênfase ao texto do que à própria norma, figuras que não se deve confundir.33
Ou seja, partindo-se do texto da regra positivada (rectius: constitucionalmente positivada), desde que o mesmo contenha previsão da prestação (o objetivo) e dos respectivos meios de consecução, e atribua um direito subjetivo ao indivíduo (ou mesmo à coletividade, na hipótese dos direitos difusos ou coletivos), entende-se criada uma situação juridica sindicável pelo indivíduo, e, diante desta situação inteiramente configurada, têm-se as reservas materiais - i.e. as possibilidades econômicas e financeiras, como único limite à efetivação dos direitos.34 É comum dizer-se que a efetivação dos direitos econômicos e sociais - positivos por excelência - depende da "reserva do possível"35 (Vorbehalt des Móglichen).
33 Assim CANOT1LHO, Direito Constitucional e Tfeotia da Constituição cit.. p. 1143: "o recurso ao texto para se averiguai o conteúdo semântico da norma constitucional não significa a identificação entre texto e norma. Isto é assim mesmo em termos lingüísticos: o texto da norma é o sinal lingüístico: a norma é o que se revela ou designa". No mesmo sentido, TORRES, Normas de Interpretação e integração do direito tributário cie., p. 28S: 'Mas a interpretação, embora se vincule ao texto da norma, nele não se deixa aprisionar, eis que o texto da norma não se confunde com a própria norma”.
34 Assim em BARROSO: "(...) os limites econômicos derivam do fato de que certas prestações hão de situar-se dentro da “reserva do possível' (p. 107). E ainda: "Fique bem claraa posiçâg que adotamos: direito 4 direito e, ao ângulo subjetivo, ele designa uma espe- ' tffica posição juridica. Não pode o Poder Judiciário negar-lhe a tutela, quando requerida, sob o fundamento de ser um direito não exigivel. Juridicamente, isso não existe. Thmpouco poderá invocar a não-imperatividade ou ausência de caráter juridico da norma que o confere. Já demonstramos o desacerto desse ponto de vista (v. cap. IV, item 1). Logo, somente poderá o juiz negar-lhe o cumprimento coercitivo, no caso de impossibilidade material evidente e demonstrável, pela utilização de uma interpretação sistemática influenciada pela teoria geral do Direito” (BARROSO, O direito constitucional e a efetividade de suas normas cit., p. 111).
35 TORRES. Os direitos humanos e a tributação cit.. pp. 1SS-6. Contra a “importação” desta teoria de origem germânica, veja-se HRELL. “Controle judicial dos serviços públicos básicos na base dos direitos fundamentais sociais" cit., p. 44 et passim.
192
Introdução à Tfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvoies
Nesta linha de orientação, tem-se como principal parâmetro para aferição da existência de direitos a pura regra positivada, sem ter na perspectiva imediata o seu conteúdo, ou, mais importante, a sua essência, que somente pode ser percebida em correlação com o restante do sistema juridico. Ademais, neste modelo, os custos dos direitos assumem feição meramente limitativa (negativa). Não que haja nesse modo de ver as coisas precisamente um equivoco. Mas somos de sustentar que esta perspectiva reduz as potencialidades que a correta compreensão dos custos dos direitos faculta ao pensamento juridico e'à prática institucional.
De fato, é muito comum a construção que refere os custos econômicos e financeiros como meros óbices à observância dos direitos fundamentais que demandam prestação estatal positiva (direitos econômicos ou sociais). No terreno do acesso à justiça, apenas para exemplificar com um tema candente, esta característica meramente limitativa dos custos em relação ao exercício dos direitos é realçada sobremodo.36
Essa caracterização dos custos econômicos e financeiros como meros óbices à efetivação dos direitos fundamentais permite observar que, para esses autores, as condições reais de efetividade da prestação relativa ao direito são externas ao conceito do direito fundamental (enquanto direito subjetivo).
Ou seja, usa-se afirmar que uma pessoa tem direito - na verdade inúmeros direitos - a determinadas prestações independentemente da mínima verificação das possibilidades materiais de consecução da mesma. Em verdade, de acordo com a análise jurídica tradicional, o reconhecimento da existência de um direito subjetivo é um príus em relação a qualquer verificação de suas possibilidades reais de consecução, o que, como se verá no momento oportuno, embora acarrete diversas vantagens, implica também conseqüências extremamente desvantajosas.
36 Tornou-se clássica a obra de MAURO CAPPELLETT] e BRYANT GARTH. Access lo justice, Vai. I, Book I - A World survey, Part One - GeneralReport. Milano: Giuffrò. 1978. p.10, onde os custos de solução dos litígios, particulaimente os custos dos piocessosjudiciais, são caracterizados como as principais barreiras ao acesso à justiça (há tradução para o português: Acesso à justiça - por Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre:Séigio Antonio Fabris Editor. 1991). Veja-se também, entre nós. a obra recente dePINHEIRO CARNEIRO. Paulo Cezar. Acesso à justiça. Rio de Janeiro: Forense. 1999,buto de relevanto pesquisa ingente dirigida por aquele pioíessoi - e da qual teve ahonra de participar o autor destas Unhas objeto de tese de concurso para provimento no cargo de Professor Titular da Faculdade do Direito da UERJ, aprovada unanimemente pela Egrégia banca examinadora.
193
Flávio Galdino
Impende gizar, ainda de acordo com esta.Unha de orientação, que os direitos tipicamente individuais (ou da liberdade, que integram o status negativus27) não são atingidos pelas limitações econômicas, pois são configurados como condutas de pura abstenção por parte do Estado (daí, frise-se ainda uma vez, serem indicados tais direitos como negativos), independendo completamente dos recursos estatais, e portanto, daquela aludida "reserva do possível”.38 Em realidade, na medida em que a abstenção supostamente não “custa nada", a proteção e a tutela dos direitos da liberdade (ou pelo menos daqueles caracterizados como direitos de defesa) não encontra limites econômicos ou financeiros nas reservas.
Este viés de orientação possui, ao menos, a vantagem de retirar a discussão do plano predominantemente ideológico que a dominava no modelo antecedente, e consoante o qual, como salientado, o problema da positividade (frise-se: da existência ou não de uma prestação estatal correlata ao direito em questão) era irrelevante, além de ignorar-se o prisma econômico das questões.
De um modo mais sofisticado, há autores que acentuam a profundidade da discussão fundada no reconhecimento das limitações materiais às prestações. Assim, mantendo o paradigma positivo/negativo, e mesmo diante da ausência de dispositivo constitucional com texto expresso - um passo importante para a superação do normativismo quase "radical” que se vem de cuidar sustentam alguns haver direito subjetivo fundamental a determinadas prestações positivas que integrem o mínimo existencial,® entendido como o conjunto de condições mínimas de existência humana digna.40
37 TORRES, Os direitos humanos e a tributação cit., p. 55.38 Em estudo importante, forte na literatura germânica (atualizada), INGO SARLET diz
expressamente que as limitações decorrentes da reseiva do possível nâo atingem os direitos de defesa: "Sintetizando, podemos afirmar que. em se tratando do direitos de defesa, a lei não se revela absolutamente indispensável & fruição do direito. (...) não se aplicam a estas hipóteses (dos direitos de defesa) os argumentos usualmente esgrimidos contra a aplicabilidade Imediata dos direitos sociais, especialmente os da annCncia de recursos (limite da reserva do possível) e a ausência de legitimação dos tribunais para a definição do caateúdo e do alcance da prestação"; (SARLET. A eficácia dos direitos fundamentais cit., pp. 252*253).
39 Sobre o mínimo existencial, seja permitido remeter ao valioso ensaio de BARCELLOS. Ana Paula de. “O mínimo existencial e algumas fundamentações: John Rawls, Michael Walzer e Robert Alexy” (mimeo, gentilmente cedido ao autor). Sem embargo de eventuais críticas, a expressão parece ter sido acolhida e tida como adequada para descrevero fenômeno era quest&o (conua, AMARAL, Direito, escassez e escolha cit. p. 216).
40 TORRES, Os direitos humanos e a tributação cit.. p. 124.
194
Introdução à Iteoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
Tal direito seria derivado, portanto, do principio da dignidade da pessoa humana, sedes materíae de toda a discussão moderna sobre os direitos fundamentais.41 É muito interessante notar que a posição em tela é dada por alguns como "essencialmente correta", e sequer chega ser seriamente questionada.^
Cuida-se, a rigor, na prática, de prestações positivas que integram o circulo dos direitos fundamentais sociais antes referidos, mas com eles, em principio, não se confundem. Em verdade, cuida-se de reconhecer como direito fundamental uma parcela daquelas prestações positivas (sociais) que sejam consideradas efetivamente indispensáveis para a vida com mínima dignidade e, bem assim, para o exercício dos direitos da liberdade (estes sim verdadeiramente fundamentais), como sejam a alimentação, o vestimento, o teto (moradia) a educação básica et coetera.43 Seriam assim, condições, ou mesmo pré-condições da liberdade44 (rectius: do exercício da liberdade).
41 Como acentua ALEXY, Tboria do los derechos fundamentales cit., p. 37 e et passim, esp. p. 106, onde o autor ressalta ainda que o mencionado principio prevalece sobre os outros princípios do ordenamento (ressalvando-se o (ato de que o aludido autor tem diante dos olhos o ordenamento juridico alemão). Entre nós. veja-se SARLET. A eficácia dos direitos fundamentais cit., passim e SANTOS. Fernando Ferreira dos. Principio constitucional da dignidade da pessoa humana. Fbrtaleza: Celso Bastos Editor. 1999. Assim não pensava BARROSO. Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas (2* edição), p. 296, para quem. "dignidade da pessoa humana é uma locução tão vaga. tâo metafísica, que embora carregue em si forte carga espiritual, não tem qualquer valia juridica", conclusão que não era senão expressão da orientação normativista antes aludida e que jà foi objeto de revisão pelo próprio autor.
42 Ainda SARLET, em texto bastante enfático; “Justamente pelo fato de os direitos sociais prestacionais terem por objeto prostaçócs do Estado diretamente vinculadas à destinaçâo. distribuição (e redistribuiçâo), bem como à criação de bens materiais, aponta-se com propriedade. para sua dimensão economicamente relevante. Ibl constatação pode ser tida como essencialmente correta e nâo costuma ser questionada. Já os direitos de defesa - precipuamente dirigidos a uma conduta omissiva - podem, em principio, ser considerados despidos desta dimensão econômica, na medida em que o objeto de sua proteção (vida, intimidade, liberdade etc.) pode ser assegurado juridicamente, independentemente das circunstâncias econômicas’ (SARLET, A eficácia dos direitos fundamentais cic.. p. 259).
43 TORRES. Os direitos humanos e a tributação cit., p. 133. Na linguagem de Henry Shue seriam “subsistenco rights" e junto aos sccurity rights, integrariam a categoria dos basic rights (SHUE, Basic rights cit.. pp. 13 e seguintes).
44 TORRES. Os direitos humanos e a tributação cit.. p. 51 (“condiçóes iniciais da liberdade"). Em igual perspectiva, confira-se CELSO LAFER, A reconstrução cit., p. 127: ‘ Dai a complementariedade, na perspectiva ex parte populi, entre os direitos de primeira e de segunda geração, pois estes últimos buscam assegurar as condiçóes para o pleno exer- cicio dos primeiros
195
Flávio Galdino
Por evidente, há o reconhecimento, explicito ou mesmo implícito, de que também as prestações públicas que integram o mínimo existencial encontram-se sujeitas aos recursos econômicos e financeiros disponíveis no momento, salientando-se apenas, contudo, que tais prestações devem receber tratamento preferencial em relação às que não ostentem tal caráter.
Ainda neste último ponto de 'sofisticação teórica’, destaca-se a orientação daqueles que reconhecem que nem todos os direitos da liberdade têm a mesma natureza puramente negativa, e observam a existência de direitos, tidos tradicionalmente como negativos tout court, que demandam prestação estatal marcadamente positiva. E o fazem normalmente a partir da diferenciação entie 'direitos de defesa’ e ‘direitos de proteção', de indisfarçável inspiração tedesca e cuja sis- tematização é tributada a ROBERT ALEXY,45 o qual reconhece direitos a prestações em sentido amplo (onde se inserem os direitos de proteção) e em sentido estrito, sendo certo que estes últimos se confundem com os direitos fundamentais sociais.
Os direitos de defesa seriam puramente negativos, demandando tão-somente o absenteísmo estatal. Os direitos de proteção permitiriam ao respetivo titular exigir determinada prestação, notadamente no sentido de exigir do Estado proteção em face de ingerências de terceiros.
Eventualmente seria o caso de falar-se de uma duplicidade de faces, ou de um caráter bifronte, pois o mesmo título (o mesmo direito) exige a um só tempo a abstenção e a prestação. Bom exemplo é o do direito de posse (na expressão famosa, o guardião do direito de propriedade) que exige não apenas a não-intervenção do Estado, mas também a tutela positiva, no sentido de impedir a turbação ou o esbulho por parte de outrem, seja um ente estatal, seja um terceiro privado,46 no mínimo através da edição de um sistema de regras protetivas positivadas.
45 ALEXY, Tèoría de los derechos fundamentales cit., pp. 435 e seguintes, esp. p. 441. Entre nós, além de INGO WOLFGANG SARLET (A eficácia dos direitos fundamentais cit., passim). aderindo expressamente à posição de ALEXY acerca dos direitos a ações negativas e a ações positivas, confira-se BARROS, Suzana de Tbledo. O principio da proporcionalidade e o controle de constituctonalidade das leis restritivas de diteitos fundamentais. 2» edição. Brasilia-DR Brasília Juridica. 2000. Esp. pp. 136 e seguintes.
46 Neste sentido, SARLET, A eficácia dos direitos fundamentais cit.. pp. 190 e seguintes, ec passim (exemplo do direito de propriedade na p. 192). Este autor reconhece haver uma “intima interpenetração" entre as duas categorias referidas (p. 191).
196
Introdução à Iteoria dos Custos dos Direitos - Direitos Náo Nascem em Árvores
Sem embargo do passo adiante que representa o reconhecimento de que tais direitos (da liberdade) também demandam prestação estatal (dita em sentido amplo), parece haver um pequeno retrocesso em considerar-se: (i) que alguns direitos não possuem nenhum caráter prestacional*? (sendo assim, em conclusão, puramente negativos), e,(ii) que as prestações referentes aos direitos de proteção seriam fundamentalmente normativas e assim, não-fáticas.48
De acordo com o mesmo entendimento, somente (ou quase somente) os direitos a prestações em sentido estrito, identificados com os direitos fundamentais sociais,49 demandariam as chamadas prestações fáticas estatais.
Uma observação é necessária. Esta última orientação que se vem de referir assenta-se na diferenciação entre prestações fáticas e não- fáticas (que seriam as prestações normativas),50 a qual, como se verá nos itens seguintes, não se justifica. E assim, sendo equivocada a premissa - o critério em que se baseia a classificação, também se mostra equivocada respectiva conclusão.
De toda sorte, e, no que realmente nos importa aqui, para este modelo teórico, fica mantida em essência a tipologia positivo/negativo (na pior das hipóteses, em relação aos direitos de defesa antes referidos).
Deste modo, tem-se que a referida "reserva do possível” funciona como limite tão-somente em relação às prestações estatais positivas (usualmente referentes aos direitos fundamentais sociais51). Os direitos da liberdade, tidos como meramente negativos (ou demandando apenas prestações não-fáticas), podem assim ser integralmente garantidos e efetivados, sem as amarras sempre severas das reservas orçamentárias.
47 Verbi gratía. SARLET. A eficácia dos direitos fundamentais cit.. p. 163: "■(..) embora não resulte suficientemente explicitada a dimensão prestacional dos direitos e liberdades políticas".
48 SARLET, A eficácia dos direitos fundamentais c/t., p. 191, fala que os direitos à prestação em sentido amplo abrangem ‘ todas as posições fundamentais prestacionais não- fáticas".
49 SARLET, A eficácia dos direitos fundamentais cit., p. 198.50 Originariamente devida a ROBERT ALEXY, 7teorJa de los derechos fundamentales cit..
p. 194.51 Na verdade, o autor de que se vem de tratar, RICARDO LOBO TORRES, não reconhece,
senão na parcela que Integra o mínimo existencial, o caráter “fundamental" aos direitos sociais, salientando que estes não geram pretensões referentes às prestações, v. TORRES, Os direitos humanos e a tributação cit., pp. 12 e 135-6.
197
Flávio Galdino
Ademais, impende observar que, ainda aqui, os custos dos direitos em geral, e dos direitos fundamentais muito especialmente, continuam a figurar como meros óbices à sua efetiva realização.
9.6. Modelo teórico dos custos dos direitosA partir de um novo modelo de pensamento, por vezes até tocado
por alguns autores pátrios, todavia sem maiores conseqüências, aprofundado pelos professores norte-americanos CASS SUNSTE1N e STE- PHEN HOLMES, superam-se as concepções tradicionais,52 reconhecen-, do-se que todos"õs~direitos fundamêmáis"sIo^ositivos. Essa análise será ütíTtambénTpara, em momento posterior,” tfãtár-sè de uma concepção pragmática dos direitos subjetivos.
É o tema de que se passa a tratar, analisando-se previamente a obra referida.
52 Afirmação que se faz respaldada em todas as cautelas que o discurso legitimador da História do Direito suscita (vide nota 547).
198
Capítulo X CASS SUNSTEIN, STEPHEN HOLMES
e o Custo dos Direitos
10. CASS SUNSTEIN, STEPHEN HOLMES e o custo dos direitosEsta parte do estudo* destina-se precipuamente a analisar a
importante obra dos professores CASS SUNSTEIN2 e STEPHEN HOLMES,3 militantes nos Estados Unidos da América, para permitir em momento posterior a avaliação do impacto dessas idéias sobre as concepções tradicionais acerca da natureza dos direitos, notadamente no seio da produção intelectual nacional.
Esses autores, no importante livro The cost o f rights (Cambridge: Harvard University Press. 1999), e o título é expressivo do objeto da obra, dedicam-se à questão dos custos dos direitos. O estudo é desenvolvido a~partir da positividade dos direitos, discorrendo os autores, cüntre outros temas que serão analisados a seguir, sobre a relação exis- tente entre o custo de implementação de um direito e a sua sjgnifica- çao social, relação esta que vai déte"rminiFliece s s ari amente , no qu e concerne à efetivação, uma análisé^omparativa dos muitos.direitos e ~sêüs respectivos custos. ~
' Embora evidentemente não configure qualquer juízo de desvalor, deve-se registrar que é incomum entre os autores brasileiros a elaboração de estudos do tipo que se segue.
1 Uma versão anterior deste capitulo foi publicada sob os auspícios do professor Ricardo Lobo Tatres-. GA.LDINO, Flávio. "O custo dos direitos", in TORRES, Ricardo Lobo. Legitimação dos direitos humanos. Rio do Janeiro: Renovar. 2002. pp. 139-222. esp. p. 182.
2 Kart N. Llwellyn Professor of Jurisprudence, The University o( Chicago, Law School and Department of Folitical Scienco.
3 Professor of Folitics at Princeton University and adjunct professor of law at New York Uniyeisity School of Law, É também autor de várias obras importantes, como Benjamin Constant and.tho making of Modem Liberalism.
199
É mais comum a referência ao pensamento desenvolvido alhures, sem que se tragam a lume as premissas e o contexto em que tal desenvolvimento foi levado a efeito. Nossa proposta neste capítulo é permitir ao leitor que não possui, por qualquer razão, acesso direto aos textos estrangeiros, um contato um pouco mais próximo às idéias ta! como originalmente produzidas. Busca-se também, como anunciado, apresentar as obras mais importantes dos autores, situando inclusive a presente obra no seio da produção do autor (ao menos no que concerne ao professor CASS SUNSTEIN*).
Na obra em tela - The cost o f rights - é possível identificar um objetivo fundamental: demonstrãc^^tçd9js,fis4i.Kei.tPS..?ãp.pqsitiv5sre. por- tanto, demandam algum tipo de prestação públi£a (em última análise, por parte do Éstãdo) para suà efetivação. Além disso, procuram os autores extrair diversas ransequênciãs relevantes de tal observação.
A fim de alcançar este escopo, o livro divide-se em quatro partes. A primeira parte destina-se então a demonstrar que todos os direitos, mesmo os tipicamente individuais, tidos habitualmente como meramente negativos, e que embasam a Constituição e os valores mais caros à sociedade americana, são todos positivos, isto é sua consecução depende de atuação estatal.
Nas partes seguintes desenvolvem-se consectários da primeira. Na segunda parte, a partir da observação de que todos os direitos são positivos, verifica-se que também a liberdade (ou os direitos da liberdade) é afetada pela ausência de recursos, e que a proteção destes direitos representa jgu^ménte a reHistriEuição da riqueza social, com“ loSas aiTsüas conseqüências. "* ~ —---- --
Na terceira parte, contrapondo-se a um grupo de autores que sustenta que os direitos “foram muito longe" nos Estados Unidos, suscitando a irresponsabilidade do indivíduo para com a comunidade, os autores argumentam, também a partir da verificação de que todos os direitos são positivos, que o exercício dos direitos é, ao contrário, um exercício de responsabilidade. —
'Nà quarta pártè, ainda como consectário de sua visão acerca da positividade, os autores sustentam que os direitos - todos eles - são
Flávio Galdino
4 Infelizmente não foi possível lograr acesso amplo à produção de STEPHEN HOLMES. destacando-se contudo, além das obras já referidas, o estudo 'E l precompromiso y la paradoja de Ia democracia", in Constitucionalismo y democracia (trad. mexicana de Constitutionalism and democracy por Mónica Utrilla de Neira). México: Fondo de Cultura Econômica, 1999, pp. 217-252.
200
InUoduç&o à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
sampre fruto de umaopçào social, e, portanto, da negociação (especial- ' mente política), em que nem todas as_partes encontram-se em pé de 'ígüâTdade. gerando distorções, por vezes dé monta.
Em conclusão, o que já havia sido adiantado em várias passagens anteriores, enunciam os autores a tese central de que inexistem direitos ou liberdades puramente privadas, senão queo exercício détõâcTê-
“qualquer direito ou Ubeidadedepende fundamentalmente das institui- "çoespúblicas, e em grande medida, sendo, portanto, igualmente públicos (e custosos). "* Na verdade, é possível identificar autores que antes de SUNSTEIN e HOLMES já haviam tratado da positividade dos direitos da liberdade, equivocadamente ditos negativos.5 O que determina a opção pela análise detida desta obra em especial é o fato de que, nela, a positividade é o tema central.
E o nosso estudo dedica-se precipuamente ao tema que serve de base às demais considerações dos autores - a positividade dos direitos, abordando as demais questões tratadas no livro apenas quando consideradas fundamentais para o desenvolvimento da apresentação das idéias. Algumas observações prévias mostram-se de todo importantes.
Em primeiro lugar, trata-se de estudo marcado pelo localismo, a exemplo do que comumente ocorre com autores de origem anglo-saxô- nica, em especial, autores norte-americanos. O localismo leva os autores a um certo isolacionismo cultural e mesmo material, desprezando- se considerações de direito comparado ou mesmo de direito estrangeiro e a própria experiência externa.
Deste modo, as referências e mesmo os exemplos citados no texto em comento são restritos, em caráter praticamente absoluto, à experiência tipicamente norte-americana, inclusive em termos de alusões doutrinárias e científicas. As referências a casos julgados pelas Cortes judiciais, em especial pela Suprema Corte (United States Supreme Court), também segue o modelo tipicamente americano, em que tais decisões assumem função central e predominante no debate jurídico,®
5 Citem-se SHUE. Basic rights de., pp. 35 e seguintes [v.g., p. 37: “security rights are more positive chan they o/ten said to be") e GEW1RTH. Alan. The communiey of rights. Chicago: The University oi Chicago Press. 1996, pp. 31 e seguintes.
6 Assim é que o capitulo cinco é integralmente fundado em decisões judiciais, sendo certo que toda a argumentação deflui da fundamentação de um caso famoso - DeShaney v. Wmnebago County Department of Social Services, 489 U.S. 189 (1989). Esta e outras decisões da Suprema Coite norte-americana, na integra, encontram-se disponíveis online em
201
Flávio Galdino
decorrência do case system, do stare decisis e do binding precedem adotados naquele país.7
De outra parte, embora os autores dessa linhagem sejam tradicionalmente avessos a amplas teorizações abstratas e a conceituações.8 é preciso observar que há na obra em tela uma incursão na seara abstrata, notadamente no que se refere à caracterização (ou definição, ou con- ceituação) de uma determinada situação jurídica - o que, enquanto conceito, é completamente ignorado pelos autores - como direito (right - entendido no nosso ambiente cultural como direito subjetivo)^
Essas observações prévias não devem ser tomadas propriamente como incompletudes ou falhas da obra ou mesmo dos autores, os quais, a bem da verdade, não se propõem a nada além daquilo que efetivamente realizam. Feitas tais ressalvas, passemos ao cerne do estudo.
10.1. A tese fundamental de SUNSTEIN e HOLMES: o custo dos direitos
O ponto de partida dos autores é o senso comum das pessoas em geral, e em especial dos operadores jurídicos, acerca da natureza dos direitos. Curiosamente, embora sigam quase à risca o antes aludido modelo juridico norte-americano, na obra referida, os autores trafegam, logo de início, pelos conceitos de direito e de custos.
O livro principia, então, com a observação de que existem duas perspectivas para observação dos direitos - aqui entendidos, frise-se ainda uma vez, em sentido subjetivo (rights) - a saber: (i) uma perspectiva moral, por meio da qual busca-se a justificação dos direitos, via de regra através da associação dos direitos a princípios ou idéias morais;
www.flndlaw.com. Sobre o sistema jurídico norte-americano, veja-se SOARES. Guido Fèrnando Silva. Ccmmon law - Introdução ao direito dos EUA. 1» ed. 2* tiragem. São Paulo: RT. 1999.
7 Sobre o precedente: “Dessa forma, 'precedente' é a regra de direit'' us.- la por um<* Corte de secunda instância no sistema judiciário em que o caso está para ser decidido, aplicada aos fatos relevantes que criaram a questão colocada para a Corte para Jeclsáo. Stare dedsis é a política que requer que as Coi tes subordinadas â Corte do segunda instância que estabeleceu o precedente sigam o precedente e que não "distuibem um ponto estabelecido' (COLE. Charles. 'Precedente judicial", in Revista de Processo 92: 71-85, esp. p. 71). “
8 Como acentuado pelo próprio SUNSTEIN noutro livro (SUNSTEIN, One case ac a time dt. pp. 9.20-21 ct passim.
9 Por exemplo. SUNSTEIN/HOLMES. The cost of rights dt., cit., p. 16.
202
Introdução & Ifeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Náo Nascem em Árvores
e (ü) uma perspectiva descritiva (descríptive), mais preocupada em exp licar o funcionamento dos sistemas jurídicos, dolíüe"iustifica-lò'
~ moralmente". i°" Embora salientando que as mencionadas perspectivas não são conflitantes (are not at odds), os autores deitam os olhos sobre o problema dos direitos a partir da visada descritiva. Também quanto ao ponto a obra merece elogio. Com efeito, a ressalva é muito relevante na medida em que se trata de problemas que, embora intimamente interligados, são inconfundíveis. Consoante observado anteriormente, uma questão é a de saber de onde derivam os direitos (ou seja, quai o seu fundamento de validade - o que responde a saber se são direitos ou não). Outra questão, diversa, é a de saber como determinadas situações jurídicas, caracterizadas como direitos - seja lá de onde for que promanem - são operacionalizadas, o que se dá através da tal visada descritiva. H
Destarte, em observação de corte descritivo, verificam os autores, de modo bastante expressivo, que os direitos, assim reconhecidos por um determinado ordenamento juridico, “têm"dentes" (rights m that legal sense have teetfi^TTao passo que, do contrário, os direitos meramente morais não os possuem (are teethless). À figura metafórica dos “dentes", corresponde, em verdade, a possibilidade de utilização dos remédios jiKdrcO's^rè\^òs nõ~õ^rdenamèntot ístò ê," ósjnejos de acio-
i reconbeci-naroídos pelo Direito. Há, assim, uma ligação indissolúvel entra o direito
"sübjètivo e o remédio jurídico previsto para sua garantia e efetivação.~ Mãs tião e~s5rOftsèfvãrnl)s aütofêTcbm acuidade, em passagens plenas de exemplos deveras expressivos, que, independentemente da utilização de remédios jurídicos, o Estado atua para garantir determinados direitos. Assim, por exemplo, quando serve-se de poderoso contingente financeiro para impedir que o fogo venha a consumir o patrimônio dos indivíduos (rectius: a propriedade privada) em caso de
SUNSTEIN/HOLMES The cost of rights cit.. p. 16.A expressão "descritiva" è comumonte utilizada para referir o pensamento positivista analítico. Veja-se SANTIAGO NINO. Carlos. Introducción al anilisis dei Derecho cit., p. 196: "El significado descriptivo que los positivistas asignan a la expresión "derecho" implica que las proposidones acerca de derechos subjetivos e deberes jurídicos deben ser veri- Gcables en términos de lo que determinadas normas positivas disponem”. Neste sentido, a expressão descritiva é utilizada para designar a um só tempo a fonte do direito e o seu modo de operação no ordenamento; na obra sob análise, é usada para designar somente o modo de operação, o que parece mais conveniente.SUNSTEIN/HOLMES, The cost of rights cit.. p. 17.
203
tí
II\4
Flávio Galdino
incêndio, como o ocoirido em Westhampton'3 (conhecida como área nobre de Long Island/NY/USA) em 1995. Ou ainda para proteger a propriedade privada dos individuos que a titularizam. contra outros indivíduos que não: segurança pública para bens privados. 14
Na medida em aue o Estado é indispensável ao reconhecimento e efetivação dos direitos, e considerando que o Estado somente funciona èm7ãzácT3às~cofitQí§^ncias de recursos econômico-financeiros capta- dãsTünito aos indivíduos singularmente considerados, chega-se à conclusão de que os direitos só existem onde há fluxo orçamentário que o permitais, o “reino privado” que a sociedade americana tanto preza é sustentado, e mesmo criado pela ação pública. 16 É o que remete ao problema dos custos e da positividade.
Verificando-se que os custos serão, então, indispensáveis à çarac- terização dos direitos - entendidos como situações a que o Direito "cohceâe" determinados remédios (jurídicos, portanto), os autores afirmam que TODOS OS DIREITOS SÃO POSITIVOS.
Para tanto, contudo, reconhecem eles.epTeciso ultrapassar a sólida barreira erguida pelo senso comum acerca dos direitos, consoante a qual os direitos fulcrados diretamente na liberdade seriam puramente negativos, não demandando qualquer prestação estatal positiva para sua efetivação.
Há duas razões principais17 - informam os autores - para que tais questões sejam ignoradas pelo pensamento jurídico-político norte- americano.
Em primeiro lugar, a ignorância de tais questões deixa encobertas as discussões acerca das opções políticas (e, por conseguinte, econô-
13 SUNSTEIN/HOLMES, Tho cost of rights cit., p. 13. IVata-se de trágico incêndio famoso, cujo combate custou ao Erário americano nada menos do que USS 2.9 milhões, utilizados, portanto, para proteger a propriedade privada dos individuos (sendo oportuno assinalar que não houve perda de uma vida sequer).
n , 14 SCJNS rEIN/HOLMES, The cost o f rights cit., p. 90, et passim. Vide comentários infra.15 SUNSTEIN/HOLMES, The cost of rights cit., p. 20.16 SUNSTEIN/HOLMES. The cost o f rights cit., pp. 14-15: "The privote realm we rightly priza
is sustained. indeed created, by public action'. De igual teor: "Americans seem oasily to forget that individual rights and freedoms depend fundamentally on vigorous State action". Noutro passo, e sob outro enfoque, o mesmo SUNSTEIN já havia salientado que "Ia decísión sobre qué será público y.gué privado es necessariamente uns decisiòn pública (...) ' in “Constituciones y democracias; Epilogo", in Constitucionalismo y democracia (trad. mexicana de Constitutionalism and democracy por Mónica Utrilla de Neira). México: Fondo de Cultura Econômica, 1999. pp. 344-371. esp. p. 355.
17 SUNSTEIN/HOLMES, Tho cost o f rights cit., pp. 24 e seguintes.
204
Introdução à Ifeoria dos Custos dos Dúeitos - Direitos Nâo Nascem em Âivoies
xnicas) subjacentes levadas a efeito pelos poderes públicos.18 A crença na ausência de custos de alguns direitos permite a consagração de umaorientacão conservadora de proteção máxima de tais direitos (normalmente os estritamente individuais: liberdade e, principalmente, propriedade) em detrimento dos chamados sociais, o que se mostra, a partir da compreensão de que todos custam, absolutamente equivocado, descortinando a opção ideológica encoberta pela ignorância.
Em segundo lugar, também os liberais - expressão perigosa, aqui empregada no sentido de progressistas, ou promotores dos direitos humanos - de seu turno, parecem preferir deixar a questão em tela de lado. Deveras, há o receio velado de que a consciência e as discussões acerca dos custos dos direitos diminuam o comprometimento com a respectiva proteção.19
O perigo não parece ser real. Na verdade, não. se deve falar em diminuição de direitos ou de suas garantias, mas sim em redimensionamento da extensão da proteção devotada aos direitos, tèndõ cõmo parâmetro as condições econômicas de dada sociedade. A aferição dos
~cUstos permite trazer .maior „qualidade _ás trágicas escolhas públicas "ém relação aos direitos. Ou seja, permite escolher melhor onde gastar õslnsüEclentesrecursos públicos.
10.2. A demonstração da teseA temática da positividade de todos os direitos não é propriamen
te nova para os autores. CASS SUNSTEIN, por exemplo, já havia antecipado noutras obras considerações sobre o caráter prestacional dos direitos ditos negativos.
Em obra que versa sobre a parcialidade da Constituição norte- americana, ou, mais precisamente, sobre a parcialidade da interpretação que lhe dá a Suprema Corte daquele país, SUNSTEIN já criticava as decisões fundadas na dicotomia negativo/positivo. As decisões da Suprema Corte orientam-se, com efeito, no sentido de que as liberdades individuais estão garantidas pela Constituição, precisamente por independerem de atuação estatal, ao passo que as provisões destinadas a assegurarem o bem-estar (provision of welfare), que dela dependem, não estariam garantidas pela Constituição. Tal orientação, anota
18 SUNSTEIN/HOLMES. The cost of rights cit.. p. 24. expressivamente: " 7b ignore costs is to leave painful trade-offs convenlentiy out of tho picturo".
19 SUNSTEIN/HOLMES. The cost o f rights cit.. pp. 28 e seguintes.
205
Flávio Galdino
o autor, funda-se em premissa ggpiuocaria, a qual serve, na verdade, pa- ra encobrir os fundamentos de justiça distributiva que o pais adota -
' queprotege apenas uma parte do povo amçnpapn' " Á verdade, anota o autor, é que a Constituiç^o pmtpgp algnns_
direitos e outros não^e a linha divisória entre os direitos positivps_e os_. negativos é estabelecidãperas*Cortes judiciais de forma a manter - sob ãTSIgS^paiiréncI^^ critérios tradicionais de distri-'Sulçào dos^bens sociais (que o autor chama inspiradamente de status guo neutrality),20 favorecendo uma parte seleta dos indivíduos em detrimento dos demais.
Não obstante a produção anterior, é na obra em comento que a idéia é desenvolvida com apuro, concluindo-se pela inexistência de direitos puramente negativos, pois todo e qualquer direito depende de prestação estatal positiva.
Os autores servem-se de um exemplo paradigmático para demonstrar a sua tese - ainda e sempre o direito de propriedade.21 Este direito é entendido como ocupando posição central na estrutura jurídi- co-política norte-americana (e bem assim nos sistemas jurídicos de origem romano-germânica - os da Europa continental ocidental e também o brasileiro).
Tradicionalmente, numa visada de corte jusnaturalista, tem-se o direito de propriedade como Uberdade básica, amerio£e superior ao Es- tidqTaiíás figura absolutamente desimportante na caracterização des- 'tè direito, ocupando posição completamente passiva (ou negativa) - bastando íê s p e iíif lõ p constituindo a intervenção estatal exceção excepcionalíssima. Os autores em tela discordam desta visão.
Em primeiro lugar, os autores discordam das premissas, o que já havia sido objeto de argumentação detida em outras obras anteriores. Assim é que não reconhecem direitos anteriores à formação política,
20 SUNSTEIN, Cass. Tho Partlat Constitution. Cambridge: Harvard University Press, 1993, pp. 68-70: "Status cpio neutrality In Inw - (...) Here and ácistnis- leading to uituerstand tho Constitution as a guarontor o f "negativa" rights. The Constitut/on protects some some rights and not others (...) The Une between positive and negativo rights is thus selected, in current law, by reíerence to existing disuibutions". Ainda neste sentido, SUNSTEIN. Cass. Alter rights rovoJutjon - reconceiWng Segu/atoiy State. Cambridge: Harvaid University Press, 1996. p. 17.
21 SUNSTEIN/HOLMES, The cost o f rights cit.. Capitulo terceiro: No property without taxa- tion. Em obra anterior. SUNSTEIN já havia deixado assentado: *5tatus guo neutrality is a mistake preclsoly to the extent that it overlooks the fact Chat our rights, íncluding our rights o f ewnership. aro croation oflaw " (SUNSTEIN, The Partial Constitution cit., p. 4).
Introdução à Tteoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
nem mesmo a propriedade, orientação que, em boa parte, decorre do fato de serem republicanistas.22
Com efeito, conforme averbou CASS SUNSTEIN em obra anterior, os “repubücanos" vêem a esfera privada como produto de decisões púBIicasTque muitas vezes justificam a existência de setores de reco-
"nfíecim ento da autonomia privada dos indivíduos, mas nunca de direitos naturais ou pré-políticos.23
O mesmo se dá em relação à intervenção estatal no domínio priva- do, a qual. em vez de ser considerada excepcional., é considerada mesmo uma prS^condição defuncionamentodosmeicados ditos” livres e privados’\24 questão que, aliás, também já havia sido objeto de análise cíetida em obra anterior de CASS SUNSTEIN, justamente a propósito da necessidade de atuação positiva maciça do Estado para a asse* gurar operacionalização dos mercados.2®
SUNSTEIN e HOLMES argumentam que não existe a propriedade privada sem a ação pública, sem prestações estatãis positiyas. Na ver-
‘ 'dadeTa expressão "respeito à propriedade", enquanto dever negativo do Estado, conduz a uma compreensão equivocada do fenômeno.26 Para os autores, o Estado não reconhece simplesmente a propriedade; o Estado verdadèiraníente criaJaJpropriedade.27.....O direito de propriedade depende de um arsenal normativo decriação contínua e perene por parte de agentes políticos, em especiai
22 O pensamento republicanista tipicamente norte-americano caracteriza-se pelo comprometimento a alguns princípios básicos: ‘ Liberal republicanism is characterized by com- mitment to faur central principies (...) the Brst principio is deliberation in politics (...) tho sccond is equality ofpolitical actots (...) the third Is universalism (...) tho fottrth is citzens- hlp (...)" (SUNSTEIN, Cass. “Beyond the republican revival". In Yalo Law Journal 97: 1539- 1590, esp. p. 1.541). Sobre o republicanismo, seja permitido remeter novamente ao nosso ostudo GALDINO, Flavio. "Sobia o minimaiismo judicial de CASS SUNSTEIN” in Arquivos de direitos humanos, Volume 2: 173-215 (Rio de Janeiro: Renovar. 2000). onde referimos o tema com maior detenção.
23 Clara em SUNSTEIN. Cass. "Beyond the republican revival". In Yalo Law Journal 97: 1539- 1590, esp. p. 1551. Veja-se ainda SUNSTEIN, One case at a time cit.. passim.
24 SJySTEIN/lICLMCS. Tha Cost oi rights oi., p. 64: ~But if private rights uepuid essentiajy on public resources. Chore can be no fundamental oppostion between "government" and ‘free markets (...)".
25 Neste sentido, SUNSTEIN, Aiter rights revolution cit.. p. 42 et passim.26 SUNSTEIN/HOLMES. The cose of rights cit.. p. 60: “A liberal government must refrain
from violating rights. It must respcct rights. But Chis wayofspcakingismislcading becau- so it roduces the govemmenfs rolo to Chat o/a non partlcipant observer". Sobre esse "mis- leading". em obra anterior, vide SUNSTEIN, The Partial Constitution cit.. p. 70.
27 Esta afirmação é reiteradamente repetida no texto. Confita-se. por exemplo, SUNS- TEIN/HOLMES, The cost o f rights cit.. pp. 60, 66, 69.
207
Piávio Galdino
juizes e legisladores28 (trata-se, portanto, à toda evidência de uma prestação fática). Ademais a proteção ao direito de propriedade depende diariamente da ação de agentes governamentais, como sejam, por exemplo, bombeiros e policiais.29 Todos os agentes antes referidos, de soldados-bombeiros a senadores dã República, passando pelos magistrados, são mantidos (e pagos» pelo Erário Público, com recursos levantados a partir da tributação imposta pelo Estado,30 consubstanciando o seu trabalho em uma prestação inequivocamente fática e manifestamente pública - principalmente: positiva - indispensável à configuração e manutenção daquele direito de propriedade.
Assim, é possível concluir que o direito de propriedade - clássico direito da liberdade, tido como tipicamente negativo -, é estrondosamente positivo.31 Criado e mantido diuturnamente pela incansável ação estatal.
O mesmo se dá em relação a outras liberdades tipicamente individuais deveras caras à sociedade norte-americana e tradicionalmente consideradas puramente negativas, como, por exemplo, a liberdade de expressão32 e a liberdade de contratar,33 e também em relação a direitos políticos (como o "sagrado" direito de votar,34 por exemplo), todos
28 SUNSTEIN/HOLMES, Tha cost o f rights cít.. p. 66.29 SUNSTEIN/HOLMES. The cost of rights cit.. p. 90.30 SUNSTEIN/HOLMES, The cost o f rights cit., capitulo 3. Entre nós. RICARDO LOBO TOR
RES, Os direitos humanos e a tributação cit.. p. 3. enuncia que "o tributo nasce no espaço aberto pala autolimitaçâo da liberdade e constitui o preço da liberdade A propriedade é uma espécie do gênero liberdade, que é criada e se mantém através da tributação imposta pelo Estado - no propeny without taxation.
31 O que já havia sido objeto de consideração anteriormente por CASS SUNSTEIN: 'The right toprivateproperty is M ly positivem the sonsa thatit dcpends on government forits existenco (...)"; veja-se SUNSTEIN, The Partial Constitution cit.. p. 70.
32 SUNSTEIN/HOLMES, The cose of rights cit., p. 111.0 tema é recorrente para SUNSTEIN, por constituir-se segundo ele. na mais fundamental das liberdades (ídem. p. 107). Veja- se ainda. SUNSTEIN, Cass. 'F ico speech now '. In The Bill o f fíights ih the modem State
. --.~ <org. por GEOFFREY STONE, RICHARD EPSTEIN e CASS SUNSTEIN). Chicago: Tho L’n;. orsity of Chicago Press. 1991, pp. 255-316, esp. p. 313. Boa pane deste último artigo encontra-se, como adverte o próprio autor, repetida ipsis verbis em SUNSTEIN. Partial Co titut/on cit. (capítulos 7 e 8). Quanto ao ponto, seja autorizado referir nosso estudo GALDINO, Flavio. ''Sobre o minimaiismo judicial de CASS SUNSTEIN" in Arquivos de direitos humanos. Volume 2:173-215 (Rio de Janeiro: Renovar. 2000).
33 SUNSTEIN/HOLMES. The cost of rights dt.. p. 49.34 SUNSTEIN/HOLMES, The cost o f rights cit., p. 53. explicando que estes direitos - acerca
dos quais INGO SARLET afirmou não compreender a dimensão positiva (v. nota supra) - inexistem sem prestações estatais de amplo conteúdo econômico. Basta imaginar quanto se consome, por exemplo, periodicamente no pais, com uma eleição presidencial, desde os acréscimos nos vencimentos dos magistrados que integram a Justiça Eleitoral
208
Introdução A Teoria dos. Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem cm Árvores
expressamente referidos na obra comentada como essencialmente dependentes de prestações positivas (e custosas) do Estado. Assiste total razão aos autores.
A demonstração final e cabal de que todos os direitos são positivos, buscam-na os autores na necessidade de dispqnibilização de
*tèniédios jurídicos para a respectiva proteção èm face de eventuais vio- "laçõés'(sejam"comtósivàs ou omissivas).
Direitos custam - principalmente os direitos que nós outros chamamos fundamentais ^7 dentre outras razões, porque os respectivos remédios ~são custosos.35 Notadamente os remédios jurisdicionats. Tituíarizar um direito, afirmam os autores - referindo-se a HANS KEL- SEN - é sempre ser um autor (no sentido técnico-processual da expressão) em potencial.35
E os remédios jurisdicionais demandam a criação e manutenção de lima cõmpíexa estrutura púbEcéT (embora não necessariamente govemãmentaircoínò âjüdiciáriàj dè modo a assegurar o acesso dos indivíduos a uma esfera própria para tutela dos direitos, o que não pode se dar - na fórmula deveras expressiva dos autores - em uma situação de vácuo orçamentário (budgetary vacuum). Os direitos - todos eles - custam, no mínimo, os recursos necessários~pará manter essa complexa estrutura judiciária37 que disponibiliza aos indivíduos umiTesfera prSpria pS á tutèláde seus direitos.
Mesmo quando se trata de direitos a serem exercidos em face do Estado (rectius: do governo), é o próprio Estado que os cria e fornece meios, inclusive os econômicos e financeiros - a assistência judiciária aí está e não nos deixa desamparados de exemplos - para a atuação
até o montante monstruoso dispendido com a informatização do procedimento de votação e apuração. Os autores informam, com o (ito de demonstrarem o acerto de suas teses, que as- campanhas políticas do ano de 199S custaram ao contribuinte americano aproximadamente USS 400.000.000,00 (SUNSTEIN/HOLMES, The cost of rights cit.. pp. 113-114, referindo o caráter redistríbutivo dos recursos empregados nas eleições). O reconhecimento de que os direitos politicos ensejam também direitos a prestações já havia sido sentido (embora sem maiores desenvolvimentos), outrossim, por VIEIRA DE ANDRADE, Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976 cic., p. 195.
35 SUNSTEIN/HOLMES, The cost of rights cit., p. 43: "Where there is a right. there is a remedy" is classlcal legal maxim. (...) rights are costly because remedies are costly”.
36 SUNSTEIN/HOLMES, The cost o/rights cit., p. 45 e nota 6 à p. 239.37 SUHSTEIN/HOLMES. The cost of rights cie., p. 45: “7b the extent that rights enforcement
depends upon judicial vigilanco, rights cost, ae a minimum, whatever it coses to reervit, traia, supply, pay, and, (in tum) monitor the judicial custodians o f our basic rights".
209
Flivio Galdino
das cortes judiciárias38 (o aparente paradoxo referido na primeira parte do presente estudo), as quais devem, de todo modo, ter sua atuação bastante restrita.39
Em realidade, observam os autores, a ignorância acerca dos custos, além de tudo, estimula indevidamente a atuação do Poder Judiciário,40 o que conduz (e os autores trazem variados exemplos) a inconvenientes excessos por parte desse poderei
Observam então os autores - q.e.d. - que os direitos e sua efetivação, inclusive aqueles tradicionalmente referidos como essencialmente privados ou individuais, dependem sempre e necessariamente dos recursos públicos.42 Tbmar os direitos a sério significa tomar a sério a escassez43 dos referidos recursos públicos. Se assim é, os custos dos direitos devem influii na sua conceituaçáo. Em especial dos direitos fundamentais, ou, mais precisamente, dos direitos subjetivos públicos.
Ressalte-se previamente, por oportuno, consoante observado pelos próprios autores, que isto não significa transformar a atividade jurídica em uma máquina insensível operada por economistas.44 Sem embargo, e o tema é recorrente para os autores,45 a análise de custos e benefícios é de fundamental importância para a atividade juridica de tutela dos direitos.
38 SUNSTEIN/HOLMES, The cost ofrights cit., p. SS: “Protectlon agalnst government is the- reíore unthinkablo withoilt protoction by government".
39 Seja em razão do sua reduzida legitimidade sob o prisma democrático (nesse sentido, consulte-se SUNSTEIN. Partial Constitution cit., p. 11. acerca do “secondary role" do poder judiciário), seja pelo prisma econômico-operacional (veja-se ainda SUNSTEIN, Cass. Free Markets and Social justiço. New York: Oxford University Press. 1997. pp. 289 e seguintes).
40 Assim, em passagem deveras expressiva (SUNSTEIN/HOLMES. The cost of rights cit., p. 122): “But to consider Erst generation rights priceless and secand generation .ights cost- ly is no only impreciso, i t also encourages the fantasy that the courts can gei erate their own power and ítnpose their own solutions, whether or not the legislativa o - executive branches happen to support thom".
41 SUNSTEIN/HOLMES, The cost o f rights cit., p. 127.42 SUNSTEIN/HOLMES, The cost of rights cit., p. 15: “7b the obvious trtth that rights
depend on government must ba added a loqica! mrntiarv one rir*' ' —'th implicaticns: cigi.U cosi luuuey . Z ainda, p. 97: "Rights will regularly be curtalled when available resources dry up, Just as they will become susccptible to expansion whonever public
' resources expand".43 SUNSTEIN/HOLMES. The cost of rights dt., p. 94.44 SUNSTEIN/HOLMES, The cost of rights cit., p. 102: "01 course it does not follow that
rights must be tossed along with ovorything else into a gigantic cost-benefit machino created and operated by economists".
45 Por exemplo, em CASS SUNSTEIN. Froo markets and social justice cit., p. 349 (cosc-bena- fit analisys).
210
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nèo Nascem em Árvores
As escolhas trâoicas - na já antes aludida expressão de CALABRESI e BOBBIT46 - que são impostas pela escassez de recursos financeiros para tutela dos direitos salientam a valoraçáo que uma socieda- ~3i~átribui a tais ou quais direitos. Isto porque as decisões (ou escolhas) acerca das alocações dos recursos para tutela de determinados direitos, enquanto outros restarão desprotegidos, espelha os valores da sociedade em questão.47
Outrossim, os autores voltam a trafegar, ainda que implicitamente, pelo conceito de direito subjetivo (right), mais uma vez afastando- se do modelo tradicional de raciocínio jurídico tipicamente americano.
Os autores recomendam, então, uma revisão dojconçeito de direi- to subjetivo (righ t), no sentido de fazer nèíe inclmr ja.persR.eçtiva_,dos custos,- sugestão acolhida no presente estudo. Talvez pudéssemos nós chamá-lo ‘^conceitopragm áticodedireito subjetivo" (vide item 15.2).
Em primeiro lugar, tais direitos não podem ser cpnsiderados absolutos. Afirma-se peremptofíaminte: nada que custa dinheiro é absoluta®* Não é possível formular umarealidade concreta, ou seja,’das condições decada tempo e lugar - dai falarmos nós em conceito pragmático.
Segundo os autores, em vez de considerar direito uma situação ideal e não raro absoluta, é melhor considerá-los como poderes de invocar os seletivos investimentos dos escassos recursos públicos de uma dada comunidade.49 O tempo e ojugar - e por que não dizê-lo, as^con- dições econômica.s_e. financeiras - definem as. prioridades dos indivíduos e das comunidades, definindo o que seja direito.
A Verdade acompanha esse último argumento. Um exemplo é sugestivo, justamente a propósito de uma prestação hoje entendida como
46 CALABRESI e BOBBIT, Dragic choices cit..47 SUNSTEIN/HOLMES, TJie cost of rights cit., p. 31.48 SUNSTEIN/HOLMES, The cost of rights c/t., p. 97: "Nothing that costs money can be
aJbsofute”.•lí» o lextu é o Mjyuimt:. ' 7b takts «ccount of thú, unstãble leality. therúíor<i, we ought í j d i to
conceive o f rights as floating above time and place. or as aJbsofute in character. It is more roalisCc and more produetiva to define rights as individual powers deriving from mem- bershipin, or affiliation with, a politlcal community, and as selective investmems o f scar- co collective resources, made to achleve common aims and to resolve what are generally perceived to be urgent common problems” (SUNSTEIN/HOLMES. Tho cost of rights cit.. p. 123). Texto que, aliás, deixa bom clara a já mencionada opção republicanista do autor, que refere sempre o bem comum o a comunidade, ao revès de indicar o indivíduo, como centro de gravidade da distribuição (ou redistribuição) de recursos sociais.
211
Flávio Galdino
direito fundamental social - o direito à assistência médica. Se hoje tal direito é entendido como fundamental, assim não ocorria há alguns séculos, época em que a assistência religiosa situava-se muito acima daquela na hierarquia valorativa da sociedade, sendo preferida a assistência de um padre à de um médico.50
Nesta sociedade, sendo (como de fato eram) escassos os recursos públicos - na medida em que a expressão é aceitável em relação ao período histórico em questão a sociedade escolhia sem desassombro a prestação religiosa em detrimento da médica." ” ,D¥7átõrentão,’ 'o tempo eoTugar,'as prioridades e os recursos, tudo isto decididamente influi sobre a configuração dos direitos e sobre a respectiva exigibilidade, parecendo correto acompanhar SUNSTEIN e HOLMES quando afirmam que os custos influem sobre a própria con- ceituação dos direitos. Será mister, já que os autores não o fazem, tentar dogmatizar - no espelho das necessidades argumentativas
10.3. Custos dos direitos e responsabilidade social
Por derradeiro, insta referir ainda a questão do reconhecimento, dos custos como. meio de promover a conscièntSação dos indivíduos ■pSâ ã responsabilidade najsxercícLo.dos. direitos.
O predomínio inconteste e as variações criticas podem ser observados como movimentos cíclicos do liberalismo norte-americano.51 Assim é que, no ciclo atual, vem encontrando ampla difusão nos Estados Unidos a crítica ao liberalismo, em especial a chamada crítica comunitarista,52 cujos princípios informam em alguma medida o republicanismo a que adere SUNSTEIN.
50 Ò exemplo é devido a MICHAEL WALZER: “In Europe during Middle Ages. the cure of souls waspubiic, the cure of bodies private"; (WALZER, Spheresof justice cit., p. 87), con- setâneo com a premissa do autor de que “social meanings are histórica} in character; and so dlstrlbutions and fustand unjust distributions, change o ver time" (p 9).
51 Como anota WALZER; "Although it operates at a much (infinitely?) higher levei of cultural signlficance, lhe communíta/ían critique of liberalism is like the pieatingr of trousers: tran- S)ent but certain to return" (WALZER, Michael. “The communitarian critique of liberalism". In ETZIONl, Amitai (org.), New Communitarían Thinking-persons, virtues, institutions and communicies. Chailonesvüle: University of Virginia Press, 1993, pp. 52-70. esp. p. 52.
52 O tema é pouco explorado entre nós. Deixando de lado as obras originais, cabe teferir C1TTADINO, Giselle. Pluralismo, direito e justiça distributiva - Elementos da filosofia constitucional contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 1999; SILVA, Ricardo Almeida Ribeiro da. “A critica comunitarista ao liberalismo''. In TORRES, Ricardo Lobo (org.), 7feoria dos Direitos Fbndamentais. Rio de Janeiro: Renovar. 1999; e, Incidenter tantum. MACEDO Jr., Contratos relacionais e defesa do consumidor cit., p. 243.
212
Introdução â “teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Árvores
De fato, sustenta-se que a corrente de pensamento em que os direitos individuais funcionam como elemento central da vida politica - rights-primacy, também conhecida como atomismo (atomismS3) já foi longe demais (rights have gone too far),M estimulando a conduta extremamente irresponsável das pessoas, sem, co-respectivamente, promover o comprometimento para com os deveres (notadamente os do indi- viduo para com a comunidade). Segundo esses críticos, a amplitude dos direitos dos indivíduos deve ser reduzida, ampliando-se os deveres 1Tas'fespõnsabllidades para com a sociedade.
Embora com ungando d e algumas premissas críticas ao liberalismo - o que já seria de se esperar, tratando-se de repubUcanistas os autores em comento não concordam com esta critica em especial, e. tendo como ponto de partida a releitura que propõem dos direitos, a partir dos respectivos custos, vão sustentar que. ao revés, a atribuição de direitos contribui para elevar o grau de responsabilidade dos indivíduos.
Em primeiro lugar, os direitos e os deveres são, segundo os autores. absolutamente indissociáveis.55 Desse modõ, a consciência de um direito significa, ipsó facto, a percepção direta do dever cqrrelativo.
Em segundo lugar, de forma complementar ao primeiro argumento, e o ponto é acentuado pelos autores, somente uma errônea compreensão dos direitos (que ignore seus custos) pode sustentar a tese de que os mesmos geram irresponsabilidade em relação aos deveres co- relativos. Assim, a falsa idéia de que alguns direitos nada custam, ou são gratuitos, essTsimgerã irresponsabilidade.
De outro lado, sustentam SUNSTEIN e HOLMES que uma correta compreensão dos direitos estimula a responsabilidade em relação aos
53 Sobre o que seja atomismo. além da obra em tela, SUNSTEIN/HOLMES, The cost of rights cit., capitulo XII, veja-se o artigo especilico de um importante autor comunitarista. CHARLES TAYLOR, "Atomism". In AVJNER1, Shlomo et DE SHALIT, Avnet (orgs). Commun/tar/an/sm and índiWdualis/n. Great Britain: Oxford University Press. 1996, p. 29- 50; nesta última obra afirma-se (p. 30): “Iam calling atomiSt doctrines These writers, and others wlioprcscntcd socialcontract views. have lalt us a legacy of political thinking in which the notion of rights plays a central pare in justilicacion of political structures and action. The central doctrino of this tradition is an affírmatlon of what we should call the primacy o f rights".
54 SUNSTEIN/HOLMES, The cost of rights cit., p. 136. Os autores discutem as razões expostas por GLENDON, Mary Ann. Rights taik - the impovorishment of political diseourse. New York: The Free Press. 1991, passim.
55 SUNSTEIN/HOLMES, The cose of rights cit., p. 140: " Tho mutual dependence of rights and responsabilitios, their essential inextricabUity, makes ie implausible to say that responsa- bilities are being ignored because rights have gone too /ar”.
213
Flávio Galdino
deveres para com a comunidade. O reconhecimento dejjue todos_os„ direitos possuem custos quase sempre elevados (isto é, são custeados pdfescãssos'recürsos^Tptádos na coletividade de cada indivíduo singularmente considerado), e de que os recursos públicos são insuficientes para a promoção de todos os id e is sociais - impondo o sacrifício "3e alguns cíeíes, implica tãrribém o reconhecimento de que aqueles (os direitos) devem ser exercitados com responsabilidade.56
A consciência de que os direitos custam implica ipso facto a conscientização de que as pessoas somente possuem direitos na medida em que um Estado responsavelmente recolha recursos junto aos cidadãos igualmente responsáveis5? para custeá-los. mostrando ser incorreta a tese atomista de que os direitos inculcam a irresponsabilidade para com os deveres sociais. Ao revés, os direitos, corretamente compreendidos, promovem a responsabilidade no respectivo exercício.
56 SUNSTEIN/HOLMES, The cost o f rights cit., p. 146: ‘ The simple fact that rights have costs, rhcre/ore, already demonstiates why rights entail responsabiüties’ .
57 SUNSTEIN/HOLMES, The cost of rights cit., p. 151: “ That rights have costs demonstrates their dependencs on what ws mighc as we caU 'civlc vimie*. Amoricans possess rights only to the extent that. on the whole. theybehaveasresponsible citzcns'. E ainda. p. 155: ‘ Because rights are costly, thoy cauld nevcr be protected or on/orcod ifcitzens, on avera- ge, were not responsible enough topay their taxes
214
Capítulo XI
11. Direitos não nascem em árvores
As idéias evoluem, em especial as iâéias acerca dos direitos.1 pensamos que o argumento desenvolvido por CASS SUNSTEIN e STEPHEN HOLMES na obra The cost o f rights lança novas luzes sobre a importante temática dos direitos humanos, significando mesmo a superação dos modelos teóricos anteriormente referidos (vide capítulo 4).
A verdade é que, a partir da consideração de que todos os direitos públicos subjetivos são positivos, isto é, demandam uma prestação positiva do Estado paia sua efetivação, o que implica custos públicos, há que se proceder a uma releitura das noções que envolvem os direitos fundamentais.
É o que se passa a esboçar.
11.1. Algumas idéias antecedentes
11.1.1. As dificuldades na compreensão das atividades materiais (fáticas) do Estado e seu caráter prestacional
Consoante já se observou exaustivamente aqui, ao apogeu do Estado Liberal (individualista) corresponde a noção de que o poder público não deve intervir nas atividades econômicas privadas - na célebre expressão francesa: laissez faixe, laissez passer, le monde va de soi même. Com base nessa ideologia, construiu-se a noção de que os direitos (naturais e individuais) reconhecidos nessa fase histórica eram meramente negativos. Após a análise de SUNSTEIN e HOLMES prcic se concluir: nada mais enganoso.
1 Sobre a evolução das idéias, em especial em tema de direitos humanos, veja-se o belo texto, pleno de significado, de PECES-BARBA MARTINEZ. Gregorio. "Los derechos econômicos. sociales e cultura/ac su gênesis y su concepto". in Derechos y libertades. n. 6 (1998): 15-34. esp. p. IS.
215
Flávio Galdino
Na verdade, essa construção teórica, talvez mais precisamente, essa omissão teórica, consistente em não reconhecer que, por mais minimamente que seja, o Estado é um ente essencialmente prestador, 110 mínimo daqueles bens públicos (em sentido econômico) que não despertam interesse da atividade privada, decorre da necessidade de se tentar assegurar a coerência do argumento liberal-individualista.
Seria contraditório e mesmo pesaroso para o liberalismo clássico do século XIX admitir que o indivíduo e o mercado dependem essencial e diuturnamente das prestações estatais para poderem viver e operar. Essas prestações só serão reconhecidas pelo pensamento jurídico no Estado do bem-estar social e, mesmo assim, as “prestações liberais” continuam ao largo do discurso.
Mas o fato de, por razões evidentemente ideológicas, só serem posteriormente reconhecidas pelo pensamento juridico (isto é, concebidas doutrinariamente em momento posterior), não nos pode impedir de ter a certeza de que desde sempre - e inclusive no Estado Liberal-individualista - o Estado atua positivamente, prestando a mais ampla e variada gama de serviços e bens aos indivíduos.2
A lente da positividade, referida no item 7.3.1 e que é utilizada para observá-la, distorce a história, sendo portanto absolutamente inadequada, data maxima venia (o que não quer dizer que também o seja a relação direitos individuais-direitos sociais). A multiplicação das prestações no Estado do Bem-estar Social apenas torna mais visível um fenômeno que existe, repita-se, desde sempre, e continuamente.3
Essa visão distorcida projeta seus efeitos, alguns deles deveras perniciosos, até os nossos dias. Exemplifique-se com o direito administrativo.
Enquanto ciência (sistema subjetivo), o direito público e, no seu bojo, também o direito administrativo, surge no referido apogeu do Estado Liberal. Nesse momento, a concepção vigente de Estado não cedia espaço para o reconhecimento de prestações por parte da administração pública, de modo que o estudo do fenômeno administrativo
2 De acordo, GOMES, Contributo para o estudo das operações materiais da administração pública cít., p. 212: 'Cabe, porém, (azei duas observações. Em primeiro lugar, deve dizer- se que o facto de a actividade material da administração ter começado a merecer as atenções da doutrina com a implantação do Estado social não quer dizer que antes o Estado se abstivesse completamente de fornecer prestações”.
3 Assim em GOMES, Contributo para o estudo das operações materiais da administração pública cit.. p. 21S.
216
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
fica restrito à fase decisória administrativa, isto é, ao ato administrativo, entendido como atividade quase puramente intelectiva e de caráter não-prestacional.
Hoje sabemos que a própria decisão e o próprio ato administrativos são, em si mesmos, prestações estatais positivas. É, no dizer especializado,4 uma visão actocêncrica do direito administrativo.
Nessa fase, não se dedica a atenção devida às complexas questões que envolvem as atividades ou operações materiais da administração pública, ou por outras, às prestações estatais, o que também concorre para que essas já malcompreendidas prestações sejam de fato "esquecidas".
E expressivo exemplo desse modo de pensar, a divisão da atividade administrativa em fases intelectivas e materiais. A fase intelectiva consistiria no estabelecimento do direito, enquanto a fase material, isto é, a conversão do procedimento intelectivo em fato, trataria da realização de atos materiais para a obtenção de determinados resultados concretos. Com grande autoridade sustentou-se que, em muitos casos, a atividade intelectiva esgotaria a atividade administrativa.5
Este “modo de pensar" parece ser uma das causas de não se compreender adequadamente a positividade dos direitos individuais, e de nâo se ter ainda construído dogmaticamente um sistema em torno das prestações estatais (a exemplo do que existem em torno ao ato administrativo).
Mister seja compreendido que todas as atividades administrativas possuem caráter prestacional, demandando agentes públicos e atos materiais que as corporifiquem, sendo inobjetável que todas elas implicam custos para a sociedade, que devem ser justamente considerados no momento em que devam ser tomadas decisões, inclusive quanto ao estabelecimento dessas atividades administrativas.
4 GOMES. Contributo para o estudo das operações materiais da administração pública cit.. p. 225.
5 Ninguém menos do que SEABRA FAGUNDES, O controle dos atos administrativos pelo poder judiciário cit., p. 57: 'A atividade administrativa se exerce por procedimentos de ordem interna destinados a regular o funcionamento do mecanismo estatal, por atos pelos quais o Estado se põe em relação com o individuo e por atos materiais, que ultimam a concretização do direito. (...) Em alguns casos, os atos externos, como os internos que os preparam, constituindo uns e outros parte do trabalho administrativo, esgotam a atividade da função administrativa (...)'. FYísose que a expressão "externos" utilizada pelo autor não tem o sentido de atos materiais, mas apenas de atos intelectivos que extrapolam a esfera interior do Estado e o colocam em contato com o individuo.
217
Flávio Galdino
Vários estudiosos têm se dedicado ao tema noutros paises. A referência ao estudo de SUNSTEIN e HOLMES não deve levar à conclusão de que são os únicos ou de que teriam sido os primeiros. Na verdade, eles tiveram a virtude de aprofundar e sistematizar um tema que vem sendo objeto de atenção de muitos estudiosos.
Conforme ressalvado anteriormente, em importantes análises anteriores dos direitos.6 já se havia verificado, por exemplo, que no interior da comunidade o “direito de não ser morto" (direito à vida ou à integridade física), somente pode ser assegurado onde exista uma força policial ativa para protegê-lo,7 evidenciando que náo se trata de um direito meramente negativo. Ocorre que àquela altura preferiu-se manter uma classificação tripartite de direitos, os positivos, os puramente negativos e os “mistos" (mixed) que se fez integrar aos positivos,b mantendo afinal a distinção tradicional.
Também no terreno da ética (!), estudando-se os direitos humanos como direitos morais (v. item 4.5), analisou-se a posição do indivíduo perante os outros indivíduos e perante o Estado e concluiu-se que perante o Estado não pode haver direitos puramente negativos, pois como visto mesmo a proteção do indivíduo em face das intervenções estatais demanda, pelo menos, a organização e manutenção de determinadas instâncias administrativas (e os custos permanentes a ela atrelados), estão a evidenciar que não existem realmente direitos públicos negativos.9
Mas o mais importante para nós é o estudo da questão no seio da doutrina publicística brasileira, onde ela é praticamente ignorada.
11.1.2. Algumas importantes idéias antecedentes no Brasil
Os estudos jurídicos10 que se dedicam às questões dos custos e da positividade dos direitos fundamentais são (também) escassos no
6 SHUE, Basic rights cit., p. 37; GEWIRTH. The community of rights cit.. p. 3 J.7 GEWIRTH, The community ol rights cit., p. 34.8 GEWIRTH, The community of rights cit., pp. 36-37.9 TUGENDHAT, Uçôes sobre ética cit., pp. 353-354 t 'Uma vez que todos os direitos que
temos face ao Estado custam alguma coisa e são por conseguinte direitos de contrapres- tação, nâo havendo neste sentido direitos puramente negativos
10 Náo é possível deixai de referir os estudos que vêm sendo desenvolvidos por ARMANDO CASTELAR PINHEIRO. Este autor, professor de Economia da UFRJ, infelizmente quase um desconhecido da comunidade acadêmica juridica. tem produzido importante contribuição no terreno dos custos econômicos dos direitos, notadamente sob o prisma
218
Introdução & Teoria dos Custos dos Diteitoâ - Direitos Não Nascem em Árvores
Brasil. Quando muito há algumas referências esparsas, as quais, no entanto, merecem registro específico neste momento. Com efeito, na medida em que uma parte anterior do estudo dedicou-se a desenvolver um inventário das idéias acerca dos direitos humanos (item 9), interessam agora, na verdade, algumas idéias antecedentes desenvolvidas no Brasil já em tomo da positividade dos direitos da liberdade, que de algum modo fugiriam aos modelos antes formulados.
Tais argumentos, apresentados muitas vezes de forma lacônica e talvez mesmo sem consciência das importantíssimas conseqüências deles derivadas, não chegaram a ser efetivamente explorados ou desenvolvidos, não se podendo sequer falar em algum modelo teórico dotado de autonomia.
De toda sorte, é possível identificar alguns autores que fazem referência aos custos dos direitos individuais, isto é, às despesas ocasionadas por aqueles direitos tipicamente negativos. Talvez seja possivel acomodá-los em dois grupos principais.
Em um primeiro grupo (a) estariam alguns autores que apenas intuitivamente, e somente implicitamente (até porque, noutras passagens continuam servindo-se da diferenciação em questão), reconhe- cem que todos os direitos impõem pelo menos alguns custos, sendo em alguma medida positivos:
(a.l) seja porque há a necessidade de criação e manutenção de uma estrutura pública para sua tutela - no mínimo o poder judiciário;11
(a.2) seja mesmo em razão da existência de outras esferas públicas diversas do poder judiciário sem as quais os direitos, mesmo os individuais ou negativos, não são ‘respeitados’ .12
institucional, ou seja. do funcionamento do sistema judiciai. Assim, por exemplo, em “Judicial system performance and economic developmenc", in Ensaios BNDES 2. Outu- bio/1996. É preciso ressalvar, contudo, que seus estudos não possuem cunho juridico, Uai porque nâo foram incluídos na análise efetuada no texto.
11 Ao tratai da aplicabilidade das normas constitucionais, acentua JOSÉ AFONSO DA SILVA "As condições gerais paia essa aplicabilidade são a existência apenas do aparato jurisdicional, o que significa: apllcam-se só pelo fato de serem normas jurídicas, que pressupõem, no caso. a existência do Estado e seus órgãos"; (SILVA. Aplicabilidade das normas constitucionais de.. p. 102). Por óbvio, a existência do Estado e de seus órgãos impõe custos.
12 Assim FERREIRA FILHO. Direitos Humanos cit.. p. 30: ‘ Em contrapartida desses direitos. o sujoito passivo, em principio, não deve senão uma abstenção, um não-fazer. Mas é claro que se o Estado deve, por um lado, abster-se de perturbar o exeicicio desses ditei-
219
Flávio Galdino
Outros autores nacionais, situados por nós em um segundo grupo (b) vão além da simples intuição, e reconhecem expressamente as necessidades de prestações públicas para tutela de todos os direitos da liberdade, reconhecendo, portanto, que não há direitos puramente negativos. O reconhecimento, contudo, não é acompanhado do fundamento, nem são as respectivas conseqüências desenvolvidas. Neste viés de orientação:
(b.l) há quem reconheça os custos dos direitos indiretamente (sem referi-los especificamente aos direitos), ao tratar, por exemplo, da democracia;1
(b.2) há quem fale que a distinção é meramente relativa;14 (b.3) há mesmo quem fale em direitos prevalentemente negati
vos.15
tos. tem. por outro lado, a tarefa de. preventivamente, evitar sejam eles desrespeitados, e. também, a de. repressivamente, restaurá-los se violados, inclusive punindo os responsáveis por esta violação".
13 Veja-se o estudo de MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Sociedade, Estado e Administração Pública. Rio de Janeito: Tbpbooks. 1995. Por exemplo, p. 45. em que (az referência aos custos (a que chama 'custos das transações") derivados dos procedimentos politicos de participação e mesmo da democracia (no mesmo sentido, vide p. 69).
14 É o caso de BRESSER PEREIRA; "Essa distinção. (...) embora atrativa, é, na verdade, relativa. Para se garantirem os direitos civis é também necessária uma ação positiva do Estado, implicando inclusive custos administrativos: afinal, todo o aparato clássico do Estado - poder legislativo, poder judiciário, politica. forças armadas - existe para garantir positivamente os direitos civis, da mesma forma que o aparato social do Estado, expresso nos ministérios da educação, da saúde, da cultura etc., além do poder judiciá- tio e do poder legislativo, existem para garantir os direitos sociais" (BRESSER PEREIRA. “Cidadania e res publica: a emergência dos direitos republicanos" c/t., p. 158).
15 É o caso de CLÈMERSON CLÈVE. Seja permitida, por importante, a transcrição de um longo trecho do autor: “O nascimento de um conjunto de direitos do crédito frente ao Estado (saúde, alimentação, habitação etc.) altçira profundamente a natureza dos direi-4 los humanos. Êstes agora serão, a um tempo, liberdades e créditos do individuo (ou grupo) frente ao Estado., ""'Se as liberdades se manifestam através de uma prestação, prevalentemente nega
tiva do poder público (abstenção do Estado), os créditos exigem uma prestação prevalentemente positiva, ou seja. a disposição de medidas públicas dirigidas à solução das demandas tipificadas como direitos.
A expressão "prevalentemente" foi utilizada para definir a prestação do Estado em , cada domínio (liberdades e créditos) não por acaso. Justifica-se tal uso quando se per
cebe que a ação do Estado no domínio das liberdades é também positiva: ele promulga a lei. define o regime jurídico de cada liberdade, controla o seu exercicio (através da administração e da jurisdição), sanciona sua violação etc. Nos casos dos direitos, a essas colocações soma-se a instituição de mecanismos, sem os quais tais créditos restariam mera expectativa. Sem escolas públicas, o direito à educação é letra morta. IVata-se da construção de hospitais no caso do direito à saúde: do acionamento de uma politica de
220
Introdução à Ifeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Árvores
Estes últimos dois argumentos parecem desaconselháveis, con- cessa venia, pois reduzem drasticamente o conteúdo da classificação em tela (positivo/negativo) de molde a retirar-lhe qualquer significado (melhor será, talvez, abandoná-la).
Por fim, registre-se os posicionamentos de autores que (c) já reconhecem a positividade dos direitos da liberdade. Destacaríamos os seguintes posicionamentos:
(c.l) de quem reconhece a positividade dos direitos individuais sem desenvolver o argumento, mas reconhecendo também a principal conseqüência da superação da distinção, qual seja, de que os direitos da liberdade tenham qualquer tipo de prevalência sobre os direitos sociais;1617
(c.2) de quem, criticando a tese fundamental de SUNSTEIN e HOLMES, isto é, negando as suas conseqüências fundamen-
pleno emprego no caso do direito ao emprego (não confundir com o direito ao trabalho) etc. Como se vê. a ação do Estado neste campo c prevalentemente positiva. Na primeira situação, é prevalentemente negativa. Aqui, embora o poder público se manifeste positivamente, é apenas para assegurar o gozo do direito pelo particular, gozo que nâo depende, em principio, de nenhuma açáo concreta e especifica da ação governamental- ; (CLÈVE 'Sobre os direitos do homem" cit., pp. 125-126). Perceba-se que a conclusão é. data maxima vcnía, contraditória. É justamente à ação concreta do ente governamental (certamente a expressão 'estatal' é mais adequada) que se usa chamar positividade. Ademais, o gozo pelo particular, ao contrário do afirmado no texto, efetivamente depende da ação estatal em caráter permanente (e não meramente prevalente).
16 É a posição de ÁLVARO DE VITA, lançada quase incidenter tantum, nos seguintes termos: "É bizarra a suposição do Slreeten em uma das passagens citadas, de que a garantia dos direitos civis e políticos, em virtude da natureza negativa desses direitos, nâo faz grandes exigências aos recursos sociais escassos. Apesar de bastante utilizada, essa distinção entre "direitos negativos" e “direitos positivos" è equivoca" (p. 234) “Não tenho nenhuma pretensão-de analisar de uma forma apropriada os problétqas substantivos que acabo de mencionar. Meu propósito foi o de ressaltar quão discutível é a suposição de que a garantia dos direitos de primeira geração, porque conteriam primordialmente componentes de natureza negativa, não faria grandes exigências a recursos públicos escassos. Rejeitando-se essa suposição, também rejeitamos seu corolário inevitável: o de que garantir os direitos ditos “negativos" deveria necessariamente ter uma precedência absoluta sobre a efetivação de direitos mais “onerosos" (p. 237): DE VITA. Álvaro. A justiça igualitária e seus críticos. S i o Paulo: Editora UNESR 2000. pp. 234 e seguintes.
17 Merece igualmente registro a brilhante dissertação de Mestrado de Ana Paula de Baicellos. a qual. já com SUNSTEIN e HOLMES. conclui que "também a proteção dos direitos individuais tem seus custos, apenas se está muito acostumado a eles" (BAR- CELLOS, A eficácia juridica dos principios constitucionais de.. p. 239). A não menos brilhante Dissertação de GOUVÊA. O controle judicial das omissões administrativas de.. p. 11, também admite a evidência dos custos dos direitos ditos negativos (novamente invocando SUNSTEIN e HOLMES, nota 19).
221
Flávio Galdino
tais, aborda a questão da positividade. Parece oportuno desenvolver este último argumento.
Já com base na obra de SUNSTEIN e HOLMES. GUSTAVO AMA- RAL,1 com quem temos o privilégio de desenvolver profícuo diálogo no seio do Programa de Pós-Graduação da nossa Faculdade de Direito da UERJ, estuda precipuamente o problema das prestações públicas de saúde. Logo na introdução de seu livro, com a honestidade intelectual que lhe é peculiar, o autor informa que o conhecimento das idéias de SUNSTEIN e HOLMES obrigou a uma total reformulação de suas teses iniciais. 19
Assim é que o aludido autor refere sinteticamente as idéias fundamentais sobre os custos, em caráter restrito àquelas expressas no livro The Cost t>f Rights,M para ao depois refutá-las, ao argumento fundamental de que existem alguns direitos cuja eficácia não depende necessariamente de uma ação estatal.21
Com as vênias devidas e as homenagens necessárias, a refutação é inconsistente. Em primeiro lugar, como se percebe, logo no parágrafo imediatamente subseqüente à refutação (vide nota anterior), o autor procura "abstrair" de determinados custos para tornar seu argumento viável. A té seria possível numa discussão específica acerca de custos dos direitos, simplesmente abstrair de alguns deles - mas nunca custos de monta e relevância como são os custos impostos pelos direitos negativos. Na verdade, seria necessário apresentar uma justificativa impositiva para essa abstração, o que não foi feito.
De outro lado, sob o prisma estritamente lógico, essa abstração conduz à conclusão de que a tese defendida pelo autor é válida (ou aplicável) apenas se desconsiderarmos a parcela abstraída, o que, salvo melhor juízo, lhe retira substancialmente a utilidade.
18 AMARAL, Direito, escassez e escolha cit.. passim.19 AMARAL, Direito, escassez e escolha cit., p. 3.2U AMARAL, Diieito. escassez e escolha cit., pp. 69 e seguintes.21 A refutação encontra-se vazada nos seguintes termos: "Feita a ressalva, cumpre ver que
há “direitos1* cuja eficácia nâo depende necessariamente de uma ação estatal. A liberdade do expressão e de credo são bons exemplos disso. De outro lado. há “direitos" cuja eficácia depende intrinsecamente de uma conduta estatal positiva, como os direitos ligados à assistência social. Para facilitar, chamemos nos próximos parágrafos de “direitos parcialmente independentes" aqueles que não dependem necessariamente de ação estatal e de “direitos dependentes” aqueles cuja dependência ê inuinseca" (AMARAL, Direito, escassez e escolha at., p. 81).
222
Introdução è Tboria dos Custos dos Direitos - Direitos Náo Nascem em Árvores
Em segundo lugar, e o que nos parece decisivo, o autor não explicita o conteúdo que atribui às expressões “necessariamente" e "intrin- secamente", aparentemente utilizadas como sinônimas (e sem explicação sobre por que foram utilizadas duas expressões, que não refletem o mesmo significado, para designar o mesmo fenômeno).
Ademais, a expressão "direitos parcialmente dependentes" en- . i contra-se em clara e franca contradição com a tese de que “a eficácia I dos direitos não depende necessariamente de uma ação estatal". Ora, j ou bem esses "direitos" dependem parcialmente de prestações esta- ; tais, ou bem não dependem - uma coisa não pode ser e deixar de ser a • mesma coisa ao mesmo tempo. Se dependem, ainda que parcialmente, ] é porque mesmo neles há alguma dose de positividade, a qual, numa j análise que se pretenda útil, merece ser considerada (ou precisa de um tj bom fundamento para ser desconsiderada). '1
São essas as razões pela quais, muito respeitosamente, não consideramos suficiente a refutação, data maxima venia, sendo imperioso, contudo registrar a originalidade e a validade científica da construção aqui criticada.22
De qualquer modo, o mais importante aqui é notar que, sem embargo dessas “ idéias", em sua maioria não propriamente desenvolvidas, os autores continuam a servir-se da classificação positivo/negativo, e mais, continuam a dela retirar algumas de suas mais importantes conseqüências teóricas e de amplo alcance prático.
A mais relevante delas é justamente no sentido de, com base na manutenção da distinção em questão, estabelecerem diferentes graus de importância e de exigibilidade entre os direitos chamados sociais e os individuais, considerando que estes - precisamente por serem negativos (dentre outras razões) - têm preferência sobre os primeiros.23
Assim, sem embargo da ausência de desenvolvimento, é possível afirmar que alguns autores já foram sensíveis à realidade, aceitando a positividade de todos os direitos fundamentais, individuais ou sociais.
22 Submetemos previamente à publicação o presente estudo e muito especialmente o presente capitulo ao professor GUSTAVO AMARAL que. além da habitual gentileza em receber e ler nossas modestas linhas, replicou as observações, mantendo o ponto de vista exposto no livro citado. Permanecemos considerando que ainda não foi apresentado fundamento bastante e suficiente para serem desconsiderados abstratamente os elevados custos concretos de determinadas prestações.
23 Neste sentido, Já antes referido, v. TORRES. Os direitos humanos e a tributação cít.. passim.
223
Flávio Galdino
Neste passo, é preciso fazer justiça e reconhecer que, mesnio fora do Brasil, até hoje (e de acordo com o nosso modesto conhecimento) não encontramos autores que tratem dos temas - custos e positividade dos direitos - com a profundidade de SUNSTEIN e HOLMES, nem colhendo as referidas e relevantes c o n s e q ü ê n c ia s .24 Com algumas exceções, a questão tradicionalmente não é sentida.2
Na verdade, é possível dizer que, a exemplo do que acontece no Brasil, a referida classificação continua a servir de suporte para as mais importantes conclusões teóricas26 e soluções de ordem prática .27
24 Exemplo da orientação tradicional colhe-se em BOBBIO: "É supérfluo acrescentar que o reconhecimento dos direitos sociais suscita, atém do problema da proliferação dos direitos do homem, problemas bem mais difíceis de resolver no que concerne àquela 'prática- de que falei no inicio: é que a proteção destes últimos requer uma intervenção ativa do Estado que não é requerida pela proteção dos direitos de liberdade, produzindo aquela organização dos serviços públicos de onde nasceu até mesmo uma nova forma de Estado, o Estado social" (BOBBIO, A Era dos Direitos cit.. p. 72).
25 Na linha dos que percebem mas não desenvolvem. MIRANDA. “Os direitos fundamentais - sua dimensão individual e social" c/t., p. 202 (letra g).
26 Em texto antigo, porém de grande repercussão no Brasil mercê da tradução de uma outra obra do sua lavra, assentava AGUST1N GORDILLO - reconhecendo a existência de direitos negativos face o Estado, relevantes consectários em sede de interpretação: "En el derecho subjetivo positivo ia protección jurídica reside en la exigibilidad de que un terce- ro realice una determinada condueta positiva (hacer, dar); en el derecho subjetivo negativo la protección juridica está en la exigibilidad de que un tercero se abstenga de interferir com la actividad dei sujeto, es decir. realice una determinada conducta negativa (no hacer). (...)
Esa distinción tiene muy importantes consecuencias, pues ante Ia regia lógica de que rige ia libertad en tanto que ei orden jurídico no la restrinja (...). el derecho subjetivo es de interpretación extensiva en cuanco se re/iere al derecho a que no nos impidan una activi- dad, y a que no nos exijan algo, es de interpretación restrictiVa en coanto se refiere al derecho a exigir que un tercero realice algo"; (GORDILLO, Agustin A.. Introducción al Derecho Administrativo. 2» edição. Buenos Aires: Abledo-Perrot. 1966, p. 338).
27 Ad exemplum tantum, CARLOS SANTIAGO NINO: "(...). advertiremos que la distinción entre una y otra pasa sustanclalmente por la distinción entre derechos negativos y derechos positivos, o se a derechos cuyos correlatos son obligaciones de conductas pasivas o 3 respectivamente (también voy a hablat de-deberes activos'y “deberespasivos* con este significado). Es cierto que aun en la aitemativa abstencionista más extrema hay un elemento de activismo por parte dei Estado, que consiste en dictar y en hacer cumplir normas para que otros so abstengan de actuar, pero de cualquier modo los beneficiários de los derechos en cuestión son sólo destinatarios de omisiones y no de presta- ciones positivas"; (SANTIAGO NINO, Carlos. ~E1 alcance de los derechos. Liberalismo conservador y liberalismo iguaiitario". In Ética y derechos humanos - un ensayo de fun- damentación. 2a ed. Buenos Aires: Editorial Astrea. 1989. pp. 305-365, esp. p. 315). A curioslssima observação de que o destinatário da norma recebe apenas a omissão sugere a questão de saber, então, quem seria o beneficiário da prestação positiva que o autor reconhece existir (7).
224
Introdução à Tfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Náo Nascem em Árvores
11.2. Todos os direitos são positivos e integram as opções dadas às escolhas trágicas
Como é cediço, a importação a-crítica de idéias já produziu muitos equívocos e outros tantos efeitos prejudiciais ao nosso Direito. Multiplicam-se os exemplos, estando o próprio tema dos direitos fundamentais apto a ministrar vários deles.
É bom exemplo, no plano institucional, o sistema de prestação de serviços púbhcos de saúde, em que a Constituição da República de T988 - pródiga em despesas de toda ordem28 (vide item 13.2), importando modelo nórdico. francamente inadequado para a realidade social brasileira, vem trazendo grandes transtornos (e o que é pior, recheados de imqüidades).
A importação de idéias e institutos jurídicos pressupõe uma análise prévia e detida da compatibilidade das idéias importadas ao sistema e principalmente à realidade onde presumivelmente devem inte- grar-se.29
No caso vertente, dos custos dos direitos, a dita importação das idéias vertidas na obra comentada não parece padecer de qualquer problema. Notadamente porque se trata de idéia de cunho operacional ou, na linguagem de SUNSTEIN e HOLMES, de cunho descritivo.
Não se trata, portanto, propriamente de importação de uma idéia, mas de observação de um mesmo fenômeno comum, não sendo possível ignorar a correção da afirmação dos autores consoante a qual todos os direitos fundamentais são, afinal, positivos - no sentido de que demandam prestações estatais positivas).
O senso comum científico da comunidade jurídica brasileira não fica - ou ao menos não deve ficar - alheio aos argumentos e conclusões apresentadas na obra de CASS SUNSTEIN e STEPHEN HOLMES.
Saliente-se então, que a importante conclusão de que todos os direitos fundamentais são positivos não pode mais ser desconsiderada pelo pensamento juridico brasileiro.
O equívoco parece residir precisamente em considerar-se que a tutela dos direitos da liberdade consista ou possa consistir em uma
28 Notadamente previdenciárias, GIAMBIAGI e ALÉM, Finanças Públicas cit., p. 139.29 Sobre o tema da importação de idéias, e. coincidentemente, sobre o problema das pres
tações públicas relativas a saúde, veja-se KRELL. “Controle judicial dos serviços públicos básicos na base dos direitos fundamentais sociais* cit., passim.
225
Flávio Galdino
pura obrigação de não fazer30 gratuita, isto é, uma abstenção sem custos, quando, em verdade, ela contém sempre e sempre um facere (um agir positivo) e, mais importante, qualquer ação ou omissão estatal é sempre custosa - positiva.
Consoante já observado, enquanto na esfera privada talvez fosse possível caracterizar uma obrigação ou dever como totalmente negativo - notadamente na análise de uma relação jurídica una (simples), no sentido de que impede a ação ou mesmo impõe a abstenção total do indivíduo, no caso da atividade do Estado, as obrigações e deveres de natureza puBlica são sempre complexas e constantes, sejam ativas ou positivas, implicando necessariamente custos, sendo à utilização de üxemplos fõmádós ao direito privado mamfestamente inadequada, data venia.31 O eventual “omitir-se” , par a o Estado, táiffiem cüstlídinheiro.
Na verdade, mesmo decòmpondo-se para fins didáticos as complexas situações jurídicas de direitos fundamentais em relações simples, e assim estabelecendo-se deveres negativos para o Estado, mister deixar claro que esses deveres negativos impõem para o Estado outros corrglatfls deveres positivos, no mínimo para.manteruma.estcu- tura que garanta o respeito a’òs~aireitos fundamentais em questão.
Sempre e sempre haverá deveres ou àtéobrigações positivas, as quais demandam prestações e os custos respectivos. A decomposição dos deveres, mesmo para fins didáticos, com todas as vênias, é enganosa.
Para exemplificar, seja consentido voltar ainda uma vez ao direito de progriedade. Em sua faceta estritamente privada, e de acordo com determinada orien tação,a ludido direito talvez até seja meramente negativo (sendo bastante discutível a possiÉilidãde ~3iT cisão das "taces" de um direito em público e privado).
30 Por todas, a influente obra do LUÍS BARROSO: “A segunda razão é de caráter opera c/onai: esses direitos têm por conteúdo, normalmente, uma abstenção, um nâo fazer dos indivíduos e principalmente do Estado; sua realização, assim, na generalidade dos casos, inde-
de ônus. do atividades materiais, além de ter a seu favor a própria lei * ' inércia". BARROSO, O direito constitucional e a efetividade de suas normas cit., p. 105.
31 Como faz exatamente ao tratar de direitos públicos JOÃO CÁRLOS ESPADA: “Os direitas positivos e negativos diferem na medida em que acarretam obrigações positivas ou negativas, ou seja. obrigações (negativas) de não fazer qualquer coisa, ou obrigações (positivas) de fazer qualquer coisa. O exemplo habitual de um direito positivo é o direito do crodor contra o seu devedor, do qual decorre para este último a obrigação positiva de pagar a sua divida. O direito de uma pessoa à sua propriedade é principalmente um direito negativo do qual decorre, para outras pessoas, a obrigação negativa de não interferirem com a propriedade' (ESPADA. Direitos sociais da cidadania cit., p. 23).
226
Introdução à Tfeoria dos Castos dos Direitos - Direitos Náo Nascem em Árvores
O mesmo direito de propriedade, em sua face pública, impõe ao Estado uma série de deveres positivos, que permitem a criaçâo-é"mánu- tenção do direito, como séja a proteção daqüeíê direito em facè~do pfó- prio Estado e dos demais particulares. Saltam aos olhos as fortes cores da inadequação dos esquemas formulados a partir de categorias priva- tísticas. De fato, é preciso concordar com SUNSTEIN e HOLMES, para afirmar que na esfera pública inexistem direitos negativos - inexiste puro non facere. Tbdos os direitos subjetivos públicos são positivos.
Como consectário, e cuida-se de relevante consectário, tem-se que as liberdades, outrora entendidas como direitos meramente negativos, também integram o circulo deopções que são dadas às escolhas públi-
~cas, às~trágícas e inevitáveis escolhas públicas.' ~ ~ Como visto, costúma-se referir apenas aos direitos sociais ou, mais especificamente, aos direitos que demandam prestações públicas positivas, como fazendo parte do elenco de opções sujeitas à reserva do possível e, portanto, entregues às escolhas trágicas, restando os direitos da liberdade fora deste âmbito, como se fossem efetivados independentemente daquelas.
A afirmação não é correta, data maxima venia. Em primeiro lugar porque existem direitos sociais que se encaixariam na categoria de direitos negativos ou direitos de defesa antes referida (as chamadas liberdades sociais) - como o direito de greve e a liberdade de associação sindical, por exemplo.32 Mas este não é o argumento fundamental.
Com efeito, a partir da anterior conclusão de que todos os direitos públicos são positivos, é mister reconhecer que os direitos da liberdade ou individuais também integram o rol dado às trágicas escolhas públicas. Na verdade, conclui-se que todo e qualquer direito fundamental integra o referido rol (podendo, portanto, ser preterido em razão da tutela de outro direito, cuja tutela seja considerada mais importante em um dado momento).
As conseqüências de tal conclusão, inclusive as práticas - são de elevada monta. No modelo teórico tradicional, o direito de ir e vir - ad ... • olum tantvm, a liberdade « n sentido estrito - é tido como plenamente assegurado independentemente de qualquer ação estatal, depondo a autoridade pública escolher, por exemplo, tão-somente entre assegurar o direito à educação ou o direito à saúde. A partir das
32 Neste sentido, coerentemente. SARLET. A eficácia dos direitos fundamentais cic.. p. 174, e AMARAL, Direito, escassez e escolha cit.. p. 81.
227
Fl&vio Galdino
conclusões de SUNSTEIN e HOLMES, placitadas pela observação empírica, também o direito de ir e vir “passa" a integrar o elenco de opções, podendo ser preterido.
Na medida em que tal direito, e seus congêneres tidos habitualmente como negativos ou de defesa, dependem tanto das prestações estatais positivas como todos os outros direitos sociais, não há que pensar estejam eles fora do rol das escolhas sociais. Os recursos são limitados e as escolhas públicas, verdadeiramente trágicas, incluem também os direitos individuais, que podem igualmente ser sacrificados, como de fato já são sacrificados todos os dias.
Deveras, nossa doutrina e nossos tribunais, diuturnamente reconhecem, ao menos implicitamente, que os direitos individuais têm custos, muitas vezes elevados. Reconhecem quando, por exemplo, servem-se de indenizações como meios indiretos de salvaguardar os direitos dessa natureza.33
A retórica do "respeito” - de caráter supostamente puramente passivo - pelos direitos individuais desvela sua face custosa na responsabilização na esfera civil (indenização, reparação, compensação) que é deferida na hipótese contrária (ainda que omissiva - omissão em proteger a liberdade individual).3*
Seja permitido lembrar que este modelo de decisão judicial refere o que já se usou chamar “sociedade de reparação generalizada”,3S em especial para designar a sociedade americana, onde, havendo ao menos aparentemente um reconhecimento mais tênue dos direitos chamados sociais, a redistribuição da riqueza social funda-se na radicalização da proteção dos direitos individuais, revelando um discutível
33 É exemplo paradigmático: "Em caso de prisão indevida, o fundamento indcnizatório da responsabilidade do Estado deve ser-enfocado sobre (síc) o prisma de que a entidade estatal assume o dever de respeitar, integralmente, os direitos subjetivos constitucionais assegurados ao cidadão, especialmente o de ir o vir" (STJ. Primeira Turma, Recurso Especial 220982-RS. Relator o Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 22.02.2000. votação por maioria). A própria Constituição Federal cuida de indenização dessa espécie (CF. art 5a. LXXV). Sobre a responsabilidade civil do estado em geral, confira-se MOTA. Maurício Jorge Pereira. Responsabilidade civil do Estado legislador. Rio de Janeiio: Lumen Juris. 1999.
34 MIRANDA, “Os direitos fundamentais - sua dimensão individual e social' at.. p. 202 (letra h).
35 ROSANVALLON, Piene. A nova questão social - tepensando o Estado Providência (trad. bras. por Sérgio Bath. sem indicação do título original). Brasilia: Instituto Teotônlo Vilela. 1998. p. 63
228
Introdução & Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Árvores
aperfeiçoamento da lógica individualista, mas que revela inequivocamente a face positiva dos direitos.
Em conclusão, demonstrado que tqdo_direito possui um custo, a opção pela sua efetivaçao maepenae de sua caracterização como cfuêT tõ~índmdüãí. Hiréitõ~ cie Sefesa óu direito social. Isto é, o modelo de "erássiücáçao quêTsepara direitos positivos ” e'negativos apresenta escassa ou nenhuma utilidade prática.36
Cumpre ressaltar ainda que a expressão "as prestações positivas passam a integrar o elenco das escolhas ” , utilizada em alguns parágrafos anteriores não é estritamente precisa. Na verdade, os direitos individuais (enquanto direitos subjetivos públicos} sempre foram positivos, no sentido de que sempre demandaram intervenção estatal em forma de prestações estatais positivas. O diferencial do presente momento teórico é o reconhecimento dessa positividade, e não o seu surgimento.
Consoante observado, os direitos individuais eram vistos como produtos da natureza, inatos, supostamemte indiferentes à ação do Estadò eT por issõi UdósTcomó negativos. Cresceram sob a ótica privà-
'fístíca, e foram estudados ã partir de relaqões~~sTfnpfes.~Èste pano de tunao7fão permitiu^ a correta compreensão de se u carater^uBlic^posV
'tivÒ?É”possível dizer que na França do século XIX sob a égide restrita cKTCódigo Napoleão - talvez a apoteose do individualismo jurídico - esses direitos já eram públicos e positivos.
Com efeito, naquele tempo já havia um organismo estatal com poder-dever de policia destinado a assegurar a propriedade "privada", um outro organismo estatal judiciário para julgar os conflitos dela decorrentes e até mesmo um organismo estatal destinado a aprisionar quem potencialmente ameaçasse a propriedade. Mesmo quando se diz que justiça é gratuita, ela evidentemente importa custos, apenas dispensado o pagamento de algum eventual beneficiário. 37
36 Relembre-se aqui que o juízo de valor que pesa sobre as classificações é o da utilidade (CARRIÓ, Notas sobre derecho y lenguaje cit., p. 99) e a classificação criticada náo possuí utilidade para informar e orientar as escolhas públicas.
37 Relembre-se a observação certeira de BARBOSA MOREIRA: "Não há processo, ademais, sem movimento de dinheiro. A manutenção do aparelho judiciário demanda o emprego de recursos Gnanceiros vultuosos. T&m de ser remuneradas as pessoas que fazem funcionai - ao menos as que se ocupam em caráter profissional. Gastos são também imprescindíveis paia a aquisição, a conservação e a renovação das coisas que no processo se usam, desde os prédios destinados as instalações dos órgãos judiciais até as folhas de papel em que se escreverão sentenças, ofícios, pautas de julgamento, mandados de citação e termos de audiência. Quando se fala em 'justiça gratuita*, pura e simplesmente se
229
Flávio Galdino
Todos esses organismos estatais são criados e mantidos com recursos públicos. É assim desde sempre, só que, como já se disse, estamos muito acostumados a ver as coisas de modo diferente, in casu, como se a propriedade não demandasse qualquer prestação pública para ser exercida. Estamos muito acostumados porque assim fomos ideologicamente formados.
Na verdade, o reconhecimento dos custos e da positividade de todos os direitos impede que se faça uso ideológico da distinção posit iv o / n e g a t iv o ,^ uso que obstaculiza a visão de que - tomando-se em consideração os custos - também os direitos individuais podem ser sacrificados em detrimento dos sociais.39
Além de tudo, o reconhecimento dos custos estimula o exercício responsável dos direitos pelas pessoas, o que nem sempre ocorre quando o discurso e a linguagem dos direitos simplesmente fingem ignorar os custos, pois a promessa dos direitos absolutos, além de criar expec- tativas irrealizáveís, promove o exercício irresponsável e muitas vezes aEúsivo dos "direitos"!40 - -
■ "^ “ Embora os custos certamente não sejam o único referencial ou critério para as decisões politicas e judiciais, fato é que eles não podem ser desconsiderados na discussão acerca dos direitos fundamentais,
alude a um tegime em que custeio de tudo isso é suportado polo Estado - e. portanto, em última análise, pela coletividade dos contribuintes - , em vez de o ser apenas usuários dos serviços da Justiça, em cada caso concreto. Gratuidade, no sentido mais exato da palavra, não existe, nem podo existir, em lugar algum* (BARBOSA MOREIRA. Josá Carlos. “Sobre a multiplicidade do perspectivas no estudo do processo*. In BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Tbmas de Direito Processual. 4* Série. Sáo Paulo: Saraiva. 1989, pp. 11-2 1 , esp. p. 16).
38 A questão ideológica é aqui colocada em termo3 diversos daqueles referidos no modelo teórico da utopia, em que os problemas relativos aos recursos públicos eram simplesmente ignorados (veja-se o item 9.4), reconhecendo-se a validade da distinção positivo/negativo, fatos que, em última análise, como se vè. favorecem a manipulação ideológica dos direitos.
39 Afastando a parcialidade denunciada por SUNSTEIN (consoute evidenciado no capitulo 10). Observa V1LLKY: 'Sob pretexto de conceder a todos satisfações infinitas, o sistema funciona exclusivamente para vantagem de alguns. È impossível atribuir qualquer direito subjetivo a alguns, se não for em detrimento dos outros* (VILLEY, FilosoQa do Direito cit., p. 131).
40 GLENDON, Rights talk cit., pp. ix. 14,45 et passim. Por exemplo: "A penchant for absoluta formulationspromote unrcalistic expectations and ignore both social costs and the rights of otbers’ (p. ix) e “Absoluteness is an ülosíon, and hartUy a harmless orne* (p. 45). Essa autora sustenta que o discurso dos direitos empobrece o debate político. Embora nâo possamos concordar Integralmente com um tal posicionamento, notadamente em relação ao Brasil, fato é que muitas das criticas formuladas pela autora merecem ser acolhidas.
230
Introdução à Tfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
nem servir de fundamento para a tutela integral dos direitos individuais e meramente parcial dos direitos sociais, como se vem fazendo, de forma muitas vezes inaceitável.
Nessa linba de argumentação, é possível trazer a lume uma série de exemplos caseiros. O país tem assistido nos últimos anos a vários lamentáveis massacres de pessoas e mesmo de populações carentes levados a efeito por órgãos públicos, custeados através do recolhimento de recursos igualmente públicos, adotando veladamente um modelo de direito de propriedade inaceitável nesta quadra histórica (e que se serve do equívoco de considerar este direito como sendo negativo).
Neste sentido, indaga-se: quanto terá custado aos cofres públicos enviar e manter em campana por semanas a fio em Eldorado dos Carajás mãis de quinhentos líòmens armados7 0 que estes homens pro-
vtegiam? Ém nome de que direito eles mataram civis miseráveis a sangue-frio? A resposta atende pelo nome de propriedade privadaJde um ou de uns poucos).
O custo dessa operação maligna desencadeada a propósito da segurança pública não é senão o custo que o direito de propriedade (seguramente "privada") em questão representou para o Estado (e representa todos os dias). Será possível ainda dizê-la meramente negativa? Naturalmente que não. A verificação da positividade de todos os direitos fundamentais é que irá permiürjamãuescolha lúciciajeiitre a-via-- lenta proteção do direito subietivo de propriedade “privada" e "priva- tfstíca" oitocentesca.e a adequada prestação educacional 6uBé~sáüdê. que talvez sejam menõscustosas. e por certo muito mais necessárias.
Mais tecnicamente, registre-se que o fato de se tratar a segurança pública de um bem público em sentido econômico, não afasta sua caracterização como prestacional e, portanto, como direito positivo.
Deveras, a segurança pública supostamente41 não permite a aplicação tétnico-econômica do principio da exclusão nem é precisamente divisível em cotas de adjudicação individual, de modo que não é possível quantificar rigorosamente quanto de benefício cada individuo aufere da prestação pública global.'’7-
41 Diz-se “supostamente" porque a exclusão não é determinada pela natureza econômica do bem. mas sim pelas opções políticas. Além disso a questão de saber quantificar individualmente a fruição de um bem depende apenas da capacidade tecnológica a ser desenvolvida com esse (im.
42 A segurança pública ou interna é mesmo o exemplo recorrente de bens públicos nos livros especializados: REZENDE. Finanças Públicas cít.. p. 19, e GIAMBIAGI e ALÉM. Fi
Flávio Galdino
Mas a ausência de precisão nos fatores de distribuição individual não impede a verificação empírica de que muitas pessoas recebem grande parte e outras são excluídas dessas prestações. Tàmbém em relação à segurança, a exclusão social é um fato notório - neste caso, no sentido de que algumas pessoas não são alcançadas pela prestação do poder público consistente em segurança.
É um dado inobjetável da realidade que o poder público em geral, e as polícias em especial, não possuem controle efetivo sobre a segurança pública em determinados guetos sociais. As pessoas que residem nesses locais não recebem essa prestação estatal (segurança) de modo adequado ou, no mínimo, recebem em escala nitidamente (embora imprecisa) menor do que as pessoas que residem nas áreas abastadas (isto é, as pessoas ricas). Coincidentemente, os mesmos que possuem "propriedades” a serem protegidas, recebem muito mais prestações de segurança pública do que os pobres (que "só" possuem a própria integridade a ser protegida).
Esse fenômeno - sob o prisma econômico - constitui o que se chama, na linguagem especializada, “carona", ocorrente quando, diante da impossibilidade de individualizar o consumo de determinado bem público, alguns indivíduos usufruem dos benefícios que o dinheiro público gera sem a respectiva contraprestação.'13
A verdade é que essa impossibilidade de bem precisar os benefícios individuais, ligada à conveniência política de manutenção de uma situação de dominação, levou à formulação da idéia de que a segurança pública atende a todos indistintamente, o que é tanto mais contraditado pela realidade quanto se observe que algumas pessoas, as que “podem” evidentemente - diante da insuficiência da prestação estatal - pagam valores deveras precisos e expressivos pela sua própria segurança (privada) e pela manutenção de suas propriedades e liberdades individuais, deixando claro o 'caráter prestacional da segurança e a positividade do direito de propriedade.
nanças Públicas etc., p. 25. Embora intuitiva (e eventualmente contrária is premissas teóricas adotadas pelo autor em seus textos), é expressiva a sensibilidade de BARROSO, ao afirmar que “Em meio a tudo mais, também a liberdade è distribuída de forma injusta no país" (o grifo é nosso). Vide BARROSO. Luís Roberto. “Eficácia e efetividade do direito à liberdade'. In Arquivos de Direitos Humanos Volume 2 (2000): 81-99, esp. p. 99.
43 Sobre o que seja a figura do “carona* em relação a bens públicos. GIAMBIAGI e ALÉM, Finanças Públicas cit.. p. 21.
232
Introdução ã Teoria dos .Custos dos Direitos - Direitos Náo Nascem em Árvores
For fim, então, assinale-se que a aludida argumentação de CASS SUNSTEIN e STEPHEN HOLMES em torno do direito de propriedade (e que vale para os direitos em geral) permite observar que inexistem prestações não-fáticas (a que se referia INGO SARLET, forte na lição de ROBERT ALEXY - vide o capitulo 9).
A própria prestação normativa tem por pressupostos uma série de fatos - como a criação e operação permanente das normas44 - levados a efeito por corpos de agentes públicos quase sempre muito bem remunerados e sediados em estruturas deveras dispendiosas e que consomem considerável parcela dos escassos recursos estatais.
Apenas ad exemplum tantiun, aduza-se que, só no plano federal (referimo-nos ao Brasil), de acordo com as estatísticas oficiais do perío- do que vai de 1990 a 1994, quase 1% (um por cento) de todos os gastos públicos federais foi efetuado com as Casas Legislativas,45 mantidas para prover as tais prestações normativas. Também os direitos de defesa (vide ainda uma vez o capítulo 9) referidos por alguns, equivocada- mente s.m.j., como totalmente negativos, demandam prestações estatais positivas permanentes, sendo igualmente positivos.
O pensamento juridico. como tudo na vida, é construído e evolui a passos lentos, marchas e contramarchas. Será um grande passo à frente passarmos a reconhecer que também os direitos individuais consagram elevadas despesas e que, portanto, são tão sujeitos àquela "reserva do possível" quanto os direitos sociais.
11.3. A superação da idéia dos custos como meros óbices e de que os custos são algo externo aos direitos
Um outro consectário relevante que se pode extrair do argumento anteriormente desenvolvido é o de que os custos não devem ser enca- rados como meros óbices à consecução cTòs direitòs fundamentais, con-
Tórme se vem de há muito salientando. Não que tal consideração seja
44 Parece estar de acordo JORGE HAGE. o qual. embora sem desenvolvei especificamente esta temática, refere-se a “prestações positivas estatais de caráter normativo', induzindo ao entendimento de que a prestação normativa é sempre positiva (HAGE. Jorge. Omissão inconstitucional e direito subjetivo. Brasília: Brasília Juridica. 1999, p. 31).
45 Referências estatísticas precisas em REZENDE, Finanças Públicas cit.. pp. 70-71. Apenas a Câmara dos Deputados (apenas um órgão legislativo federal!) possui orçamento anual da ordem de R$ 1.2 bilhão de reais (Cf. informação do Jornal o Globo. Primeiro Caderno, p. 8: em 12 de junho de 2001.
233
Flávio Galdino
essencialmente errada. A questão é só de perspectiva. A perspectiva dos custos como meios parece-nos mais construtiva. ” ~
A verdade é que os custos ostentam uni caráter biface. Tanto podem ser vistos comojábices quanto como pressupostos. Â experiência registra sem número de tentativas de visualizá-los como óbices tão- somente com escopos ideológicos. Na história recente do nosso pais houve mesmo quem impugnasse a instauração da Assembléia Nacional Constituinte (de 1986) em razão dos elevados custos que seriam por ela impostos à sociedade.46
Na linha antes referida de SUNSTEIN e HOLMES, aconselha-se a mudança de perspectiva, passando-se a trabalhar com os recursos econômicos como pressupostos, que tornam possível a realização dos direitos.
A concepção dos custos como óbices tem a sua função, que é a de identificar e precisar os obstáculos para superação,47 mas neste viés, os custos ainda são inadequadamente vistos como algo externo aos direitos,
Eaz parte dessa perspectiva a idéia da “exaustão orçamentária"^8 _ utilizada para referir a inexistência de suporte financeiro para concretizar determinados direitos -, a qual, todavia, conduz, com todas as vênias, a uma interpretação equivocada do fenômeno que procura analisar. Com efeito, através dela não se analisa o fenômeno como um todo, mas apenas parte dele. A análise global do fenômeno permite entrever o engano.
Deveras, ao dizer-se que o orçamento público não pode suportar determinada despesa, in casu, destinada à efetivação de direitos fundamentais, e tendo como parâmetro a noção de custos como óbices, quer-se necessariamente designar um orçamento determinado. Isso porque os recursos públicos são captados em caráter permanente - a captação não cessa nunca, de forma que, a rigor, nunca são completa
46 Sobre as despesas com a Constituinte, veja-se o registro critico de GRAU, Eras. A constituinte e a Constituição que teremos. São Paulo: RT. 1985, p. 33: "O pretexto da despesa que a Assembléia constituinte ocasionará não resiste ao bom senso
47 Como (az referência, entre nós. CRUZ E TUCCI, José Rogério. Ttempo e processo. São Paulo: RT, 1997, p. 114, especificamente em relação aos custos ocasionados pela longa duração dos processos Judiciais.
48 Conforme o estudo antes referido de EROS GRAU, “Despesa pública - condito entre princípios e eficácia das regras juridicas - o principio da sujeição da administração As decisões do Poder Judiciário e o principio da legalidade da despesa pública" c/t., pp. 130-148.
234
Introdução i Teoria dos Custos dos Diicitos - Direitos Não Nascem em Árvores
mente exauridos. Assim sendo, nada obstaria a que um outro orçamento posterior assumisse a despesa em questão. Sem embargo dessa possibilidade muitos autores argumentam que esse meio - a exaustão da capacidade orçamentária - constitui um meio de frustrar a proteção dos direitos fundamentais.- O que usualmente frustra a efetivação de tal ou qual direito reconhecido como fundamental não é a exaustão de um determinado orçamento, mas sim a opção politica (justa ou injusta, sindicável judicialmente ou não) de não se gastar dinheiro com aquele mesmo “direito".
A compreensão dos custos como meios de promoção dos direitos, e a observação empírica de que tais meios são insuficientes para atender a todas as demandas, leva necessariamente à conclusão de que não é propriamente a “exaustão da capacidade orçamentária" que impede a realização de um determinado direito subjetivo fundamental (embora isso também seja possível). O referido argumento usualmente presta-se a encobrir as trágicas escolfiãs que tenham deixado de fora do universo do possível a tutela de um determinado bem invocado na qualidade de “direito” fundamental.
De outra face, a retórica da “exaustão orçamentária” cria um sentimento de que “direitos" há - inclusive fundamentais - que não são objeto de tutela, restando "abandonados", o que nos parece extremamente prejudicial à segurança juridica e à estabilidade das instituições. Tal situação de desconfiança e de falta de credibilidade prejudica a tutela dos direitos como um todo, o que é desaconselhável.
Por estas razões, e ressalvando desde logo que a complexidade do tema ainda está a demandar estudos mais aprofundados acerca de cada afirmado direito fundamental, parece conveniente considerar a sugestão de CASS SUNSTEIN e STEPHEN HOLMES consoante a qual os custos devem integrar previamente a própria concepção do direito
“fsubjêTivoy f^âãrnêlítalTTsEõ'S ’os cüst5s’deveJfn~ser trazidos para den- tfodo respectivoconcêito. conduzindo àquele "conceito pragmático de direito subjetivo fündamental" a que nos referimos antes, e que será õtSjeto de um exercício teórico em um item seguinte (15.2).
De fato, parece correto sustentar que nao se deve afirmar a existência de um direito fundamental determinado, ou seja, o direito de uma determinada pessoa receber uma determinada prestação quando seja absolutamente impossível, sob prisma prático e econômico-finan- ceiro, realizá-lo. Impõe-se uma prévia análise de custo-benefício para compreenderem-se as conseqüências das escolhas. A questão é complexa, demandando ainda maior atenção por parte dos estudiosos.
235
Capítulo XII Análise Econômica do Direito:
Introdução ao Tema
12. Eficiência: os custos dos direitos e a análise econômica do direito
12.1. Um ponto: a análise econômica do direito
A tentativa de inserção dos custos dos direitos na análise jurídica, até mesmo sob o prisma conceituai, não revela senão a tentativa de incluir no raciocínio jurídico os inolvidáveis resultados das análises econômicas. Evidentemente a idéia de relacionar direito e economia não é nova, embora também seja praticamente desconsiderada entre nós (o que somente ratifica a sempre referida defasagem dos programas de nossos cursos jurídicos1). Mister, porém, apresentar melhor a idéia tal como desenvolvida noutros lugares.
Ebi nos Estados Unidos da América que se desenvolveu a mais vigorosa e influente escola voltada para a análise econômica do direito, denominada Law and Economics, expressão que, sem embargo da escassez de obras no Brasil tratando do tema, já mereceu várias versões diferentes, como interpretação econômica do direito,2 teoria econômica do direito,3 e análise econômica do direito.4 Esta última, que
cccc
cccc
c
cc
Sobra este o outros problemas referentes ao ensino jurídico, seja consentido remeter a um outro estudo nosso - ainda em sede de bacharelado, generosamente agraciado com o Prêmio Jurídico oferecido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil do ano de 1997: GALD1NO, Flavio. “A Ordem dos Advogados do Brasil na reforma do ensino jurídico'*. In Ensino Jurídico OAB - 170 anos de cursos jurídicos no Brasil. Brasília: Conselho Federal da OAB, 1997, pp. 155-186.FARIA, Guiomar T. Estrella. Interpretação econômica do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 1994.STEPHEN, FYank. H.. Tboria Econômica do Direito (trad. bras. de The Economics of cho Law por Neusa Vitale). São Paulo: Makron Books. 1993.COELHO, Fábio Ulhoa. "A análise econômica do Direito". In Direito - Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC-SP 2: 155-170 (São Paulo: Max Limonad. 1995). Vejam-so ainda as considerações introdutórias de SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial - as condutas. São Paulo: Malheiros. 2003, esp. pp. 22 e seguintes.
í
í
239
Flàvio Galdino
nos parece mais adequada, é também a adotada preferencialmente, salvo engano, nas versões espanholas, o que possivelmente se deve ao fato de que a simples tradução de Law and economics (direito e economia) não é suficientemente expressiva no nosso idioma. Optamos por tratar do tema sob o titulo de análise econômica do Direito sendo certo que a adoção dessa última nomenclatura deve-se também ao fato de ser este o título de uma obra fundamental produzida por um dos atuais "líderes" desta escola.5
O ponto de partida para o desenvolvimento desse modo de pensar o direito parece ter sido a construção de um importante jurista e filósofo de língua inglesa, JEREMY BENTHAM, o qual, mesmo para fins jurídicos,6 concebia os indivíduos economicamente, isto é, como maximi- zadores racionais de seus próprios interesses7 ou utilidades (o utilita- rismo), tendo a escola de pensamento em questão se desenvolvido a partir da agenda teórica do realismo jurídico norte-americano.8
Seus próprios cultores sustentam que a escola surgiu entre 1958, quando foi criada a publicação Journal o f Law and £conomics da Universidade de Chicago, e 1973, quando é lançado o livro Law and Economics, de RICHARD POSNER. Antes da revista não se poderia falar na existência de algo como um “movimento teórico” ; depois do aludido livro, já não se poderia negar a sua existência.9
Dizer que os indivíduos são maximizadores racionais de seus próprios interesses ou utilidades significa afirmar que as suas escolhas estão vinculadas ao maior proveito individual que possam obter delas.
5 Referimo-nos à obra de POSNER. Richard. Bconomic analysis of law. Fourth edition. Boston: Líttle, Brown and company. 1992.
6 Neste sentido. DWORKIN, Tàking ríghts seriously cft., p. IX; TORRES, O Orçamento na .... .Constituição c/r., p. 207. Mais detidamente, POSNER; Economic analys&of law cli.. p. 3
e seguintes: POSNER, Ftontiers o f legal thoory cit., p. 31 e seguintes; VAN PARIJIS. O que é uma sociedade justa? - Introdução à prática da filosofia política (Uad. bias. de Qu‘est-ce qu'une société juste? por Cintía Ávila de Carvalho). São Paulo: Editora Áticá. 1997, p. 31, fala no utilitarismo grosseiro de BENTHAM.
7 Por todos, ROEMER, Andrés. Introducciõn al análiszs econômico dei derocho (trad. mex. por José Luiz Pérez Hernández; sem indicação do titulo original). México: FCE. 1994, p. 7
8 ROEMER, Jhtroducción al análisis econômico dei derecho cit., p. 10. Para um panorama do realismo jurídico, nas suas versões norte-americana e escandinava, veja-se LEGAZ y LACAMBRA. Filosofia dei Derecho cit., pp. 231-256.
9 Conforme a afirmação do próprio POSNER, Fiontíers o f legal theory cit.. p. 32. Na literatura juridica brasileira, historiando o movimento, CASTRO JÚNIOR. Osvaldo Agripino. Tsoria e prática do direito comparado e desenvolvimento: Estados Unidos X Brasil- Florianópolis: Fundação Boiteux. 2002. pp. 54 e seguintes.
240
Introdução á Teoria dos Custos dos Direitos - Diieitos Não Nascem em Árvores
Este é um conceito operacional, pois visa permitir a análise das relações econômicas numa dada sociedade.
Na verdade, essa concepção do homem - o iiomo economicus10 - é também fruto do racionalismo modemo (sobre o racionalismo, vide item 2). O conceito egoísta de homem - o tal maximizador "racional" - é visto como o único meio de racionalizar os modelos teóricos econômicos, uma vez que as muitas variáveis axiológicas que influenciam as escolhas humanas não são passíveis de serem quantificadas com a precisão necessária, o que se afigura essencial para a análise matemática e estatística própria de uma determinada corrente de pensamento econômico, pois os instintos, as ações morais, as paixões, os motivos estéticos e religiosos, por exemplo, não são passíveis de avaliação precisa.
É importante frisar então que se trata de um movimento científico.Assim como o direito conheceu (ou conhece?) uma teoria pura, também a economia tem (ou teve?) a sua teoria econômica pura, designada economia neoclássica tradicional.
Assim como no Direito (vide maiores referências no item 3). o objetivo seria livrar a análise econômica de variáveis que a ciência econômica não consegma explicar adequadamente. No que concerne à avaliação da ação humana, haveria dois campos de análises distintos, um econômico e outro moral. O objetivo seria permitir que a análise científica produzisse resultados mais precisos através dos instrumentos de estudo, o que teria extrema relevância no sentido de guiar as ações humanas.
Sendo necessário então estabelecer uma outra forma de explorar através de modelos precisos (se possível matematicamente precisos) a conduta prática humana, o meio foi criar uma cisão separando a ação moral (iato sensu) e a ação econômica, sendo certo que a caracterização desta última ignoraria ou desconsideraria valores como beleza, solidariedade, deveres morais etc., estando exclusivamente sujeita a cálculos de retomo das ações - isto é, o homo economicus é um agente movido . .exclusivamente pelo próprio interesse11 - uma máquina de prazer.12 -e
10 Sobre a formação da idéia do homo economicus, consulte-se a apurada análise de GIAN- NETO, O mercado das crenças - filosofia econômica e mudança social cit.. passim (esp. capitulo 3, pp. 50 e seguintes).
11 GLANNETTI. O mercado das crenças - filosofia econômica e mudança social cit.. pp. 60-61 (vide. após, pp. 69 e 76)
12 Ainda GIANNETTI. O mercado dos crenças - filosofia econômica c mudança social c/t., p. 63 (citando Edgeworth).
241
Fl&vio Galdino
A "utilidade" (ou o interesse) é o elo de ligação entie o comportamento real dos indivíduos e as necessidades de racionalização da análise econômica, pois representa um elemento quantifícável para a análise racional das relações econômicas. É de certa forma difundida 110 meio acadêmico econômico a crença de que este é um modo adequado de descrever os comportamentos humanos reais.13
Como conseqüência imediata, a economia deixa de ser uma ciência moral e essa concepção possui conseqüências práticas muito importantes. Por exemplo, se assim for, a argumentação moral não seria suficiente para modificar os comportamentos humanos. Para tanto, seria necessário alterar as regras (jurídicas) do jogo econômico.1* de molde a alterar a ação dos agentes econômicos, que estariam interessados apenas em maximizar seus interesses. O que vale para o homem, vale também para as demais instituições humanas.
A partir desta concepção, a questão central na análise econômica do direito será a eficiência econômica15 ou, mais precisamente, a maxi- mização da eficiência econômica das instituições sociais e, dentre estas, também do Direito.
Na ótica da escassez (item 7.3.2), o objetivo central é alcançar a maior eficiência possível nas alocações sociais, a qual pode ser medida de duas formas principais,1 a saber, através (i) da “maximização das utilidades individuais” (a chamada regra de Pareto) e (ii) “da maximização da riqueza social". Convém explicar.
No primeiro modelo, a eficiência econômica é obtida ou verificada através da aplicação do critério de PARETO17 (também chamnda “oti- malidade de Pareto”). Segundo este critério, uma distribuição >ie recursos é eficiente se for impossível aumentar a utilidade de uma pessoa
13 SEN, Amartya. Sobre ética e economia (trad. bras. de On ethics and economics por Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras. 1999, p. 68.
14 GIANNETO. O mercado das crenças - filosofia econômica e mudança social ç/t.. pp. 60- 61. V também p. 63 - nesta concepção, o homem é um “jogador" e as conctu ;ôos. pp. 65-66.
15 Na nessa literatura. RAMOS. Carmem Lucia Silveira. “Eficácia x eficiência: a cudltse econômica do direito*. In Revista TCmestral de Direito Civil 2: 27-33 (Rio de Janeiro: Padma, 2000).
16 Sobre as formas de apreciar a eficiência, veja-se a síntese de HARRISON. Jeffrey L. Law and Economics. St. Paul: West Group, 2000. pp. 28 e seguintes. Sobre as várias acepções econômicas da eficiência, vide ainda FAGUNDES, Jorge. Fundamentos econômicos das políticas de defesa da concorrência - eficiência econômica e distribuição de renda em análises antitiuste. São Paulo: Singular. 2003.
17 Refere-se a VILFREDO PARETO (1848-1923). célebre pensador italiano que formulou o critério em questão.
242
Introdução à Iteoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem cm Áivoies
sem reduzir a utilidade de alguma outra pessoa.18 Nesta última assertiva, a expressão utilidade pode ser tomada no sentido de bem-estar (daí falar-se também em welfarismo - welfarism).
No sentido de PARETO, o objetivo da alocação de recursos na sociedade é gerar o máximo de bem-estar individual. Uma determinada alocação de recursos é considerada eficiente (ou "pareto-eficiente") se não for possível encontrar alguma outra forma de alocação em que se possa elevar o bem-estar de uma pessoa sem diminuir o de alguma outra.
No segundo modelo de aferição, a eficiência é medida pela capacidade que determinada medida de alocação de bens ou recursos tem para gerar a maximização da riqueza social. Neste sentido, afirma-se que uma sociedade maximiza sua riqueza quando todos os seus recursos e direitos são distribuídos de tal maneira que a soma das valorizações individuais é tão elevada quanto possível.19
Com base nestas formulações, o Direito é considerado como mais uma engrenagem no complexo mecanismo de alocação de recursos na sociedade.20 Neste sentido, as normas jurídicas em geral, muito especialmente as normas concretas, e notadamente as decisões judiciais, devem ter em vista - como critério mesmo da decisão - a máxima eficiência. Na sociedade liberal-capitalista, o direito funciona como meio auxiliar (embora indispensável) de acentuar a maximização da eficiência da economia de mercado.21
Diz-se que essa visão postula a superioridade da economia sobre o direito, isto é. da racionalidade econômica sobre a jurídica.22 Ou,
18 For todos. SEN, Sobre ética e economia cit.. p. 47. STEPHEN, Teoria Econômica do Direito cie., p. 41; e. entre nós, COELHO, “A análise econômica do Direito" cie., p. 158.
19 A formulação, tal como lançada, é de DWORK1N, Ronald. "A riqueza 6 um valor?", in Uma questão de principio (trad. bras. de A matter o f principie por Luis Carlos Borges). São Paulo: Martins Fontes, 2000, pp. 351-398. esp. p. 352.
20 Em estudo sobre a história do movimento Law and economics, encontra-se afirmado que: 'Law. Uke other social instiluttons, came to be viewed by cconomists as an ínstnunent for the organiza tion o f social tífo“ (STIGLER, George J.. “Law or economics?'. In The Journal of Lavs and Economics, volume XXXV (2): 455-467. esp. p. 4S6.
21 Por todos, em português, FARIA, Interpretação econômica do direito cit.. p. 37.22 NEVES. “Justícia y diferencia en una sociedad global compleja" cit., p. 364; COELHO.
Fábio Ulhoa. “A análise econômica do Direito" cit., p. 1 5 5 : há, na verdade, uma hierarquia implícita a qualquer empreendimento teórico com tal diretriz: a economia deve prevalecer sobre o direito, isto é, a efidcncia econômica deve nortear a aplicação do direito". Tàmbém LA TORRE, Disawenture dei dirítto soggott/Vo - una vicenda teórica cit., p. 327.
243
Flávio Galdino
ainda que não se trate de superioridade, pelo menos estariam radicalmente separadas.
De certo modo, eficiência torna-se sinônimo de justiça. Noutras palavras: a decisão mais justa será aquela que se mostrar mais condizente com os critérios escolhidos de eficiência, preferencialmente no sentido de aumentar a riqueza social global. Certamente não é neste sentido, por assim dizer, ortodoxo, sem desdenhar de suas muitas virtudes que não podem ser adequadamente exploradas aqui, que este estudo propugna a inclusão de variáveis econômicas na análise jurídica.
12.2. Contraponto: o risco da economicização do DireitoMuitas são as críticas opostas à análise econômica do direito, não
sendo este o local adequado para discuti-las detidamente,23 até porque as Unhas fundamentais da aludida escola foram expostas de modo sumaríssimo. Cumpre-nos apenas traçar algumas notas gerais acerca da preocupação que a economicização do direito desperta.
No plano histórico-político, desenvolveu-se com autoridade o argumento de que a afirmação primaz do principio do utilitarismo em detrimento de princípios éticos2* (acompanhada da correlata separação entre o direito e a moral por força do predomínio dos vários positi- vismos jurídicos) teria possibilitado a geração dos Estados totalitários do século XX e ás violações dos direitos humanos neles vivenciada.
Já do ponto de vista do direito propriamente dito, em primeiro lugar, critica-se a visão do homem e da sociedade assumida pela referida Escola e pelo próprio pensamento econômico contemporâneo. A caracterização economicista do homem como puramente maximizador de interesses pessoais revela uma visão distorcida da sociedade como uma série de ações individuais conscientes,25 o que está longe de ser.
, * ^verdadeiro___
23 POSNER (Ftontiers o f legal theory cit., pp. 95 c seguintes), responde a muitas das críticas dirigidas 30 seu pensamento, inclusive por Amartya Sen e Cass Sunstein. Vejam-se ainda as argutas criticas de TEUBNER, Cunthet. “Altera pars audiatur. o direito na colisão de discursos*. In AAW. Direito e cidadania na pós-modemidade. Piracicaba*. UNI- MEE 2002. pp. 91-129. esp. p. 93 et passim.
24 COMPARATO, Fabio Kònder. "A experiência totalitária do século XX: lições para o futuro*. In NOVAES, Adauto. O avesso da liberdade. Sáo Paulo: Companhia das letras, 2002. pp. 279-288. esp. pp. 283-285.
25 LA TORRE. Disawencure dei diritto soggettivo - una vicenda teórica cit-, p. 348.
244
Introdução & Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
Além disso, a teoria vislumbra um homem egoísta, interessado unicamente no máximo proveito de suas atividades.26 É uma visão limitada, extremamente reducionista da personalidade humana para ser admitida como prevalente em caráter absoluto em face de outros modos de pensamento.
Na verdade, afirma-se que o egoísmo universal foi convertido em modelo de racionalidade ou, por outra, supõe-se que as relações econômicas só podem ser objeto de análise racional tomando-se o homem egoísta e amoral27 - este é o paradigma cientifico que orienta a análise o que é inconeto, distorcendo o homem e, por conseguinte, a própria análise.
O caráter demasiadamente reducionista desse modo de pensar consiste precisamente em (i) identificar o comportamento real com o comportamento racional e (ii) especificar a natureza do comportamento racional em termos muito restritos,28 isto é, fundados na ignorância da versatilidade de comportamentos humanos,29 bem como na existência de outras motivações (notadamente outros valores) determinantes dos comportamentos humanos reais.
É um fato indiscutível que o homem muitas vezes norteia seus comportamentos com fundamento em outros valores, diversos do seu próprio bem-estar.30 Essa é, na visão critica do jusfilósofo, uma crença autista.31
26 Essa mesma critica é desenvolvida por Plauto Faraco de Azevedo em seu libelo contra o neoliberalismo, precisamente por estar imbuído de visão do homem fundamentalmente atento aos seus interesses pessoais. Assim AZEVEDO. Plauto Faraco. Direito, justiça social e neoliberalismo. São Paulo: OT. 1939, p. 108.
27 SEN, Sobre ética e economia c/t., p. 32: ve|'a-se ainda a análise de ELSTER, Peças e engrenagens das ciências sociais c/t., p. 71.
28 SEN, Sobre ética e economia c i t , p. 28.•* 29 - Ná-Uteratora jurídica, neste sentido, FARIA. Direitô e economia nà democratização bra
sileira cit., p. 7230 A propósito da série dos pressupostos procusteanos, AMAHTYA SEN fala que o auto-
interesse funciona como uma camisa-de-força nas análises econômicas (SEN, Sobre ética e economia c/c., p. 57). Na literatura jurídica, criticando a redução militarista das motivações humanas. PERLINGIERJ, Perfis do Direito Civil cit.. p. 64.
31 "Esta imposibilidad da Ia autonomia autista de Ja economia, ttevará a vincular a esas regias econômicas con Ias regias y tos princípios mora/es políticos y jurídicos, vinculados todos as común servido de los tines humanos, a Ia dignidad humana, y ayudará a ia supe- ración de esa fé militante, de esa poderosa creencia en que Ias regias de Ia economia defcíam incluso sobreponerse sobre esas critérios morales, políticos y jurídicos". (PECES- BARBA MARTÍNEZ. Gregorio. "£scasez y solidaríedad: una reílexiàn desde los clásicos'. In Derechos sociales y positivismo jurídico (escritos de filosofia política y jurídica). Madrid: Dykinson, 1999, pp. 67-82. esp. p. 71).
245
Flávio Galdino
Ademais, a economia contemporânea, que informa a análise econômica, resta (pseudo-)despolitizada, isto é, afastada das questões que um dia nortearam os estudos de economia política, voltados que foram para as relações humanas em si mesmas - as relações de manipulação e dominação - e não apenas para as relações entre homens e coisas, ou para as relações entre números.32
Este é um grande desajuste teórico, que reduz sobremodo a capacidade de análise da economia e que precisa ser corrigido, cabendo aduzir que o próprio "pensamento econômico" aguarda com ansiedade que economia e política reatem suas profícuas re la çõ es .3 3
É evidente que ignorar as questões políticas e morais representa a total impossibilidade de criticar a realidade subjacente às relações econômicas formalmente consideradas (enclausuradas em conceitos econômicos amorais e supostamente neutrosem sentido político) e, por conseguinte, uma forma de manutenção de um determinado modelo de dominação. Mas não é só.
Também sob o prisma científico a análise resta comprometida. Assim como ocorre com o direito, a desconsideração deliberada de uma parcela da realidade34 pela ciência econômica frustra a utilidade dos resultados alcançados por esta ciência.
Como já se disse anteriormente (item 5). as ciências e teorias são meios de simplificar a realidade para permitir a sua compreensão e análise através de modelos teóricos e conceituais. Ocorre que a simplificação exagerada da realidade compromete a análise e os seus resul
32 Neste sentido. “Pois desde o final do século XIX. a economia perdeu o interesse naquilo que tornava o antigo pensamento econômico táo congruente com o pensamento político, ou seja, as relações de dependência e dominio que se estabelecem entre as pessoas em virtude de um determinado sistema de produção. Em vet disso, a economia passou a considerai os indivíduos indistintamente como demandsdores de utilidades" (MAC- PHERSON, C. B. Ascensão e queda da justiça econômica - e outros ensaios (trad. bras. de Tho rise and faUof economlc justice and other essays por Luiz Alberto Monjardim). Rio de Janeiro: Paz o Tferra. 1991. d. 1361.
33 GALBRATTH, O pensamento econômico em perspectiva cit., p. 269: ~A tentativa de separar a economia da política e da motivação politica é uma tentativa estéril. É também um acobertamento da realidade do poder econômico e da motivação econômica. Além de ser uma das principais causas de erros e Injustiças nas diretrizes econômicas. Nenhum volume sobra a história da economia pode chegar ao fim sem mencionar a esperança de que a disciplina acabe mais uma vez unida à politica (...)”.
34 GALBRATTH, O pensamento econômico em perspectiva cit.. p. 256: ‘ Exclui-se da vida econômica (...) a realidade, que. infelizmente, com sua variada desordem, não se presta a uma representação matemática’ .
246
1 &' ; |
■ H■n
Introdução & Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos N&o Nascem em Arvores
tados. E. se a ciência pretende ser útil no sentido de orientar as ações humanas, não pode ignorar a realidade, que neste caso confunde-se com a riquíssima dimensão moral da experiência humana.
E a simplificação impôs ainda um risco a mais. Na verdade, a cisão entre moral e economia (também a exemplo do que aconteceu com a cisão entre moral e direito) acâba convertendo o que foi pensado para ser um resultado abstrato de análise teórico-econòmica em objetivo moral. Com efeito, confunde-se o estado de coisas almejado por conta das análises econômicas em ponto de chegada moral,ss eliminando-se o ponto de vista moral não só da análise, mas da própria experiência, o que não se pode admitir.
Além disso, e já em referência à análise econômica do direito propriamente dita, deve-se afirmar que a observação de que o Direito é mais um dentre os mecanismo de organização social não é equivocada. Equivocada é a premissa de que a análise jurídica pode ser reduzida à análise de eficiência econômica.
De outra face, a análise econômica do direito mostra-se muito limitada também porque atua com instrumentos limitados. É correto dizer que um Estado pode ser considerado eficiente de acordo com o critério da “otimalidade” de Pareto referido anteriormente,36 mesmo havendo pessoas afogando-se na miséria absoluta, e outras nadando no luxo, desde que os miseráveis não possam reduzir seu grau de miserabilida- de sem reduzir também os luxos dos abastados3? - talvez a sociedade brasileira deste inicio de século seja pareto-eficiente... Em sentido axiológico, ninguém dirá que essa é uma sociedade “ótima", o que demonstra que a análise puramente abstrata - numérica mesmo - é insuficiente se desacompanhada de padrões morais de avaliação.
c :
tc
í
í
íc€CCí
35
36
37
Conforme a correta análise de GIANNETTI. O mercado das crenças - filosofia econômi- &ca e mudança social c/r.. p. 66.Cumpie referir a observação crítica de DWORK1M de que a análise econômica do direito £não trabalha com o critério de Pareto, mas tão-somente com a maximização da riqueza, -sendo equivocadas as muitas criticas dirigidaa 40 primeiro modelo, simplesmente por- £que ele não 6 usual (DWORKIN, “A riqueza é um valor?", c/c., p. 356). Na medida em que 1nossa função aqui é apresentar as idéias e respectivas criticas, mostrou-se relevante £ 'referir ambos os modelos, mas, de fato, o critério de Pareto não é considerado perfeito pelos economistas (veja-se POSNER, Economic analysis o! law c/t., p. 14), mas não é pos- £sivel negar a sua utilidade (FAGUNDES, Fundamentos econômicos das politicas de defe- sa da concorrência c/t., passim e esp. p. 56. onde trata dos limites do critério de Pareto, afirmando ao depois, p. 158, que a aplicação do principio da eficiência potencial de Pareto é condição necessária mas não suficiente para o incremento do bem-estar social).O exemplo á de SEN, Sobre ética o economia cit., p. 48.
247
Flávio Galdino
O ponto central a ser destacado é que qualquer distribuição de recursos numa dada sociedade - por mais iníqua que seja - pode satisfazer a exigência de Pareto, o que torna o critério econômico puro. bem a propósito, inútil.38
Sustenta-se ainda que também a análise econômica do direito a partir do paradigma da maximização dà riqueza social mostra-se absolutamente inadequada. Em primeiro lugar, argumenta-se que a teoria não faz clara a razão pela qual a riqueza deveria ser procurada como objetivo central da sociedade.
Em complemento, refuta-se (i) que a riqueza seja um valor em si mesma, aduzindo-se que nem mesmo é um instrumento bastante e suficiente para alcançarem-se outros valores (não possuindo, portanto, sequer valor instrumental induvidoso),39 e (ii) que riqueza ou acumulação de dinheiro e justiça não são “valores” intercambiáveis. Em tom agudamente critico, imputa-se a esse modelo de pensamento, um certo tipo de fetichismo do dinheiro.^
Na verdade, o bem-estar individual não é a única coisa valiosa para os homens e, ainda que fosse, a "utilidade" não representa adequadamente o bem-estar, de modo que os resultados das análises fundadas nessas p re m is s a s 4 i também não são adequados ou pelo menos não se encontra neles a precisão sustentada.
De um modo geral, e a referência aos valores deixa isso claro, sustenta-se que a desvinculação ou mesmo a vinculação tênue (quiçá indireta) da análise econômica do direito a valores compromete sensivelmente a própria análise e mais ainda os seus resultados. Na verdade, a critica tende a inverter a proposição de que a ética esteja submetida às condições econômicas, para dizer que as condições econômicas é que devem ser analisadas sob o ponto de vista da moralidade,42
38 E a crítfía de DWORKIN, A riqueza è um valor?" c/t., p. 354.39 A discussão dessas criticas ê impossível aqui. Veja-se DWORKIN, "A riqueza é um
vnir.r?" c/t., passim. Sobre as críticas de DWÓRKIN. a síntese de FARIA, Interpretação econômica do Direito cit., p. 45.
40 DWORKIN. "A riqueza é um valor?" c/t., p. 365: "O dinheiro ou seu equivalente é útil na medida em que capacita alguém a levar uma vida mais valiosa, mais bem-sucedida, mais feliz ou mais moral. Qualquer um que o considere mais valioso é um fetichista das verdinhas".
41 SEN, Sobre ética e economia c/t., p. 63.42 Em termos semelhantes, ao nosso juizo excessivos, LA TORRE, Disawenture dei dlritto
soggettívo - una vicenda teórica c/t., p. 349: "non sono le condizioni economiche ilpresup- posto deWeserdzio dei diritto, bensi sono i d/ritti il presupposto delia posibfl/tà di determl- nare l'esistettza e il signilicato morale dí certe condizione economiche" (referindo premissas tributadas a Amartya Sen).
248
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
de modo que os argumentos éticos estejam sempre "em primeirolugar"
Por fim, relembre-se que a prevalência da racionalidade econômica pura traz consigo o risco da tirania do dinheiro. Na verdade, consoante inspirada formulação, a vida é composta de várias "esferas"44 relativas aos vários “bens sociais” e em cada uma delas deve prevalecer um determinado critério ou procedimento de repartição entre as pessoas. Assim, o dinheiro ou a acumulação de riqueza são relevantes para a aquisição de determinadas mercadorias (que são repartidas através de livre intercâmbio entre as pessoas).
Mas o dinheiro não pode comprar tudo e a necessidade prática de se criar um meio universal de troca - a moeda - não deve permitir que o acúmulo de riqueza possa implicar também predomínio tirânico em outras esferas da vida, como o acesso ao poder político, a cargos públicos não-eletivos (onde vige predominantemente um sistema meritocrá- tico) ou ao ensino fundamental (onde o que importa é a necessidade humana). Mais uma vez se vê que a igualdade é complexa,45 ou seja, operacionalizada por vários critérios conforme o "bem social” a ser repartido.
Quando o acúmulo de riqueza se converte em critério único e absoluto para alcançarem-se outros bens sociais cuja repartição deveria ser regida por outros critérios, tem-se uma situação tirânica - a tirania do dinheiro. É evidente que não se pode repartir o que não existe, mas é também relevante reconhecer e aplicar outros critérios. Mais uma vez, a virtude está no meio.
12.3. A virtude no meio
É possível evidenciar, consoante ensina AMARTYA SEN,46 duas formas fundamentais de compreender o pensamento econômico, uma
43 Cf. SALAMA. Piene et DESTERMAN. Blandine. O tamanho da pobreza - economia politica da distribuição de renda. Rio de Janeiro: Garamond. 1999. p. 45: 'Uma politica de nova distribuição Ide rendai que obedecesse apenas a argumentos econômicos teria embasamento bem frágil. É por isso que os argumentos de ordem ética devem ser colocados em primeiro lugar*.
44 WALZER. Esferas da justiça cit.. pp. 20 e seguintes.45 Ainda uma vez. WALZER, Esferas da justiça cit., pp. 25 e seguintes (vide ainda itens 1.6
e 13.2).46 SEN. Sobre ética e economia c/t., p. 19.
249
Flávio Galdino
voltada para a ética, outra voltada para a engenharia (e a estatística). Na primeira, segundo o autor, a original (ninguém menos do que ADAM SMITH era professor de Filosofia Moral), a economia relaciona-se com a ética de tal sorte que as concepções morais são fatores a serem considerados nas análises econômicas. Na segunda, a economia abstrai de valores morais e políticos, dedicando-se - por intermédio da racionalidade abstrata - às representações matemáticas formuladas (rectius: que seja possível formular) tendo em vista as relações sociais. Este segundo modo de ver a economia é o que prevaleceu no século XX.
Adere-se aqui ao entendimento de que a visão "purista" ou "engenheira” da economia empobrece sobremodo a própria análise econômica, afastando, por entender carecerem de objetividade, quaisquer considerações éticas. É nessa visão da economia que se centra uma parcela da aludida escola norte-americana dedicada à análise econômica do direito (em ambos os modelos referidos no item 12.1) e que, pelas mesmas razões, salvo melhor juízo, não deve ser seguida.
Mas isso não significa que todos os resultados alcançados pelas análises econômicas estejam equivocados. Já se demonstrou que embora as escolhas morais sejam relevantes, no mais das vezes as ações humanas (e, por conseguinte, das instituições humanas) não são independentes, pelo contrário, são involuntárias e condicionadas pelos sistemas econômicos. Ou seja, o comportamento humano sofre ingerência intensa (mas não absoluta) de restrições externas e um "rebelde" que pretenda fazer valer a todo custo suas opções morais, se tiver sorte, será internado em um hospício ou morrerá de fome.47
Assim, por exemplo, quando um pai e arrimo de família está insatisfeito com o seu emprego, suas crenças e valores morais influem muito pouco no seu comportamento externo, pois dificilmente ele terá autonomia para modificar suas condições de trabalho ou para abandoná-lo. O que significa que a sua ação puramente moral é bastante limitada, neste caso e em muitos outros importantes setores da vida (e das atividades econômicas) - limitada no sentido de que o comportamento segue opções fundadas em uma certa racionalidade econômica (que remete à idéia de inteiesse).
47 A construção foi estudada por GIANNETTI. O mercado das crenças - filosofia econômica o mudança social c/t., pp. 89 e seguintes, esp. p. 100, bem como o exemplo que se segue no texto. A seguir, o autor passa a uatar das limitações internas (sub-raclonaís) do comportamento humano.
250
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Náo Nascem em Árvores
Com efeito, o melhor modo de analisar o “agente econômico" é vê- lo como um ser composto:48 ao mesmo tempo em que não possui absoluta autonomia moral, também não é uma máquina racional e regular, de modo que as suas ações, no conjunto, representam a síntese de muitas variáveis, econômicas e não-econômicas e uma análise que se pretenda útil não deve ignorar nenhum desses setores.
Conclui-se, pois, que o modo "engenheiro" ou "purista" de ver e trabalhar a economia não é improdutivo.49 Grandes avanços já foram e podem ainda ser alcançados através dele no sentido de compreender a sociedade e estabelecer linhas de orientação para as condutas humanas - o que é a função das ciências sociais afinal de contas.
O que se pretende sustentar aqui é que a análise econômica pode ser muito mais produtiva ainda se tomar em consideração a ética, e, em contrapartida, as ciências morais e jurídicas podem e devem fazer uso dos resultados obtidos nas análises econômicas.50 A questão a ser realçada aqui, mais uma vez e sempre, é a da complementariedade entre as abordagens, a ética (e a jurídica) e a matemática ou estatística.
Por isso, no fecundo caminho traçado por AMARTYA SEN, defende-se uma (re)aproximação entre ética e economia. Neste sentido, é de realizar um leitura ética da eficiência.51
De nossa parte, procuramos sustentar que talvez o Direito seja um bom canal para as relações entre ética e econ om ia .5 2 Indicaríamos três fatores que concorrem para que o Direito possa bem desempenhar esta tarefa:
(i) como visto anteriormente, o Direito possui um modelo de análise orientado a valores, isto é, o Direito é fundamentalmente devotado a considerações éticas;
*
cccc€
€
€
€€
Ainda GIANNETTI. O mercado das crenças - filosofia econômica e mudança social c/C.. p. 142.Registre-se que DWORKIN ("A riqueza è um valor?' c/t., p. 395) refuta a utilidade dos resultados obtidos pela análise econômica do direito.SEN. Sobre ética e economia cíc., p. 25.Sugestão de Amartya Sen acolhida por DERANt. Privatização t serviços públicos c/t., pp. 143 e seguintes, em que se difere entre a eficiência na economia tieociássica e eficiência na dita economia social, optando-se por esta última. Ainda entre os estudiosos do direito, também CALDCTO SALOMÃO FILHO subscreve a opinião de SEN (SALOMÃO FILHO. Direito concorrencial c/t., p. 41).Em sentido semelhante ao defendido por MACEDO Jr., Contratos relacionais e defesa do consumidor de.. p. 65: "na medida em que toma não apenas os custos da transação, mas também os valores e motivações sociais como elementos formadores da racionalidade reDexlonante que caracteriza a experiência juiidica do Direito Social, que alguns preferem denominai pés-modema".
251
Flâvio Galdino
(ii) as análises jurídicas dirigem-se também, em boa medida, ao combate da escassez, através de variadas técnicas de (re)dis- tribuição da riqueza e alocação de direitos e recursos;
(iii) os conceitos jurídicos, bem trabalhados, admitem sejam incluídos nas operações e ponderações os profícuos resultados das análises econômicas.
Para tanto, insiste-se no tema, é preciso que o direito, em especial o direito público, leve a sério - pragmaticamente - a escassez de recursos.
Antes de ser uma inimiga ou um mero artificio ideológico para denegação de direitos, a compreensão da escassez de recursos - ao lado da correta compreensão dos custos dos direitos - através de análises de custo-benefício, significa um meio de converter o Direito em um poderoso instrumento de transformação social, representando também, até mesmo, uma justificativa para o próprio Direito.53
Conforme salientado no item 10, isto não significa de modo algum transformar o direito numa máquina de calcular operada por economistas,54 mas significa reavaliar seriamente as relações entre direito e economia, especialmente no Brasil, onde esses estudos parecem ser incomunicáveis.
Com efeito, notadamente no Brasil, salvo honrosas exceções, os estudos jurídicos vertem os olhos na economia em uma de duas formas: ora com indiferença, ora com hostilidade, o que decorre em boa medida do fato de que operadores do direito e economistas vivem em mundos artificiais diferentes e falam línguas diversasss (diga-se de passagem, diferentes entre si e também da linguagem utilizada pelo restante da comunidade...), expressam discursos, metodologias e racionalidades diferentes.
Malgrado isso seja verdade e embora os economistas procurem .'v.-descrever comportamento humano racional* (òu -rácionalizado) cõm
53 Neste sentido, PECES-BARBA: "La realidad de Ia escasez no es sólo Ia base para una con- cepción econômica de la socíedad. Si al análisis econômico se le anãden ingredientes éticos o políticos, donde ss tenga en cuenca a la persona en su dimensión integral, la escasaz es también un punto de partida para justificar el derecho" (PECES-BARBA MART1NEZ, "Escasez y solidaríedad: una reüexión desde los clásicos" cit., p. 82).
54 Cumpre reproduzir ainda uma vez a observação de SUNSTEIN e HOLMES (Tho cast of rights cit.. p. 102): "O f coiuss it does not follow that rights must be tossed along with everything else into a gigantic cost-benefit machine created and operated by economists'.
55 STIGLER, "Law or economics?" cit., p. 463.
252
Introdução à Teoria dos Çusios dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
base em critérios de eficiência, e os operadores do direito busquem regulá-lo com base em critérios abstratos e muitas vezes irreais de justiça as múltiplas faces da vida humana, fato é que suas atividades não são absolutamente inconciliáveis.58
Muito ao contrário, enfatize-se, sua união pode ser bastante proveitosa,57 otimizando-se uma espécie de trade-off (vide item 7.3.2) entre a justiça e a eficiência.58 Antes do mais, é necessário que a cultura jurídica reconheça que a metodologia das ciências econômicas produz análises e resultados mais próximos da realidade através de instrumentos mais precisos.
A partir desse reconhecimento, através de normas jurídicas e de sua aplicação é possível agregar condições econômicas e considerações éticas (valores), maximizando a eficiência das instituições sem necessário prejuízo dos valores envolvidos. Em um item seguinte (15.2) efetua-se, através do conceito de direito subjetivo, um exercício de conjugação das possibilidades econômicas com os valores éticos através dos direitos.
Para tanto, é fundamental que o Direito enquanto ciência possa ser um canal eficiente para as várias racionalidades sociais - da economia, da política, da sociologia... e também da própria racionalidade jurídica.
Com efeito, embora as normas jurídicas, através da linguagem dos direitos, tenha alcançado uma posição de proeminência em relação a outras normas sociais,59 não é possível imaginar que as demais normas sejam simplesmente eliminadas. Elas continuam a existir e o Direito deve ter a capacidade de absorver as virtudes dessas outras normas ou conviver com elas e com os seus discursos.
Estes outros discursos muitas vezes sugerem soluções (normativas, inclusive) diferentes para a sociedade e os problemas sociais, em
56 Neste sentido, “a diferença entie a teoria juridica e as teorias econômicas do conhecimento está em que paia a primeira, diferentemente das últimas, as regras gerais, quando formuladas, não são generalizações de fatos observáveis nas relações sociais e econômicas, mas sim concretização de valores sociais desejados que devem levar em consideração esses fatos" (SALOMÃO FILHO, Calixto. "Globalização e teoria juridica do conhecimento econômico". In SUNDFELD, Carlos Ari ec VIEIRA, Oscar Vilhena (coords.). Direito Global. São Paulo: Max Limonad, 1999, pp. 259-268, esp. p. 267.
57 Neste sentido, conferir as conclusões de STIGLER, "Law or economics?" cit., p. 467.58 STIGLITZ e WALSH, Introdução à microeconomia cit., pp. 268-269.59 GLENDON, Rights talk cit., p. 102. Sobre o processo de juridificaçâo. novamente remete-
se a NEVES, A constitucionalização simbólica c/t., pp. 144 e seguintes.
253
Flávio Galdino
muitos dos casos, soluções complementares, que acabam não sendo aplicadas por ignorância ou, o que é pior, por preconceito.
Com efeito, a pior solução que o Direito pode imaginar é tentar afirmar em caráter absoluto a sua própria racionalidade ou as suas próprias premissas e soluções sobre as demais (como dizer que o direito deve prevalecer sobre a economia) ou mesmo que alguma racionalidade deve prevalecer sobre as demais em caráter definitivo, principalmente porque os fatos desafiam essas racionalidades e seus paradig. mas dominantes.60
Bem pensado, o Direito ou mais precisamente a racionalidade jurídica pode converter-se numa espécie de instrumento de solução de conflitos entre possibilidades de ação oferecidas pelas várias ciências,61 otimizando variadas soluções complementares.
Em síntese, é o que possivelmente tem sido sugerido à escola da- análise econômica do Direito, só que muitas vezes, a economia tem se apropriado do discurso jurídico para fazer prevalecer o seu discurso e a sua metodologia,62 sem que os resultados sejam sempre, segundo a; nossa perspectiva, os mais adequados.
60 Consulte-se a inspirada coletânea organizada poi FALCÃO, Joaquim de Arruda (org.^ Conflito de direito de propriedade - invasões urbanas. Rio de Janeiro: Forense. 1984, esjpf p. XII, talando na libertação do saber cientifico das cargas disciplinares que aprisio conhecimentos unidiscipUnaies.
61 Conforme o inspiradissima reflexão de TEUBNER. "Altera pars audiatur. o direito na cõ‘ são de discursos” cit., p. 107. H
62 Ainda TEUBNER, "Altera pars audiatur o direito na colisão de discursos" cit., p. 120. '
Capítulo XIII A Eficiência no Brasil:
Descaminhos e Caminhos.
13.1. A construção jurídica da eficiência na administração pública brasileira
Observou-se anteriormente que as análises econômicas são vistas pelos tribunais (brasileiros) em geral, ora com indiferença, ora com hostilidade. Outras vezes, a que sequer aludimos naquela oportunidade, a economia - ou menos, as questões econômicas - são utilizadas como instrumento retórico, sem que haja qualquer referência séria a dados econômicos, mostrando-se tão perigosa quanto inútil. Os exemplos multiplicam-se.
Assim, por exemplo, em sede de aplicação judicial do Direito - uma decisão jurisdicional - formulou-se e aplicou-se um principio então denominado in dubio pro misero.* A questão central, do que se pode inferir da leitura do curto Relatório do Acórdão, versava sobre a impossibilidade de produção de uma determinada prova em um processo judicial. Nem a parte possuía condições de arcar com os custos privados de produção da prova (cuidava-se de pessoa hipossuficiente), nem o Estado estava aparelhado para promover a produção respectiva.
A análise da situação processual revela então que o autor da ação não conseguira produzir a prova do fato constitutivo de seu alegado direito. De acordo com as insepultas regras processuais civis sobre ônus da prova - como se sabe, regras de julgamento, de utilização inversamente proporcional à amplitude dos poderes instrutórios dos
1 STJ, 5» TUrma. Recurso Especial 95211-SR Relator o Ministro JOSÉ DANTAS, julgado em 17.12.1996. decisão unânime. No que interessa, a decisão enconua-se vazada nos seguintes termos: “Não tem o autor culpa alguma do despreparo estrutural dos órgãos públicos, bem como do desinteresse dos profissionais liberais na realização dessa parte da perícia. Além disso, sendo hipossuficiente, aplica-se-lhe o principio in dubio pro m/se• ro. Na dúvida ou na impossiblidade de realização da prova pretendida, decide-se favoravelmente ao hipossuficiente".
255
Fl&vio Galdino
juizes - deveria o juiz ter julgado improcedente o pedido ou, ao menos, ter utilizado poderes instrutórios fundados na teoria da carga dinâmica da prova.
Possivelmente, in casu, a solução vislumbrada através das regras gerais sobre o ônus da prova foi entendida como uma decisão injusta. Para obviar essa injustiça - e havia tantos meios técnicos predispostos a esse fim em termos probatórios -, sobreveio a brilhante decisão: in dubio pro misero. Firmada a jurisprudência, podem ser abolidos os manuais e compêndios, pois o miserável terá sempre razão. É um daqueles precedentes que, ensinou o Mestie, não metecem outro destino que o fundo do lago de Brasília...
A pobreza, ou - na sua versão supostamente politicamente correta - a hipossuficiência, é convertida, sem qualquer intermediário, e sem ressalvas, em regra de julgamento, quiçá regra de "justiça” . Sem qualquer amparo e desvinculada de qualquer proposta minimamente coerente, a decisão promove inusitada redistribuição de renda pública (cria despesas para o Erário). Certamente essa não é uma proposta séria de levarem-se em conta considerações econômicas nos julgamentos, nem de se promover justiça social. O caminho é a análise sob o prisma da eficiência, sempre orientada por valores, conforme destacado anteriormente (item 12.3)
Convém salientar que, segundo registram os analistas,2 no Brasil, diante das vinculações constitucionais e legais - vive-se um verdadeiro engessamento orçamentário o espaço para livre deliberação pública sobre o destino dos gastos públicos não ultrapassa 10% (dez por cento) das despesas do Estado, impondo-se, pois, soluções muito eficientes no que concerne à definição de prioridades para a alocação das respectivas receitas públicas.
Assim, em boa hora, a eficiência foi erigida pela Emenda Constitucional na 19 de 1998 à categoria de princípio da administração pública, inserida que foi no rol constante do caput do art. 37 da Constituição Federal.^
2 REZENDE. Fernando et CUNHA. Armando. Contribuintes e cidadãos - compreendendo o orçamento federal. Rio de Janeiro: FGV Editora. 2002, pp. 13,17 e 27.
3 MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo. Considerações sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal - Finanças públicas democráticas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 59, chega a dizer, ao nosso ver com exagero, que se trata de direito subjetivo público do cidadão è eficiência.
256
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
A bem dizer, mesmo antes da aludida Emenda a Constituição Federal já fazia referência à eficiência (CF, arts. 74, II, e 144, § 7a) e à economicidade (CF, art. 70) e. bem assim, a legislação infraconstitucio- nal anterior, em diversos dispositivos (verbi gratia. Lei 8.987/95 - Lei de Concessões - art. 6a, § la).
Na verdade, a Emenda Constitucional n& 19 de 1998 integrava um projeto mais amplo de reformulação da administração pública brasileira, com o intuito de transformar a administração então (e, infelizmente, ainda) burocrática em gerencial.4 E o mote central do projeto era atender às demandas sociais de modo mais eficiente, sem desconsiderar os valores democráticos, fazendo o melhor uso possível dos limitados recursos disponíveis.5
Não há espaço aqui para avaliar in concreto as então propostas formuladas pelo governo que procurou implementar as reformas, muito menos ainda para serem avaliados os resultados dessas propostas - nem essa era a proposta do estudo - sendo certo que, muito possivelmente, a avaliação do autor dessas linhas não seria positiva em muitos setores. Todavia, não é possível deixar de concordar com as premissas sustentadas pelo projeto de reforma, notadamente no que concerne à adoção do paradigma da eficiência.
Assim é que, no plano jurídico, a novidade da Emenda Constitucional nfi 19 de 1998 foi justamente destacar a eficiência como principio geral da administração pública brasileira. Certamente nunca houve autorização para uma administração pública ineficiente,6 tendo a doutrina brasileira anotado desde há muito a imposição ao administrador
4 Sobre estes paradigmas administrativos, vide PEREIRA, Reforma do Estado para a cidadania cit.. pp. 19 e seguintes.
5 O autor do projeto, LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA, sistematizou em livro a sua proposta de reforma voltada para eficiência e, nos termos da proposta, sem detrimento dos valores democráticos: PEREIRA, Reforma do Estado para a cidadania cit.. pp. 17, 113, 121 (onde afirma expressamente que “o critério da efidência está subordinado ao critério democrático").
6 Dai porque, com todas as vênias, náo se compreende a contundência de alguns criticos, os quais, após a formulação de visão deveras limitada do principio da eficiência, sustentam que sua inclusão no Ifexto Maior foi um "despropósito", talvez até comprometendo o Estado Democrático de Direito (por todos, MOREIRA. Egon Bockmann. ‘ Processo administrativo e princípio da eficiência". In SUNDPELD. Carlos Ari et MUNOZ, Cuillermo Andrés (cooid.). As leis de processo administrativo. São Paulo: Malheitos, 2000. pp. 320- 341, esp. p. 326). Paia um levantamento de passagens constitucionais devotadas à eficiência após a EC 19/98, vide SANTOS, Alvacir Correa dos. Principio da eficiência da administração pública. Sáo Paulo: LTt. 2003. p. 195 (sendo certo que este autor sustenta a utilidade da inserção - p. 202).
257
Flávio Galdino
de um dever de boa administração.7 Nada obstante, o destaque atribuído pela Constituição da República é demonstrativo de um novo compromisso com a eficiência - ou com uma nova concepção de eficiência.
Com efeito, não se pode admitir o risco daquilo que já se chamou, com autoridade, de interpretação restrospectiva,8 no sentido de atribuir ao principio da eficiência o mesmo conteúdo do quase inócuo e tradicionalmente reconhecido dever de boa administração* tornando inócua também a inovação constitucional.
A eficiência promove a releitura da administração pública, passando a funcionar como parâmetro de legitimação do Estado de Direitoio _
para ser realmente legítimo, um Estado e a sua respectiva agenda administrativa devem ostentar padrões de eficiência.
É preciso construir o significado e a aplicabilidade desse novo principio constitucional, o qual, para falar a verdade, não é imposto unicamente ao administrador público, mas de um modo geral a todo o sistema jurídico e aos seus operadores.
E, muito apropriadamente, sustenta-se que a eficiência do sistema jurídico - aqui englobada também a eficiência da administração pública - há de ser conjugada a valores e ocupada de questões éticas e sociais, notadamente de caráter (re)distributivoii da riqueza produzida no país (conforme delineada no item 12.3).
7 Por todos. MOREIRA NETO, Curso do Direito Administrativo cit.. p. 103. e GOUVÈA. O controle judicial das omissões administrativas cit.. p. 205.
8 Como leciona BARBOSA MOREIRA: "(...) Põe-se ênfase nas semelhanças, corre-se um véu sobro as diferenças e conclui-se que, à luz daquelas, e a despeito destas, a disciplina da matéria, afinal de contas, mudou pouco, se é que na verdade mudou. É um tipo do interpretação em que o olhar do intérprete dirige-se antes ao passado que ao presente, o a imagem que ele capta é menos a representação da realidade que uma sombra fantasmagórica" (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “O Poder Judiciário e a efetividade da nova Constituição". In Revista Fbrense 304 (1988): esp. p. 152).
9 Assim a influente lição do BANDEIRA DE MELLO, Curso de Direito Administrativo cit., p. 92, que despreza completamente o conteúdo e a utilidade do principio. Neste sentido tamhém. é de se ver com cautela afirmações como "a eficiência é descendente do dever de boa administração" ou "a eficiência decorre da boa administração”, MARTINS JÚNIOR, WaUace Paiva. "A discricionariedade administrativa à luz do principio da eficiência". RT 789 (2001): 62-89, esp. pp. 81 e 83. Não se trata exatamente de um equivoco, mas sim do risco de comprometer a promissora construção de um novo e importante Instrumento com concepções ultrapassadas e historicamente ineficientes.
10 ARAGÃO, Alexandre dos Santos. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. Rio de Janeiro: Fbrense. 2002, p. 105.
11 Correta DERANI. Privatização e serviços públicos cit.. pp. 150 e seguintes (que fala em eficiência sob o prisma da economia social).
258
Introdução à Iteoria dos Custos dos Direitos - Direitos N&o Nasccm em Árvores
Seja como for, é muito importante que a doutrina publicistica brasileira envide esforços no sentido de construir uma operosa noção de eficiência na administração pública. Um primeiro (e interessante) esforço construtivo referiu a atuação eficiente como consubstanciando a ação administrativa idônea, econômica e satisfatória.12
De outro lado, abriu-se a possibilidade de utilização de fundamentos e justificativas antes atreladas aos princípios da proporcionalidade (vide item 1.6), da moralidade, da impessoalidade ou ao próprio dever de boa administração para referi-los à eficiência - uma espécie de migração de fundamentos antes atrelados a outros princípios constitucionais e agora referidos à eficiência. Essa correlação e construção deve representar uma delimitação tanto quanto possível precisa dos limites de atuação de cada principio.
Prima facie, parece acertada a assertiva de que o princípio da eficiência apresenta acentuada relação com a idéia de proporcionalidade ou mesmo com a idéia de razoabilidade.13
Com efeito, assim como a razoabilidade importa na aferição da relação entre os meios e os fins resultantes de uma determinada medida, a eficiência implica a verificação de que os resultados alcançados por uma medida são representativos de uma relação custo-benefício favorável em relação aos meios empregados e aos sacrifícios impostos- essa é, inclusive, a noção corrente de eficiência,14 que deve ser juridicamente temperada através de parâmetros éticos.15
c,
c:í:
12
13
14
15
MODESTO. Paulo. "Notas para um debate sobre o princípio da eficiência". BDA. Novembro de 2000: 830-837, esp. p. 836 (relevante anotar que o autor participou da equipe que promoveu a reforma do 1998).Mais de um autor aludiu a essa correlação. Cf. FERRAZ Jr„ Tércio Sampaio. “Agências reguladoras: legalidade e constitucionalidade”. Revista IHbutária e de Finanças Públicas 35 (2000): 143-158, esp. p. 154; FREITAS. Juarez. 'Princípios fundamentais do direito administrativo brasileiro". In FREITAS, Juarez. O controla dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 2» edição. São Paulo: Malheiros. 1999, pp. 47-97, esp. p. 85; BUCC1, Direito administrativo e políticas públicas cit., pp. 179 e 183: "Eficiência é uma palavra que conota a proporcionalidade material entre os fins e os meios"; MARTINS JÚNIOR. Wallace Paiva. "A discricionariadade administrativa à luz do principio da eficiência". RT 789 (2001): 62-89. esp. p. 84.HARRISON, Jeffrey L.. Law and Economics cit.. p. 28: "Típically, the term efficiency is asso ciãted wilh the ootion o f accomplishing an outcome ac tho lowest possible cost". SUNS TEIN, Risk and reason cit., p. 19. cuidando de determinado tema. fala que os órgãos judi ciais procuram assegurar “a kind o/proportionaiity betwoen costs and benefits". E ainda entre nós. GROTT1,0 serviço público e a Constituição brasileira de 1988 cit.. pp. 298-299, Correto, quanto ao ponto. GABARDO, Emerson. Princípio constitucional da eficiência administrativa. São Paulo: Dialética. 2002, p. 100 (descartando pura análise custo-beneficio) e 146 (conclusão pela necessária correlação entre ética e eficiência).
c .
259
Flávio Galdino
Merece ser refletída a afirmação de que o principio da eficiência não possui conteúdo próprio, no sentido de que seria mais uma espécie de metanorma, destinada a reger a aplicação de outras normas - aquilo a que já se chamou também um postulado normativo aplicativo16 (sobre as normas sem conteúdo próprio, vide item 1.6).
Ainda nesse sentido, muito apropriada a observação de que se trata de um principio para fora,17 isto é, de uma norma preocupada com algo - notadamente os resultados de determinada medida analisada do ponto de vista jurídico - que acontece fora do “mundo jurídico” (sobre o "mundo jurídico, vide as considerações conclusivas tecidas adiante - item 15). De preferência a análise de custo-benefício de uma medida deve ser prévia à sua implementação. 18
É justamente a proposta deste estudo trazer a realidade material - externa à racionalidade jurídica tradicional - para dentro do raciocínio jurídico: a (re)construção pragmática dos conceitos jurídicos e dos direitos com a possibilidade de incorporação de dados oriundos das análises econômicas (e políticas e sociológicas etc.).
E essa possivelmente será uma das grandes dificuldades dos operadores do direito e em especial dos juizes brasileiros no trato da eficiência - que é um conceito naturalmente pragmático.1 Os operadores do direito e em especial os juizes estão habituados a olhar para o passado, a avaliar fatos já ocorridos no ato de julgar,20 servindo-se de cri
16 É a proposta de ÁVILA, Humberto. “Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa". AAW . Anais do II Congresso Brasileiro de Direito do Estado. Rio de Janeiro: Fbrense. 2002 (mimeo gentilmente cedido pelo autor).
17 Conforme a arguta observação de Tércio Sampaio Fierraz Júnior: “Afinal, o principio da eficiência tem por característica disciplinar a atividade administrativa nos seus resultados e não apenas na sua consistência interna (legalidade estrita, moralidade, impessoalidade). Por.assim dizer, é um princípio para /ora e não para dentro-” (FERRAZ Jr.. Tércio Sampaio. 'Agências reguladoras: legalidade e constitucionalidade". Revista IVibutéria e de Finanças Públicas 35 (2000): 143-156, esp. p. 151. No mesmo sentido, inclusive negando a qualidade de principio á eficiência por se tratar de uma ailélise de resultados. ZAGO. O principio da impessoalidade de., p. 355 (a autora considera que a eficiência é mera conseqüência da impessoalidade, op. cit., p. 360).
18 Sobre as análises custo-beneGcio e suas vantagens (referindo-se especialmente às de cunho ambiental), vide SUNSTEIN, Risk and reason cit., passim e p. 106.
19 MOREIRA NETO, Curso de Direito Administrativo cit., p. 103 ("a eficiência é filha do pragmatismo'); GABARDO. Principio constitucional da eficiência administrativa cit.. p.48 e, ainda, analisando sociologicamente as normas polissêmicas. FARIA. O direito na economia globalizada cit., p. 132.
20 Humberto ÁVILA, Iteoria dos prindpios cit., p. 67, citando lição de Robert Summers, formulando teservas, chama a atenção paia que os princípios (genericamente consideca-
260
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
térios puramente juridicos, muitas vezes alienados da realidade e dos resultados alcançados pela aplicação das normas.
Ocorre que o raciocínio de eficiência e de resultados é um raciocínio prospectivo,21 para o futuro, que envolve a análise de inúmeras variáveis e racionalidades não precipuamente jurídicas - o traço fundamental da administração gerencial é a ênfase no controle de resultados, em vez de centrar-se no controle de procedimentos22 (que evidentemente não pode ser completamente desconsiderada).
Não se pode admitir a construção de uma eficiência no plano jurídico que seja divorciada das condicionantes sociais, políticas, econômicas, como se fora uma teoria pura da eficiência no Direito, pois isso retiraria as melhores perspectivas da eficiência que laboram justamente no sentido de se constituir o canal de comunicação entre as análises econômicas e as jurídicas.23
Interessante ressaltar a referência à eficiência como principio nortea- dor do processo administrativo (conforme a dicção da Lei 9.784/99, art. 2o, caput). Por certo a lei infraconstitucional não poderia frustrar a aplicação da norma constitucional geral, o que talvez conduzisse o intérprete a considerar que a existência da aludida regra legal é inócua. Entretanto, considerando que reside verdade na afirmação de que o procedimento é o modo pelo qual a função administrativa se exterioriza, parece de todo conveniente o destaque atribuído pelo legislador,24 ainda que a ênfase, conforme salientado anteriormente, seja nos resultados potenciais.
dos) possuem caráter primariamente prospectivo (future-regarding), ao contrário das regras, que possuiriam caráter primariamente retrospectivo {past-regarding). Talvez por isso, o Judiciário, acostumado a julgar com base em regras, tenha dificuldade em operar do forma consistente com princípios e resultados. Correto, quanto ao ponto, HOROW1TZ. David L.. The courts and sodalpolicy. Washington? Brookings Institution: 1977. p. 284.
21 De acordo. GRAU, Eras. Planejamento econômico e regra juridica. São Paulo: RT. 1978, pp. 73-75,232 e esp. pp. 252-253: “se impõe reconsiderai a visão retrospectiva e estática do Direito - que o passado consagrou - mediante a sua substituição por outra, dinâmica e prospectiva".
22 PEREIRA, Reforma do Estado para a cidadania cit., p. 115: e também SILVA, Ricardo Ibledo. "Público e privado na oferta de infra-estrutura urbana no Brasil". In GEDIM, Anuário 2002: 53-112, esp. p. 74.
23 É insustentável, com todas as vènias. a proposta purista de MOREIRA, "Processo administrativo e principio da eficiência* cit., p. 329: "(...) abrir mão do conceito econômico- administrativo de eficiência e tentar criar uma vis&o puramente juridica do tema". Correto ARAGÃO, Agências reguladoras cit., p. 5.
24 Vide a digressão de BUENO, "As leis do procedimento administrativo: uma leitura operacional do princípio da eficiência" cit., p. 359.
261
Flávio Caldino
É provável que o Poder Judiciário encontre grande dificuldade em se adequar a esse modo de ver o inundo real, principalmente se considerar a proposta da doutrina no sentido de promover a eficiência a parâmetro de aferição de validade dos atos emanados do poder público. Segundo os registros, devido a essas e outras dificuldades, nos Estados Unidos da América as agências executivas assumiram tal função2* de resolver conflitos intersubjetivos em matéria regulatória (aplicando-se o princípio da eficiência), ressalvada a possibilidade de controle jurisdicional.
Nestes primeiros anos, infelizmente, tem-se observado uma ainda tímida utilização do principio da eficiência, no mais das vezes para autorizar (ou não) a anulação de atos administrativos viciados e em todo caso, matizado exclusivamente pela racionalidade jurídica (abstraindo-se completamente de dados econômicos/sociológicos).
Com efeito, nas primeiras linhas escritas sobre o tema em doutrina verificou-se a tentativa de acentuar ou ampliar o controle judicial da discricionariedade dos atos administrativos através da eficiência,26 que seria um verdadeiro topoí desse tipo de controle.27
Paralelamente, a jurisprudência, que também caniinha a passos curtos (e igualmente restrita a questões jurídicas stricto sensu), vem apresentando dissenção acerca do tema, ora compreendendo que a eficiência é parâmetro de controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário,28 ora que não o é.29
25 Conforme referido no item 10. consulte-se SUNSTEIN. Alter rights revolutlon cit., passim. E as agências operam fundamentalmente através de análises de custo-benefício, cf. SUNSTEIN, Rlsk and reason cit., passim.
26 Para referir apenas estudos específicos, confiram-se SANTOS. Principio da eficiência da administração pública cit.. pp. 202 e 213. GABARDO. Princípio constitucional da eficièn- cia administrativa cit., pp. 136 e seguintes; HARGER, Marcelo. "Reflexões iniciais sobre o principio da eficiência". In ROA 217 (1999): 151-161. esp. p. 159: MARTINS JÚNIOR. Wallace Paiva. "A discricionariedade administrativa à luz do principio da eficiência". KT 789 (2001): 62-89, esp. p. 80. Sobre o controle dos atos administrativos, genericamente, GOUVÊA, O controle judicial das omissões administrativas cie., passim.
27 BUENO, Vero ScaipineUa. "As leis do procedimento administrativo: uma leitura operacional do princípio da eficiência', üi SUNDFELD. Carlos Ari et MUNOZ, Guilleimo Andrés (cooid.). As leis de processo administrativo. São Paulo: Malhoiros. 2000, pp. 342-363, esp. p. 357.
28 Neste sentido, STJ. Primeira lUrma, Recurso Especial 169876-SR Relator o Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 16.08.1998, votação unânime. A mesma Primeira TUrma do STJ. anos antes (inclusive antes da emenda constitucional que arrolou a eficiência entre os princípios da administração pública), havia entendido que a eficiência da medida administrativa não poderia ser controlada pelo Judiciário: e STJ, Primeira 'numa. Recurso em Mandado de Segurança 628-RS, Relator o Ministro MILTON PEREIRA, julgado em 20.09.1993, votação unânime.
29 Assim, por exemplo, STJ, "terceira Seção, Mandado de Segurança 7409-DF. Relator o Ministro EDSON VIDIGAL, julgado em 28.11.2001, votação unânime (destacando-se: "Ao
262
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Diroitos Não Nascom em Árvores
O temá ainda é controverso, inexistindo acordo até sobre saber se a aferição da eficiência integra o mérito do ato administrativo ou não.30 A questão é da mais alta relevância pois é sabido que a implementação do paradigma da eficiência acarreta elevação da discricionariedade dos agentes públicos e ainda demanda um estudo mais aprofundado por parte dos administrativistas, que têm grande dificuldade em lidar com a diminuição da segurança juridica que os novos paradigmas - de que é apenas um exemplo a eficiência - acarretam.31
Pior ainda do que não usar e do que ignorar as análises econômicas, parece ser a utilização do princípio da eficiência com função meramente retórica, pois este tipo de utilização não permite o efetivo controle da sociedade acerca dos fundamentos de determinada decisão judicial.
Mesmo se confinar-se o tema às questões estritamente jurídicas, é realmente importante construir standards de comportamento para o administrador público.32 No plano puramente jurídico, é a mais importante tarefa dos órgãos públicos, v.g. das agências reguladoras, que nasceram e crescem sob a ótica da efic iên cia ,33 e também da jurisprudência das cortes judiciais.
Assim, em marcha curta, às vezes em contramarcha, vem o STJ referindo situações que caracterizam conduta ineficiente por parte do administrador público.
As pesquisas efetuadas para a elaboração do presente estudo evidenciaram preocupação da jurisprudência com a observância de prazos: (i) o STJ considera ineficiente o administrador que deixa de processar pedidos do administrado nos prazos legais ou, na ausência destes, em prazos razoáveis34 e, também, (ii) o STJ considera que, em princípio, a
Poder Judiciário só é permitido indagar sobre a legalidade ou não do ato de demissão, vedado qualquer pronunciamento sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça (I) da medida*); em Igual sentido; STJ, Quinta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 3339-RO. Relator o Ministro EDSON V1D1GAL, julgado em 14.12.1999. votação unânime.
30 Considerando que a eficiência está fora do mérito (e é passível de controle judicial): STJ, Primeira Turma. Recurso Especial 169876-SB Relator o Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 16.12.1998, votação unânime.
31 PEREIRA. Reforma do Estado para a cidadania cit., p. 126 (sobre o aumento da discricionariedade). Correta a análise de FARIA. O Direito na economia globalizada cit.. p. 178, nota 21.
32 Da acordo com esta proposta, ieferindo-se a “técnicas de parametrização", SANTOS. Principio dá eficiência da administração pública c/e.. p. 256.
33 Ainda uma vez ARACÃO, Agências reguladoras cit.. p. 411.34 STJ, Primeira Seção, Mandado de Segurança 7765-DF, Relator o Ministro PAULO MEDI-
NA, julgado em 26.06.2002, votação unânime (relevante anotar que, neste acórdão, além de tudo, acolhendo sugestão do Ministro LUIZ FUX. a Corte fixou prazo para a adoção de providências por parto do administrador).
263
Flávio Galdino
ineficiência do administrador em matéria de prazos não deve se prestar a consolidar situações juridicas precárias em favor dos interessados.3 Além disso, (iii) o STJ considerou que, em homenagem ao principio da eficiência, a vedação constitucional à acumulação de cargos implicaria também a vedação à acumulação de vencimentos e proventos.36
Ainda no plano puramente jurídico, situação das mais relevantes diz respeito à situação jurídica do agente publico ineficiente. É fora de dúvida que a estabilização do servidor público depende da demonstração de determinadas qualidades durante o estágio probatório, dentre as quais a eficiência, e isto nada mais representa do que a eficiência estabelecer um padrão de comportamento para a administração pública37 (até porque a eficiência é realmente condição constitucional para aquisição da estabilidade - CF, art. 41, § 4Q).
No mesmo viés, a Lei Federal 8.112/90 autoriza a demissão do servidor público que se porte com ineficiência no desempenho da função pública respectiva. Mas a construção de standards de comportamento (rectius: a caracterização da atitude eficiente) deve ser realizada com toda cautela e este não é o local adequado para essa construção, seguindo-se apenas breves observações.
Neste sentido, sugere-se prima facie interpretação restritiva quanto à caracterização da ineficiência do agente/servidor público como ato de improbidade administrativa, seja em caráter genérico (violação de princípio geral - art. 11 da Lei 8.429/92), seja em caráter específico (por exemplo, a atitude do servidor de retardar a prática de ato de sua esfera de atribuição, em prejuízo da própria administração ou mesmo dos administrados - art. 11, II, da Lei 8.429/92).
Preliminarmente, tenha-se na devida conta que nem todo ato ineficiente é necessariamente imoral, assim como nem todo ato imoral é necessariamente ineficiente.38 A esse propósito, em precedente antigo,
35 STJ, Quinta IVirma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 14010-MG. Relator o Ministro GILSON DIPR julgado em 19.03.2002, votação unânime.
36 STJ, Quinta T\uma. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 5590-DF, Relator o Ministro LUIZ VICENTE CERN1CCH1ARO, julgado em 16.04.1996. votação unânime (extraindo a eficiência da Constituição mesmo antes da emenda inclusiva).
37 Neste sentido, STJ, Quinta Turma, Recurso Ordinário em Mondado de Segurança 1912' MG, Relator o Ministro JESUS COSTA LIMA, julgado em 16.04.1996, votação unânime.
38 A mesma idéia, noutros termos, preside a construção de WERNECK, Augusto. ‘ Direito administrativo e direitos fundamentais - uma abordagem do principio constitucional da eficiência dos atos administrativos". In Revista da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro. 2003: 375-389. esp. p. 385 (“A eficiência, a ser admitida como principio, não pode ser confinada aos lindes da moralidade'). Logo após. contudo, o
264
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
o Supremo Tribunal Federal já havia assentado a idéia de que o juízo de valor acerca da ineficiência do administrador não representa, a priorí, juizo de valor sobre a moralidade do mesmo, e vice-versa.39
A latere, sem a pretensão de aprofundar o tema (até porque, repita-se, não é o espaço próprio para fazê-lo), a sanção por improbidade, pelo só simples fato de provir de norma sancionatória impõe, em linha de princípio e segundo se tem sustentado, vedação à interpretação ampliativa. Por outro lado, é fora de dúvida que a impossibilidade de aplicação das sanções por improbidade administrativa não afasta a eventual possibilidade de imposição de sanções administrativas.
A questão da improbidade chama atenção para um problema potencialmente perigoso: é preciso ter cuidado para que o feitiço não se vire contra o feiticeiro. A tentativa de implementação de padrões de eficiência não pode servir de causa para a inviabilização da administração pública.
Importa saber que a atividade administrativa, notadamente a gerencial, é prospectiva e envolve riscos os mais variados (financeiros, sociais etc.), até porque as conseqüências não programadas (ou não intencionais) e as extemalidades, positivas e negativas, são absolutamente normais. Em relações continuadas, como visto anteriormente, as modificações das condições e as necessárias adaptações são a regra, o que significa dizer que a regulamentação juridica deve ser flexível.40
Notadamente em se tratando de agentes políticos,41 que tomam as mais importantes decisões estratégicas da administração pública, inclusive através da forma legislativa - normalmente prospectivas e cada vez mais fundadas em racionalidade econômica -, existe a possibilidade de resultados insatisfatórios. E a eventual ocorrência de insu-
autor desautoriza a tese para di2er que tais fenômenos se eo-implicam (p. 386: "por isso. não é possivel imaginar-se hipótese em quo se verifique imoralidade sem ineficiência, nem ineficiência sem imoralidade"). Consoante demonstrado no texto, este estudo náo concorda com tal entendimento.
39 O precedente merece alusão especifica: STF| TYibunal Pleno, Recurso em Mandado de Segurança 2201-DF, Ministro Abner de Vasconcelos, julgado em 07.01.1954, onde se lê que “O controle administrativo do ensino público permite a interferência oficial na direção dos educand&rios particulares, para afastar os diretores sem eficiência. Não constitui diminuição moral esse afastamento, pois nem todo cidadão ilibado tem competência para dirigir e administrar",
40 Cuidando do tema sob a ótica da regulação juridica do planejamento econômico, vide GRAU, Planejamento econômico e regra juridica cit., pp. 80 e 237.
41 BANDEIRA DE MELLO, Curso de Direito Administrativo cit., p. 229.
265
Flávio Galdino
cessos não pode, de per si, ser considerada conio ato de improbidade, sob pena de inviabilizar-se o exercício dessas relevantíssimas funções.
Assim, volta-se a ressaltar a necessidade de construção de stan- dards de comportamento para o administrador público (a propósito do que acontece com o princípio da boa-fé, por exemplo - vide item 1.3). O compromisso do estudioso e, notadamente, da jurisprudência, deve ser com a construção de padrões de comportamento eficiente para o administrador público. Padrões, na medida do possível, casuísticos e, em qualquer hipótese, objetivos42 de aferição da eficiência.
As mais vibrantes cores em tema de eficiência na administração da coisa pública foram acesas pela promulgação da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar na 101 de 04.05.2000), que incorpora entre nós princípios e procedimentos da gestão orçamentária responsável, concretizando a exigência constitucional.
Primeiramente, é de se ressaltar a relevância da promulgação da Lei de responsabilidade fiscal (que é a tradução possível de accounta- bility43). Sinteticamente,44 a mencionada lei estabelece a necessária correlação entre receitas e despesas colimando o equilíbrio das contas públicas. Em última análise, a normativa federal impõe ao administrador público (ou mesmo a quem atue substitutivamente, como sejam especificamente os juizes) a prévia análise econômica de suas medidas, sob pena de responsabilização.
Por mais não seja, a Lei chama a atenção para o grave problema das escolhas públicas, e com isso assenta bases para o estabelecimento de uma democracia substantiva fiscal - segundo prestigioso entendimento, o verdadeiro fundamento da lei45 que possa combater, com eficiência, a exclusão econômica e social.
42 Correto, quanto ao ponto, MOREIRA NETO. Curso de direito administrativo cit.. pp. 103- 104, que exemplifica critérios objetivos de aferição da atuação eficiente, como sejam, prazos, recursos públicos, satisfação dos usuários e destinatários etc.
43 De acordo com TORRES, Ricardo Lobo. Dratado de Direito Constitucional Financeiro o Tributário. Volume V - O orçamento na Constituição. 2» edição. Rio de Janeiro: Renovar. 2000, p. 308. MOREIRA NETTO, Considerações sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal cit., pp. 51, 60, 72, usa a expressão "responsividade”.
44 Sobre o tema, veja-se TORRES. TYatado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. Volumo V - O orçamento na Constituição cit.; e MOREIRA NETO, Considerações sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal cit.
45 MOREIRA NETO, Considerações sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal cit.. p. 33, e também p. 49: 'O orçamento, possivelmente mais que qualquer outro documento de governo, é o que tem superlativas condições de leQetii a democracia substantiva na ação administrativa pública*.
266
Introdução è Tboria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nasccin em Árvores
No que mais nos interessa, e embora não esteja livre de defeitos e críticas,46 o aludido diploma legal determina o equilíbrio entre receitas e despesas, deixando claro que as promessas - também veiculadas em forma de direitos - dependem de lastro para serem cumpridas. A Lei tem o indiscutível mérito de atribuir contornos jurídicos a algumas questões orçamentárias antes "abandonadas à própria sorte” , isto é, relegadas aos estudos econômicos.
Além disso, tem a virtude de institucionalizar o equilíbrio orçamentário (fala-se mesmo no princípio do equilíbrio orçamentário4?), pré*condição de existência de um tratamento a sério dos direitos, em especial dos direitos humanos.
Em conclusão, a eficiência não é inimiga dos direitos fundamentais. Ao contrário de ser uma forma de substituir critérios de justiça por critérios puramente financeiros, a eficiência - adequadamente construída - é um poderoso instrumento de transformação social e proteção dos valores democrático e dos direitos fundamentais. Um exemplo sugestivo - na verdade, um caso concreto - pode demonstrar a tese. E o que se passa a fazer.
13.2. O outro caminho
A designação deste subtítulo é declaramente inspirada no livro do economista peruano HERNANDO DE SOTO (intitulado El otro sende- ro48), que participou do estabelecimento no Peru de uma politica jurídi- co-econômica ao mesmo tempo inclusiva e eficiente. Parece deveras oportuno ressaltar algumas nuances dessa experiência, que retratam as possibilidades de desenvolvimento de um sistema legal que se propõe a ser ao mesmo tempo democrático e eficiente.
É dado da história a convulsão de problemas em que esteve imersa a sociedade peruana por conta de questões políticas e da grave
46 MOREIRA NETO, Considerações sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal cit., p. 300 et passim.
47 SILVA, Rances Waleska Esteves da. A Loí de responsabilidade fiscal e os seus principios informadores. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2003, esp. p. 45.
48 Não apenas o titulo, mas também as idéias que se seguom são inspiradas em DE SOTO. Hemando. The Ocher Path - 1ho cconomic answer to tenorísm. New York: Basic Books. 2002.0 origina) em espanhol, de 1986, é intitulado El otro sendero. Tàmbém estruturado a partir dos estudos de DE SOTO é o texto de PRADO. Ncy. Economia informal o o direito no Brasil. São Paulo: Editora LU. 1991.
267
Flávio Galdino
crise financeira que atingiu o país. Nas décadas de 1970 e 1980, o Peru esteve sujeito à ação intensiva de um poderoso grupo terrorista - auto- intitulado Sendero Luminoso (caminho luminoso), dai o título da obra, o outro caminho -, cuja influência chegou a determinar o controle (político e material, inclusive) de grande parte do país, notadamente em razão da multitudinária exclusão social que o sistema jurídico-econômi- co gerava. Membros do grupo terrorista assumiram as vestes de defensores dos pobres e excluídos, alcançando a simpatiá e mesmo o apoio de boa parte da população carente e oprimida.
Ao lado da massiva ofensiva militar efetivada em face dos guerrilheiros e terroristas - pois a resposta mais comum ao terrorismo é a repressão igualmente violenta, inclusive com o agravamento das sanções penais e a supressão das garantias individuais^9 que custou milhares de vidas de parte a parte, a sociedade civil peruana, capitaneada pelo Instituto Libertad y Democracia (ILD), desenvolveu um projeto de modernização do sistema jurídico peruano, de modo a adaptá- lo às necessidades de um sistema econômico de inclusão social (e de otimização de uma economia de mercado).
Na verdade, as pesquisas do ILD evidenciaram que o sistema jurídico peruano estabelecia custos operacionais insuportáveis e economicamente inviáveis para a participação das pessoas pobres.50 E não só dos pobres. Os pequenos empresários também estavam fora do sistema jurídico-econômico formal (ditos "informais"), que em vez de criar facilidades de acesso e manutenção nas atividades econômicas, impunha obstáculos quase intransponíveis, precipuamente em termos de custos.5*
Agir conforme o direito gerava custos insuportáveis, acarretando a exclusão de inúmeros atores econômicos, assim despidos dos instrumentos jurídicos próprios da atividade econômica (direito de propriedade, direito dos contratos etc.). Essa exclusão, por sua vez, gerava outros enormes custos para os "informais".52
49 Conforme o clássico FRAGOSO, Heleno Cláudio. Tferrorismo e criminalidade politica. Tfese de Concurso para Professor Titular de Direito Penal da Faculdade de Direito da UERJ. Rio de Janeiro. S.d.. pp. 142-143: 'Responde-se ao terrorismo com o tenor...".
50 DE SOTO, 77)0 Other Path cit., p. jodii (Prefácio à edição de 2002).51 DB SOTO. The Other Path cit., p. xix Q pp. 131 e seguintes. Vide ainda, aplicando a
mesma idéia ao cenário brasileiro (da década de 1980), PRADO, Economia informal e o direito no Brasil cit., pp. S2 e seguintes.
52 DE SOTO, The Other Path cit.. p. 173.
268
Introdução à Iteoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
Tudo isso reduz a produtividade e o nível geral de investimentos, gerando um círculo vicioso de exclusão e pobreza (que acaba por se converter em violênciaS3 e, no caso peruano e em tantos outros, em terror). E preciso dizê-lo enfaticamente: o direito inadequado em grau extremo é um dos principais causadores da pobreza e da violência.54 Não se cuida aqui de identificar a classe pobre como sendo perigosa ou violenta, mas apenas de correlacionar os fenômenos em questão.
Segundo as fontes, o sistema juridico peruano experimentou o paroxismo da inadequação à realidade. O idealismo jurídico55 assumiu caráter dramático, fazendo com que o mundo jurídico se tornasse esquizofrênico, completamente alheio à realidade.
Possivelmente, uma das causas centrais dessa inadequação do sistema juridico à vida social era o estabelecimento de uma política pública falsamente (re-)distributivista, notadamente porque (i) não se produzia riqueza suficiente para distribuir adequadamente (nem o sistema juridico estimulava a produção de riqueza56) e, em conseqüência, (ii) a distribuição mostrava-se injusta, não atendendo a nenhum parâmetro de justiça distributiva, eis que findava por depender de arranjos setoriais que favoreciam grupos específicos ligados ao govemo (fortalecendo e ampliando os estamentos burocráticos e a corrupção57). A velha política populista58 de distribuir, ou pior, prometer distribuir o que não existe...
53 Contra, sustentando inexistit evidência de que pobreza cause violência. SALA MA et DESTERMAN, O tamanho da pobreza - economia política da distribuição de renda c/c., p. 123.
54 DE SOTO, The Other Path cit., p. 185 et passún; PRADO, Economia informal e o direito no Brasil cit., p. 74. Sobre a correlação entre desigualdade social e terrorismo, vide FRAGOSO, Tferrorismo e criminalidade politica cit.. passún. esp. p. 159: ‘O terrorismo surge no
•• ETstaSo violento. Ná"’violência que representa a fome e a desnutrição, a miséria e condições subumanas de vida; o desemprego e o subemprego, a incapacidade de resolver os problemas sociais que impede uma vida digna (...)".
55 FARIA, Eficácia jurídica e violência simbólica cit.. p. 12 (o idealismo é um processo de inversão da realidade mediante invocação de um pensamento racional") e o mesmo autor retoma o tema, esclarecendo que “no limite, portanto, a dogmática almeja tornar possível a redução da experiência juridica à dimensão estrita da norma. Para tanto, configura o juridico como uma realidade que basta a si mesma (...)" - FARIA, O Direito na economia globalizada c/c., p. 45.
56 DE SOTO, The Other Path cit.. p. 189: " Thore appears to boa tradition among our cantry's lawmakers o f ustng the law to redistribute wealth rather than to he/p creste it".
57 DE SOTO, The Other Path cit.. p. 199: “In the redistributivg State, the enviabto capacity to be generous with other people's money is an invitation to corruption".
58 Correto PRADO. Economia informal e o direito no Brasil cit., p. 99.
269 •
Flávio Galdino
HE RN ANDO DE SOTO registra que durante mais de dez anos. atuando junto ao govemo, o ILD desenvolveu mais de 400 instrumentos legislativos, fazendo com que o sistema jurídico anacrônico vigente passasse a absorver a economia informal que abrigava parcela substancial dos agentes econômicos, e determinando a criação de um modelo de propriedade imobiliária e da respectiva regularização que atendesse aos pobres, pois sem um sistema proprietário não existem contratos, direitos de patentes, direitos societários, direitos de crédito, e outros institutos sem os quais o sistema jurídico, notadamente em uma economia de mercado, não pode operar de modo eficiente.59
Anota-se ainda que a implementação desse novo sistema jurídico voltado para a eficiência econômica (evidentemente sem abandono dos padrões de moralidade e justiça60) revelou-se mais do que bem-sucedido. Por várias razões. Em primeiro lugar, a modernização trouxe para a juridicidade inúmeros atores econômicos antes deixados à margem (ou mesmo lançados na ilicitude).
Demais disso, a participação na economia formal conduziu à participação política. Isto é, a modernização do sistema juridico para tomà>lo eficiente acarretou participação (inclusão) não só econômica, como também política. É dado da história o malogro do grupo terrorista sendero luminoso que perdeu a bandeira de defensor dos oprimidos para desvelar-se em declarado catalisador da violência.
Várias medidas apontadas por DE SOTO mostraram-se realmente muito interessantes. Neste sentido, desenvolveram-se esforços de regularização do sistema proprietário, simplificação dos institutos jurídicos®1 - evitando-se largo desperdício de custos e energia para ingresso e manutenção na atividade econômica medidas de desregu* lação e descentralização.
Muitíssimo interessante a implementação de uma medida em especial, que combina participação democrática e eficiência.62 ftuto da
59 DE SOTO. The Other Path cit.. p. xxv-, "proporty is mote than just ownership: it is lhehid- den architecture that organizes the market economy".
60 DE SOTO, The Other Path cit.. p. 252: “In short, ali o f us, formais and cwrent informais, need to be govsmod by just, e/ficicnt laws inscead of by the arbitrary authority of tiia stata".
61 DE SOTO, The OtJior Path cit., p. 247.62 DE SOTO, The Other Path cit., p. xxxUi e pp. 253-254: “II the legal system is to bo demo-
cratlzed, two esscntlal requirements must be met: the draft legislation must bo pubüshed and Its costs and beneGts analyzed".
270
Introdução à Teoria doâCustos dos Direitos - Direitos Nào Nascaro em Árvores
63 DE SOTO, The Other Path cit.. p. 189.64 A exclusão é um fenômeno multidimensiona) eis que "remeie a dimensões sociais, eco
nômicas, políticas e simbólicas articuladas". SALAMA et DESTERMAN, O tamanho da pobreza - economia política da distribuição de renda cit., p. 125. Sobre a face politica do terrorismo. FRAGOSO, Terrorismo e criminalidado politica cit.. passim.
65 Como explica MICHAEL WALZER: “Tho/o is a sonso in which oppression makes men freo. and the more radical the oppression the more radicai the írecdom (...) They are set toose from tíio normal resttaints o f social life. because any violence they commit against mas-
271
€
f
f
f
€
anterior experiência negativa da implementação de leis que não haviam sido adequadamente estudadas sob o prisma da eficiência, passou-se a exigir que um resumo de qualquer projeto de lei fosse antecipadamente publicado e submetido à população, acompanhado de um estudo dos custos e benefícios que se esperava do mesmo, algo como um estudo de impacto socioeconõmico da futura lei (chamou-se "pre- publication legislatíve decree”).
Esse sistema, além de permitir e estimular maior controle poi fparte da população - ou seja: reflexão e participação politica, com o ^aprimoramento do processo democrático passou a possibilitar que *leis ineficientes fossem descartadas antes de gerarem seus potencial- fmente maléficos efeitos.
Essa análise custo-benefício, que transcende padrões jurídicos tradicionais (mas não os dispensa completamente, como seja o sempre indispensável controle de constitucionalidade das leis), toma em séria consideração os efeitos práticos que a promulgação da legislação pode ocasionar. Em seu labor, o legislador quase sempre ignora os efeitos £que a legislação redistributiva pode ocasionar sobre o sistema produti- gvo como um todo.&i Assim também, conforme se sustenta reiterada- *mente neste estudo, as decisões judiciais. f
Mas não significa de modo algum descartarem-se medidas de cunhò eminentemente social (efetivamente redistributivo) por serem deficitárias. Cuida-se apenas de permitir que essas medidas sejam £adequadamente refletidas e corretamente implementadas, otimizando as escolhas públicas em um cenário de escassez de recursos.
Com isso acaba-se também por demonstrar que a melhor forma de ([combater várias formas de violência - e o terrorismo é mais uma forma radical de violência - é a inclusão social. É certo que a exclusão econômica implica necessariamente opressão política, tanto assim que o ter- ^ rorismo é, muitas vezes, uma forma de criminalidade politica,64 e as pessoas excluídas e oprimidas sentem-se de alguma forma livres para
c€
€
€€€
€
C
Cí
praticar atos de violência contra seus opressores.65 |f_
Flávio Galdino
Politicamente, a pobreza extrema constitui notória ameaça à coesão social.66 Se a miséria e a pobreza muitas vezes geram violência, a inclusão social indefectivelmente conduz à paz social.
Nos tempos em que o terrorismo assume feições de fantasma internacional,67 que ameaça não apenas a harmonia entre os povos, mas também a sustentação da economia internacional e mesmo das democracias ocidentais, os exemplos de desenvolvimento de políticas públicas inclusivas que tomam desnecessário (ou talvez, menos necessário) o desperdício de vidas humanas deve ser a todo tempo enaltecido.
Em conclusão, a inclusão social e politica, a ser necessariamente conduzida por estamentos governamentais democráticos, seja para combater a violência ou não, deve ser efetivada sob a ótica da eficiência econômica.
Por fim, anote-se que a escolha do exemplo peruano não é aleatória. O caso brasileiro apresenta hoje diversas nuances similares às que influenciaram DE SOTO, e que merecem ao menos as breves pinceladas que se seguem.
A inadequação do sistema juridico brasileiro é patente e acarreta semelhante ineficiência na distribuição de recursos,68 em um espaço em que miséria e desperdício traçam linhas surrealistas de combinação. Há décadas decanta-se a crise do sistema juridico brasileiro, que já atravessou movimentos democráticos e até a promulgação de uma Constituição dirigente e ainda é dito: o direito brasileiro está em crise. Crise permanente.
ters and tyrants can plausibly be callcd de/ensive" (WALZER. Michael. 'The obligatíons of oppressed mínoríties". In WALZER. Michael. Obligations. Cambridge: Harvard University Press. 1970, pp. 46-70, esp. p. 62).
66 SALAMA et DESTERMAN, O tamanho da pobreza - economia politica da distribuição daT renda cit., p. 135.
67 Em 11 de setembro de 2001, uma rede terrorista internacional de origem asiática e crença religiosa muçulmana (fundamentalista), promoveu ataques aos dois então mais elevados prédios do mundo. Situados em Nova York (EUA), o ao centro de comando militar norte-americano (em Washington), locais onde trabalhavam dezenas de milhares de pessoas, derrubando os prédios e matando milhares de pessoas, ocasionando uma ofensiva mundial an ti terrorismo, notadamente de caráter militar e beligerante, dirigida pelo governo norte-americano, a qual. somente até a data de publicaçáo deste estudo. 2003, já havia gerado duas guerras de grandes proporções e outros tantos milhares de mortes.
68 Veja-se, à guisa de exemplo, a observação de José Eduardo Faria “Seu formalismo excessivo tende a impedir a visão da complexidade socioeconômica (...) acarretando com isso graves distorções nos preços e reduzindo a eficácia na alocação de recursos' (FARIA, Qual o futuro dos direitos?, p. 76).
272
Introdução à Iteoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
A violência assume níveis insuportáveis em um panorama de insegurança jamais imaginado. Falou-se mesmo na existência de um “poder paralelo" exercido por grupos de narcotraficantes e de outros tipos de organizações criminosas em zonas carentes das grandes cidades.
Não se confunda a instituição ilícita de um “poder paralelo” criminoso, organizado em torno da violência, e que cria sua própria estrutura normativa de poder, com o chamado “direito achado na rua",69 valiosa releitura critica da relação dialética entre o direito positivo oficial e os vários ordenamentos normativos sociais com vistas à transformação da realidade social (espécie de pluralismo juridico contemporâneo70). Enquanto o estudo do "direito achado na rua” possibilita a incorporação ao direito oficial das “experiências populares de criação do direito e de construção da cidadania” , oxigenando o sistema normativo, às normas do “poder criminoso paralelo" falece qualquer legitimidade.
Se ainda inexiste no Brasil hoje - até onde nos é dado conhecer felizmente, o domínio concreto de um ideário de revolução violenta e terrorismo nas camadas mais pobres da população, é notória a influência politica direta e determinante - principalmente em termos financeiros - da criminalidade organizada, em suas diversas variações, sobre as opções políticas. Efetivamente, a violência, algumas vezes, é a resposta de camadas oprimidas à exclusão social.71 Quando o crime se organiza, a violência social se transforma em violência organizada contra a sociedade e o poder instituído.
Para quem pensa que a situação brasileira é muito diferente no que concerne aos trabalhadores e empresários "informais”, confiáveis estatísticas revelam que quase 30% dos trabalhadores brasileiros encontram-se à margem do direito.72 No Brasil, segundo estatísticas confiáveis, 48% da população vivem abaixo da linha de pobreza, e desses, 14% vivem abaixo da linha da indigência.73
69 Sobre o tema, SOUSA JUNIOR, José Geraldo. Introdução critica ao direito - série o Direito achado na rua - vol. 1- 4» edição. Brasília: UnB. 1993.
70 A noção de pluralismo juridico no direito contemporâneo é muito mais complexa, extrapolando os limites do presente estudo - confira-se FARIA. O direito na economia globalizada c/t., passún.
71 WALZER, Michael. “The obligations o f oppressed minorities" cit.. p. 65. Ainda sobre exclusão e inclusão, vide NEVES. A constitucionalização simbólica dl., p. 71.
72 Apud SALAMA et DESTERMAN, O tamanho da pobreza - economia politica da distribuição de renda de.. p. 154, sendo certo que. no Brasil, nas camadas mais pobres, “a informalidade atinge um grau superior à média dos empregos informais'.
73 BARROS, Ricardo Paes de: HENRIQUES, Ricardo et MENDONÇA, Rosane. “A estabilidade inaceitável: desigualdade o pobreza no Brasil”. (Rio de Janeiro: IPEA. 2001.24p. - dis-
273
Flávio Galdino
Também aqui a resposta somente pode passar pela combinação lastieada em valores éticos do ideário democrático com a eficiência econômica,74 combinação essa que é viabilizada pela modernização do sistema juridico, no sentido de trazer a realidade para dentro do direito.
Na verdade, quando se fala em exclusão social, o que se pretende dizer é exclusão fundada em critérios fundamentalmente (mas não exclusivamente) econômicos,75 que se deve subentender quando se fala, por exemplo, em previdência social, assistência social e outras.
Observe-se, por oportuno, que o problema não está em se estabelecer uma politica redistributiva ou individualmente considerada deficitária, que é co-natural a diversas atividades estatais. O problema, bem analisado em referência à situação peruana, é estabelecer poüti- cas distributivas sem o respectivo lastro e sem dimensionar as respectivas políticas produtivas, em um alentado exercício de irrealismo juridico e fiscal.
Na verdade, assim como identificado em relação à experiência peruana, os elevados níveis de pobreza e miséria no Brasil podem, sin- teticamente, ser atribuidos (i) à escassez de recursos disponiveis e (ii) à desigualdade e ineficiência gritantes na distribuição desses recursos entre os diversos setores da população.76
Em relação à politica redistributiva, importa que seja eficiente. E a redistribuição, em tese, pode ser eficiente em dois sentidos diferentes, quais sejam, (i) considerada em si mesma e (ii) considerada em relação a outros objetivos econômicos.
ponlvel em www.ipea.gov.br, acesso cm outubro de 2003). A estatistica indicada no texto i de 1999.
74 Consoante a leitura, ainda na década de 1970. do economista Edmai Bacha: 'As lideranças populares devem ter bem claro os estreitos limites do possível. É verdade que a sociedade em que vivemos é uma sociedade do desperdício, da convivência do luxo com a miséria. É por isso que se quer superá-la. Mas os recursos que um gover.io progressista pode manipular durante um processo de transição democrática suo sobremaneira escassos. Cessa o reinado do excedente, impeta a economia da escassez" (BACHA, Edmai. Política econômica e distribuição de renda. Rio do Janeiro: Paz e Ibna. 1978, p. 62).
75 Correto MÚLLER. FViedrich. “Que grau de exclusão social ainda pode ser tolerado por um Estado Democrático?", /n; PIOVESAN. Flavia. Direitos humanos, globalização econômica e integração regional - desafios do direito constitucional internacional. Sâo Paulo: Ma* Limonad. 2002, pp. 567-596, esp. p. 568.
76 Consulte-se a relevante análise BARROS, HENRIQUES et MENDONÇA. “A estabilidade ' - inaceitável: desigualdade e pobreza no Brasil' cit., pp. 11 e seguintes, acerca de vários
critérios de análise da grotesca desigualdade de renda no pais.
274
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Diteitos Não Nascem em Árvores
Se o Estado possui deveres assistenciais, deve se desincumbir deles através de uma gestão eficiente. Neste caso, cuida-se da gerência eficiente dos programas assistenciais propriamente ditos. Na verdade, se a redistribuição é uma das funções principais do Estado, o seu exercício, em princípio, sinaliza eficiência.77
De outro lado, os programas assistenciais podem ser eficientes quando geram benefícios econômicos e/ou sociais para outros objetivos sociais (em economia, seriam espécies de externalidades positivas). A título de exemplo, sustenta-se que a estrutura normativa assis- tencialista - conhecida como Poor Law - existente na Inglaterra constituiu elemento importante na base das condições que permitiram ou impulsionaram a revolução industrial;78 ou seja, beneficiaram um determinado objetivo mesmo tendo sido desenvolvidas para atender a uma determinada necessidade social. Também neste sentido uma politica distributiva pode ser eficiente.
Ocorre que, no Brasil, mesmo as políticas precipuamente redistri- butivas acabam sendo ineficientes. Um exemplo constitucional parece ser interessante. Como é sabido, a Constituição Federal de 1988 através de instrumentos vários elevou sobremodo as despesas obrigatórias (vinculadas) da União Federal - como visto anteriormente, sobram apenas dez por cento das verbas orçamentárias para deliberação pública sobre investimentos sociais.
No orçamento da União Federal7 verifica-se que essas despesas vinculadas referem-se a direitos assegurados a alguns segmentos dos mais bem organizados da sociedade brasileira, em forma de benefícios, aposentadorias e pensões, muitas vezes decorrentes de burlas, fraudes e interpretações casuísticas.80
Esse clientelismo institucional inviabiliza gastos de caráter assis- tencial para as camadas mais carentes da população, que sequer possuem acesso ao mercado formal de trabalho, contribuindo para a manutenção da vergonhosa desigualdade de renda no país e assegurando
77 SALOMÃO FILHO. Calixto- "Regulação e desenvolvimento”. In SALOMÃO FILHO. Calixto (coord.). Regulação e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros. 2002. pp. 29-63. esp. p. 42.
78 C( a Informação de SUPL1CY, Eduardo Matarazzo. Renda de cidadania - a saida é pela porta. São Paulo: Cortez. 2002, p. 57 e nota 21.
79 Conforme a apuxada análise de REZENDE e CUNHA, Contribuintes e cidadãos cit.. ps.148 e outras. Nesta e noutras passagens remete-se o leitor ás demonstrações dos autores, dipensada aqui a reprodução.
80 Correto, quanto ao ponto, PEREIRA, Reforma do Estado para a cidadania cic.. p. 284.
Flávio Galdino
uma espécie de apropriação "privada" da arrecadação tributária e da coisa pública de um modo geral por indeclináveis interesses corporati- vistas, expressão aqui empregada em sentido realmente pejorativo® 1 - essa é, de fato, a pior privatização de todas...
Tudo agravado pelo fato de que também é possível demonstrar economicamente02 que boa parte das verbas assistenciais destinadas às pessoas realmente pobres reverte de volta para o Estado em forma de tributos indiretos que evidentemente oneram de forma mais grave (e desproporcional) as pessoas carentes do que as abastadas, gerando um círculo vicioso dramático.
Neste ponto e em muitos outros, ressalvando-se as suas múltiplas virtudes, a Constituição Federal brasileira é bastante falha e a única forma de implementá-la a sério é promover uma leitura pragmática de seu texto ou talvez fosse o caso de dizer, uma construção pragmática dos direitos constitucionais. É importante ter em vista que as ações e compromissos das pessoas reais através dos textos são muito mais importantes do que qualquer documento ou texto especialmente considerado, por mais relevantes que s e ja m .ss
Sem um mínimo de pragmatismo, a Constituição, como já se disse,84 periga ser uma viagem ao mundo da ficção - (adiante retomada, item 15) -, onde se imagina que a pobreza pode ser erradicada trabalhando- se cada vez menos, poupando-se cada vez menos e botando-se o capital estrangeiro cada vez mais para fora e, mesmo assim, todos conseguirão direito à educação, à assistência médica, à moradia e à paisagem...
E o pior, essa suposta promessa constitucional defendida por alguns leitores do texto serve para encobrir uma espécie de “capitalis
81 Conforme evidencia o estudo de REZENDE e CUNHA, Contribuintes e cidadãos c/t., p. 13. Conforme anotam os autores (p. 67), "o desequilíbrio nas contas públicas é um resul- tado economicamente ineficiente e também socialmente injusto". No mesmo sentido PEREIRA. Reforma do Estado para a cidadania cit.. p. 94 (sobre a evolução do patrimo- nialismo ao corporativismo) p. 126 e especialmente p. 337 (onde se fala do clientelistno patrimonialista). S.m.j., expressão corporativismo está empregada no sentido 'autoritário* e não no sentido do chamado “neocoiporati vismo* (cl FARIA. O Direito na economia globalizada cit., p. 27, nota 14).
82 Consoante demonstrado em REZENDE e CUNHA. Contribuintes e cidadãos cít.. p. 111.83 SUNSTEIN, Cass. Republic.com. New Jersey. Princeton Univeisity Press. 2001, p. 105
(~ The text of any founding document is likely to be far less important, in maqintaining a republic, than the actions and commitments of nation's citizenry over lime".
84 O texto que se segue é inspirado na critica mordaz de MARIO HENRIQUE S1MONSEN ao Projeto de Constituição (SARMENTO. Carlos Eduardo et alii (orgs.). Mario Henrique Simonsen: textos escolhidos. Rio de Janeiro: FGV Editora. 2002, p. 143).
276
Introdução à Tfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
mo cartorial", em que o Direito Constitucional procura resolver os problemas da tradicional elite econômica do país utilizando o dinheiro do contribuinte85 enquanto finge proteger os miseráveis - é nota característica do corporativismo clientelista brasileiro defender seus muitas vezes inconfessáveis interesses privados como se fossem "o” interesse público ou se representassem interesses da coletividade, notadamente dos menos favorecidos.86
Tknto assim é, que os estudos demonstram que os patamares de desigualdade de renda no Brasil permanecem estáveis após a Constituição de 1988. Com efeito, em todos os indicadores analisados, o grau de desigualdade de renda não revela qualquer tendência ao declínio por conta das novas garantias - na verdade, irrealizáveis promessas - constitucionais.
Assim é que o grau de desigualdade observado em 1999 é bastante similar ao de 1970,87 mantido ao longo do período e com tendência clara ao agravamento,88 a demonstrar que a simples retórica constitucional infelizmente não foi capaz de alterar a realidade sensível, nem as supostas promessas irrealizáveis foram capazes de melhorar a vida real das pessoas.
Na linha dos projetos sérios de adequação do nosso ordenamento jurídico às necessidades da realidade, com matiz declaradamente dis- tributivo, está a idéia de renda mínima, defendida entre nós há muito tempo pelo Senador EDUARDO SUPLICY.89
É certo que a utilização do patamar de renda como critério de aferição da pobreza revela problemas vários (em outras palavras: a pobre-
85 Novamente conforme SIMONSEN (SARMENTO, Mario Henrique Simonsen: textos escolhidos cit., p. 158).
86 PEREIRA. Reforma do Estado para a cidadania cit., p. 94 (que fala em representação perversa de interesses).
87 BARROS, HENRIQUES et MENDONÇA, “A estabilidade inaceitável: desigualdade e.. „. poljreza rio.Brasir cit., p. 16. ■- ~ .........88 ROCHA. Sonia. Pobreza no Brasil - afinal, de que se trata?. Rio de Janeiro: FGV Editora.
2003, pp. 38-39 et passim (p. 135). A autora (p. 176) registra que os maiores redutares de pobtcza no pais no período (oram medidas econômicas (medidas puramente jurídicas sequer são referidas), notadamente o "milagre brasileiro* e o plano Real.
89 V&rios são os textos editados pelo Senador do Partido dos Trabalhadores a prop6silo do tema da distribuição de renda, como sejam: SUPLICY, Renda de cidadania cie., passim: SUPLICY, Eduardo. Programa de garantia de renda mínima. Brasília: Senado federal. 1992; SUPLICY. Eduardo Matarazzo. Da distribuição da renda c dos direitos à cidadania. São Paulo: Editora Brasiliense. 1988. Consulte-se a interessante e sintética correlação entre a idéia de renda de cidadania e de igualdade complexa (consoante WALZER - vide item 1.6) desenvolvida por ROUANET, Luiz Paulo. "Igualdade complexa e igualdade de renda no Brasil*. In MERLE. Jean-Christophe et MOREIRA. Luiz (orgs.). Direito e legitimidade. São Paulo: Landy. 2003, pp. 385-394.
277
Flávio Galdino
za não se limita à insuficiência de renda pessoal), havendo quem sustente a tese de que é necessário avaliar patamares de satisfação de necessidades básicas para definir a pobreza e as respectivas estratégias de combate90 (ou pelo menos a utilização de ambos em caráter complementar). Mas isso não invalida as técnicas de distribuição de renda como tentativas de combate à pobreza.
De fato, ao lado de outras medidas que se poderia listar à exaustão, como sejam a reforma agrária, simplificação da regularização da propriedade urbana, absorção pelo sistema juridico de trabalhadores informais e outras que não podem ser desenvolvidas aqui, o programa de renda mínima parece ser um sistema adequado e, se bem formulado e gerido, eficiente de distribuição de renda.
Já se discorreu neste estudo acerca da idéia de que existe um mínimo existencial (item 9.3), isto é, um conjunto de condições mínimas necessárias ou indispensáveis para uma existência humana digna - também chamados direitos básicos. O Estado possuiria o atributo de assegurar essa esfera mínima (quando houver condições materiais a tanto), havendo mesmo quem sustente, com proficiência, o direito a um patrimônio mínimo.9'
Várias são as formas de se atingir essa finalidade e uma delas parece ser a garantia de uma Tenda mínima, que também assume variadíssimas feições,92 especialmente de um imposto de renda negativo ou de uma renda básica incondicional.
Em linhas gerais, o programa de renda mínima se caracteriza93 pelo pagamento regular por parte do Estado de uma renda a todos os membros (pessoas físicas) da comunidade política individualmente considerados, independentemente de sua situação financeira, de estado de necessidade ou mesmo de comprovação de trabalho (e neste sentido complementa a proposta de absorção pelo mundo jurídico dos tra-
90 ROCHA, Pobreza no Brasil cit.. pp. 19,28.91 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto juridico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: Renovar.
2001. A tese é de que “a cidadania plena depende de que se disponha de renda suficiente pata o atendimento das necessidades no &mbito do consumo privado* (ROCHA, Pobreza no Brasil cit.. p. 191).
92 Sobre um panorama jurídico de programas semelhantes nos Estados Unidos da América, vide HERSHKOFF. Helen et LOFFREDO, Stephen. The rights o í tha poor (the authoritati- ve ACIXt guido to poor peopItTs rights). Southern Illinois University Press. 1997.
93 C l VAN PAR1JIS, Philippe. "Renda mínima garantida para o século XXI". In SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Renda de cidadania - a salda è pela porta. São Paulo: Cortez. 2002. pp. 194-230.
278
Introdução à Tfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não N a scem em Árvores
balhadores informais, pois coloca a pessoa em condições de recusai ttrabalhos em condições ofensivas à sua dignidade94). ^
Considerando que, segundo registram os especialistas, a transferência efetiva de 2% da renda das famílias mais ricas no Brasil para os f mais pobres permitiria que essas famílias saíssem da linha de indigên- ^ cia (que incorpora 14% da população),9 o programa de renda minima parece ser uma excelente alternativa redistributiva. C
O programa, em principio, não é excludente de outras formas de ç benefícios sociais (como ensino básico gratuito, seguro social e auxílios familiares95) e apresenta, segundo os estudiosos, inúmeras vantagens C em termos de eficiência em relação a outros projetos semelhantes. ^
Assim, por exemplo, a quem causar estranheza que o sistema seja universal, isto é, beneficie ricos e pobres da mesma forma (todas as C pessoas receberiam o mesmo benefício), os estudos demonstram que ^ dar a todos é mais eficiente do que dar somente aos pobres,97 eliminan- do os custos e o possivelmente burocrático sistema operacional de con- f. trole da necessidade do beneficiário.
Mais uma vez: a eficiência operacional é essencial a qualquer pro- grama de combate à pobreza e à desigualdade de ren da .38 Não se olvi- 1de que uma das grandes críticas opostas às propostas de sistemas £redistributivos está em que, além de não aumentarem a riqueza social (o que pode ser questionado mesmo em termos econômicos), ainda geram elevadíssimas despesas operacionais." (f
Ao mesmo tempo, o sistema universal, em que todas as pessoas (independentemente da necessidade) recebem o benefício, afasta o estigma ou eventual sentimento de vergonha de quem recebe a £renda,100 o que se revela muito importante do ponto de vista político, pois a ausência de auto-estima prejudica a participação e conduz à
279
í
í
í
í
l
c94 SUPLICY, Renda de cidadania c/t., pp. 55 e 94.95 BARROS. HENRIQUES et MENDONÇA. "A estabilidade inaceitável: desigualdade c
pobreza no Brasil* cít., p. S.96 SUPLICY, Renda de cidadania cit.. p. 91.97 VAN PARIJIS. "Renda mínima garantida para o século XXI* cit.. p. 215.98 ROCHA. Pobreza no Brasil cit., p. 193.99 Veja-se POSNER, EcoiwmJc Analysis of Law cit., pp. 460-461. quando chega a dizer que
determinadas propostas redlstributivas não seriam eficientes eis que além de não gerarem aumento da riqueza (argumento sujeito a critica e sem comprovação empírica), ainda geram aumento das despesas, salientando que a sua justificativa deve ser ética e não econômica (como se estas esteias pudessem ser dissociadas...). í
100 SUPLICY, Renda de cidadania ac.. p. 93. j
I€
€
Flávio Galdino
apatia política - uma espécie de pobreza política^0' (é o mesmo sistema adotado em alguns locais acerca do transporte público urbano gratuito para pessoas idosas - não se indaga a necessidade, apenas a idade, e o benefício é concedido). A exclusão social gera uma reação em cadeia em termos de exclusão.
Interessa, ainda, anotar que ao lado do Projeto de Garantia de Renda Mínima,102 apresentou-se também um projeto de financiamento daquela renda (que se denominou Fundo Brasil de Cidadania), declaradamente inspirado numa experiência estrangeira bem-sucedida (ocorrida no estado norte-americano do Alasca). 1(>3 Esse tipo de procedimento apresenta ao menos duas vantagens evidentes. Em primeiro lugar, refoge à pseudopolítica de dar o que não existe. Em segundo lugar, estabelece um programa permanente, pois os pagamentos são realizados às expensas dos rendimentos gerados pelo fundo (que seria vinculado a essa despesa), diversamente de outros programas que dependem da arrecadação anual e, portanto, de suas imprevisíveis variações.
Esta é uma realidade econômica que não pode escapar aos estudiosos do Direito: a distribuição de renda e serviços somente é viável onde existe crescimento econômico e eficiência na utilização dos recursos disponíveis,104 naturalmente escassos diante das necessidades humanas.
101 CF. MÜLLER, "Que gtau de exclusão social ainda pode sei tolerado por um Estado Democrático?’ cit., esp. pp. 572-573.
102 SUPLICY. Renda de cidadania cít., p. 339.103 SUPLICY. Renda de cidadania cit., p. 346 (sobre a experiência do Alasca, vide pp. 86 e
seguintes).104 BACHA, Politica econômica e distribuição de renda cit., p. 67.
280
Capítulo XIV Os Direitos Fundamentais Levados a Sério
14. Gratuito não existe - o grave problema dos consumidores inadimplentes de serviços públicos essenciais
Um estudo sobre os custos dos direitos não poderia deixar de abordar questões de ordem prática, no mínimo a titulo exemplificativo. Não é possível ao autor - limitação insuperável - pensar Direito sem referência direta e imediata à realidade e à solução de problemas concretos. O Direito é, dentre tantas outras coisas, um meio de conformação da vida a determinados valores. E, sem ter em vista permanentemente essa conformação, não pensamos Direito.
Assim, ainda uma vez seguindo o modelo expositivo de CASS SUNSTEIN - que tem o hábito de apresentar, após as suas formulações teóricas, algumas aplicações -, passamos a apresentar uma aplicação prática dos enunciados acima desenvolvidos em torno aos custos dos direitos, abordando desta feita, o grave problema dos consumidores de serviços públicos.
14.1. A situação-problema. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
Nos dias que correm, a falta de compreensão dos custos dos direitos, especialmente por parte de alguns tribunais, atinge graus realmente preocupantes, gerando gravíssimas conseqüências. Tomamos um exemplo expressivo, e de grande repercussão prática, um tema ainda e verdadeiramente em ebulição nos dias que correm.
Basicamente com fulcro em dois dispositivos legais, a saber, o art. 22 da Lei Federal n2 8.078/90 e o art. 6o, § la, da Lei 8.987/95,1 ambos anco-
1 Lei 8.078/90. Art. 22. Os órgãos públicos, poi si ou suas empresas, concessionárias, per- missionárias, ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, o. quanto aos esenciais. contínuos.
283
Flávio Galdino
rados no princípio da continuidade do serviço público - por sua vez sub- principio de um mais abrangente, qual seja, o princípio da adequação do serviço público as Cortes judiciais brasileiras, inclusive algumas das mais elevadas, vêm impondo a algumas empresas responsáveis pela prestação de determinados serviços públicos, a prestação dos mesmos independentemente da respectiva contraprestação por parte de alguns usuários ou consumidores inadimplentes, expressões que são usadas aqui, a exemplo do que ocorre nos textos legais, indiscriminadamente.2
De fato, vários órgãos judiciários têm considerado indevida a conduta da empresa que presta serviço público e faz cessar o fornecimento a um determinado consumidor ante a ausência de pagamento pelo mesmo, determinando a continuidade no fornecimento e sugerindo a remessa do débito inadimplido às assim chamadas "vias ordinárias de cobrança” {cobrança mediante procedimento judicial).
Embora haja farta jurisprudência sobre o assunto, registrando-se posições dissonantes, interessa-nos neste estudo, como padrão de decisão a ser analisado, por ser a mais alta Corte iníraconstitucional do país, responsável pela harmonização da interpretação dessa legislação (CF, art. 105, III), aquele emanado do Superior Ttíbunal de Justiça.3 O aludido entendimento tomou-se cediço, autorizando, na forma da legislação processual, farta emissão de decisões liminares monocráticas naquele Pretório Superior* e embasando decisões de vários outros tribunais do país.5
Lei 8987/95. Art. 6a Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei. nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ Ia Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
2 Em doutrina, muitas vezes, ressaltam-se diferenças. Por todos. DERANI, Privatização e serviços públicos cít.. pp. 76-77.
3 No sentido referido no texto, STJ, Primeiw Turma, RscursoEspecial ns 223778-R J, Relator o Ministro HUMBERTO GOMES DE BARKÒS, julgado em 13.03.2000, votação unânime; STJ. Primeira Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n° 307905-PB. Relator o Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 27.11.2000. votação unânime: STJ. Primeira Turma, Recurso Especial n« 122812-ES. Relator o Ministro MILTON LUIZ PEREIRA. julgado em 05.12.2000, votação unânime.
4 Ad exemplum, STJ. Primeira Türrna. Recurso Especial na 298017-MG. Relator o Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgado em 28.02.2001: STJ, Primeira Turma, Agravo de Instrumento nfl 349166-RS, Relator o Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgado em 23.02.2001; STJ, Segunda Turma, Recurso Especial n® 138845-GO. Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 11.05.2000; STJ. Segunda Türma. Agravo de Instrumento nQ 267539-RJ. Relator o Ministro PAULO GALLOTO. julgado em 03.08.2000.
5 Por todos. TJRJ, 15a Câmara Civel, Apelação Civel n» 15899/99. Relator o Desembargador NILTON MONDEGO DE CARVALHO LIMA. julgado em 09.12.1999. decisão por maioria
284
Introdução à Teoria dos Çustos dos Direitos - Direitcs Não Nascem em Árvores
Mais grave ainda, chegou-se mesmo, não poucas ve2es, a considerar que a cessação do fornecimento do serviço ao consumidor, mesmo que declaradamente inadimplente, consubstancia constrangimento ilegal e caracteriza dano moral passível de reparação pecuniária.6 sem prejuízo de outras eventuais sanções administrativas e quiçá criminais para os responsáveis pela medida.
Reiteradamente citado nas decisões posteriores e na doutrina especializada, o Jeading case na matéria é o acórdáo proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, por sua Primeira Turma, no julgamento do Recurso em mandado de segurança n2 8915-MA em 12.11.1998, de que foi Relator o Ministro JOSÉ DELGADO, acompanhado pela unanimidade de seus pares. A ementa do acórdão é deveras expressiva de seus fundamentos7 e encontra-se vazada nos seguintes termos:
"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE TARIFA. CORTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. É condenável o ato praticado pelo usuário que desvia energia elétrica, sujeitando-se até a responder penalmente.
2. Essa violação, contudo, não resulta em se reconhecer como legítimo ato administrativo praticado pela empresa concessionária fornecedora de energia e consistente na interrupção do fornecimento de energia.
3. A energia é, na atualidade, um bem essencial à população, constituindo-se serviço público indispensável subordinado ao
(condenando a empresa a indenizar o autor em 150 salários mínimos): TJRS, 1° Câmara Cível. Apelação Civel S99241981, Relator o Desembargador CELESTE VICENTE ROVA- Nt, julgado em 30.06.1999. decisão por maioria (exigindo o embasamento mínimo da cessação da prestação em decisão judicial transitada em julgado).
6 Assim. STJ, Primeira T\uma. Recurso Especial na 201112-SC. Relator o Ministro GARCIA VIEIRA, julgado em 10.04.1999. votação unânime. É importante registrar o contexto da decisão: tratava-se de caso em que uma empresa responsável pelo fornecimento de água havia coitado o mesmo em razão de uma pessoa humilde, que tivera seu barraco incendiado, ter atrasado o pagamento de várias contas.
7 Sem configurar critica de cunho pessoal, cumpre lamentar que uma decisão dessa magnitude. afinal convertida em Jeading case de matéria importantíssima, tenha sido fundamentada em singelas três laudas incompletas, em sua maior parte transcrições desim- portantes (que deveriam, se fosse o caso. conforme a técnica, constar do relatório e não da fundamentação), sem apreciar com detenção, minimamente, as complexas questões envolvidas e sem nem de longe avaliar o impacto econômico que poderia causar.
285
Flávio Galdino
principio da continuidade da sua prestação, pelo que se torna impossível a sua interrupção.
4. Os arts. 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, aplicam-se às empresas concessionárias de serviço público.
5. O corte de energia, como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa, extrapola os limites da legalidade.
6. Não há de se prestigiar atuação da justiça privada no Brasil, especialmente quando exercida por credor econômica e financeiramente mais forte, em largas proporções, do que o devedor. Afronta, se assim fosse admitido, aos princípios da inocência presumida e da ampla defesa.
7. O direito do cidadão de se utilizar dos serviços públicos essenciais para sua vida em sociedade deve ser interpretado com vistas a beneficiar quem deles de utiliza.
8. Recurso improvido” .
Isto quer dizer que - consoante um tal entendimento - mesmo diante da total e reiterada ausência de pagamento por parte do usuário, ou até pior, mesmo diante da prática delituosa (jji casu, furto de energia elétrica), a empresa concessionária deve continuar prestando os serviços, arcando com todos custos respectivos. Cria-se um direito absoluto à prestação individual contínua não remunerada de serviços públicos.
E mais, fazendo agregar àqueles custos da prestação, os também nada desprezíveis custos para efetivar a cobrança do débito, nem sempre bem-sucedida - aliás quase nunca bem-sucedida no falido sistema processual civil (positivo) executivo brasileiro -, podendo-se seguir assim, em caso de recalcitrância do inadimplente, infinitas cobranças, sem qualquer possibilidade de interrupção na prestação dos serviços inadimplidos, sob pena de o devedor usá-lo (o serviço), não pagar e ainda pleitear reparação, ao argumento de que a interrupção teria configurado um certo constrangimento moral ilícito.
O absurdo, data maxima venia, salta aos olhos, merecendo estudo detido nas linhas que se seguem, com o fito de demonstrar os vários equívocos consubstanciados nas premissas adotadas pelo julgado, muito especialmente a total desconsideração das questões que envolvem os custos dos direitos.
Nos tópicos que se seguem, analisam-se as premissas fundamentais da decisão retrotranscrita, que podem ser assim sintetizadas:
286
Intraduç&o à Tfeoiia dos Custos dos Direitos - Diraitos Não Nascem em Átvores
(i) os serviços públicos, considerados essenciais aos consumidores, subordinam-se ao princípio da continuidade do serviço público, isto é, a essencialidade do serviço determina a aplicação do principio da continuidade na prestação;
(ii) por força desse principio da continuidade, o inadimplemento por parte do consumidor não autoriza a cessação na prestação do serviço, que constituiria meio indevido de pressão ao pagamento (senão mesmo atuação de justiça privada, ofendendo os principios da inafastabilidade do controle jurisdicional e da ampla defesa);
(iii) violado esse princípio da continuidade em razão do inadimplemento, tem direito o consumidor a ser indenizado por danos morais.
€
C
A abordagem principia pela (item 14.2) relação entre serviço público e essencialidade, com o fito de demonstrar que o fundamento invocado pelas decisões para determinar a continuidade não é senão a essencialidade em si mesma, e não o regime juridico. Prossegue abordando a (item 14.3) natureza da relação estabelecida entre o usuário e a concessionária do serviço. Em seguida, estuda-se (item 14.4) a relação entre essencialidade e continuidade, a demonstrar que também a essencialidade não é absoluta. A configuração de vários exemplos reais e de situações hipotéticas permite observar que (item 14.5) falta coerência sistemática ao argumento discutido aqui. Ato continuo, são abordados alguns (item 14.6) fundamentos periféricos da decisão, acerca do ato de corte no fornecimento, evidenciando-se que não se trata de sanção ou de exercício de justiça privada.
Com base nas considerações anteriores, é possível afirmar a necessariedade da contraprestação nas situações deste tipo (item 14.7). Por derradeiro, mostra-se que a correta percepção dos custos dos direitos evita decisões desse tipo (item 14.8), saudando-se a provável reforma desse entendimento.
14.2. Serviços públicos e essencialidadeAntes de ingressarmos nas discussões específicas a propósito da
prestação continua dos serviços públicos em caráter individual, mister enunciar algumas noções úteis em relação aos serviços públicos, em especial a questão da essencialidade.
cc
1
ícc€
4
287
4
Flávio Galdino
O conceito de serviço público é dos mais conturbados da ciência do direito administrativo - não se pode sequer dizer que seja uma crise momentânea, pois a verdade é que os períodos de conturbação teórica são muito mais expressivos do que os períodos de estabilidade8 - numa palavra, a crise da noção é constante. Durante muito tempo, por influência da escola francesa, o serviço público foi mesmo utilizado para definir todo o âmbito de atuação do direito administrativos
Independentemente da sua aptidão para designar o fenômeno do direito administrativo como um todo, o próprio conceito de serviço público é o centro de grandes debates, interessando acentuar, no caso do direito brasileiro atual, que a controvérsia deriva em boa medida da ausência de uma regulamentação constitucional satisfatória. Não que o direito positivo pudesse sepultar os debates, mas certamente poderia balizá-los melhor.
Importa assinalar que serviço público também é um conceito jurídico (sobre conceitos jurídicos, vide item 5). Não existe nenhuma atividade que necessariamente corresponda ao conceito.10
Como sói acontecer, o conceito é um instrumento para o aplicador do Direito. Um instrumento de representação que liga determinada situação a determinados efeitos. No caso do direito brasileiro, embora muito utilizado, o conceito de serviço público é inçado de controvérsias, reduzindo sobremodo suas potencialidades para auxiliar no labor do operador do Direito, isto é, sua utilidade teórica.
Considerando seu sentido mais amplo, a expressão serviço público englobaria todas as atividades em que toma parte o Estado, o que incluiria atividades de arrecadação de tributos ou a própria prestação jurisdicional, e lhe retiraria qualquer conteúdo útil para os fins a que se destina o presente estudo. Portanto, há que se delimitar a parcela da realidade a que corresponderá o conceito. -
8 Consoante a lúcida observação de JUSTEN, Monica Spezia. A noção de serviço público no direito europeu. São Paulo: Dialética. 2003, p. 226.
9 Sobre as "teorias do serviço público", por todos, veja-se BANDEIRA DE MELLO. Princípios Gerais de Direito Administrativo cit., p. 139, e GROTTI, Dinori Adelaide Musetti. O serviço público e a Constituição brasileira de 1988. São Paulo: Malhebos. 2003. O marco fundamental desta teoria parece ser uma decisão do Conselho de Estado francês (o arresto Manco, de 1873) onde, na sistema de bipartição da jurisdição existente naquele pais, assentou-se a competência dos tribunais administrativos para as causas que versassem sobre a execução de serviços públicos.
10 Assim também GRAU. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 c/t., p. 157.
288
Introdução à Tfcoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
Renunciando-se à discussão detida das tormentosas questões que permeiam o tema, notadamente por não constituírem o objeto central do presente estudo, pode-se tentar discernir dois vetores principais que orientam as multifacetárias opções doutrinárias acerca do que deva ser considerado serviço público.
Com efeito, pode-se identificar uma corrente (i) que distingue a essencialidade da prestação em questão para caracterizar uma determinada atividade como serviço público, e outra corrente (ii) que busca na norma posta o que seja serviço público (embora reconhecendo que essa normali realiza sua opção precipuamente com base na essencialidade do serviço).
É correta a afirmação de que o que se faz mister a esta quadra da história é um critério pragmático para distinguir o que é serviço público do que não é serviço público12 ou, noutras palavras, precisa-se de um conceito pragmático de serviço público (dotado de utilidade para o operador), que o diferencie de outras situações, e permita a aplicação de um regime juridico minimamente determinado, ainda que sejam múltiplos os regimes aplicáveis, e que devam ser adequados casuisti- camente.13
De outro lado, é igualmente acertada a crítica no sentido de que não é possível explicar o conceito de serviço público unicamente pela simples remissão a um determinado regime jurídico (de serviço público), como seja dizer que utal atividade é serviço público porque atende ao regime jurídico de serviço público". A tautologia é manifesta.14
São todas questões muito interessantes, mas o que importa considerar para os fins propostos neste estudo é que a essencialidade não é necessariamente atributo de serviços públicos. Assim, é perfeitamen-
' 11" TÊ também controvertida a questão de saber se a lei infraconstituciona! pode reconhecer uma determinada atividade como serviço público. De mrt lado sustenta-se que a Constituição Federal fez clara opção pelo regime da liberdade de iniciativa econômica (CF. art. 173). não podendo dispor de modo diverso o legislador para restringir a atividade econômica privada; neste sentido. GRAU. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 cit.. p. 160. AGUILLAR. Fernando Henen. Controle social de serviços públicos. Sâo Paulo: Max Limonad. 1999. p. 133. De outro, argumenta-se que a lei é o veículo próprio para a escolha por parto do Estado das atividades que devem ser consideradas serviços públicos, uma vez que a liberdade de iniciativa não tem o condão de restringir a ação legislativa; por todos. Dl PIE'1'KO, Direito Administrativo cit.. p. 83; MEDAUAR. Direito Administrativo Moderno cit., p. 369.
12 Assim AGUILLAR, Controle social de serviços públicos cít., p. 112.13 Consoante defende GRAU. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 cit.. pp. 143-147.14 GRAU, A Ordem Econômica na Constituição de 1988 cit.. pp. 142-143.
289
Flávio Galdino
te possível haver (i) serviço público não-essencial e (ii) atividade econômica em sentido estrito15 essencial.
Admitindo-se a segunda linha de entendimento referida anteriormente, no sentido de que a lei infraconstitucional, lastreada numa opção política dos governantes, pode atribuir a determinada atividade econômica o regime de serviço público, nada obsta a que uma determinada atividade não essencial seja serviço público.
Pode-se exemplificar ad absurdum. Sobrevindo - nos dias de hoje (!) - hipotética Emenda Constitucional (ou mesmo, para quem assim considerar possível, uma lei) que inclua entre os serviços públicos a entrega gratuita de cigarro aos indivíduos, nem assim se poderá considerar tal serviço público como essencial (na verdade, seja permitido dizer, muito pelo contrário).
De outro lado, consoante assinalado anteriormente, a significação social dos bens é condicionada por inúmeros fatores. Assim, considerando que a essencialidade transforma-se com o tempo, ou seja, é histórica,16 e com o espaço, ou seja, é também geográfica e política,17 e tendo em vista que normalmente os fatos antecedem o direito, é bem possível que uma determinada atividade torne-se essencial à comunidade sem que o Direito a tenha ainda reconhecido como serviço público.
Nesse sentido, mister ressaltar que o real fundamento para as decisões políticas - constitucionais ou legislativas, pouco importa aqui - já referidas não é a caracterização de determinada atividade como serviço público, mas sim a essencialidade da prestação em q u e s tã o .18
Da mesma forma, a leitura das decisões referidas faz certo que o fundamento determinante da continuidade é a essencialidade. A mesma essencialidade que limita o direito de greve (item 14.4) ou que protege o bem de família (item 14.5). Tanto assim que o próprio TCbunal
15 Utiliza-se aqui, para fins expositivos, a classificação proposta por GRAU. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 cit.. pp. 132 e seguintes, que se refere ao gênero atividade econômica, de que seriam espécies as atividades econômicas em sentido estrito (CE art. 173) e os serviços públicos (CF, art. 175).
16 AGU1LLAR, Controle social de serviços públicos cit., pp. 113-114.17 Consoante o demonstra, em vernáculo, o estudo de JUSTEN. Monica Spezia. A noção de
serviço público no direito europeu c/t., passim (esp. pp. 222-223).18 Ressaltando sobremodo a essencialidade, mesmo diante da ''criação’' normativa, FREI
TAS, Juarez. "O Estado essencial e o regime de concessões e permissões de serviços públicos*, /n Estudos de Direito Administrativo. 2* edição. SSo Paulo: Malheiros. 1997. pp. 33-52.
290
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Arvores
em questão admite a suspensão do fornecimento quando considera que bem fornecido não é essencial.19
A essencialidade diz com a aptidão de um determinado produto ou serviço para atender às necessidades basilares do homem - diz, portanto, com a dignidade da pessoa humana.
Não é possível definir precisamente essencialidade, nem constitui objetivo relevante aqui fazê-lo. É um conceito jurídico aberto, o qual, atendendo a sua finalidade precipua, permite a adequação do direito aos fatos, valorizando a dimensão existencial do direito em detrimento de uma visão meramente patrimonial do fenômeno jurídico.®
É certo, e salvo engano, ninguém duvidará de que nos dias que correm, no Brasil, exemplificativamente, água, energia, alimentação e moradia são bens essenciais à manutenção da pessoa humana com mínima dignidade.
Por outro lado, equivoco eventualmente pior do que desconsiderar a dimensão existencial do contrato de fornecimento de determinados serviços seria o de desconsiderar completamente o seu caráter patrimonial, desconsiderando sua base contratual.
Contratos existem para permitir a autovinculação jurídica de pessoas de molde a viabilizar a Quência das suas respectivas relações. Assim, de fato ó correto dizer que, embora a ótica solidarista da essencialidade deva influenciar a leitura dos contratos (notadamente mas não exclusivamente daqueles em que há partes vulneráveis), o prisma dominante na hermenêutica contratual deve ser a viabilização das relações estabelecidas nos mercados,2* sob pena de descaracterizar-se o contrato, caracterizando figuras diversas - como o status, analisado nos itens 3 e 4.1, com riscos evidentes, lá evidenciados.
t9 Assim, verbi gratia, em relação a telefonia: STJ, Terceira IVirma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n» 10716-SP, Relator o Minlsuo WALDEMAR ZVEITER, julgado em 24.08.1999. votação por maioria. Como se verá. assumindo posição algo diversa, o Itibunal considera a Unha telefônica essencial, enquanto bem de família, para fins de oponibilidade i penhora - item 7.5. Observe-se ainda que a legislação especifica também impõe dever de continuidade em relação aos serviços de telefonia, ao menos no que concerne às prestadoras que operem em regime público (assim Lei 9.472 de 16.07.1997. art. 63, parágrafo único ("obrigação*) e art. 79).
20 Correta parcialmente, com a ressalva que se fará adiante, no que se refere ao direito contratual, NEGREIROS. Teoria do contrato cit., p. 380 (a autora sugere a essencialidade como paradigma contratual).
21 Consoante a formulação de GRAU, Eros. “Um novo paradigma dos contratos*. ín Revista Ttimestral de Direito Civil. vol. 5:73-82 (esp. p. 82) Rio de Janeiro: Padma. 2001.
Flávio Galdino
De toda sorte, o que importa a esta altura é observar que a essencialidade, e não simplesmente o eventual regime juridico aplicável aos serviços públicos, é o que determina a continuidade da prestação de tais serviços. Mas qual o alcance do chamado "dever de continuidade”?
14.3. A prestação de serviço público como contrato relacionai de consumo: a continuidade
Assentadas essas noções, o presente item dedica-se a estudar outras duas questões relevantes para a análise que se segue, quais sejam, (i) o caráter relacionai desses contratos de consumo (e suas conseqüências) e (ii) a delimitação da noção de prestação de serviço.
As prestações de serviços públicos envolvem várias personagens: o "indivíduo” (rect/us: o consumidor), o Estado, os entes reguladores e os prestadores (e, eventualmente, outros órgãos encarregados de resolver litígios, como o Poder Judiciário ou cortes arbitrais) numa relação complexa. Interessam a este estudo especialmente as relações entre o consumidor e o prestador, razão pela qual, pará fins expositivos, abstrai-se de vários aspectos dessa complexidade.
Com essa ressalva, pode-se assinalar que é razoavelmente assente hoje, haja vista o teor do disposto no art. 22 do CDC (o qual, aliás, determina a continuidade do serviço), que as relações entre os usuários de serviços públicos e as empresas fornecedoras que importam remuneração individualizada mediante tarifa são relações de consumo.22 Sem embargo dos amplos debates doutrinários, a jurisprudência suJb examinem admite a aplicação do CDC a essas relações, orientando nosso estudo neste passo. Sustenta-se mesmo que a vulnerabilidade do consumidor - também do consumidor de serviços públicos - determina a primazia dele (consumidor).no plexo.de princípios constituci nais aplüCãvèiíTa essas relações.23
Tàis Kçlações de consumo caracterizam-se como o que se chama, modernamente, contratos relacionais, modelo jurídico que escapa aos
22 Sobre as controvérsias em tomo a esse tema, veja-se a síntese de MACEDO Jr.. Ronaldo Porto. "A proteção dos usuários de serviços públicos", in SUNDFELD, Carlos Ari (otg.). Direito Administrativo Econômico. Sâo Paulo: Malheiros. 2000. pp. 239-254 e as referências de GROTTI, O serviço público e a Constituição brasileira de 1988 cit., pp. 33G e seguintes.
23 FREITAS. Juarez. "Regime doa serviços públicos e a proteção dos consumidores*. !n Revista TYimestral de Direito Civil 6 (2001): 21-50. esp. p. 49.
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
paradigmas contratuais (i) clássicos, isto é, do paroxismo da liberdade de contratar fundado no individualismo exacerbado típico do Code Napoleon, ou mesmo (ii) neoclássicos. referidos ao cerceamento da liberdade de conformação interna das avenças fulcrado no dirigismo contratual exercido sobre os assim chamados contratos de adesão ou de massa. Ambos os paradigmas compreendem a relação contratual como um momento estático ou uma realidade descontínua (um ato juridico determinado).
Deveras, a teoria dos contratos relacionais24 enxerga o fenômeno contratual em todo seu dinamismo - como uma relação permanente ou contínua. Muitas vezes, e pode-se exemplificar com os contratos de previdência privada2 ou com os contratos de prestação de serviços públicos (entrega de água, v.g.), a relação entabulada entre as partes possui séria aspiração à perenidade (rectíus: à continuidade por tempo indeterminado). £ a natureza das prestações que determina a continuidade.
A análise contratual sob o prisma relacionai otimiza a compreensão da dinâmica do contrato contínuo. Exemplifica-se. A partir da compreensão da prestação de serviços públicos (in genere) em sentido relacionai, dotada de continuidade e com aspiração à perenidade, a reformulação das bases contratuais é vista como algo natural,26 ao contrário do sistema contratual clássico ou neoclássico. onde a revisão é (ou ao menos deveria ser) excepcional.27
Isso certamente favorece a manutenção do equilíbrio econômico- financeiro do contrato28 e de sua base negociai, função tanto mais com-
24 Sobre contratos relacionais, consulto-se MACEDO Jr.. Contratos relacionais o defesa do consumidor cit. Consulte-se também FARIA, O Direito na economia globalizada cit.. pp. 198 e seguintes, esp. p. 208. Vide ainda MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de D o s a d o Çonsumidoi>3£ edição; São Paulo: RT, 1999, p. S64 o também p. 68. a propósito dos contratos cativos de longa duração, onde refere expressamente "os conhecidos serviços públicos básicos de fornecimento (...)*.
25 MACEDO Jr., Contratos relacionais e defesa do consumidor cit.. pp. 303 e seguintes.26 MACEDO Jr., "A proteção dos usuários de serviços públicos* cit.. p. 247.27 Neste sentido, fala RE ALE em um direito à preservação do contrato como decorrência da
proteção constitucional (e infraconstitucional) ao ato Juridico perfeito, sendo excepcional a respectiva desconstituição REALE, Miguel. 'Diretrizes de hermenêutica contratual*, in Questões de Direito Privado. São Paulo: Saraiva. 1997, pp. 1-6, esp. p. 6 sobre a revisibi- lidado como regra, MARQUES, Contratos no Código de Defesa do Consumidor cit.. p. 122 et passim. Sobre o tema, nos contratos relacionais, FARIA, O direito na economia globalizada cit., pp. 202-203.
23 Sobre o tema em sede de concessão, a tese clássica de CAIO TÁCITO. "O equilíbrio financeiro na concessão de serviço público*. In Tamas dc Direito Público - Estudos e pareceres. Rio do Janeiro: Renovar, 1997, pp. 199-25S.
293
Flávio Galdino
plexa quanto se considere, nesses contratos contínuos, a impossibilidade de prever com precisão as dimensões das prestações futuras.29
Essa compreensão relacionai do contrato determina ainda uma outra mudança de perspectiva.30 Os contratos clássicos são descontínuos (pontuais no sentido temporal) e compreendidos como transferências de benefícios e ônus.
Numa compra e venda de um imóvel, por exemplo, o comprador recebe a coisa e o vendedor o dinheiro. Tbdas as utilidades da coisa são transferidas ao comprador, bem como os riscos a ela inerentes. Assim, o comprador de uma casa passa a poder usá-la (benefício) e passa a sofrer as conseqâências de uma tempestade (risco), por exemplo. O mesmo vale para quem recebe o dinheiro, que passa, por exemplo, a estar sujeito às conseqüências das oscilações cambiais, sejam benéficas ou não para o valor do dinheiro. É uma ótica puramente individualista de transferência de utilidades e riscos.
Já nos contratos relacionais, os benefícios e os riscos das operações que se propagam no tempo são compartilhados pelas partes contratantes. A racionalidade individualista é substituída por um tipo de racionalidade solidarista, de interdependência e parceria.31A cooperação é a base do contrato relacionai, e não apenas autoriza, como impõe a participação efetiva das partes na dinâmica realização do contrato. A participação, também tomada como um direito32 do usuário de serviços públicos (CF, art. 37, § 3a), sob outro prisma, é um dever de cooperação contratual, o que inclui também, como se verá, o adimplemento das cotas respectivas.
29 MACEDO Jr., Contratos relacionais e defesa do consumidor cie., p. 160: "nos contratos' relacionais de longo prazo há uma certa incomensurabilidade na equivalência das trocas planejadas paia o futuro".
30 Mais uma vez consoante MACEDO Jr.. Contratos relacionais e defesa do consumidor cit., pp. 167 e seguintes.
31 MACEDO Jr., Contratos relacionais e defesa do consumidor, cit., p. 189: “Por fim. o dever de solidariedade impõe obrigação moral e legal de agir em conformidade com determinados valores comunitários, e não apenas numa ótica individualista de maximização de interesses de caráter econômico”. FARIA, O direito na economia globalizada cit., pp. 203-206.
32 Neste sentido ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Estudo sobre concessão e permissão de serviço público no Direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 85 e seguintes, sustentando que o direito de participação democrática na gestão dos serviços públicos compete a todo cidadão, considerado potencial usuário dos serviços públicos (esp. p. 94). Ainda sobre o direito de participação do usuário, MOREIRA NETO, Curso de Direito Administrativo cit., p. 431, o KRELL, "Controle judidal dos serviços públicos básicos na base dos direitos fundamentais sociais" cit., p. 42.
294
Introdução à Iboria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Árvores
A participação das partes contratantes é tanto mais importante quanto se verifique que os contratos relacionais normalmente interligam “redes de contratos” , o que significa a juridicização de um conjunto de relações interorganizacionais que desenvolvem complexas operações econômicas em caráter temporal duradouro, estabelecendo um continuum processual.33
O compromisso das partes com a performance contratual é ainda sobrevalorizado, pois não é possível prever com precisão ou exatidão as conseqüências perante os demais participantes do inadimplemento. É o caso preciso da prestação de serviços públicos.
Neste caso da prestação de serviços públicos, esse caráter relacionai é reforçado ainda pelo fato de que há, para ambas as partes, principalmente se considerarmos a essencialidade do serviço em questão, obrigatorídade em contratar.34
Isto quer dizer que as empresas prestadoras de serviços públicos não podem rejeitar um determinado consumidor ex ante (nem que ele seja insolvente). Para tais empresas há obrigação de contratar, cuja imposição pelo Estado, de acordo com importante classificação, é uma das formas de atuação daquele (por direção) nas atividades econômicas, neste caso intervindo sobre o domínio econômico. Em uma palavra: são contratos coativos ou necessários, recomendando-se cautela com a nomenclatura, pois os autores utilizam as expressões com sentido diverso.35
De outro lado, a caracterização da prestação de serviços também merece algumas observações específicas. Em primeiro lugar, cumpre
33 Cf. a expressão de FARIA, O direito na economia globalizada cit.. p. 211 (exemplos na p. 209).
34 Consoante a lição de COUTO E SILVA: “Algumas atividades, consideradas imprescindíveis, tais como correios, transportes, água, luz etc. (...). Opera-se. nesses casos, no plano sociológico, verdadeira coação para contratar, imposta pela necessidade, não tendo os particulares qualquer possibilidade do escolha" (COUTO E SILVA, Clóvis. A obrigação como processo. São Paulo: José Bushatsky, 1976. p. 20). Mais recentemente. DERANI. Privatização e serviços públicos cit., p. 75.
35 Cf GRAU, A Ordem Econômica na Constituição de 1988 cit.. p. 130, referindo-se à distinção de KARL LARENZ entre limitações imanentes e não-imanentes da liberdade de contratar e fala em contratos “coativos". No mesmo sentido, SAN TIAGO DANTAS. “Evolução contemporânea do direito contratual", in Problemas de Direito Positivo. Rio de Janeiro: Forense, 1953, pp. 14-33, esp. p. 22. Orlando Gomes prefere a nomenclatura contrato “necessário", reservando a expressão “coativo" para outra finalidade (assim em GOMES. Orlando. Transformações gerais do direito das obrigações. São Paulo: RT. 1967, pp. 19 e seguintes.
295
1
:• !
ií u • i ) 'í'í 1!g;
Flávio Galdino
observar que a prestação de serviços compreende fundamentalmente :Í uma atividade de fazer.36
O critério aqui, como sói acontecer, não é de exclusividade, mas de predom inância.37 o fornecimento de água, por exemplo, possui matiz ü
predominante de fazer (ou fazeres, como sejam, tratamento e transporte da água), mas inequivocamente contém parcelas de entrega de coisa (prestação de dar). 32
Seja como for, há uma série de deveres anexos ou secundários com-óf| prestação autônoma, em regra decorrentes da aplicação do princípio vi|t| da boa-fé objetiva, como sejam os deveres de informação, segurança colaboração,38 os quais deixam claro que o critério de identificação é daáSÉj parcela prevalente. ^
Dessarte, é preciso observar qual a prestação,39 ou qual a preten-í; são40 prevalente na relação em questão, se de dar produto, ou de fazeriÉ (serviço abstrato com resultados materiais41). Parece haver consenso? em que seja prevalente na prestação de serviço público a obrigação de4 «~i fazer (fator inclusive que autoriza a aplicação do CDC, art. 2a, § 2a, queyf trata da caracterização do que seja serviço). E essa atividade - esse'5 fazer - é dotada de uma peculiaridade relevante: é um fazer contínuo^jll
Costuma-se dizer que a obrigação nasce com o germe de sua pró-Jlj pria morte,42 para designar a idéia de que a obrigação se desenvolve^ com vistas ao adimplemento, com o que extingue-se o vínculo entre as partes obrigadas em razão de preclusão consumativa (material). IssoÁ? inocorre com os contratos relacionais. De acordo com noções já assen- í§| tadas, ao direito do consumidor à continuidade deverá corresponder ^
3637
38
39
404142
TIMM, Luciano B. Da prestação de serviços. Porto Alegre: Síntese. 1998, p. 124.Consoante MARQUES, “Proposta de uma teoria geral dos serviços com base no CDC“i3 c/C . pp. 92-93. • - . . . C-.-.C 5" •MARQUES. “Proposta do uma teoria geral dos serviços com base no CDC" c/t., p. 105.3 ressalta que se trata de deveres que estão “presentes em todas as relações, mesmo as';extracontratuais, pois são deveres de conduta humana (Verkehrspnichten) só indireta-^ mente (ou eventualmente) dirigidos á prestação contratual". Ainda TIMM, Da prestação! de serviços cit., p. 88 e, extensamente, MARTINS-COSTA, A boa-fé no direito privadoc/fcjl pp. 437 e seguintes. i!5£|Assim: “Diversamente das obrigações de dar, cujo objeto da prestação é uma coisa qü|| direito, algo que já existe, atribuição patrimonial, a obrigação de fazer tem como objeto dajg prestação a própria atividade* (COUTO E SILVA. A obrigação como processo c it: p. 156)^"MARQUES, “Proposta de uma teoria geral dos serviços com base no CDC* cit.. p. 8&'.&||| Ainda MARQUES, “Proposta de uma teoria geral dos serviços com base no CDC* cit, p. !~Por exemplo. ASSIS, Araken de. Resolução do contrato por inadimplemento. 3a edição»! São Paulo: RT. 1999, p. 88.
296
Introdução à Iteoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Árvores
um dever do prestador de continuidade, que, in casu, assume feição de facere permanente.
Essa continuidade no fazer a que se refere a prestação de serviço público em questão, impõe um regime especial ao adimplemento no respectivo processo obrigacional.
O processo antevisto para a obrigação clássica, dividido em duas fases, (i) do nascimento e desenvolvimento da obrigação e (ii) do adimplemento,43 sofre modificação sensível nos contratos relacionais, pois o adimplemento e o desenvolvimento do contrato se confundem. Essa peculiaridade torna o adimplemento essencial ao próprio desenvolvimento do contrato, e aqui o ângulo de visada é o da eficácia.
Em síntese, a continuidade determina a aplicação de um regime especial aos contratos relacionais, de modo que agora, à luz dessas considerações, é possível tentar relacionar essencialidade e continuidade.
14.4. Essencialidade e continuidade
O fundamento normativo a ser invocado para determinar a continuidade da prestação do serviço essencial pode ser referido à Constituição Federal. Assim, sem embargo da legislação específica, sustenta-se que no bojo da proteção constitucional dispensada aos consumidores - CF, art. 5a, XXXII, art. 170, V em concerto com os deveres atribuídos à Administração Pública - notadamente o art. 37, caput encontra-se implicitamente tutelada em forma de princípio autônomo, a continuidade do serviço público.44
Sem embargo, parece-nos que a referência expressa constante do art. 241 da Constituição da República, com a redação que lhe deu a EC
43 COUTO E SILVA, A obrigação como processo c/c.. p. 44. O autor também tratou do que chamou “obrigações duradouras" (p. 211). sem. no entanto, desenvolver consideração sobre o que se vem chamando aqui caráter relacionai do contrato.
44 Táo-somente sobre o assento constitucional do principio, veja-se. por todos. Dl PIETKO, Direito Administrativo cit., p. 66, e MEDAUAR, Direito Administrativo Modenio cit., p. 154. Já sobre o ponto especifico em questão, IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor). A proteção ao consumidor de serviços públicos. São Paulo: Max Limonad. 2002, esp. p. 184 (independentemente de sua capacidade de pagamento o cidadão (sic) tem direito a serviços de boa qualidade') e passim, SEGALLA. Alessandro. "A suspensão do fornecimento de energia elétrica ao usuário inadimplente à luz da Constituição Federal”, in Revista de Direito do Consumidor 37:121-156, esp. p. 134. Com base no CDC mesmo, fala-se em "direito a serviços públicos essenciais contínuos” (MARQUES. “Proposta de uma teoria geral dos serviços com base no CDC“ cit., p. 90).
297
Flávio Galdino
19/98, é suficientemente precisa para designar a existência de uni principio constitucional explicito da continuidade dos serviços públicos sem a necessidade de considerações implícitas.
Subjacente ao fundamento normativo, evidencia-se a ratiolegis, que não é senão a essencialidade dos serviços em questão, consoante já observado anteriormente. Ainda que a Constituição e as leis nada dissessem, a prestação seria continua, pois a continuidade decorre da natureza do objeto prestado. Mister estabelecer com alguma precisão (possível) alguns termos abstratos da correlação entre essencialidade e continuidade.
Preliminarmente, é preciso consignar que, como todo e qualquer princípio (ou mesmo direito), o da continuidade do serviço público não. é absoluto, comportando operações de ponderação (quanto ao tema, vide item 1.6).
É o que ocorre, verbi gratia, em relação à contemplação constitucional do direito de greve assegurado também aos servidores públicos (CF, art. 37, VII, e também art. 9o),45 sendo certo que, muito embora o Supremo TWbunal Federal tenha decidido - erroneamente, data maxima venia -, que a norma constitucional aludida não é de imediato aplicável, demandando conformação legislativa infraconstitucional. Mesmo tendo em conta que a Corte entendeu que não poderia suprir a omis-' são legislativa,46 isto não significa que não deva haver ponderação, entre os princípios envolvidos.47
A análise, ainda que sumária, da "ponderação48 legal" entre á essencialidade que serve de base ao princípio da continuidade do serviço público e o direito fundamental de greve pode ministrar elementos importantes para o nosso estudo.
45 Em passagem pouco clara, doutrinadora ilustro enunciou o conflito entre o princtpio.da continuidade e o direito de greve: “Este principio, som sombra de dúvida, estaria a cori- flitar aparentemente com o direito de gieve estabelecido no texto constitucional’ , (FJ| GUEIREDO, Lucia Valle. Curso de Direito Administrativo. 4* edição. Sâo Paulo: Malheirõs 2000, p. 78, grifos nossos).
46 STF, IVibunal Pleno, Mandado de Injunçâo n° 20-4-DF. Relator o Ministro CELSO.D MELLO, julgado por maioria em 19.05.1994. -
47 Situação muito interessante é aquela em que é "cassado" o direito de o funcionário públi co gozar férias (mediante indenização), com vistas à manutenção da continuidade' serviço público. Abordando a questão, por todos. STJ. Quinta Turma. Recurso Esp; n. 31657-SR Relator o Ministro JESUS COSIA LIMA. julgado em 22.03.1995, vouçâo iin nime. STJ, Quinta IVirma, Recurso em Mandado de Segurança tfi 8613-MG, Rela^ç Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, julgado em 25.02.1998. votação unanimo (ap pósito da postergação de lícença-piêmio). . .i-C
48 Sobro ponderação, veja-se o item 1.6.
Introdução à Toorla dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
Certo é que a Constituição Federal assegura o direito fundamental de greve aos trabalhadores. Sem embargo, esse direito não é absoluto. Dentre outras condições legalmente previstas, o exercício do direito fundamental de greve deve observar, no que concerne às atividades essenciais (assim entendidas aquelas elencadas em Lei Complementar), a manutenção do atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade (CF, art. 9a, § 1°), sujeitando-se os responsáveis por eventuais abusos às sanções legais.
A Lei Federal 7.783 de 28.06.1989 complementa o mencionado dispositivo constitucional, estabelecendo quais serviços são considerados essenciais (art. 10).49
Interessante observar que nem a norma constitucional nem a norma legal proíbem a greve de modo cabal - o direito de greve é respeitado,50 inclusive, ainda que em escala menor, para os servidores públicos.51 Nesse sentido, a greve pode ser exercida, isto é, por mais essencial que seja o serviço ou a atividade em questão, em regra, em alguma medida ele vai parar.
Assim sendo, também a continuidade do serviço, embora sem- pre52 respeitada, cede em alguma medida. E essa medida aponta para as necessidades inadiáveis da comunidade, consoante se depreende do disposto na CF, art. 9a, § 1®, e na Lei 7.783/89, art. 11. Esse dado é
49 Lei 7.783/89. Art. 10. Sào considerados serviços ou atividades essenciais: I - tratamento e abastecimento de água: produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis: II - assistência médica hospitalar; III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; IV - funerários; V - transporte coletivo; VI - captação e tratamento do esgoto e lixo; VII - telecomunicaç&es; VIII - guarda, uso e controle do substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares; IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais; X - controle de tráfego aéreo; XI - compensação bancária.
50 Não parece relevante aqui a questão do saber se a Lei 7.783/89 é aplicável ao setor público ou não, em razão da ressalva constante do seu art. 16 - poderia ser discutida a possibilidade do aplicação analógica enquanto perdurar a omissão legislativa no que se refere à lei de quo trata o art. 37, VII, da CF. com a redação que lhe deu a EC 19/98.0 que importa aqui é a caracterização dos serviços essenciais nos termos da citada lei, que pode ser perfeitamente útil para a análise da relação entre essencialidade e continuidade.
' 51 Assim, SÜSSEKIND, Arnaldo. 'Limitações ao direito de gieve". fn Revista LTk. 53 (1): 28- 30. E também GRAU, A Ordem Econômica na Constituição de 1988 cit., p. 258: “Assim, não é vedada a greve nos serviços públicos. (...) O principio da continuidade do serviço público não exclui, como se vê, o da garantia do direito de greve. (...) O direito de gteve dos servidores públicos resultou, não obstante, amputado pelo texto constitucional (art.37. v n r .
.52 A exigência de continuidade, de permanência mesmo dos serviços essenciais é demonstrativa de que todos os direitos são positivos, uma vez que é necessário custear essa manutenção permanente daquilo que se considerar essencial.
Flávio Caldino
importante. O referencial utilizado na ponderação legal são as necessidades inadiáveis da comunidade relativas aos serviços essenciais.53
E a própria norma legal refere as necessidades inadiáveis como sendo aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população (Lei 7.783/89, art.11, parágrafo único). Mais uma vez o parâmetro coletivo: "população” . O direito de greve pode ser exercido, tendo como limite a imposição de determinados riscos à população.
As regras de experiência ministram exemplos úteis. Servidores de hospitais públicos deflagram greve e mantêm (ou pelo menos devem manter), dentre outros serviços, o atendimento de emergência. Vitimas de acidentes automobilísticos em estado periclitante são atendidas, ao passo que portadores de doenças de pele de menor importância ou de qualquer outra moléstia que não represente risco imediato para o enfermo deverão aguardar o final da greve para serem atendidos.
Por fim, acrescente-se que as atividades da administração pública são caracterizadas, em regra, pela impessoalidade54 (também amparada em forma de princípio sob o pálio da Constituição da República, art. 37, caput).
E, nesse sentido, a atuação da administração por meio da prestação de serviços públicos tem por escopo atender os interesses da coletividade,55 em princípio, sem estabelecer discriminações benéficas,56
53 Sobre o tema, MAKTINS, Sérgio Pinto. Greve do servidor público. São Paulo: Atlas, 2001, esp. pp. 35-36, em que o autor ressalta a distinção entre greve de servidor público e greve em serviços essenciais (que podem e muitas vezes são prestados por pessoas privadas, cujos empregados atuara em regime celetista). Vide também FREDIANI. Yone. Greve nos serviços essenciais à luz da Constituição Federal de 1988. São Paulo: LTr. 2001. pp. 86 e seguintes, esp. p. 94.
54 Sobre a tríplice acepção do prínçjpÍQ.dajmpp$SQalidacie. veja-se MOREIRA-NETO, Cure©-. ' "de Direito Administrativo cít., p. 93. destacando-se a impossibilidade de a administração
(i) distinguir interesses onde a lei não o faça, (ii) perseguir interesses secundários em lugar dos interesses primários definidos em lei e (in) alterar a oídem legal iS precedência dos interesses colimados. Vide também, em trabalho especifico, ZAGO, O principio da impessoalidade c/c., passim.
55 Assim: “A necessidade coletiva é fator determinante da continuidade do serviço público, isto è, o ponto referencial (...)" (CRETELLA JR., José. Filosofia do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Editora Forense. 1999. p. 112).
£6 Não é possível discutir aqui mais detidamente essa questão, sendo objetivo do trabalho apenas estabelecer o alcance normal do princípio da impessoalidade. Sobre o tema. e sua relação com o principio da igualdade, consulte-se o estudo de GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação aürmativa 8c principio constitucional da igualdade. Rio de Janeiro: Renovar. 2001.
300
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
notadamente aquelas que podem trazer sério gravame ao interesse público (o que será também abordado adiante).
Com base nesse parâmetro coletivo podemos concluir que, s. m. j.. o princípio da continuidade do serviço público diz respeito ao interesse da coletividade nos serviços essenciais, e não ao interesse de um determinado consumidor em particular, não gerando, pois, direito a uma prestação determinada em favor de algum usuário inadimplente específico.57
14.5. A falta de coerência sistemática
A situação de que se está a tratar aqui apresenta ainda outro problema, a saber, incide em falta de coerência sistemática, o que é verificável a partir da análise do tratamento concedido à essencialidade noutras situações. É o que se passa a fazer, não sem antes sustentar, ainda que em breves linhas, a relevância do argumento.
Considerando à parte as teorias fundadas na tópica,58 parece haver consenso entre os doutores no sentido de que o Direito - tanto enquanto realidade normativa como enquanto ciência que sobre ela se debruça - constitui-se em sistema; no primeiro caso, definido como sistema objetivo, como ordem axiológica ou teleológica de p rinc íp io s .59
Com efeito, consideram-se atributos do Direito a unidade e a orde- nação.so Da primeira característica decorre a necessidade imperiosa de coerência interna do sistema jurídico,61 chegando-se mesmo à formulação de um princípio constitucional devotado à unidade, do qual decor-
57 No sentido do texto: "(...) os serviços essenciais devem ser contínuos no sentido de que não podem deixar de ser ofertados a todos os usuários, vale dizer, prestados no interesse coletivo. Ao revés, quando estiverem em causajnterçsses individuais, de determina- ^
‘ do' Usuário, a oferta desèrviço pode sofrer solução de continuidade, se não forem obser- *vadas as normas administrativas que regem a espécie. Ratando-se, por exemplo, de ser- viços prestados sob o regime de remuneração tarifária ou tributária, o inadimplemento *pode determinar o corte do fornecimento do produto ou do serviço. A gratuidade não se presume e o poder público não pode ser compelido a prestar serviços públicos ininterruptos se o usuário, em contrapartida, deixa de satisfazer suas obrigações* (DENARI.Zelmo. Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do Anteprojeto.6“ edição. Rio de Janeiro: Fbrense Universitária, 1999, p. 191).
58 Sobre o pensamento tópico, brevitatis causa, FERRAZ Jr. Introdução ao estudo do direito cit., p. 326; e também, MARTINS-COSTA, A boa-fé no direito privado c/t., p. 355.
59 CANAR1S, Pensamento sistemático cít.. p. 77.60 CANAR1S, Pensamento sistemático cit., p. 12 et passim.61 FERRAZ Jr. (Introdução ao estudo do direito cit., p. 205) prefere a expressão consis
tência.
301
1*
Flávio Galdino
rem importantes conseqüências interpretativas, e mesmo modelos dè; • interpretação, de que é exemplo a interpretação conforme a Consti&* tuição (que funciona, em verdade, como um mecanismo de controle det constitucionalidade), e até a interpretação da Constituição conforme ordenamento juridico infraconstitucional.62 vi;
Em verdade, mais modernamente, desenvolve-se a idéia de inte^í gridade, conceito que se pretende mais completo (e ao mesmo tempo mais complexo) que o de simples coerência, significando que o sistema?* juridico - construído notadamente a partir de decisões judiciais - deve £ ser tributário de princípios morais, e não de acordos ou compromisso^ políticos da hora.63 -Çf
Segundo este entendimento, tais princípios morais vinculam v e # 1' tical e horizontalmente os juizes, os quais devem respeitar os própriòsi princípios que professam noutras decisões,64 bem como os princípio " adotados pelas Cortes que lhes sejam superiores (embora possam des? viar-se deles, se for o caso, em atenção a algum principio "mais fund mental”65).
De volta ao argumento, é possível demonstrar a falta de coerênciaf sistemática da orientação questionada neste item acerca da impossibi^ lidade de corte no fornecimento de serviços essenciais a consumidores inadimplentes através de exemplos reais e hipotéticos. -íjjj,
Primeiramente servimo-nos aqui de dois exemplos reais, a saber, (i|‘ a possibilidade de despejo do locatário em caso de não pagamento daiç. suas obrigações contratuais (aluguéis), e, em segundo lugar, (ii) a pos>> sibilidade de alcançar-se um bem de família em caso de inadimplemen^íf to de obrigações condominiais. Em ambos o referencial é o direito. moradia, reconhecido por muitos autores como um direito fundamenta^.
O primeiro exemplo da falta de coerência sistemática ora critiç|p* da, cuida do despejo do locatário em razão da falta de pagamento do.’’4 aluguéis nas locações residenciais, exercitado por meio de procedi
62 Por todos, com amplo referencial bibliográfico, veja-se TORRES, Normas de interpreta^ e integração do direito tributário cit., p. 61 et passim. O STF, em julgamento célebre, apc lheu a tese: STF1 lYibunal Pleno, Representação por inconstitucionaiidade n« 1417-7-® Relator o Ministro MOREIRA ALVES, julgado em 09.12.1987, decisão unânime.
63 Sobre a integridade, DWORKIN, Ronold. O império do Direito (trad. bras. de La.„ Bmpira por Jeferson Luiz Camargo). S&o Paulo: Martins Fontes, 1999, pp. 263 e segu tos. E ainda. DWORKIN, Bi Dominio do la vida cie., pp. 190 e seguintes.
64 DWORKIN. EI Dominio do la vida de., p. 193.65 DWORKIN, O império do Direito cit., p. 264.
302
Introdução à Tfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
mento próprio previsto na legislação específica (Lei 8.245 de 18.10.1991, art. 59). O inadimplemento das obrigações locatícias é uma das causas que expressamente autoriza o despejo (Lei 8.245/91, art. 9a, pi, e art. 62),66 uma vez que o descumprimento das obrigações contratuais, dentre as quais destaca-se o não pagamento do aluguel avença- do, autoriza a rescisão do respectivo vinculo e, desfeito o vínculo, deixa de existir causa para o locador permanecer na posse do im óvel.67
Assim, de modo bastante sintético, é licito dizer que, no direito brasileiro, uma pessoa pode ser desalojada do imóvel onde reside com a sua família simplesmente porque não ofereceu no tempo e modo devidos a contraprestação pelo uso do mesmo. O direito subjetivo tutelado pelo ordenamento é o direito de propriedade do locadoT, assegurando- se a faculdade deste de fruir a coisa sua (segundo o Direito em vigor, mesmo que seja para deixar o imóvel vazio!).
É desconsiderada aqui qualquer espécie de direito fundamental à moradia ou abrigo, prestação que se mostra induvidosamente marcada pela essencialidade68 em um ambiente de proteção à dignidade da pessoa humana.
Com efeito, do que nos consta, nem mesmo as mais progressistas - e aqui este trabalho emite um juízo de valor - correntes de pensamento a respeito da propriedade deixam de reconhecer a possibilidade de despejo por falta de pagamento, ainda que o locatário não tenha para onde ir e fique desabrigado. As ruas das grandes cidades são testemunhas eloqüentes da realidade.
Deste modo, mesmo quem compreende a propriedade enquanto direito (e fundamental) somente na medida em que atenda a sua fun-
66 Sobre locação e despejo, por todos, SOUZA, Sylvio Capanema. Da locação do imóvel urbano - direito e processo. Rio de Janeiro: Forense. 1999.
67 A doutrina especializada anota que. a rigor, seria desnecessária a previsão expressa, eis que "o direito de rescindir o contrato, diante do inadimplemento das obrigações de uma das partes, está assegurado no parágrafo único do art. 1.092 do Código Civil, sendo inerente aos contratos bilaterais, entre os quais se relaciona a locação* (SOUZA, Da locação do imável urbano cit, p. 98).
68 É de se remarcar que o teto ou abrigo, muito mais do que a energia elétrica constitui prestação dotada de essencialidade em grau superior, tanto assim que integra o chamado minlmo existencial. Seja permitido remetei mais uma vez à inspirada formulação relativa ao mínimo existencial de ANA PAULA DE BARCELLOS (A eficácia juridica dos princípios constitucionais cit., p. 247), que (az defluir do principio da dignidade da pessoa humana uma prestação fundamental de assistência aos desamparados (a expressão consta do caput do art. da Constituição Federal), que inclui também o'abrigo, considerando-o, assim, um direito fundamental.
303
Flávio Galdino
ção social, tendo seu conteúdo dependente, portanto, da configuração especifica dos interesses extraproprietários,5 deixa de admitir que o proprietário pode retirar o essencial teto de numerosa família para deixá-lo vazio.
Em outro exemplo, algo mais detalhado, também fica clara a falta de consistência sistemática da orientação jurisprudencial criticada. No direito brasileiro, observadas certas condições, em linha de principio, o imóvel que serve à moradia familiar é impeniiorável: o chamado bem de M família.70 '
Com efeito, reconhece-se ao amparo da família imenso valor, a:’l i § ponto de subtrair à natural garantia dos créditos - rectius: àqueles qua-. lificados como títulos executivos - constituídos em face do respectivò’-! proprietário (prevista, no plano positivo, no art. 591 do CPC, referido í responsabilidade patrimonial), o imóvel que se presta à moradia dá‘y entidade familiar e os bens móveis que o guarnecem (art. la da Leii 8.009 de 29.03.1990).
O critério utilizado pela jurisprudência - inclusive a do Superiorlf TObunal de Justiça - para caracterizar um determinado bem móvéf como impenhorável é a essencialidade desse bemJi Na verdade, não passa de explicitação do fundamento legal subjacente à impenhoraÍjjC& lidade do bem de família imóvel. Na linha da tutela da dignidade da| pessoa humana, e enquanto meio de proteção ao desenvolvimentó*
69 Vide TEPEDINO, Gustavo. "Contornos constitucionais da propriedade privada“._i Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. pp. 267-291, esp. p. 280. Em « ciai sobre a compatibilização da "tutela da propriedade privada com valores extrapatí moniais constitucionalmente assegurados" em tema de locação. TEPEDINO. Gustavj “Anotações à Lei do Inquilinato (arts. Ia a 26). In Tomas de Direito Civil. Rio de Janeü Renovar, 1999, pp. 137-171, esp. p. 170.
70- -Por todos, AZEVEDO." Álvaro ViUaça! Bèmdéramiliá. 4> edição. São Paulo: RT. 1999.'^71 Assim. STJ. Ouarta T\irma. Recurso Especial n* 172857-PR, Relator o Ministro ALDI1
PASSARINHO JÚNIOR, julgado em 09.0S.2000, decisão unânime (essencialidade da Ú ' telefônica); STJ, Quarta Turma. Recurso Especial n° 284445-SR Relator o Ministro I PASSARINHO JÚNIOR, julgado em 07.12.2000, decisão unânime (essencialidade da fii telefônica); STJ, Quarta Türma, Recurso Especial na 39970-RJ, Relator o Ministro i PASSARINHO JÚNIOR, julgado em 05.12.2000, decisão unânime (excluindo da protêj o segundo aparelho de televisão da família, por considerá-lo não essencial). Curio mente a Corte não reputa digna de proteção a entidade unifamiliar, rejeitando a áffi ção do instituto protetivo a uma pessoa solteira que resida sozinha; nesse sentido^ Quarta Tuima, Recurso Especial n8 174345-S5 Relator o Ministro BARROS MONTEI] julgado em 18.03.1999, decisão unânime. Para o TVibunal. a “televisão de íamília"n ce mais proteção que o direito fundamental de moradia do devedor solteiro que i sozinho.
304
Introdução à Tfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nào Nascem em Árvores
humano, a impenhorabilidade dos "bens de familia" liga-se à essencialidade dos mesmos para aquele desenvolvimento.
Tbdavia, também essa proteção especial contempla exceções, tratando-se de impenhorabilidade meramente relativa.72 Dentre várias hipóteses passíveis de utilização para argumentação com base no mesmo fundamento, passa-se à análise de uma das exceções legais.
Assim é que de acordo com o art. 3o, IV, da Lei 8.009/90, não estão protegidas a moradia e o teto quando o crédito objeto da execução decorrer de obrigações propcer rem - notadamente as condominiais. A doutrina trata o dispositivo com ânimo de obviedade, reputando literalmente absurda qualquer disposição em contrário.7 Com a devida licença da subjetivação, pode-se dizer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "cumpre” a Lei".74
Dessarte, se um determinado condomínio (horizontal), em regular deliberação assemblear, resolve, por exemplo, adquirir uma tela de Picasso para ornar a portaria do edifício (o exemplo é quase uma afronta, mas bastante expressivo), com o que não concorde um condômino, que então recusa-se a pagar a sua respectiva cota-parte, é lícito dizer que em tese ele pode ter seu imóvel penhorado e convertido em pecú- nia para pagamento dessa dívida e, por hipótese, ser "jogado debaixo da ponte", onde certamente nem mesmo contará com a iluminação das estrelas, sem água, senão a dos esgotos, e sem teto.
Esses dois exemplos, que poderiam ser multiplicados ad nauseam, são demonstrativos de que a orientação consubstanciada na jurisprudência do STJ sobre prestação de serviços públicos nào é coerente sob o prisma sistemático.
Na verdade, a conjugação dos exemplos do locatário e do proprietário do bem de família com o consumidor inadimplente levaria à con
72 Sobre impenhorabilidade, a doutrina de ASSIS, Araken de. Manual do processo de execução. 5a edição. 2“ tiragem. São Paulo: RT, 1998, pp. 309 e seguintes.
73 A propósito, a doutrina especializada é incisiva: "(...) tornar a unidade autônoma impe- nhorâvel por dividas contraídas pela necessidade de administrar o Condomínio, apesar do disposto no art. 3a, IV, da Lei 8.009/90. implicaria transformar os demais condôminos em arrirno do inadimplente'* (ASSIS, Manual do processo de execução cit., p. 336). E ainda, bem a propósito: "Nem seria crível que tivessem os condôminos, cumpridores de sua obrigação de pagamento de despesas condominiais, que pagar pelo inadimplente, como se suas residências não tivessem a proteção de bens de família’ (AZEVEDO, Bem de familia cit., p. 179).
74 Neste sentido. STJ, Quarta Turma. Recurso Especial n* 150379, Relator o Ministro BARROS MONTEIRO, julgado em 24.11.1997, decisão unânime.
305
Flávio Qaldino
sideração de que no direito brasileiro é possível retirar do indivíduo parcelas que compõem o mínimo existencial, como seja um tetoTC de uma pessoa (de uma família) porque ela se tornou inadimplente, com o que ela ficará sem teto, sem energia, sem água, sem gás, e sem nada; mas não é possível, com base no mesmo fundamento (inadimplência), retirar-lhe somente a energia. Não faz sentido. Mas não é só.
A própria idéia de remessa às vias ordinárias de cobrança demonstra a incongruência do argumento. Admitindo-se apenas para argumentar essa premissa errônea, é licito formular outra hipótese em que, mesmo premido pelas vias ordinárias de cobrança, o usuário permanece inadimplente.
Nessa situação, a empresa estaria forçada a continuar prestando o serviço - e o débito aumentando (inclusive por força de juros e afins). Supondo que se trate realmente de um inadimplente contumaz, é razoável supor que, em algum momento, o valor do débito alcançará, por exemplo, o valor do imóvel no qual o serviço em questão é prestado (energia elétrica na residência do devedor, v.g.).
Ora, nesta situação, em algum momento, por força do crédito seria alcançado o próprio imóvel do devedor (Lei 8.009/90, art. 3o, IV7®) e, mais uma vez, o usuário poderia ficar sem teto, sem luz, e etc. Se o débito em questão autoriza subtrair tudo do inadimplente, não faz sentido que não seja possível "cortar o mal pela raiz” , impedindo que o débito assuma proporções maiores, com conseqüências igualmente mais drásticas.
Muitas hipóteses parecidas podem ser aventadas. Sob o prisma do crédito pessoal, uma analogia pode facilitar a compreensão do problema. Admitindo-se que a prestação de serviços bancários ou, numa palavra, o crédito seja considerado essencial na sociedade d? consu
75 Realmente não parece relevante o (ato de ser necessária uma ação judicial para "tirar o teto”. Nem por isso será necessário ingressar em juizo para cortar a energia. No caso da locação, bá norma legal especifica impondo a utilização do Judiciário, inexistindo a mesma previsão para a interrupção da prestação do serviços em razão de inadimplemento (vide item 7.6 acerca dos argumentos periféricos constantes da decisão utilizada como. paradigma na caracterização da situação-problema).
76 O dispositivo mencionado alude à Inoponibilldade do bem de familia ante créditos constituídos em função do imóvel familiar, referindo "taxas" de modo impróprio ou a-técnico, compreendendo-se a{ também os “preços públicos". Nesse sentido, ASSIS. Manual do Procosso de Execução cit., p. 336; V1LLAÇA, Bem de familia cit., p. 180.
Introdução á Tooria dos Custos dos Direitos - Direitos Náo Nascem em Árvores
mo, coloca-se a questão de saber qual a situação do consumidor que deixa de quitar um empréstimo no prazo e modo devidos.
Configure-se, pois, situação hipotética em que um cliente de uma instituição financeira utilize crédito decorrente do chamado cheque especial e não possa, por qualquer razão, “cobrir o débito” na data avençada. Considerando-se, ad argiunentandum tantum, que se trate de um serviço considerado essencial - colocado à disposição do cliente por um Banco público - e aplicando-se a teoria da impossibilidade de interrupção do serviço com base na inadimplência, ter-se-ia a situação absurda em que o cliente inadimplente gozaria de crédito eterno. A vedação da interrupção da prestação de serviços essenciais produz resultado prático (financeiro) equivalente, e igualmente incongruente: o crédito eterno.
É evidente que o crédito do cliente inadimplente deve poder ser cortado, bem como de outros serviços que sejam configurados como contraprestacionais, pois nesse caso, segundo se sustenta neste estudo. a contraprestação é a regra.
14.6. Os argumentos periféricos
Na situação-problema referida nas linhas anteriores, demos conta ainda de dois outros argumentos que embasariam a impossibilidade de corte no fornecimento de serviços essenciais. Chamamo-los periféricos por não dizerem respeito ao cerne da discussão. São eles, a saber (i) a impossibilidade de imposição do corte como sanção ao usuário em razão do inadimplemento, e (ii) a impossibilidade de exercicio das próprias razões pela empresa prestadora (referindo-se ao corte 110 fornecimento como ato de justiça privada). Também esses argumentos não vingam, permissa venia.
Não é possivel confundir os fenômenos. A não ser que se reduza a expressão sanção a toda e qualquer conseqüência de uma norma juridica, o que significaria retirar-lhe qualquer conteúdo na análise que se está a empreender, deve-se ter presente que a interrupção do fornecimento do serviço não possui caráter sancionatório77 (por assim se
77 Sem razão, portanto, concessa venia, GROTTI. Dinorá Adelaide Musetti. "Teoria dos serviços públicos e sua transformação", in SUNDFELD, Carlos Ari (org.). Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros. 2000, p. 51. onde aponta natureza san- cionatória (strfctosensu) à interrupção da prestação fundada no inadimplemento; no
Flávio Galdino
dizer, stricto sensu), no sentido de que não representa um ato de punição ao consumidor inadimplente.
Igualmente, não parece haver qualquer fundamento no argumento que considera a interrupção do fornecimento como ato de justiça privada ou ofensa ao princípio da ampla defesa (ou ainda ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional).78
Na verdade, há um sério desvio de perspectiva, permissa venia. Há que se ter claramente em mente a diferença entre (i) as medidas judiciais ou extrajudiciais de cobrança eventualmente utilizadas pelo credor e (ii) a cessação da prestação de serviços em razão da inadimplência por aplicação da exceção do contrato não cumprido. Enquanto na primeira o fornecedor está buscando obter a contraprestação devida (certa t de lucro capiendo), na segunda ele está simplesmente obstaculizando o prejuízo (certat de damno vitando). Mister aprofundar um pouco.
O fornecedor de serviços não está impedido de promover a cobrança extrajudicial de seus créditos, como a rigor, nenhum credor está. A atuação extrajudicial, enquanto não vedada expressamente (e legalmente), é facultada a todos.
'Eanto é assim que o próprio CDC possui um capítulo específico destinado a regular unicamente práticas extrajudiciais abusivas de cobrança,cu jas normas fundam-se no dever de lealdade com que necessariamente deve-se haver o fornecedor, inclusive para efetuar medidas de cobrança.80
Nestes termos, é facultado ao fornecedor empreender atos privados de cobrança, como seja enviar notificações, cartas, efetuar telefonemas, e assim por diante, sem, é claro, expor o consumidor a humilhações ou constrangimentos (hipótese em que poderá ser condenado a
\ , . r ' ---------- ‘ ‘ •*
mesmo sentido, SEGALLA. “A suspensão do fornecimento de energia elétrica ao usuário inadimplente à luz da Constituição Federa]’ cit.. p. 141.
78 Em sede doutrinária, corroborando o posicionamento do STJ aceica da violação da ampla defesa, e acrescentando que a interrupção da prestação do serviço caracteriza ainda vio- . lação ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. SEGALLA, “A suspensão do fornecimento de energia elétrica ao usuário inadimplente à luz da Constituição Federal” cit., p. 147.
79 Neste sentido, isto é, sustentando que o att. 42 do CDC refere-se unicamente às cobranças extrajudiciais. BENJAMIN, Antônio Herman. Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do Anteprojeto. Rio de Janeiro: Ebrense Universitária. 6° edição. 1939. p. 336.
80 MARQUES. Contratos no Código de Defesa do Consumidor cít.. p. 632.
308
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
reparar ou compensar eventuais danos causados). Nos limites legais, as cobranças não passam de exercício regular de direito.
Deve ficar claro que a cessação da prestação do serviço não corpo- rifica ato de cobrança,8'-82 da mesma forma que a suspensão do crédito quando o cliente bancário deixa de pagar o dinheiro utilizado no cheque especial não o é.
É fato que a potencialidade da interrupção, bem como a sua eletiva ocorrência exercem grande influência sobre o consumidor no sentido de pagar o débito inadimplido. Mas trata-se de um efeito reflexo ou indireto. O efeito direto ou principal da interrupção é o "estancamento" do prejuízo gerado pela inadimplência.
Ainda que assim não fosse, não haveria que se falar em justiça privada ou ofensa a princípios processuais. Repita-se: a fim de cobrar seu crédito, ninguém está impedido de efetuar medidas extrajudiciais. E essas medidas em nada afastam a possibilidade de controle jurisdicio- nal do débito ou das medidas em si mesmas, caso em que o processo judicial estará circundado de todas as garantias previstas (como seja o invocado princípio da ampla defesa).
De outro lado, no sistema brasileiro desconhece-se regra legal que imponha às fornecedoras dos serviços em questão, controle jurisdicio- nal prévio necessário da cessação no fornecimento individual de serviços a consumidores inadimplentes.
O controle jurisdicional prévio em caráter necessário, isto é, a chancela do juiz como condicionante da existência de um ato autônomo (ou de sua validade ou de sua eficácia), como seja no caso da des- constituição amigável do vínculo matrimonial, é veramente excepcional, só podendo ser reconhecido na presença de norma expressa nesse sentido (o complexo tema das ações necessárias). Inexistindo norma a
8 1 ' Como assentado nas errôneas decisões citadas. Assim em STJ. Primeira T\irma. Recurso Especial n» 223778-RJ. Relator o Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS. julgado em 13.03.2000, votação unânime: “É defeso à concessionária de energia elétrica interromper o suprimento de força, no escopo de compelir o consumidor ao pagamento de tarifas em atraso. O exercício arbitrário das próprias razões não pode substituir a açáo de cobrança".
82 Correto Bros GRAU: “(...) visto que a recusa a vender a quem não honre seus contratos não é meio destinado a compelir o pagamento de seus débitos pelo usuário do serviço, mas expressão da liberdade do agente econ&mico. não consubstanciando restrição ao exercício de direito fundamental" (parecer apud FERRAZ FILHO. Raul Luiz e MORAES. Maria do Socorro PateUo. Energia Elétrica - Suspensão do Fornecimento. São Paulo: LTr.2002. p. 132}.
309
Flávio Gatdino
esse propósito, não há que se exigir o ingresso em juízo para a cessa* ção do fornecimento individual.
Essa conclusão é corroborada pela previsão expressa constante do parágrafo único do art. 39 da Lei de Concessões (Lei 8.987/95). Com efeito, esse dispositivo condiciona a paralisação da prestação dos serviços pela concessionária, em caso de rescisão da concessão em razão de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente (Lei 8.987/95, art. 39, caput), a uma decisão judicial transitada em julgado.83
Trata-se, a toda evidência de paralisação integral do serviço (isto é de se paralisar o serviço prestado à coletividade como um todo), o que, por mais não seja, resta claro a partir da colocação do dispositivo no capítulo da lei que trata da extinção da concessão.
Na verdade, esse dispositivo legal corporifíca a idéia de que não é possível à empresa fomecedora-concessionária aplicar, sponte sua, a exceção do contrato não cumprido (except/o non adimpleti contractus, na multissecular formulação latina) perante a administração pública concedente.
Essa inoponibilidade - hoje relativizadaM instituída precisamente em atenção ao princípio da continuidade^s do serviço público (rectius: à essencialidade do serviço) também respeita ao interesse da coletividade,1 e não ao interesse particular - notadamente do usuário individual inadimplente (convergindo para a conclusão já antes exposta).
Esse é o típico caso em que o pronunciamento judicial funciona como condicionante do ato. Ora, a existência de norma exigindo autorização judicial para paralisação integrai do serviço, ante a inexistência de norma do mesmo jaez em relação à interrupção individual (por inadimplência), corrobora a conclusão de que não é necessário submeter essa interrupção individual a controle jurisdicional prévio. Nada
83 Em sede doutrinária admite-se, mediante análise das circunstâncias concretas - em especial do interesse da coletividade a autorização judicial no curso do processo. Neste viés de orientação, FIGUEIREDO, Curso do Direito Administrativo cit., p. 96. nota 39.
84 BANDEIRA DE MELLO, Curso de Direito Administrativo cit., p. 569 (em atenção ás circunstâncias autorizativas previstas da Lei de Licitações).
85 Assim Dl PIETRO, Direito Administrativo cit.. p. 86. E também:"(...) o (principio] da continuidade (o que não significa a inviabilidade de invocação da except/o non adimpleti contractus contra a administração, senão que o dever de prosseguir o serviço até o trânsito em julgado da sentença da açào espcctGca de rescisão (...))". (FREITAS. "O Estado essencial o o regime de concessões e permissões de serviços públicos’ dt.. esp. p. 34).
86 Assim MEDAUAR, Direito Administrativo Moderno cit.. p. 2SS.
310
Introdução à Tfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
afasta, frise-se, o controle a posteriorifi7 enquanto princípio constitucional (CF, art. 5». XXXV).
Restam assim afastados esses argumentos periféricos.
14.7. A necessária contraprestação
O estudo que se leva a efeito nessa aplicação possui dois escopos fundamentais. O escopo imediato é demonstrar que a contraprestação é necessária nos serviços públicos remunerados (ainda que essenciais). O escopo principal, embora mediato, é evidenciar os graves problemas a que conduz a desconsideração dos custos dos direitos.
Assim sendo, em sede preliminar, a análise empreendida nessa aplicação visa assentar a idéia de que a contraprestação é necessária nos serviços públicos remunerados, restando equivocada, portanto, a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao ponto, data maxima venia.
De início, atente-se para o fato de que a própria caracterização da relação de consumo de serviço parece depender da existência de remuneração (seja ela direta ou indireta),88 haja vista esse elemento ter sido destacado pelo conceito constante do art. 3°, § 2°, do CDC.
A remuneração deve atender a uma política de modicidade (consoante se depreende do art. 6a, § I a, da Lei 8.987/95), de modo a proporcionar amplo acesso das pessoas aos serviços prestados89 (especialmente aos serviços prestados em regime de universalidade). De qualquer forma, será um serviço remunerado, de sorte que a falta de remuneração implica possibilidade de interrupção (ou suspensão, expressões tomadas para os fins propostos como sinônimas) do fornecimento individual.
Nesse sentido, sequer parece necessária a existência de dispositivo legal autorizativo da interrupção da prestação, uma vez que tal conseqüência do inadimplemento decorre da aplicação de um principio de
87 Por todos, BANDEIRA DE MELLO. Curso de Direito Administrativo cit., p. 660: 'For isto. aquele a quem (or negado serviço adequado (...) ou que sofrer-lhe a interrupção pode, judicialmente, exigir om seu favor (...)".
88 Par todos. MARQUES. 'Proposta de uma teoria geral dos serviços com base no Código de Defesa do Consumidor cit., pp. 84-85, e BANDEIRA DE MELLO. Curso de Direito Administrativo cít., p. 623.
89 Sobre o “princípio" da modicidade, por todos, consulte-se MOREIRA NETO. Curso de Direito Administrativo cic., pp. 417-418.
311
Flãvio Galdino
eqüidade contratual que desobriga uma parte de efetuar a sua prestação quando a outra parte não se desincumbe da respectiva contraprestação, expresso através do “princípio" da exceção do contrato não cumprido (exceptío non adimpleti contractus).90
Normalmente, a aplicação desse principio cria para o credor, além do poder de cessar a sua prestação, a possibilidade de escolher entre resolver o contrato e haver perdas e danos ou exigir o cumprimento por parte do devedor.9*
A característica especial desse tipo de contrato de prestação de serviços essenciais, resultante de seu caráter coativo e relacionai, é de que a opção não se abre para o fornecedor de serviços públicos no que se refere à coletividade. A essencialidade do serviço em questão determina sua continuidade, e impede que o contrato seja resolvido tout court. Ainda assim, resta ao credor a possibilidade de cobrar - judicial ou extrajudicialmente - o crédito inadimplido, bem como fazer cessar o fornecimento até que os pagamentos sejam regularizados.
Mas essa construção voltada para a exceção do contrato não cumprido sequer se faz necessária, pois legem habemus. Genericamente, a própria Lei 8.987/95, em nítida aplicação do aludido principio, através do comando contido no seu art. 6a, § 3a, II, autoriza a empresa fornecedora a interromper a prèstação individualizada do serviço em caso de inadimplemento do usuário.92
90 ASSIS. Resolução do contrato por inadimplemento cit.. passim. Correios, já referido à prestação de serviço essencial, FERRAZ FILHO e MORAES, Energia Elétrica - Suspensão de fornecimento cit., p. 78.
91 Por todos, ASSIS, Resolução do contrato por inadimplemento cit.. p. 28.92 Lei 8.987/95. Art. 6» (...).
S 3a Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua iiiterrupçâo em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:
II - por inadimplemento do usuário, considerada o interesse da coletividade. ' De acordo com a paralisação do fornecimento com base nesse dispositivo, MOREI
RA NETO, Curso de Direito Administrativo cit., p. 417. No mesmo sentido: LAZZARINI, Álvaio. “Consumido! de serviços públicos: dever de thdenizá-lo enquanto cidadão*. In RDA 219 (2000): 1-9. esp. p. 9; FREITAS, 'O Estado essencial e o regime de concessões 0 permissões de serviços públicos' cit., esp. p. 44 (ressaltando a necessidade de se tomar em consideração, também no corte inidividua], o interesse da coletividade): AZEVEDO, Eurico de Andrade et ALENCAR. Maria Lúcia Massei de. Concessão de serviços públicos. São Paulo: Malheiros. 1998, p. 33 (realçando-se o caráter individual da suspensão d0 fornecimento); CAZZANIGA, Gláucia Aparecida Ferraroli. “Responsabilidade dos órgãos públicos no Código de Defesa do Consumidor'. In Revista de Direito do Consumidor 11: 144-160, esp. p. 155. Especificamente sobre energia elétrica, FERRAZ FILHO e MORAES, Energia Elétrica - Suspensão de fornecimento cit., passim (conclusões à p. 185). Mesmo os órgãos de defesa do consumidor hão de reconhecer que a regra vigente autoriza o cor
312
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Mão Nascem em Arvores
Também a legislação especial contém normas nesse sentido. Assim a Lei 9.427/99, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), passou a disciplinar a concessão dos respectivos serviços. Em seu art. 17 autoriza a suspensão do fornecimento de energia (regulamentado pela Resolução ANEEL 456/2000, art. 91). Esse dispositivo é relevante, pois autoriza o corte do serviço de energia a consumidores que prestem (também eles consumidores) serviços públicos essenciais,93 exigindo apenas comunicação prévia à autoridade pública, que adotará medidas destinadas a preservar os interesses da coletividade.94
Há quem sustente a inconstitucionalidade desse tipo de dispositivo legal, supostamente por violação do princípio constitucional da continuidade do serviço público,95 entendendo-o garantidor de uma continuidade individualizada. Há também argumento no sentido de que haveria violação ao princípio da proporcionalidade96 (servindo-se de uma concepção acerca desse princípio diversa daquela sustentada anteriormente - vide item 1.6). O presente estudo rejeita ambos os argumentos, concessa venia.
Registre-se que o Supremo TVibunal Federal, durante décadas - antes, é verdade, do desenvolvimento mais apurada das técnicas de proteção ao consumidor - reconheceu a constitucionalidade de dispositivos deste tipo.®7 Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça, em
te; assim, por exemplo, o (DEC, criticando: "Não (az. ainda, menção a prazos, a hipóteses que poderiam obrigar a concessionária a continuar a fornecer mesmo em casos de inadimplemento por incapacidade financeira comprovada, em IDEC, A proteção ao consumidor de serviços públicos cít., esp. p. 108 (energia), e também p. 137 (telefonia).
93 No que se refere aos recursos hídricos, a Lei 9.433/97 que indica como objetivos da cobrança ao usuário, a conscientização do usuário quanto ao real valor do bem cm questão (água), o incentivo à racionalização do respectivo uso e a obtenção de recursos para
" o implementação dos planos de réturEÓs‘h{<JricQs’(á£t.' t9f; ' '94 Sobre o poder público inadimplente e a cessação da prestação, FERRAZ FILHO o
MORAES, Energia Elétrica - Suspensão de fornecimento c/t., p. 128.95 Assim SEGALLA. “A suspensão do fornecimento de energia elétrica ao usuário inadim
plente â luz da Constituição Federal* de., p. 135.96 Entendendo não haver violação da proporcionalidade, em parecer especifico sobre ener
gia elétrica, a opinião de EROS GRAU, apuet FERRAZ FILHO e MORAES. Energia Elétrica - Suspensão de fornecimento cit., p. 132.
97 Neste sentido, a respeito do cone do fornecimento de água. ad exemplum, STF, Ttibunal Pleno, Recurso Extraordinário na 42649-PR, Relator o Ministro VICTOR NUNES LEAL, julgado em 20.10.1966, decisão unânime; STE Tribunal Pleno, Recurso Extraordinário n° 8U63-SR Relator o Ministro THOMPSON FLORES, julgado em 24.09.1975, decisão unânime e STF, Segunda Turma, Recurso Extraordinário nfi 8S268-PR, Relator o Ministro CORDEIRO GUERRA, julgado om 19.04.1977, decisão unânime.
313
Vi
Flávio Galdino
julgado anterior (de 1994), por sua Segunda Turma, já havia reconhecido a legitimidade do corte no fornecimento de energia em situação similar àquela julgada no indicado leading case sobre a matéria.93
Embora a situação-problema analisada neste estudo não sugira essa questão em profundidade, deve-se registrar também que há quem sustente a impossibilidade de suspensão no fornecimento por falta de pagamento no que se refere a serviços de fruição compulsória (ou "compulsórios”, v.g. serviços de coleta de esgotos sanitários), isto é, aqueles que o usuário não pode optar por fruir ou não, sendo a suspensão permitida apenas no que concerne aos serviços "facultativos" (e.g. fornecimento de energia)."
Admitida tal orientação, talvez não possa haver interrupção no fornecimento de água em caso de inadimplemento, eis que água e esgotos integram um sistema integrado de serviço. É um tema que deve ser aprofundado, anotando-se aqui que a análise econômica séria não pode descurar de outras considerações. Por exemplo: na hipótese de se autorizar o corte no fornecimento de esgotos, quais são as conseqüências (financeiras, inclusive) para a saúde pública? E para o meio ambiente? Essa e outras questões devem ser adequadamente apuradas e tratadas através de informadas análises de custo-benefício, antes de se indicarem soluções com base em impressões.
Convém agora, com base nas considerações desenvolvidas nos capítulos precedentes, evidenciar que a opção legislativa101 encontra- se fundamentada, em detrimento da mal fundamentada, data maxima venia, construção judicial.
98 Assim STJ, Primeira Turma. Recurso Especial na 415578-SR Relator o Ministro CESAR ASFOR ROCHA, julgado em 23.05.1994, decisão un&nimo (também esse julgamento com fundamentação, data maxima venia, precária). Participaram desse julgamento os Ministros GARCIA VIEIRA, DEMÓCRITO REINALDO e MILTON LUIZ PEREIRA. Com exceção do Relator, os demais Ministros participaram do julgamento do leading case (RMS 8915-MA). sem registrarem as razões do dissenso em relação ao posicionamento anterior, o que desa- tende ás necessidades de coerência e integridade do ordenamento juridico.
99 Neste sentido parece ser a opinião de GASPAR1NI, Diógenes. Direito Administrativo. 5* edição. São Paulo: Saraiva, 2000. pp. 262*263.
100 Sobre o tema, vide GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito de águas. São Paulo: Atlas. 2001, pp. 124 e seguintes.
101 Talvez fosse melhor referir 'opções legais", pois várias leis específicas regulam a matéria. Mo que concerne ao fornecimento de energia, questão apreciada no leading case referido acima, também há lei especifica autorizando a suspensão por falta de pagamento (art. 17 da Lei Federal 9.427 de 26.12-1996, o qual refere-se inclusive a corte que atinge ouiios serviços públicos, exigindo-se, neste caso, prévia comunicação às autoridades competentes).
314
Introdução à Tteoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Árvores
Em primeiro lugar, propõe-se repensar a continuidade à luz da compreensão relacionai dos contratos de prestação de serviços públicos. Por força de seu caráter de contratação coativa, a continuidade da prestação, livre de remuneração, converte-se em crédito eterno ou, por outra, em gratuidade, que não corresponde à já referida premissa da remuneração.
É correta a afirmação de que o serviço público pode muito bem funcionar “com prejuízo", e até mesmo ser oferecido gratuitamente àspessoas.'02
Mais uma vez advirta-se que a retórica da gratuidade não deve obstaculizar a visão de que o serviço supostamente gratuito, qualquer que seja ele, é custoso - como ensina a economia, tudo tem um custo.103 Apenas, por quaisquer razões, não se exige contraprestação de pessoas determinadas. £
Assim sendo, oferecer a prestação de determinados serviços que se considerem essenciais de forma gratuita para o usuário é uma opção política.104 (
Não há dúvida de que seria conveniente que a legislação contem- gplasse hipótese de tratamento diferenciado para consumidores temporariamente desempregados, ou mesmo paia incapazes ou para outros € grupos que se desejasse proteger.105 Mas esse tipo de prestação de- £ pende de opção politica efetivada através do estabelecimento das normas pertinentes. €
Se alguns serviços públicos são considerados essenciais para a £ manutenção da existência humana digna, é de todo conveniente que o Estado se organize (inclusive e principalmente do ponto de vista finan- 1 ceiro) para entregá-los às pessoas que estejam em posição hipossufi- £ ciente em relação à sua aquisição mediante remuneração, criando
102 Dl P1ETRO, Direito Administrativo ci:.. p. 86 (subscrevendo opiniAo de JEAN RIVERO).103 COYLE, Diana. Sexo. drogas e economia - uma introdução não-convencionat à economia
do século 21 (trad. bras. de Sex. drugs & economics por Melissa Kassner). S&a Paulo: Futura. 2003, p. 279.
104 Correta CÁRMEM LÚCIA ANTUNES ROCHA ao denunciar a falácia da gratuidade geral: "A gratuidade do serviço público como regra geralmente aceita ou característica dessa atividade constituiria, em verdade, uma falácia" (ROCHA, Estudo sobro concessão e permissão de serviço público no Direito brasileiro cit., p. 99).
105 Correto, quanto ao ponto, o relatório do IDEC. A proteção ao consumidor de serviços públicos cft., esp. p. 58. Incorreto, com todas as vênias, quando afirma (p. 59) que o ordenamento jurídico possui fundamentos (não especificamente indicados) para assegurar a continuidade individualizada da prestação de serviços a pessoas hipossufi cientes.
315
í
c
í
Flávio Galdino
padrões diferenciados de pagamento ou mesmo entregando-os “gratuitamente".
Mas não foi essa a opção do Estado brasileiro nem este organizou- se para a entrega dessas prestações (fala-se mesmo na adoção do prin- ' cipio do usuário-pagador).
Não se olvide que, por mais essencial que seja o serviço público, seus custos deverão ser financiados. E o financiamento direto pelo consumidor/usuário diz respeito não só à qualidade do serviço, como também à sua própria existência,108 pois na economia capitalista o Estado, infelizmente, é incapaz de suprir tudo.
Demais disso, a instituição e a cobrança de "tarifas" em relação a • determinados serviços públicos permite o direcionamento do consumo e a conseqüente melhoria da utilização dos recursos disponíveis em um ’ cenário de escassez, como no caso da água, por exemplo, em que a cobrança funciona como instrumento de eficiência, w?
Assim, feita a opção no sentido de que determinado serviço será remunerado diretamente pelo consumidor - e essa é inequivocamente ' a opção da Constituição Federal brasileira de 1988108 -, não é mais possível falar-se em gratuidade (ressalvadas eventuais exceções legitimamente previstas), sequer em sentido figurado ou, o que é pior, em sentido individual (consoante assentado na jurisprudência do STJ, uma ilegítima gratuidade individualizada).109
106 Por interessante, acerca da água. consulte-se o estudo autorizado de TUNDISI. José Galizia. Água no século XXI - enfrentando a escassez. São Paulo: RIMA. 2003. esp. p. 159 e seguintes (onde se trata dos custos do abastecimento e tratamento da água).
107 TUNDISI, Água no século XXI - enfrentando a escassez c/t., pp. 162 e 174-175: "A gestão das águas será mais eficiente & medida em que instrumentos econômicos, como a cobran- Ça belo uso da água e o principio do poluidor/pagador (orem introduzidos na legislação*. ;
108 Análise perfunctória dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte de 1986/1388; , .(consoante-os registros constantes da página do Congresso NaeiíínaVYia'internet) evi- ’
dencia que inúmeras propostas de emendas, pelo menos dezesseis, foram apresentadas pelos mais variados segmentos políticos (há até emendas populares) a fim de que se induisse no texto final um dispositivo que assegurasse a continuidade dos serviços ' públicos essenciais como direito individual. Como se sabe, tal direito não consta do nada, limitado rol constitucional, uma vez quo as aludidas propostas foram afinal rejeitadas.. Acaso seja necessário, pode-se acrescer aos argumentos vertidos no texto esse argu- . mento fundado em interpretação histórica, o qual, mesmo sabendo-se que a mens transcende a mens iegísíacoris, n&o peido sua utüidadd. -è'
109 No sentido do texto a observação de MEDAUAR, Direito Administrativo Moderno cit., ppú 370*371, ressaltando a necessidade de igualdade de tratamento dos usuáfiòs:?Funcionamento eqüitativo ou igualdade de todos perante o serviço público ou paridade
de tratamento: (...) Vinculada à igualdade se coloca a questão da gratuidade. Esta náò. foi afirmada como principio do serviço públicoM. 1
316
Introdução à Tboria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
Exige-se a contraprestação, isto é, o pagamento das tarifas, sob pena de interrupção na prestação. O contrário, data maxima venia, é a institucionalização do calote.110
Observe-se ainda que a inexistência de contraprestação por parte de alguns usuários onera todos os demais, aos quais serão repassados também, dentre outros, os custos relativos à inadimplência. Baseado em critério redistributivo de mérito deveras duvidoso, essa é a opção encoberta - possivelmente ignorada mesmo - da jurisprudência do Superior TVibunal de Justiça em comento, referendada expressamente em sede doutrinária.111
A orientação simplista consagrada nessa nada criteriosa “politica redistributiva" ignora um punhado de questões inolvidáveis. Em primeiro lugar e em linha de princípio, há sinais claros de violação do princípio da igualdade (material).11* A opção política (eventualmente constitucional) de cobrar por um determinado serviço tem subjacente uma outra opção, no sentido de que somente o usuário deve suportar os ônus do serviço em questão, por mais essencial que ele seja.
O que se propõe através da solução judicial (do STJ) aventada é subverter a ordem constituída e, sem fundamento legal, (i) impor indiretamente aos demais usuários através da elevação das respectivas tarifas o custeio desses benefícios individuais.
Se assim não for, (ii) o custeio dos serviços em tela haverá de ser suportado por outras verbas públicas, em regra por meio do dispêndio de valores colhidos por meio de tributos.
A terceira possibilidade é a (iii) inviabilizaçáo econômica do serviço, afastando-se o serviço em questão do sistema de concessão.
..t4J0'£mtom enfático, leciona CAIO TÁCITO. úisiispeito de posições desrespeitosas aos direitos fundamentais: "O serviço de energia elétrica é. em suma, uma relação jurídica bilateral: á garantia de continuidade ao fornecimento deve necessariamente corresponder a continuidade no pagamento (e. portanto, no recebimento do preço tarifado. A omissão deste último autoriza a descontinuidade do primeiro sob pena de se oficializar a eficácia do calote” (CAIO TÁCITO. “Consumidor - falta de pagamento - corte de energia". In Revista de Direito Administrativo 219: 398-399. esp. p. 399).
111 SEGALLA, “A suspensSo do fornecimento de energia elétrica ao usuário inadimplente à luz da Constituição Federal" c/t., pp. 140-141: "A segunda é, verificando a carência de recursos, custear a manutenção da prestação dos serviços (inclusive e se for o caso através da elevação das tarifas dos demais usuários). Nesta última alternativa, a comunidade arcará com o custo dos serviços' |conclua-se: esses serào gratuitos para alguns privilegiados, mesmo diante da opção politica em sentido diverso|.
112 Ainda uma vez, MEDAUAR, Direito Administrativo Moderno cit.. pp. 370-371.
317
Seja como for, a operação assemelha-se, em princípio, socialmente injusta,113 premiando-se eventualmente o mau usuário1 m (que não se '■ confunde com o usuário hipossuficiente) - o justo paga pelo pecador - e estimulando-se a inadimplência. .,:
É verdade que verbas captadas pelo poder público em forma de -í tributos podem ingressar na equação econômico-financeira do contra- to de concessão em forma de "receitas alternativas, complementares ~--i ou acessórias” , consoante o disposto nos arts. 11 e 18, VI, da Lei 8.987/95. Mas tais ingressos, por expressa disposição legal, são desti- : „ ' nados a favorecer a modicidade das tarifas,115 não sendo prestadios a V-:' fundamentar (rectius: acobertar) gratuidade.
Já a inviabilização econômica do serviço parece ser totalmente - v descabida, por mais não seja, em razão de criar mais despesas para um Estado já deficitário, renunciando aos benefícios diretos e indiretos que, no sistema brasileiro, a exploração dessa mesma atividade pelo f particular cria. Relembre-se que, no nosso sistema econômico, em prin- >• ? cípio, só as atividades estratégicas ou desinteressantes para a ativida- de privada são exercidas diretamente pelo poder público.116
Com isto não se quer dizer que seja impossível a extinção do regi- me de concessão. Se a exploração econômica da concessão não for satisfatória - o que constitui a álea ordinária do negócio para a empre- '■ sa exploradora - ou se por qualquer outra razão o contrato for resolvido, a manutenção da prestação de serviços estará protegida, em alguma medida, pela possibilidade de reversão dos bens afetados à presta
113 Conforme MOREIRA NETO. Curso de Direito Administrativo cit., p. 420.114 Corretamente, JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO: (PINTO. João A. A. O. A
responsabilidade civil do Estado-fornecedor de serviços amo o usuário-consumidor. Belo ■ Horizonte: Edições Ciência Juridica, 1997, p. 88): 'A continuidade do serviço essencial não impede a suspensão do seu fornecimento ante a configurada inadimplência do usuá- rio-consumldor, inclusive com fulcro (...) sob pena do premiar-se o mau usuário, o que, a • . „ médio prazo poderia comprometer a qualidade e até inviabilizar o fornecimento do ser- V. viço. em detrimento de toda a comunidade usuária, consumidora, apenando. em última análise, aquele que honra com os seus compromissos". Relembre-se que a mesma idéia 1 fora exposta com ares de obviedade pela doutrina em rotação á ínoponlbilidade do bem '• de familia à, por assim se dizer, "comunidade condominial" (item 7.S supra)
115 Sobre o tema, BANDEIRA DE MELLO, Curso de Direito Administrativo cit.. pp. 623 e 638, que salienta ainda (p. 623) que a exploração da atividade basicamente por melo da ‘ cobrança de tarifas 6 essencial à caracterização da concessão do serviço público.
116 Este estudo refere alguns aspectos da questão sob o prisma econômico no item 2.3.2.
ção (Lei 8.987/95, art. 35). Mas, ainda assim, essa solução, sob todos os prismas, é a pior.
Ainda no mesmo sentido e por oportuno, registre-se que, sen do a
equação econômico-financeira da concessão atingida pela su p erve -
niência de um inusitado e imprevisto posicionamento ju r isp ru d en c ia l
(em última análise estatal), é o contribuinte que paga a conta.Deveras, se o evento em questão corresponde não á álea ordinária
a que está sujeita a empresa prestadora, mas sim à álea extraordinária (in casu, em tudo equiparável à álea administrativa117), impõe-se a adoção de medidas para resguardar o equilíbrio financeiro do contrato de concessão e, se for o caso. para ressarcir os prejuízos sofridos pelo particular (evidentemente através do "dinheiro do contribuinte” ). Tudo realmente desaconselha a tal "gratuidade” .
D e outro lado, consoante já salientado, essa possibilidade redistributiva parece estar vedada pelo principio da impessoalidade que deve nortear a conduta da administração pública, a qual jamais deve es ta r
ligada ao fornecimento de vantagens individuais não previstas nos lindes da legalidade.118
Some-se a isto que a chancela da pseudogratuidade tem o condão de estimular sobremodo o inadimplemento de outros usuários - o chamado efeito dominó,119 notadamente em períodos recessivos. Com efeito, a impunidade é o combustível mais eficiente para a infração.
É realmente relevante insistir em que a essencialidade não implica necessariamente gratuidade, por mais chocante que essa constata ção seja.
Serviços públicos de transportes são considerados essenciais,120 e nem por isso são gratuitos (salvo para determinadas categorias dè Pes ‘
117 s< bro e=ses conceitos, CAIO TÁCITO. “O equilíbrio financeiro na concessão de serviço público" c/e., p. 200 ec passim e BANDEIRA DE MELLO. Curso de Direito A dm in is tra tivo c/c., p. 655.
118 Ainda sobre a impessoalidade. ZAGO, O principio da impessoalidade cit., passim. BANDEIRA DE MELLO. Curso de Direito Administrativo cit.. p, 84; MEDALfAR. Administrativo Moderno cit.. p. 84.
119 Conforme anota o STJ, Primeira Seção. Recurso Especial 363493-MG. Relator 0 Ministro , HUMBERTO GOMES DE BARROS, Julgado em 10.12.2003, votação por maioria-
Por t° d0s' JUSTEN, A noção do serviço público no direito europeu cit.. p. 232 < » t e a 2 f * estudo em diversos ordenamentos. Identificou a autora países em que os t ra n sp o rte s sao «rolados entro os serviços públicos - v.g.. Itáiia, p. 98). Assina ia-se que serviços constam até mesmo do elenco elaborado incidenter tantum por COUTO E s r A obrigação como processo cit., p. 20.
Flávio Galdino
soas, como idosos, sem relação direta com a possibilidade de pagar pelos serviços). Aquele que não pode pagar pelo serviço não é transportado. Admitida a tese do STJ, bastaria o indivíduo afirmar que não pode pagar a ‘'passagem" {rectius: a tarifa) do ônibus ou do trem para que lhe fosse reconhecido o direito de ser transportado gratuitamente, o que (ainda) não se concebe.
Alimentação parece ser mais essencial ainda - na verdade, se alguma prestação deve ser considerada essencial, é o momento certo. Atento a essa consideração, em 2001, no Rio de Janeiro, o poder público estadual criou um restaurante popular (primeiro de uma série), em que as refeições são servidas a preços simbólicos, ou ao menos aparentemente simbólicos.121 Aquele que não pode pagar - é a triste e inob- jetável realidade passa fome, pois nos sistemas de propriedade contemporâneos, as pessoas não têm autorização para pegarem nem mesmo aquilo de que elas necessitam para viver ou para sobreviver.122
Não vislumbramos razão para que o dinheiro coletado dos contribuintes através dos impostos e tributos em geral seja usado para custear a entrega de energia elétrica de uma microempresa em dificuldades financeiras ou de quem quer que seja, em vez de ser usado para saciar a fome das pessoas.123 Aliás, em que atende a dignidade da pessoa humana não poder ser cortado o gás, se não houver o que se preparar através dele?124
Ainda a propósito, por que apenas determinadas prestações - como água e energia - deveriam ser gratuitamente entregues pelos concessionários, e outras prestações essenciais - como a alimentação -
121 Na verdade, parafraseando BARCELLOS, A eficácia juridica dos princípios coustiturio- nais c/t., p. 308. esse valor aparentemente simbólico talvez seja a distância que separa indigente da dignidade. '
122 A observação é de SHUE. Basic ríghts cit., p. 24.17.3 De forma muito expressiva, a questão é colocada pelo Ministério Publico {por seu ôrgãS
que oficia em pleito Judicial no Estado de Sergipe): "O verdureiio. o açougueiro e o p: ro não estão obrigados a fornecer gêneros alimentícios gratuitos aos inadimplenf por que os delegados do serviço público e o poder concedente estaiiam?". in M/ Eduardo Lima de. “Suspensão de serviço público (energia elétrica) por lalxa de pag=> to. Não violação do CDC". In Revista de Direito do Consumidor 5 (1933): 202-205, p. 204.
124 Íbis argumentos expressam nossa convicção intima - & mingua de estudos econoi e estatísticos é o máximo de que podemos dispor - de que as pessoas realmente n sitadas, que vivem abaixo da linlia da pobreza (aquilo a que se usa chamar indigêr e em nome de quem são propostas medidas desse Jaez, de fato. não são por elas çados ou beneficiadas.
320
lntroduç&o à Tfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Mão Nascem em Árvores
não haveriam de ser entregues gratuitamente pelos fornecedores? Em ambas as faces a situação parece antiisonômica125 e, também por isso, inválida: beneficia sem fundamento determinadas pessoas e cria ônus injustificados para outras.126
Por derradeiro, de acordo com o entendimento esposado neste estudo, a condenação de empresas fornecedoras a indenizar consumidores inadimplentes é ainda mais absurda, permissa venia, do que a impossibilidade de corte no fornecimento fundado na inadimplência. Só faltou dizer que o valor a ser pago a título de indenização não poderia ser compensado (ex iege) ou penhorado para satisfação do débito que originara o corte no fornecimento, “Ealvez a questão não tenha sido suscitada...
Por certo também as empresas concessionárias de serviços públicos devem indenizar os danos (seja qual for a sua natureza) causados aos consumidores (iato sensu, incluindo-se os consumidores equiparados, CDC, art. 17). Isto está fora de questão. Mas parece evidente que afastada a premissa de que o corte no fornecimento é indevido, afastar- se-á também, ipso facto, a causa da condenação à indenização. Se o consumidor sofre algum dano, é decorrente da sua inadimplência.
A correta compreensão dos custos dos direitos não permite seja mantida uma tal orientação, de molde que, sob o prisma prático, e como conseqüência das visões propugnadas nesse estudo acerca dos direitos, a solução correta para a questão é a de que as empresas fornecedoras estão autorizadas a fazer cessar a prestação do serviço público quando o consumidor se torna inadimplente.
Uma consideração final. As disputas em torno a esse tema estão fora da margem do debate relativo à inadimplência de um consumidor individual e da cessação de uihérâeíêrminãda prestação: Dizem respeito ao sistema de prestação _de serviços públicos adotado pela Constituição da República.
T-alvez não seja incorreto dizer que o sistema de prestação efetivada pelo particular de modo lucrativo dos serviços públicos essenciais
125 Radicalizando o argumento isonômico, CRETELLA JR., Filosofia do direito administrativo cit., p. 133 ("se há uma tarifa, esta deve ser aplicada a todos de maneira igual"). O estudo nâo olvida que pessoas em situações desiguais merecem muitas vezes tratamento desigual (vide item 1.6).
126 Neste sentido. FERRAZ FILHO e MORAES. Energia Elétrica - Suspensão de fornecimento c/c., p. 108.
Flávio Galdino
mercahtilizou determinadas prestações que (ao menos no seu mínimo) podem ser caracterizadas como existenciais.
Da mesma forma, talvez seja possível afirmar que os indivíduos que antes dispunham de direitos públicos subjetivos a determinadas prestações pelo só simples fato de serem pessoas, agora vêem*se convertidos em "meros" usuários ou consumidores (nesse caso, quase uma capitís deminutio), que apenas podem comprar serviços.
É uma forma de ver o fenômeno,127 embora seja correta a afirmação de que o fato de o cidadão possuir direitos como consumidor não significa que ele não tenha direitos como cidadão e participante das tomadas de decisão sobre as políticas públicas através de mecanismos de democracia participativa.128
O problema não é novo, nem exclusivo do Brasil,129 havendo também severas críticas às tentativas de se impor ao Estado através da tributação o custeio geral e universal dos serviços públicos - especialmente dos essenciais.
No Brasil mesmo, a crítica aguda e reiterada ao sistema universal de prestações, custeado ou subsidiado em grande parte pelo Estado, foi uma das grandes responsáveis pela respectiva modificação através dos processos de p rivatização . !30
Com efeito, tanto a Emenda Constitucional como a Lei que instituiu o programa de privatizações (Lei 9.491/97, por exemplo, art. In) procuraram primar pela eficiência (e pela participação^1) para modifi
127 Consoante a perspicaz observação de José Eduardo Faria: “Na medida em que as obrigações públicas são progressivamente reduzidas ao conceito geral de mercadorias e convertidas em negócios privados (...) em que os titulares dos direitos sociais o dos direitos humanos são reduzidos ao simples papel de clientes, o acesso a serviços essenciais - como educação, saúde, previdência, energia elétrica, água. telefonia etc. - passa a depender de comratos privados de compra e venda. (...) Com isso. aqueles que não têm condições de comprar esses serviços básicos e aqueles que não têm como pagar por serviços já consumidos, ou seja, os excluídos e os inadimplentes no plano econômico, convertem- se também nos sem-direitos no plano juridico. não mais parecendo como portadores de direitos públicos subjetivos" (FARIA et KUNZ, Qual o futuro dos direitos? cit., p. 114).
128 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Reforma do Estado para a cidadania - a reforma gerencial brasileira na perspectiva institucional. São Paulo: ENAP/Editora 34.2002, p. 122.
129 Paia referir um autor norte-americano conservador. WALL1CH. Henry C. The cose alfree- dom. New York: Haiper and Brothers. 1960, p. 169.
130 Consoante o modelo diretamente escolhido pela população aUavés da eleição do Presidente da República Fernando Henrique Cardoso. Confira-se a opção politica expli-,' cita de seu programa (pré-eleitoral) de governo: CARDOSO, Fernando Henrique. Mãos à obra, Brasil - Proposta de Governo. Brasília. Sem ed. 1994.
131 A mesma EC 19/98 estabeleceu como prioridade, ao lado da eficiência. a participação, consoante se deflui da redação dada ao art. 37, § 3a, da CF.
322
Introdução à Tboria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Áivores
car um sistema de prestação de serviços inequivocamente marcado pela ineficiência132 (e pelo distanciamento do cidadão/usuário dos centros de decisão).
Esse sistema ineficiente, deficitário e arbitrário não apenas comprometia a qualidade das prestações públicas, como colocava em severo risco a própria existência do sistema.
Na verdade, também este estudo concorda em que o Estado possui função precipua de distribuição e que os serviços públicos devem ser organizados sob uma ótica solidarista,133 muito especialmente no que concerne a atender necessidades básicas de pessoas carentes (relevante função assistencialista em um país em desenvolvimento). Outrossim, o estudo não comunga do entusiasmo cultural pela empresa privada que impulsionou as reformas políticas da década de 1990 no Brasil.*34
Apenas sustenta também que a função distributiva não pode ser exercida sem o atributo da eficiência, 135 certamente voltada não apenas para a rentabilidade do explorador (público ou privado), mas também para o impacto social do serviço,*3 realizando a eficiência conju-
132 Por exemplo, as sinteses de GROTO. O serviço público e a Constituição brasileira de 1988 cit., p. 151 et passim e BUCC1, Direito Administrativo e políticas públicas cit., p. 23. Estudos que influenciaram as privatizações aqui e alhures evidenciam que empresas privadas são potencialmente mais eficientes; assim, DONAHUE, John. Privatização - fins públicos, meios privados (tradução brasileira de The privatization decision (public ends, private means) por José Carlos Tteixeria Rocha). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 1992. p. 94. Sobre o programa brasileiro de administração gerencial, confira-se a sisteroatiza- ção de seu idealizador e condutor: PEREIRA, Reforma do Estado para a cidadania cit., passim.
133 DERANI, Privatização e serviços públicos cit.. p. 152: “Para não trair seu papel, os serviços públicos devem se inspirar na solidariedade (...) Por conseqüência, a performance dos serviços públicos não saberia se definir e se avaliai exclusivamente pela ótica das empresas privadas'. E também SALOMÃO FILHO. “Regulação e desenvolvimento" cit., p. 41: “Itata-se. portanto, de um Estado que deve basear sua gestão (inclusive no campo econômico) em valores e não em objetivos econômicos". A universalidade é. de fato. instrumento da solidariedade social (sobre o tema, JUSTEN, A noção de serviço público no direito europeu cit.. p. 231).
134 DONAHUE, Privatização - fins públicos, meios privados cie., p. 11.135 Parece ser também essa a posição de Cristiane Deram e Calixto Slomáo Filho que. após
as referências enfáticas aludidas na nota anterior, ressaltam a eficiência e as imposições financeiras. Assim, DERANI, Privatização e serviços públicos cit., p. 152: "Ela |a performance dos serviços públicos) está em função do equilibrio a atingir entre dois imperativos: respeitar as imposições financeiras e responder ás necessidades dos cidadãos- usuáiios".
136 MENDONÇA, Sérgio Eduardo Abulu. 'Os serviços públicos privatizados e o consumidor: tarifas - propostas de mecanismos para o monitoramento das tarifas públicas’ . In IDEC
323
c
cccc
ií
€
€4C
€C
i€
Flávio Galdino
gada a valores existenciais que o estudo preconiza (sobre o tema, vide item 12.3).
E, normalmente, a eficiência é mais facilmente alcançada a partir de um sistema de concorrência, ao qual não costuma se adaptar muito bem o Poder Público. Com efeito, embora não se possa aprofundar o tema aqui, para fins de eficiência, mais relevante do que saber se um serviço (relativo a bens econômicos, evidentemente) será prestado em regime público ou privado, é saber se poderá ser prestado em um sistema competitivo ou se ficará relegado a um sistema não- competitivo.137
Talvez seja possível rever o sistema e a opção política subjacente paia alterar o parâmetro de remuneração dos serviços públicos essenciais, que deixariam de ter a capacidade de pagamento como único referencial,138 imaginando-se outras dimensões que facilitem o acesso de pessoas hipossuficientes a serviços essenciais, talvez até em termos de redução progressiva das tarifas. Pode-se imaginar também outras medidas mitigatórias, como seja a concessão de um prazo de carênciai39 mais dilatado para que se autorize a cessação e outras.
Todavia, se o problema é sistêmico, não é indicada a solução tópica, individualizada (especialmente as que concedem "gratuidades" ou benefícios individuais). E, na visão deste estudo, seja qual for a solução adotada - estatizante ou privatizante, com as suas respectivas ênfases há de se ter em conta, sempre, os custos dos direitos.140
(Instituto Brasileiro do Defesa do Consumidor). A proteção ao consumidor de serviços públicos. São Paulo: Max Limonad. 2002. p. 286. ’•••■ t °
lâ7 Ainda DONAHUE, John. Privatização - fins públicos, meios privados cit.. p. 94.138 Ainda conforme a objetiva análise de MENDONÇA. "Os serviços públicos privatizados e
o consumidor: taiiías - propostas de mecanismos paia o monitoramento das tarifas públicas" c/t., p. 286.
139 Da acordo, NEGREIROS, Tboria do contrato cit., p. 470. Na verdade, em muitos casos, o prazo de carência paia interrupção jà existe (assim como a necessidade de prévia notificação); o que se aventa é a possibilidade do dilargar tais prazos de molde a permitir a recuperação financeira de consumidores que enfrentam dificuldades ocasionais.
140 É ã lição de Mario Henrique Simonsen: "Mas é preciso que todos saibam que um governo onipresente, se gera beneficias, gera também custos. Os brasileiros precisam aprender a avaliar esses custos (...)" (SIMONSEN, Mario Henrique. Prefácio. In AAW. Friedman à luz da Realidade brasileira. Rio de Janeira: Escola Superior de Guerra. 1973, pp. 10-11).
324
Introdução à Ifeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
14.8. A correta compreensão dos custos dos direitos: gratuito não existe
O escopo mediato e principal da presente "aplicação" é demonstrar que a correta compreensão dos custos dos direitos maximiza os lesultados da análise jurídica e, bem assim, a tutela dos direitos fundamentais.
A retórica em torno da gratuidade dos direitos em geral é deveras prejudicial, simplesmente por ignorar ou desconsiderar - o que resulta no mesmo - os elevadíssimos custos subjacentes às prestações públicas necessárias à efetivação dos direitos fundamentais.
Com efeito, o discurso público em tomo de tais direitos tidos por gratuitos obstaculiza a perfeita compreensão das escolhas públicas a eles subjacentes, pois, tendo em vista a escassez de recursos estatais, a opção pela proteção de um direito aparentemente “gratuito" significa de modo direto e imediato o desprezo por outros (em princípio, não “gratuitos"). Esta opção - fundada na desconsideração dos custos - será, só por isso, inevitavelmente trágica.
Tbl fato, aliado, em um clima de insinceridade normativa,141 à multiplicação dos direitos, rectius: de promessas de direitos fundamentais irrealizáveis e das respectivas prestações públicas (igualmente irrealizáveis142), conduz invariavelmente (i) à desvalorização dos direitos mesmos (já se disse que se tudo é direito, nada mais é direito143), (ii) à malfadada irresponsabilidade dos indivíduos e (iii) à injustiça social.
141 Sobre a insinceridade normativa, que dentre outras causas resulta configurada quando há “manifesta ausência de condições materiais para o seu cumprimento veja-se BARROSO, O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas c/t., esp. p. 60.
142 Em tora-deveras critico a observação de MICHEL V1LLEY: "Esta superabundância serve sobretudo para manter uma onda de reivindicações impossíveis de sé satisfazer, que. diante da realidade, deixa as pessoas decepcionadas e amarguradas. Uma linguagem especiosa. Imensamente ambiciosos, mas indefinidos, os direitos do homem têm um caráter ilusório. Pode-se dizer que eles constituíam "promessas insustentáveis" de "falsas crenças'', como se tomou nossa moeda desde o inflacionismo. É deformação de romantista? Quando nos atribuem um direito, esperamos do nossa parte que este direito verdadeiramente nos pertença, nos seja devido de verdade e possa ser. no sentido real da palavra, reivindicado, com qualquer oportunidade de sucesso. O que não são "os direitos do homem". Diante da sua inflação, admira-se que tão poucos juristas, em lugar de aplaudi-los, piotestem contra este abuso de Unguagem" (VILLEY. Filosofia do Direito cít., p. 130).
143 Neste ponto com GOYARD-FABRE: "Se esses créditos são denominados "direitos", é porque apelam, comentam eles, ao poder que tem um cidadão ou um grupo de obrigar o Estado a lhe fornecer prestações e serviços. (...) Como não ver que o intervencionismo do
325
Flávio Galdino
Com efeito, remarque-se que a aludida orientação jurisprudencial insere-se à perfeição no argumento de que os direitos foram longe por demais.144 Ela não apenas tolera a irresponsabilidade, mas a estimula (basta ver que as decisões prestigiam inclusive a torpeza de quem deliberadamente pratica atos delituosos), flruir sem pagar, sem sequer ter consciência do custo, estimula a irresponsabilidade no exercício dos direitos e o egoísmo.
Em última análise, e considerando que essa situação, globalmente considerada, aumenta o custo dos serviços, é possível afirmar que toda a sociedade paga para um indivíduo “gratuitamente" fruir um “direito".
Essa situação se caracteriza como claramente violadora do princípio da eficiência que deve nortear a ação dos agentes públicos. Não se olvide que, além da exigência constitucional (CF, art. 37, caput), o próprio dispositivo legal indicado como fundamento para se exigir a continuidade gratuita - art. 60, § lo, da Lei de Concessões (8.987/95) - impõe que os serviços públicos sejam prestados sob o signo da eficiência (sobre a eficiência e, em especial, a eficiência da administração pública, vide itens 13.1 e 13.2).
A percepção dos custos dos direitos que se propugna neste estudo talvez ajudasse a evitar soluções insatisfatórias e violadoras do princípio da eficiência.
Deveras, como visto, integrando-se aos conceitos de direito fundamental e de direito subjetivo os seus respectivos custos, não é possível afirmar, sem maiores considerações, que todos "têm direito aos serviços públicos essenciais contínuos, mesmo que não possam pagar por eles” . Essa afirmação, convenha-se, extremamente sedutora, prejudica sobremodo a compreensão dos direitos e de seus custos.
Em primeiro lugar, advirta-se que a essencialidade de um bem ou serviço não exclui os seus custos, pelo contrário, dependendo da situa
Estado-providència em todos os campos aniquila a autonomia das vontades, ou seja, a responsabilidade dos sujeitos de direito? Não será um sofisma reclamar tudo do Estado, quando se pretende promover o respeito à dignidade própria da pessoa humana? Ademais, a proliferação dos "direitos* provoca sua desvalorização, de sorte que, se tudo é direito, nada mais é direito" (GOYABD-FARBER, Simone. Os principios filosóficos do Direito Político moderno cít., pp. 336-337).
144 Vejam-se as observações de SUNSTEIN e HOLMES no capitulo 10. Com as ressalvas formuladas anteriormente, consulte-se GLENDON, Rights taik cít.. passim.
326
Introdução à Tfeoria dos Custos dos Diteitos - Direitos Nâo Nascem em Árvoies
ção, a essencialidade pode aumentar o respectivo valor e. assim também, os respectivos custos.
De outro lado, a percepção de que esses direitos custam, e de que a sociedade optou por cobrá-los dos respectivos usuários, permite antever um grande equivoco na orientação jurisprudencial criticada aqui.
Acaso seja levada a efeito ex ante uma análise dos custos ocasionados pela continuidade gratuita, a orientação criticada é simplesmente insustentável, até porque uma sociedade, qualquer sociedade só tem os serviços - e porque não dizâ-lo, os direitos - pelos quais pode pagar. Não resiste por um instante a uma análise de eficiência.
Embora não se saiba de estudos específicos acerca dos custos desses ‘‘direitos", especialmente no Brasil, a simples idéia de que as pessoas podem fruir moradia, água, gás e energia sem pagar, só para citar aqueles tratados no texto, soa extremamente arriscada. É evidente que para se fundamentar adequadamente uma resposta a essa pergunta são necessários dados concretos (econômicos).
No mesmo sentido, é de se observar que a simples exigência de que qualquer débito oriundo desses serviços seja cobrado necessariamente em sede judicial pode inviabilizar todo o sistema de prestação do serviço, o que é muito mais grave do que a simples alteração da equação econômico-financeira do contrato referida anteriormente.
Utilizando a imagem plena de significado, em tema de direitos a serviços, é necessário postular o retorno do pêndulo.145 Da absoluta inexistência de tutela, em um movimento compreensível (até previsível), transitou-se à esfera do irresponsável.
A promessa incondicionada de todos os direitos, muitos deles impossíveis de serem satisfeitos, não parece ser a melhor saída para um país em desenvolvimento como o Brasil. Sendo efetivamente utópico o equilíbrio estável da perfeição, ainda assim se faz mister retornar a um nível equilibrado de tutela, sem o que o próprio sistema de prestação de serviços públicos ditos essenciais pode restar seriamente comprometido.
Após passar por conturbadas controvérsias,146 em boa hora, três anos após a defesa da Dissertação de Mestrado que deu origem à pre-
145 Utilizada a outro propósito, mas plenamente aplicável aqui, por CAIO TÁCITO. “O retorno do pêndulo: serviço público e empresa privada - o exemplo brasileiro'*. In Tomas de Direito Público - Estudos e pareceies. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. pp. 721-733.
146 ConQra-se, a título meramente exemplificativo a divergência entre a Primeira e a Segunda Turmas: STJ, Primeira Turma, Agravo Regimental no Agravo de Insuumento n“
Flávio Oaldino
sente obra, o STJ modificou seu entendimento através de uma decisão majoritária, passando a autorizar o corte no fornecimento de energia.147 Malgrado já tenha havido pronunciamento da Corte Especial,148 o entendimento ainda não se pode dizer pacifico no STJ,149 nem conta com a chancela do Supremo Tribunal Federal. Mas já é uma luz no final do túnel.
Esse "retorno” passa pela compreensão de que o usuário não é simplesmente inerte destinatário do serviço, possuindo responsabilidades, especificamente de participação e retribuição pecuniária. Há que se recuperar a noção de cooperação (item 14.3) como integrante da relação de consumo de serviços públicos, apontando-se para um exercício responsável dos direitos dos consumidores. Até porque, como já disse, direitos não nascem em árvores.
478911-RJ, Relator o Ministro LUIZ FUX, julgado om 05,06.2003, votação unânime (“contra ó corte"); è STJ, Segunda Turma. Recurso Especial 302620-SP, Relator o Ministro. JOÂO OTÁVIO NORONHA, julgado em 11.11.2003, votação por maioria.
147 Assim STJ, Primeira Seção, Recurso Especial 363493MG, Relator o Ministro HUMBERTO GOMES PE BARROS. julgado em 10.12.2003. votação por maioria, morecendo destaque o voto do Ministro LUIZ FUX, que considera possível o corte do fornecimento de pessoas, jurídicas, mas inconstitucional o corte no fornecimento a pessoas em estado de misera- büidade.
148 Assim em STJ, Corte Especial, SL 22, Relator o Ministro CESAR ASFOR ROCHA, acórdão, ainda não publicado. ;;?
149 Na verdade, mesmo depois do julgamento da Seção, a Primeira 1\irma decidiu pela Uév galidade do corte (17): STJ. Primeira IVirma, Medida Cautelar 3982-AC. Relator o Ministro LUIZ FUX, julgado em 17.02.2004, votação unânime (17) - O Ministro Tfeori Albino. Zavasctó, que havia votado "pelo corte" em dezembro de 2003, voltou a votar “contra' Q corte" em fevereiro de 2004 (17).
328
Capítulo XV Por uma Teoria Pragmática do Direito
1
15.1. Uma viagem ao mundo jurídico
Em uma das obras seminais da historiografia brasileira, SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA comentou e criticou a formação da cultura jurídica brasileira, afirmando que "ainda quando se punham a legiferar ou a cuidar de organização e coisas práticas, nossos homens de idéias eram, em geral, puros homens de palavras e livros; não saiam de si mesmos, de seus sonhos e imaginações. Tudo assim conspirava para a fabricação de uma realidade artificiosa e livresca, onde nossa vida verdadeira morria asfixiada” .1
Qual o sentido dessa afirmação? Por que ela ainda é tão verdadeira? Permitimo-nos aqui uma rápida reflexão acerca dos direitos imaginários e de sua relação com a realidade.
No século XIX, o genial RUDOLPH VON JHERING empreendeu uma fascinante viagem ao mundo dos conceitos jurídicos.2 Na verdade, para criticar a cultura jurídica formalista da sua época, o professor alemão redigiu um conto, narrando a sua fictícia viagem ao céu em que viveriam os conceitos jurídicos.
Em tom quase satirico, o autor descreve seu contato pessoal com os conceitos mais puros. Nesse mundo conceituai ideal, o conceito jurídico viveria completamente depurado, livre de qualquer contato com a realidade impura.3 O viajante trava contato e conversa com a enfiteuse,
c<cIcc1
c
c
í
í
í
í
HOLANDA. Sérgio Buaique de. Raizes do Brasil. 26* edição. 14» reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras. 1SS5, p. 163.Esta parcela do trabalho deve muito è ínspiradíssima formulação do gânlo Rudolph vou Jhering: VON JHERING. Rudolph. Bromas y veras en Ia ciência jurídica - rídcndo dicere vorum (trad. esp. por Túmás A. Banzhaf)- Madrid: Civitas. 1987, p. 1S7 e especialmente pp. 215 o seguintes.Merece transcrição uma das descrições do mundo jurídico: "Los conceptos no sopanan el contacto con et mundo real. Donde los conceptos han de vivir e Imperar, todo lo que per- tenezca a ese inundo debe mantenerse a grande distancia. En este mundo do los conceptos, no existe Ia vida tal como vosotros Ia concobis. Es ol reino de los pensamiontos y do los conceptos abstratos (...) con totaj indopendoncia dei mundo de Ia realidad" - VON JHERING, Bromas y veras en Ia ciência jurídica - rídcndo dicere verum c/t ., p. 218.
331
i
Flâvio Galdino
com a propriedade, com a mora e com tantos outros conceitos... A cada contato ele descobre que os conceitos jurídicos possuem essências autônomas e vidas próprias.
São conceitos que deveriam realmente residir nos céus, pois são perfeitos e recusam-se a ceder às necessidades humanas,4 sendo certo que as suas vidas prescindem completamente de qualquer valor prático.s
Essa seria a verdadeira vida da ciência jurídica, liberta do humilhante jugo das necessidades terrenas. A servidão dos conceitos à vida humana representa a morte da verdadeira ciência. Quem quiser fazer ciência do Direito jamais deve perguntar-se para que serve algum conceito!6
Ao final da viagem, o professor não obtém autorização para permanecer no céu dos conceitos, pois recusa-se a fazer uma espécie de profissão de fé jusfilosófica, na qual deveria afirmar acreditar que os conceitos jurídicos são verdades imutáveis.7
A conclusão deste trabalho demanda afinal uma brevíssima digressão crítica sobre o modo de pensar tradicional dos estudiosos do Direito. Uma nova e modesta viagem ao mundo jurídico.
A verdade é que os operadores do Direito trabalham com conceitos ideais em uma espécie de mundo paralelo: o mundo jurídico - só os iniciados podem freqüentá-lo.
De acordo com o modo de pensar tradicional, quando algo acontece na vida real, procuramos descobrir se esse fato se encaixa em alguma moldura jurídica, normativa, normalmente pré-formulada. Sem qualquer problema, nos perguntamos se uma norma, tal qual um raio, incide sobre alguma situação fática. Nesse momento, é como se os mundos se tocassem...
É normal e previsível que não haja coincidência perfeita entre esses mundos. Como visto acima (item 1.2), o Direito existe não apenas para descrever a realidade, mas também para prescrever conduta^
4 VON JHERING. Bromas y veras en Ia ciência Jurídica - rídcndo dicere veivm c/t., p. 257 (exemplificativamentc, (atando em ignominíosa submissão do conceito à utii/cas).
5 VON JHERING, Bromas y veras en Ia e.lenda jurídica - ridendo dicere vorum de., p. 219.6 VON JHERING. Bromas y veras en Ia cíencia jurídica - ridendo dicere verum c/t., p. 223:
“Esa vida en Ia que estás pensando eqüivale à muerte de Ia verdadera ciência. Es Ia servi- dumbra ds Ia ciência, do Ia esclavitud de los conceptos, que en vez de poder vivir su própria vida, son sometidos ai humillama yugo de ias necesidadci terrenas. (...) y si no guie- res amiinarte todas tus posibüidades de ingresar en este reino, no preguntes jam&s a nadie para çué sirva todo esto que ves'.
7 VON JHERING, Bromas y veras en Ia ciência juridica - ridendo dicere verum c/t., p. 262.
332
Introdução á Tfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem era Árvores
humanas, de modo a adequá-las a determinados valoies. Mas o que não se concebe é que a realidade seja simplesmente ignorada pelos conceitos jurídicos.
E o problema está em que muitos estudos jurídicos encontram-se divorciados da realidade em medidas muitas vezes insuportáveis. Com efeito, já temos advertido nossos alunos de que muitos estudos jurídicos são dotados de elevado grau de esquizofrenia;8 é a esquizofrenia jurídica.
Em vez de amoldarmos nossos conceitos à realidade concreta, procuramos fazer o caminho inverso, o que, infelizmente, nem sempre é possível. E a viagem torna-se cada vez mais difícil à medida que aumenta a distância entre os mundos jurídico e real. Alguns operadores do Direito não voltam ao mundo real...
Na imagem do jusfilósofo, substituiu-se a fórmula cartesiana penso, logo existo (cogito, ergo sum), pelo enunciado penso, logo è [cogito, ergo est),9 como se as nossas mais simples cogitações tivessem o condão de conformar a realidade.
E essa postura esquizofrênica produz um afastamento da realidade incompatível com um agente público que pretende interferir na realidade social. É importante ter em vista que o Direito não existe apenas para enunciar valores que consideramos relevantes ou dignos de serem observados. O direito existe para regular a vida das pessoas. Para tentar tornar essas vidas mais felizes. E, para alcançar essa finalidade, de quase nada adianta construir realidades artificiosas...
O que os estudiosos e operadores do Direito conseguem ao afastarem-se da realidade e produzirem alguns conceitos inúteis é fazer com que (i) outras ciências absorvam as suas funções1® e, em conseqüência,
8 Após anos usando essa expressão para criticar o pensamento jurídico tradicional, o autor descobriu que Mario Henrique Simonsen serviu-se também da imagem da esquizofrenia para referir-se a determinadas promessas jurídicas irrealizáveis: "Mas os fatos concretos não podem sei ignorados poc opções ideológicas, e qualquer tentativa neste sentido é a marcha para a esquizofrenia'* (ín SARMENTO, Mario Henrique Simonsen: textos escolhidos c/t., p. 164).
9 Novamente VON JHER1NC, Bromas y veras en Ia cíencia jurídica - ridendo dicere verum cit.. p. 232.
10 Relembre-se mais uma vez a critica aguda de Simonsen: "A Santa Inquisição, ao condenar Galileu porque ele dizia que a Itena girava em torno do Sol. não conseguiu consolidar sua idéia de que era o Sol que girava em torno da Torra. Conseguiu apenas abortai a pesquisa cientifica na Itália e transferi-la para a Inglaterra, para a Alemanha e para a Rança" (SARMENTO, Mario Henrique Simonsen: textos escolhidos cit.. p. 164)
333
Flávio Galdino
(ii) a sua relevância sócial seja constantemente diminuída. Com isso* perde-se a utilidade de um poderoso instrumento de controle e trans-- formação social. . t
Isso tem sido sistematicamente sentido. As decisões sociais rele- 'i vantes são tomadas por administradores, economistas, sociólogos etc> Os profissionais do Direito têm servido apenas para dar inevitável 2 forma jurídica às decisões e para resolver determinados conflitos, -j Muito próprio para uma ciência formalista. , ^
Um exemplo simples é indicativo disso. Nas duas últimas déca- - das, desde a redemocratização em 1985, o pais vem enfrentando pro-”f blemas sociais graves e a metodologia e a linguagem utilizadas paraV' tentar solver esses problemas são as econômicas. O combate à misé-‘ f ria em suas várias formas, à inflação e às taxas de juros elevadas w?! todos eles combinados - ocupa a agenda dos estudiosos das ciências- sociais. .‘{r-
No que se refere aos juros, por exemplo, os operadores das demateí. ciências sociais, notadamente os economistas discutem diutumamerfe te, com base em estudos concretos, medidas complexas que possaáíl determinar a queda das taxas ou pelo menos evitar que elas sejam? impulsionadas, cientes das múltiplas conseqüências intencionais (o$. não) das medidas e da manutenção das taxas elevadas, como sejamòf desenvolvimento dos setores produtivos ou elevação das taxas de desemprego etc. \\;
Irrealisticamente, os operadores do Direito pensam poder resolvei:; o mesmo problema dos juros - e todos os outros - com uma boa idéia e ; uma penada. Como se fosse possível mandar chover para cima simples-/ mente revogando a lei da gravidade.** Por isso, sua opinião não é mais.; sequer consultada acerca de juros... : j
O tratamento jurídico dos juros e de algumas questões correlatas nos últimos anos são apenas mais um exemplo de esquizofrenia jurídiv ca. Os operadores do Direito simplesmente recusam-se a compreender/ que as taxas de juros, em grande medida, dependem da facilidade ou dificuldade de recuperação do capital emprestado (rectius: mutuado) è
----------- _ ' A11 Ainda sobre a chuva, relembre-se a crítica pragmática do historiador ilustro.."Somon a
podemos falar de direitos, de forma realista, onde eles possam ser assegurados pela ação , do homem. Os agricultores podem fazer valer direitos legais ou não à irrigação, ma? nenhum deles é tolo o suficiente para garantir o direito à chuva" (HOBSBAWM, Mundos do trabalho cit., p. 418).
334
Introduç&o á Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Arvores
não de um ato de inspiração divina para intuir-se qual seria a taxa mais justa...
E qual a conseqüência pragmática disso? Nos últimos quinze anos alguns dos juristas mais eminentes e muitos dos advogados mais bem pagos do pais - saboreando o mundo jurídico - discutiram em alentados pareceres, estudos e livros a eficácia de normas jurídicas sobre juros, vários deles para sustentar, por exemplo, que as taxas de juros não poderiam ser superiores a 12% ao ano, e muitos deles conspurcando o Supremo Tttbunal Federal que entendeu pela inaplicabilidade de uma determinada norma constitucional.1
Enquanto isso, no mundo real, as pessoas sofreram para pagar as elevadas taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras.^ O máximo que as decisões judiciais conseguiram - embora supostamente dirigidas à proteção dos consumidores - foi contribuir para impulsionar a elevação das taxas de juros que pretendiam derrubar através de penadas, por conta da insegurança jurídica e econômica criadas...
Tudo isso somado a uma metodologia ultrapassada, faz com que a afirmação dos direitos seja lamentavelmente apenas um instrumento de retórica (normalmente empobrecida),14 usualmente praticada com afinco invulgar em períodos eleitorais.
Além de rever esses conceitos falsamente transparentes15 de direitos, é imprescindível compreender-se que os direitos são construídos. Consoante sedimentado neste estudo, as normas jurídicas estabe-
12 STF. Tribunal Pleno. ADI n« 4, Relator o Ministro StDNEY SANCHES. julgado em 07.03.1991, votação (no mérito) por maioria. O parágrafo terceiro do art. 192 da Constituição Federal - objeto da discussão no STF -. (oi revogado pela Emenda Constitucional 40/2003.
13 E. no final das contas, ainda temos que comemorar o insucesso das teses jurídicas, pois. caso elas tivessem prevalecido nos tribunais - único setor da vida onde a opíniáo de um operador do direito (ainda) é tomada em consideração - corríamos o severo risco de vivenciar o total colapso das instituições financeiras nacionais e a fuga em massa de capitais do pata, o que possivelmente geraria uma crise econômica sem precedentes e de conseqüências sociais imprevisíveis.
14 Conforme a critica aguda (e nitidamente excessiva) de SHUE, Basic righis cit., p. 15: “A proclamation o f a right is not the fullfilment o l a ríght anymore eJjan an airplane schedu- le is a Oight. A proclamation may or may not bo an inicial step toward the fullfilment of the rights tísted".
15 Fizemos nossas as palavras de JOSÉ EDUARDO FARIA: "É essa exigência de dialetiza- ção entre prática social e reacíonalidade formal que, entrcabrindo a necessidade de revisão de categorias e conceitos (alsamente transparentes, justifica tanto a metodologia quanto o caráter {...)“ (FARIA, Eficácia jurídica o violência simbólica cit., p. 19).
335
Flávio Galdino
lecem procedimentos para a criação dos direitos, observadas as condi- cionantes reais, sem que isso destrua a imperatividade do Direito.ie
O presente estudo pretende modestamente sugerir uma forma de fazer com que o Direito trave contato um pouco mais próximo com a realidade, a fim de que ele não seja tão esquizofrênico. Postula a aproximação entre o mundo jurídico e o mundo real através de um modo procedimental de criação dos direitos, eis que considera que os direitos são produto de construção diante de múltiplas escolhas possíveis (e da impossibilidade de atender a todas elas). Afinal de contas um pouco de pragmatismo não faz mal a ninguém.
15.2. O conceito de direito subjetivo e os custos dos direitos - em busca de um conceito pragmático de direito fundamental
Uma das decorrências do reconhecimento dos custos dos direitos é a tentativa de (re)construção pragmática da noção de direito subjetivo (em especial dos direitos públicos subjetivos). É efetivamente importante reconstruir esse conceito que é fartamente utilizado pela doutrina e pela jurisprudência para tomá-lo operacional na vida real. Cuída-se de volver os olhos e os conceitos jurídicos para a realidade.
Consoante analisado anteriormente (item 1.7), os direitos fundamentais são entendidos ora como normas (normalmente princípios) e ora como situações jurídicas subjetivas - notadamente direitos subjetivos - e estes como instrumentos de representação que determinam a aplicação de determinados regimes jurídicos.
Pode-se compreender os direitos fundamentais, então, como direitos subjetivos, representando situações valoradas positivamente pelo ordenamento jurídico - aí entendido também e principalmente o momento de aplicação do Direito - dõtãâàs de exigibilidade em face do Estado e eventualmente de outras pessoas privadas, a fim de que o Estado possa conformar a realidade ao dever-ser jurídico, tutelando pretensões, faculdades, potestades e imunidades dos individuos.
Afirmou-se, ipso facto, que se tratava de uma concepção provisória, mesmo para este estudo, aguardando-se o resultado das análises subseqüentes para aprimorá-lo. O exercício científico é também um tra
is FARIA, José Eduardo et KUN2, Rol(. Qual o futuxo dos direitos?, cit., pp. 91-93.
336
Introdução 4 Tfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Náo Nascem em Árvores
balho de aperfeiçoamento conceituai,17 de molde a tornar úteis - máxi- me em Direito - os conceitos em questão. A análise dos custos permite um efetivo aprimoramento conceituai.
Com cândida ingenuidade, os estudiosos do Direito passaram anos acreditando que muitos direitos humanos - direitos da liberdade e direitos políticos - seriam tipicamente negativos. Por vezes, falseando os passos, o vício de compreensão foi incidentalmente compartilhado por outros cientistas sociais, como historiadores19 e sociólogos.20
Ingenuidade ou opção ideológica, essa orientação tem informado os estudos e a leitura do nosso Texto Constitucional. Quem pretenda imaginar que são imediatamente passíveis de fruição por todos os brasileiros - como direitos subjetivos tradicionais - as normas previstas na Constituição Federal brasileira de 5 de outubro de 1988, haverá de verificar que a Constituição, seja permitida a expressão, é pródiga.
Nessa leitura, a prodigalidade da Constituição é evidente, notada- mente em sua redação original. Em seu texto multiplicam-se incansáveis as referências à gratuidade, seja de modo direto, seja de modo indireto, prometendo diversas vezes dispendiosas prestações públicas aos indivíduos - não raro a todos os indivíduos - independentemente de qualquer contraprestação por parte dos beneficiários (ou mesmo de outrem). Quase sempre criam-se despesas infinitas e indeterminadas sem se preocupar minimamente com qualquer previsão de receitas orçamentárias (vinculadas ou não a tais despesas).
A título meramente exemplificativo, apenas para referir o art. 52 da Carta Magna, observem-se as normas contidas nos seguintes dispositivos, art. 5°, VII (prestação de assistência religiosa); art. 5a, L (condições de permanência para as presidiárias com filhos em período de amamentação); art. 5a, XXXTV (obtenção de certidões e exercício do
17 SANTIAGO MINO, “El concepto de derechos humanos" cit., pp. 12-13: “Se afirma que la taroa filosófica fecunda pasa por una v/a intermedia constituída por la reconr.írucción racional de un concepto; ella consiste en la trans/ormación de un concepto inexacto e vago empleado en algtin âmbito por otro más preciso y exacto que pucda ser usado en la mayo- ria de Ias ocasiones en que se usa ei concepto anterior".
18 AMAKTYA SEN denuncia a ingenuidade da estrutura conceituai que fundamenta a oratória sobre os direitos humanos (SEN. Desenvolvimento como liberdade cit., p. 261).
19 Ad exemplum, HOBSBAWM. Mundos do trabalho cit-, p. 425: "Mas eles (os direitos civis e politicos) não implicavam um programa social e econômico, porque as liberdades garantidas por esses direitos eram negativas (...)".
20 Por exemplo. FAR1A/KUNZ, Qual o futuro dos direitos?, p. 113: “o mesmo acontece com os direitos sociais, cuja eficácia depende de orçamento em volume suficiente para financiar as politicas públicas necessárias à sua implementação".
337
Flávio Galdino
direito de petição); art. 5o, LXXIV (assistência jurídica integral e gratuita); art. 5q, LXXVI (gratuidade dos registros públicos de nascimento e óbito); art. 5fi, LXXVII (gratuidade das ações de habeas corpus e habeas data). Realmente, sem prejuízo das suas virtudes, dentre as suas muitas formulações líricas, só faltou prometer as estrelas.21
Mesmo o mais belo dos direitos, forjado na mais célebre teoria jurídica, pode sucumbir diante da realidade. A mais brilhante e consistente construção dogmática dos direitos humanos pode não se realizar se alguma minúcia - como por exemplo as despesas a serem geradas na tentativa de efetivação de um direito - não forem tomadas na devida consideração.22
O que existe pragmaticamente é a dispensa de contraprestação em determinadas situações, qualificadas objetiva e, principalmente, subjetivamente. Tàl dispensa não significa que o direito ou serviço sejam gratuitos, apenas significa que aquele que o utiliza não está pagando diretamente pelo direito ou serviço. Neste passo, as normas constitucionais destacam-se não pelo que elas dizem, mas pelo que elas deixam de dizer:23 a sociedade suportará os custos desses direitos. É um silêncio estridente e que diz muito...
Demais disso, análise dos modelos teóricos sobre os direitos (item 9) revelou que os direitos fundamentais geram despesas. Ibdos eles - também os direitos ditos negativos - possuem custos, isto é, na realidade, são positivos.
Deveras, o estudo empreendido revelou que a diferenciação jurídica entre direitos fundamentais positivos e negativos é artificiosa e
21 A "formulação lirica" foi tomada por empréstimo de ALEXY, ‘ Colisão e ponderação como problema fundamental da dogm&tica dos direitos fundamentais* cit., p. 8. Servimo-nos também, com pequena alteração, da imagem de CANOTILHO: 'Sucede, porém, que subjacente ao programa constitucional está toda uma filosofia do sujeito e uma teoria da sociedade cujo voluntarismo desmedido o o halismo planetário conduzirão à arrogância de fixar a própria órbita das estrelas e dos planetas'. (CANOTILHO. J. J. Gomes. 'Rever ou romper com a Constituição dirigente? Defesa de um constitucionalismo moralmente reflexivo*. Ia Cademos de Direito Constitucional e Ciência Politica IS (Revista dos Tribunais, 1996): 7-17, esp. p. 9.
22 Seja permitida nova referência a VON JHERING. Bromas y veras en la ciência jurídica - ridendo d/cera verum cit., p. 157: “Poro Ia realidad, lamentablemente. no es tan sencilla. BI más bollo de los derechos puede fracasar a causa de un mísero p/esupuesto que el teórico no estimo s/quiera digno de considoración'.
23 A oxpressão. utilizada com propósito semelhante, é de GLENDON. Rights talk cit.. pp. 77 e 101 (tho sounds o ! silence).
338
Introdução & Iteoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
motivada por encobertas razões ideológicas. Se isto é correto, pode-se afirmar que todos os direitos são positivos.
Ora, dizer que todos os direitos são positivos nos conduz à conclusão de que a positividade é um elemento comum a todos os direitos fundamentais. Se é um elemento comum a todo direito fundamental, correto incluir também esse elemento na formulação conceituai, nota- damente por se tratar de um elemento relevantíssimo, que propriamente condiciona o reconhecimento de uma situação concreta como de direito fundamental.
É possível afirmar a existência de direitos íundamentais enquanto normas, especialmente princípios, sem atenção aos seus custos. Muitas vezes, a existência de um fundamento moral, mesmo que eventualmente não previsto expressamente no Texto Constitucional, será suficiente para afirmar-se a existência de um direito fundamental. Como ocorreu, por exemplo, nas célebres Declarações de Direitos, de imenso valor moral e mesmo jurídico para a humanidade.
E tais normas de direitos fundamentais cumprem relevantes funções no ordenamento (vide item 1.1), inclusive relevante função simbólica e emancipatória, sendo importante instrumento no processo crítico de conscientização dos cidadãos e de promoção dos direitos.2'*
Mas a afirmação de direitos irrealizáveis não cumpre essa função emancipatória e sim função ideológica. Essas promessas irrealizáveis no contexto de um Estado (dito de bem-estar social) ineficiente, embora tenham a função ideológica de promover a confiança nas instituições - a chamada "lealdade das massas" -, acabam convertendo-se em fator de descrédito25 com evidente desgaste do próprio discurso dos direitos fundamentais e indefectível instabilidade das instituições democráticas. É importante levar os direitos a sério.
Assim, no sentido subjetivo, especificamente de direito subjetivo, não se admite mais a afirmação de um direito fundamental sem a necessária inclusão e séria consideração acerca dos seus custos. Neste sentido, incluindo os custos no conceito de direito fundamental, podemos falar em um conceito pragmático de direito fundamental.
24 Correto NEVES. A constituctanattzaçáo simbólica cit., pp. 91-92. Sobre a função promocional do direito (em perspectiva um pouco diversa), vide BOBBIO. DaUa struttura alia /unzíone cit.. pp. 54 e seguintes.
25 Mais uma vez. NEVES. A constitucionalização simbólica cit., p. 110 et passim.
339
Flávio Galdino
A expressão "pragmático"26 é utilizada com o escopo de designar uma especial relação do conceito em questão com a realidade que ele pretende conformar (rectius: da norma em que o conceito está inserido com a realidade que ela pretende conformar).
Com essa expressão - pragmático - não se pretende relacionar a proposta veiculada neste trabalho com os valiosos estudos semióti- cos,27 nem com qualquer pragmatismo filosófico em especial,28 cujas noções não cabe aqui analisar, embora haja necessária correlação entre o pragmatismo jurídico e o pragmatismo filosófico e também com a análise pragmática.29
Todavia, também não se pode conceber a expressão "pragmático" em sentido pejorativo ou restritivo, muito menos no sentido de excluir qualquer apreciação ética ou de imaginar uma concepção farisaica da moral ou alguma espécie de extremismo utilitarista.3°
Como já se disse, a concepção pragmática sustentada neste estudo não pode abrir mão de parâmetros éticos. Talvez este estudo esteja próximo, para utilizar a expressão importada, do pragmatismo do dia- a-dia (everyday praffmatist).31
Ocorre que, ao lado das considerações éticas, importa ter em conta as suas respectivas aplicações práticas (conseqüenciais, inclusi
26 A utilização dessa expressão foi influenciada por vários autores que a ela fizeram alusão sem extrair maiores conseqüências. Muito especial a influência de KANTOROWtCZ. The deBnition o f law cit.. p. S. e NEVES. "A interpretação jurídica no Estado Democrático de Direito* cit.. p. 365. também fala em “condicionamento pragmático".
27 Sobre a “pragmática jurídica" o seu papel, ao lado da semântica (relação entre os signos e os objetos extraligüisiticos) e da sintaxe (relação entre os próprios signos lingüísticos), nos estudos de semiótica juridica, confira-se FERRAZ Jr., Teoria da norma jurídica cic., esp. capitulo I. Sem sGrmar que a norma possui unicamente essa dimensão (op. cit., p. 5) este último autor desenvolve a sua anáUse da norma a partir do ponto de vista ligüis- tieo-pragmático (relação entre emissor e receptor da norma, centrada no principio da interação),.(ornçcendo subsldios.para uma semiótica normativa'(ò^ citVp! 12). Vide ainda WARAT, O direito e sua linguagem cit., pp. 45 e seguintes.
28 Sobre o pragmatismo filosófico, veja-se FERRATER MORA, Dicionário de Filosofia cit., p. 573 e seguintes e SHOOK, John R. Os pioneiros do pragmatismo americano (trad. bras. de The pioneering american pragmatists por Fabio M. Said). Rio de Janeiro: DP&A. 2002.
29 Sobre o tema, vida POSNER, Richaid. Law. pragmatism and democracy. Cambridge: Harvard Uníversity Press. 2003, pp. 24 e seguintes.
30 Como parece ser a definição sugerida (em 1958) pela autoridade de PERELMAN. Chatm. ‘O argumento pragmático'. In PERELMAN. Chaim. Retóricas (trad. bras. de Rhetoriques por Maria Ermantina Galvão G. Pereira). São Paulo: Martins Fbntes. 1999, pp. 11-22, esp. pp. 21-22. Tudo leva a crer que o autor estava a criticar uma concepção ultrapassada de pragmatismo, que não se confunde com o utilitarismo (POSNER. Law, Pragmatism and Democracy cit.. p. 65).
31 Na linguagem de POSNER, Law, Pragmatism and Democracy cit.. p. 49.
Introdução & Tfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Árvores
ve), adotando-se aqui a premissa de que não só o Direito mas também a Ética deve ser pensada de molde a resolver os problemas concretos das pessoas.32
No plano conceituai, isso vai significar que o valor de determinadas idéias ou conceitos dependerá da sua correlação com a realidade, falando-se apropriadamente em revisão pragmática dos métodos e conceitos jurídicos.33
Relembre-se que a norma jurídica, através de seus conceitos (item 5), conjuga os fatos reais e os valores, e será tanto mais útil quanto possa adaptar-se à realidade. A análise dos custos dos direitos fundamentais fornece uma variável capaz de aprimorar bastante a adequação das normas jurídicas à realidade e aos valores.
O conceito deve ser "pragmático" no sentido de que visa compreender as Teais condicionantes dos direitos fundamentais - na figura emprestada, uma espécie de pragmatismo iiuminado.34
No plano normativo (operacional), considerando que as normas jurídicas são estabelecidas e compreendidas fundamentalmente em sentido principiológico e atentando também para que o aplicador do Direito deve ponderá-las no momento da respectiva aplicação - a chamada ponderação ad boc35 -, convém considerar também nessa operação as possibilidades fáticas ou rea is36 e, mais do que isso, analisar os custos e benefícios de determinada medida.
32 Neste sentido, com SINGER, Ética prática c/t.. p. 10: “A segunda coisa que a ética não è: um sistema ideal de grande nobreza na teoria, mas inaproveitável na prática. O contrário dessa aGrmação está mais próximo da verdade: um juizo ético que não é bom na prática deve ressentir-se também de um defeito teórico, pois a questão fundamental dos juízos éticos é orientar a prática". ......... .,
33 - Em termos próximos (mas n5o IgiiaisjfDÜGUIT, Leon. El pragmatismo jurídico. Madrid:Francisco Beltrán. 1924, p. 63: “un concepto responde a una realidad en Ia medida en que tiono una efícacia moral y social" (v. também pp. 74-75), autor que,servia-se do pragmatismo em defesa de uma ética soüdarista. V. ainda PRADO. Economia informal e o direito no Brasil cit., p. 115: “a flexibilidade surge assim como solução para a revisão pragmática de todo o direito (...)“.
34 A expressão, referida à ciência econômica, é de COYLE, Sexo. drogas e economia - uma introdução nâo-convencional à economia do século 21 c/c.. p. 110.
35 Por todos. CANOTILHO. Direita Constitucional e Tteoria da Constituição c/t., p. 1180. Entre nós, novamente, o estudo de SARMENTO. A ponderação de interesses na Constituição cit., p. 109.
36 Dividindo a atividade fundada na proporcionalidade nas trés tradicionais subfases - necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito (vide item 1.6) -. reme- tem-se as possibilidades fáticas às duas primeiras fases, caracterizando-se a terceira co
341
Flávio Oaldino
Tal percepção conduz à consideração dos custos, os quais, prag- maticamente considerados, consistem nas mais relevantes condicio- nantes reais dos direitos iundamentais.
Sob o ponto de vista prático, essa integração otimiza a atividade jurídica, em especial a judiciária. Deste modo, antes de se afirmar que uma pessoa determinada possui um direito fundamental determinado, há que se analisar os custos desse direito e, somente diante da confirma* çáo de que há possibilidades reais de atendimento ao ainda então invocado direito, reconhecer-se tal postulação como direito fundamental.
Como se pode observar, a própria justiciabilidade de um invocado direito fundamental depende da aferição das possibilidades reais - entenda-se, orçamentárias. Mais do que isso, depende da demonstração de que os benefícios justificam tais custos37 (em vez de outros).
Além de tudo, a integração dos custos ao conceito de direito fundamental oferece a vantagem de evitarem-se soluções fictícias e insatisfatórias, como a referida proposta simplista da "exaustão orçamentária" (veja-se a crítica a este posicionamento no item 9).
Deste modo, com a integração dos custos ao conceito de direito fundamental, evita-se a ruptura do sistema toda vez que alguém supostamente tivesse direito in abstracto, mas que, in concreto, não fosse possível torná-lo efetivo por força de limitações orçamentárias,:» algo aliás, muito comum entre nós. Na expressão de autoridade, evita- se a capitulação da validade das normas constitucionais ante à factici- dade econômico social.39
mo a fase de ponderação propriamente dita, em que se cuida das possibilidades Jurídicas. Assim, ALEXY. Tfeor/a do los derochos iundamcntalcs cit., pp. 112-113. POSNER. Law, Pragmatism and Democracy cit., p. 65, refere-se aos instrumentos de reasonableness como os mais aptos a promoverem decisões pragmáticas.
37 SUNSTEIN. fíisk and reason cit, p. 107.38 Consoante expressamente reconhece BARROSO. O Direito Constitucional e a efetividade
de suas normas cit., p. 111: “O sistema jurídico 6 um sistema lógico. Uma regra que pre- ceitue um (ato que de antemão se saiba Urealizável, viola a lógica do sistema". De nossa paite. pouco importa saber se se sobe de antemão ou após verificação empírica. Não sendo realizável a situação postulada, não há que se falar em direito subjetivo.
39 Consoante averbado por CANOTILHO, "Metodologia “fuzzy" y ‘camaleonesnormativos" en la problemática actuaI de los derechos econômicos, sodales e cuiturales", p. 42: “As!, por e/emp/o. decir que ei 'derecho a toner casa’ es ei 'derocho a tener y estai en la uníversidad' sen dimensiones dei 'mínimo social* postulado por la dignidad de la persona humana y derivar ei 'derecho a ia vivenda' como un resultado de la in teipretación dei precepto constitucional garantizador de este derecho, únicamente puede tener como consecuenda la capitula- cran de la "validez' de las normas constituaonaies frente a ia (acticidad económicosociai".
342
Introdução à Tteoria dos Custos dos Diieitos - Direitos Não Nascem em Árvores
II
■í fc '1 i .i Í!
À luz das pragmáticas considerações precedentes e integrando ao conceito os custos dos direitos, pode-se tentar, ainda e sempre provisoriamente -tudo que é histórico é também provisório compreender os direitos fundamentais como direitos subjetivos, representando situações valoradas positivamente pelo ordenamento jurídico, dotadas de exigibilidade em face do Estado, consoante as limitações reais, notada- mente as econômicas.
Assim, talvez se possa conformar a realidade ao dever-ser jurídico, tutelando pretensões, faculdades, potestades e imunidades fundamentais das pessoas.
Deste modo, só se reconhecerá um aiegado direito subjetivo como sendo um direito subjetivo fundamental40 quando, dentre outras condições, houver possibilidade real de tomá-lo efetivo, ou seja, quando a análise dos respectivos custos e benefícios autorizar o reconhecimento do direito em questão.
E absolutamente inadequado e mesmo contrário às premissas adotadas neste estudo, tentar arrolar aqui abstratamente os direitos fundamentais que as pessoas podem exercer na sociedade brasileira. Agora somente seria possível arrolar as normas de direitos fundamentais - que constituem a base normativa de construção dos direitos concretos, conforme a metodologia estudada anteriormente.
A existência de um determinado direito fundamental, contudo, depende também e principalmente da verificação, dentre muitas outras condicionantes fáticas e jurídicas, das possibilidades financeiras para realizá-lo em um determinado momento e da justificação em termos de custo-beneficio.
Na verdade, a realização de direitos impõe estratégias sociais pros- pectivas, complexas, mutantes41 como a realidade na qual os direitos devem ser realizados.
No mais das vezes, é imprescindível a análise sistêmica e não individualizada dos direitos, pois, como visto, no plano da escassez, a alocação justa de direitos deve colocar na balança as trágicas escolhas possíveis e não apenas as (eventualmente pródigas) opções axiológi- cas do legislador eventual ou do administrador da hora.42
f
sc
c
c
ccc
íí
í
40
4142
Como se pode perceber, o custo influi também decisivamente sobre o direito subjetivo (em sua formulação iusiundamental), pois só se reconhece direito subjetivo onde houver disponibilidade orçamentária.HOBSBAWM, Mundos do trabalho cit., p. 433.Conforme JOSÉ EDUARDO FARIA: "(...) o que faz com que as decisões governamentais não sejam apenas um problema de prefer&ncia valorativa e escolha entre alternativas.
343€ '
€
Flávio Galdino
G as escolhas devem atender a critérios democráticos. A ciência dos custos dos direitos, isto é, a informação minimamente precisa aos cidadãos acerca das escolhas possíveis, torna mais legítimo o processo democrático, pois assegura a geração de escolhas públicas mais bem fundamentadas, refletidas43 e responsáveis.44
Mais uma vez ratifica-se a opção por uma teoria pragmática do Direito. Salientem-se apenas duas razões.
Em primeiro lugar, a análise pragmática, por possuir orientação empírica, isto é, de verificação das condições e dos efeitos concretos das opções - custos e benefícios favorece soluções sistêmicas,45 quase sempre ignoradas pelos métodos jurídicos tradicionais, que são voltados para a suposta “solução do caso concreto".
Especificamente no terreno do direito público, que usualmente normatiza as escolhas públicas, o pragmatismo jurídico, servindo-se de instrumental de teoria econômica (vide item 12) mostra-se apto a compreender a significação econômica das medidas jurídicas.46
Além disso, ao exigir-se atuação eficiente dos agentes públicos, em geral (juizes inclusive) com a criação de um sistema de standards para o controle do comportamento administrativo, estimula-se a análise pragmática dos direitos.
Como já se disse (item 12), do ponto de vista da eficiência, essa ação é preponderamente prospectiva {forward-looking), ao contrário da metodologia jurídica tradicional, que trabalha com a aplicação do direito aos fatos passados [backward-looking).^ Isso porque o adepto do
mas também de escassez" (FARIA. Direito e economia na democratização brasileira c/t., p. 157).
43 Conforme anotado anteriormente por SUNSTEIN e HOLMES - item 10. SUNSTEIN revistou o tema: SUNSTEIN, Risk and reason cit.. pp. 6. 7: “Fbr democracy to work well, peo- ple must be reOective abouc what. exactly, shouJd be done", p. 35 et pasrim.Oe acorçio, SEN. Amartya. Desenvolvimento como liberdade, pp. 180-181 e 326. No mesnvo sentido, na literatura juridica, GOMES. Contributo para o estudo das operações materiais da adm^istração pública c/t., p. 254: “Se, em virtude das limitações finan :cims, não se pode afirmar que o sol quando nasce é para todos, devo o legislador pelo menos ter a preocupação de estabelecer critérios de atribuição e negação de prestações, e deve ser a lei a fixar, genericamente, esses critérios".
44 GLENDON, Rights talk cit., pp. 173 e 179.45 POSNER. Law. pragmatism and democracy cit., pp. 59 e 75.46 Vide FARBER, Daniel A. et FRICKLEY, Philip. Law and public choice - A criticai introduc-
tion. Chicago: The University of Chicago Press. 1991, p. 117: "Legal pragmatism. rather lhan grand theory, is the appropriate vehicle through which the lessons of public choice influence public law". E. ainda. POSNER, Law. pragmatism and democracy cit., p. 78.
47 Novamente POSNER, Law, pragmatism and democracy cit., p. 71: "Legal pragmatism is forward-looking. Fbrmalism is backward-looldng (...)’ .
344
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
pragmatismo jurídico há de estar preocupado com as conseqüências práticas futuras (ainda que imediatamente futuras) das suas decisões e medidas.
Embora muitos critérios jurídicos - critérios para decisões em caso de conflito, estabelecidos através de normas - sejam pré-formulados, e embora as soluções jurídicas devam guardar coerência, deve-se ter em consideração muito atenta os efeitos práticos que a decisão gera não só sobre as pessoas envolvidas nô conflito, como também sobre o restante da sociedade, ratificando-se a opção por análises custo-beneficio também na seara jurídica. E isso não afeta a legitimidade das decisões, muito pelo contrário.
A legitimação democrática das decisões não provém unicamente da conformidade a parâmetros preestabelecidos (da observância da legalidade, por exemplo), mas também dos seus efeitos práticos sobre as pessoas. E o Direito, como instrumento democrático, deve estar preocupado não só em afirmar direitos ou valores, mas em promover o bem-estar das pessoas concretas.
Neste sentido, reconhecer um direito concretamente a uma pessoa - especialmente em termos de custos e benefícios - pode significar negar esse mesmo direito (concretamente) e talvez vários outros a muitas pessoas que possivelmente sequer são identificadas em um dado litígio. E uma análise pragmática não pode descurar desses efeitos prospectivos e concretos. Não pode esquecer a realidade...
15.3. A título de conclusão: os direitos não nascem em árvores
O presente estudo pretendeu criticar o profundo e esquizofrênico abismo existente entre o Direito, os direitos e a realidade. Entre lu2es e sombras, criticou-se o senso comum dos estudiosos e operadores do Direito que insistem em ignorar as condições reais e afirmar conceitos inadequados e direitos irrealizáveis. Mas, acima de tudo, o estudo tem a esperança de modestamente colaborar com o debate, a fim de aprimorar os direitos e torná-los efetivos. Seguindo um valioso conselho, temos a esperança como razão.
Assim, tencionava-se demonstrar que o senso comum formado no pensamento jurídico brasileiro, aqui apresentado em diversos modelos teóricos, em tomo dos direitos fundamentais funda-se em premissa cia-
48 SUNSTEIN. Bisk and reason cit.. p. 8.
345
Flávio Oaldino
ramente equivocada, qual seja, de que existem direitos fundamentais cuja tutela por parte do Estado independe de qualquer ação positiva, e portanto, de qualquer custo financeiro.
Após a apresentação do modelo teórico dos custos dos direitos, que este trabalho considera representar o momento de superação daquele incorreto senso comum, a tese de que há direitos negativos parece padecer de equívoco evidente, e custa a crer não tivesse sido percebido antes. Não há que se preocupar com isso, pois consoante ensinou um grande jurista em sua sabedoria, às vezes as coisas mais difíceis de serem vistas são precisamente aquelas que estão bem diante dos nossos olhos.
E o que se põe diante dos olhos com clareza capaz de ofuscar é a certeza de que todos os direitos subjetivos públicos são positivos. As prestações necessárias à efetivação de tais direitos têm custos e, como tal, são sempre positivas.
Não há falar, portanto, em direitos fundamentais negativos ou, o que é ainda pior, em direitos fundamentais "gratuitos".
É preciso observar o óbvio enfaticamente: o "gratuito” , em termos de prestações públicas, não existe!! Nenhuma prestação pública é gratuita)!! There is no free lunch.
Essa afirmação auto-evidente para um estudante de economia, talvez seja inicialmente malcompreendida até mesmo pelos mais preparados estudiosos e operadores do Direito, no sentido de que poderia contrariar a gramática tradicional dos direitos fundamentais que em boa hora se vem desenvolvendo entre nós brasileiros. Tbdavia, o objetivo é justamente o oposto: maximizar os direitos fundamentais - para todos e não apenas para alguns poucos.
Com efeito, a análise empreendida permite observar que o modelo distributivo brasileiro encontra-se fundado em ingênua premissa enganosa, que serve precipuamente a fins ideológicos. A constatação de que inexistem direitos negativos autoriza a afirmação de que mantê- los fora da balança, ou melhor do balanço dos custos dos direitos, constitui medida ineficiente, injusta e antidemocrática.
O Direito pode ser o caminho para conjugar soluções moralmente justificadas e economicamente eficientes. O paradigma da eficiência, iluminado pela Ética, impõe-se então como meio de constituir e informar as escolhas públicas refletidas, responsáveis, moralmente justificadas e coerentes dos cidadãos, maximizando as virtudes do processo democrático. Para isso, sustenta-se uma teoria pragmática do Direito e
€
dos direitos, que promova a adequada análise de cústo-beneficio das Cmedidas jurídicas, sempre que possível, antes de adotá-las. ^
Levar os direitos a sério é - também e dentre outras coisas - incluir pragmaticamente no rol das trágicas escolhas que são feitas Ctodos os dias pelas pessoas, os custos dos direitos, pois, como já se ^disse... direitos não nascem em árvores.
f
Introdução à teo r ia d o s Custos dos Direitos - Direitos N&o Nascem em Áivoies *
ccc
cccc
ے
i
cci
I
347
Referências Bibliográficas
ADOMEIT, Klaus. Introducción a la teoria dei derecho: lógica normativa, teoria dei método, politologia jurídica. Madrid: Civitas, 1984.
AGUILLAR, Fernando Herren. Controle social de serviços públicos. São Paulo: Max Limonad, 1999.
ALEXY, Robert. "Direitos fundamentais no Estado constitucional democrático” . In: Revista de Direito Administrativo, v. 217, pp. 55-66.
_________. Tèoría de los derechos fundamentales (trad. espanhola deTheorie der Grundrechte, por Ernesto Garzón Valdés). Madrid: Centro de Estúdios Constitucionales, 1997.
______ • “Colisão e ponderação como problema fundamental da dogmática dos direitos fundamentais", mimeo. - palestra proferida na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, em 11.12.1998, sem indicação do título original ou do tradutor.
_________. “On the structure of legal principies". In: Ratio luris, v. 13, pp.294-304, 2000.
ALVES, José Carlos Moreira. A parte geral do projeto de Código Civil Brasileiro - subsídios históricos para o novo Código Civil Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2003.
AMARAL, FYancisco. Direito Civil - Introdução. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.
AMARAL, Gustavo. Direito, escassez e escolha - em busca de critérios jurídicos para lidar com a escassez de recursos e as decisões trágicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
ANDRADE, Manuel A. Domingues. Tfeoría.gerai da relação jurídica, vol.1. reimp. Coimbra: Almedína, 1997.
ANDRADE, Vçra Regina Pereira de. Cidadania: do Direito aos direitos humanos. São Paulo: Editora Acadêmica, 1993.
ANON ROIG, Maria José. “Fundamentación de los derechos humanos y necesidades básicas". In: BALLESTEROS, Jesús. Derechos Humanos - concepto, fundamentos, sujetos. Madrid: Tecnos. 1992.
ANTUNES, Paulo de Bessa. Uma nova introdução ao direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1992.
ARA PINILLA, Ignacio. Las transformaciones de los derechos humanos. reimp. Madrid: Tecnos, 1994.
349
Flàvio Goldino
ARAGÃO, Alexandre dos Santos. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2002.
ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém - um relato sobre a banalidade do mal (trad. bras. de Eichmann in Jerusalem - a report on the banaüty of evil, por José Rubens Siqueira). 2. reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
ARRUDA ALVIM, José Manuel. Tratado de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: RT, 1990.
ASSIS, Araken de. Manual do processo de execução. 5. ed. 2. tir. São Paulo: RT. 1998.
_________. Resolução do contrato por inadimplemento. 3. ed. São Paulo:RT, 1999.
ATIENZA, Manuel. “Sobre los limites de la libertad de expressión". In: Tiras la justicia - una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico. 3. reimp. Barcelona: Ariel, 1997.
ÁVILA, Humberto. “Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa". In: AAW . Anais do II Congresso Brasileiro de Direito do Estado. Rio de Janeiro: Forense, 2002 (no prelo, mimeo gentilmente cedido pelo autor).
_________. Tfeoria dos princípios - da definição à aplicação dos principiosjurídicos. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003.
_________. “A distinção entre princípios e regras e a redefinição do deverde proporcionalidade". In: Revista da Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP. voL 1, pp. 27-54, 1999.
AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de família. 4. ed. São Paulo: RT, 1999.AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico - existência, valida
de e eficácia. São Paulo: Saraiva, 1974.AZEVEDO, Eurico de Andrade et ALENCAR, Maria Lúcia Massei de.
Concessão de serviços públicos. São Paulo: Malheiros, 1998.AZEVEDO, Plauto Faraco. Direito, justiça social e neoliberalismo. São
Paulo: RT, 1999.BACHA, Edmar. Política econômica e distribuição de renda. Rio de
Janeiro: Paz e Tterra, 1978.BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. “Proteção jurisdicional dos inte
resses legítimos no direito brasileiro”. In: Revista de Direito Administrativo , v. 176, pp. 9-14.
_________. Curso de Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: Malheiros,2001.
BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Principios gerais de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1969.
350
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Direito aplicado - acóidãos e votos.Rio de Janeiro: Forense, 1987.
________ . “Regras de experiência e conceitos juridicamente indeterminados". In: Tbmas de Direito Processual - Segunda Série. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988.
________ . “O Poder Judiciário e a efetividade da nova Constituição". In:fíevista Fbrense, vol. 304 (1988).
BARBOSA, Rui. "República: teoria e prática” . In: ROCHA, Hildon (org.). Thxtos doutrinários sobre direitos humanos e políticos consagrados na Primeira Constituição Republicana. Petrópolis: Editora Vozes/Câmara dos Deputados, 1978.
BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
________ . “O mínimo existencial e algumas fundamentações: JohnRawls, Michael Walzer e Robert A lexy” (mi/neo, gentilmente cedido ao autor).
BARRETO, Vicente. "O conceito moderno de cidadania” . In: Revista de Direito Administrativo, v. 192 (1993), pp. 29-37.
BARROS, Ricardo Paes de; HENRIQUES, Ricardo et MENDONÇA, Rosane. “A estabilidade inaceitável: desigualdade e pobreza no Brasil” . Rio de Janeiro: IPEA, 2001, 24p. - disponível em www.ipea.gov.br, acesso em outubro de 2003.
BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. 2. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2000.
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva. 1996.
_________. "Doze anos da Constituição Brasileira de 1988". In: 7temas deDireito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar. 2000.
_________. “Eficácia e efetividade do direito à liberdade” , /n: Arquivosde Direitos Humanos 2, Rio de Janeiro: Renovar, pp. 81-99, 2000.
_____. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. 3. ed.Rio de Janeiro: Renovar, 1996..
BELADIEZ ROJO, Margarita. Los principios jurídicos. Madrid: Tecnos, 1997.
BENJAMIN, Antonio Herman. Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do Anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 6. ed, 1999.
f
f
cc
ícc
€
í
c
i
351
Flávio Galdino
BERGEL, Jean-Louis. Teoria Geral do Direito (trad. bras. de Théoríe Génerale du Droit, por Maria Ermantina Galvão). São Paulo: Martins Fbntes, 2001.
BERLIN, Isaiah. Quatro ensaios sobre a liberdade (trad. bras. de Four essays on liberty, por Wamberto Hudson Ferreira). Brasília: Ed. UnB, 1981.
BEVILAQUA, Clóvis. "Direito subjetivo” . In: Revista de Critica Judiciária, vol. IX (6) (1929), pp. 409-418.
BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico - lições de filosofia do Direito (trad. bras. e notas por Márcio Pugliese, Edson Bini e Carlos Rodrigues, sem indicação do título original) São Paulo: ícone Editora, 1995.
________ . Dalla struttura alia funzione - nuovi studi di teoria dei diritto.Milano: Edizioni di Comunità. 1977.
________ . 7feoria da norma jurídica (trad. bras. de 7feor/a delia normagiuridica, por Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti). São Paulo: Edipro. 2001.
________ . Verbetes “ATorma giuridica"; “Sanzione"; “N om e seconda-rie". In: BOBBIO, Norberto. Contributi ad un dizionario giuridico. Torino: G. Giappichelli editore, 1994.
________ . A Era dos Direitos (trad. bras. de LEtà dei Diritti, por CarlosNelson Coutinho). Rio de Janeiro: Campus, 1992.
BÕCKENFÕRDE, Ernst-Wolfgang. Escritos sobre derechos fundamenta- ies (sem indicação do título original; trad. esp. por Juan Luiz Requejo Pagés e Ignacio Villaverde Menéndez). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1993.
BONALDO, Hrederico. Consistência teórica do direito subjetivo de propriedade. Dissertação de Mestrado apresentada na Faculdade de Direito da UERJ. Rio de Janeiro. 2002.
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo;Malheiros, 1996._____ . Do Estado Liberal ao Estado Social. 6. ed.São Pauló: Malheiros, 1996.
BONELLI, Régis e RAMOS, Laura. "Distribuição de renda no Brasil: avaliação das tendências de longo prazo e mudanças na desigualdade desde meados dos anos 70”. In: Revista de Economia Política, v. 50 (1993), pp. 76-97.
BORGES, José Souto Maior. Obrigação Tributária (uma introdução metodológica) 2° edição. São Paulo: Malheiros. 1999.
BORNHEIM, Gerd. “O sujeito e a norma". In: NOVAES, Adauto (org.), Ética. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
352
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Árvores
BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. “Cidadania e res publica: a emergência dos direitos republicanos". In: Revista de Direito Administrativo, v. 208 (1997), pp. 147-181.
BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas.São Paulo: Saraiva, 2002.
BUENO, Vera Scarpinella. “As leis do procedimento administrativo: uma leitura operacional do princípio da eficiência” . In: SUND- FELD, Carlos Ari et MUNOZ, Guillermo Andrés (coord.). As leis de processo administrativo. São Paulo: Malheiros, 2000.
CALABRESI, Guido et BOBB1T, Philip. Tragic Choices - The conflicts society confronts in the allocation of tragically scarce resources. New York/London: W. W. Norton & Company, 1978.
CALMON, Eliana. “As gerações dos direitos e as novas tendências". In: Revista de Direito do Consumidor, v. 39, pp. 41-48.
CÂMARA, Alexandre Freitas. “O objeto da cognição no processo civil” . In: Escritos de direito processual. Rio de Janeiro: Lumen Juris,2001.
CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do Direito (trad. port. de Systemdenken und Systembegríff in der Jurisprudez, por A. Menezes Cordeiro). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989.
CANNADA-BARTOLI, Eugênio. Verbete “Interesse (dir. amm.)”. In: Enciclopédia dei Diritto, v. 12, pp. 1-28.
CANOTILHO, J. J. Gomes. "Rever ou romper com a Constituição dirigente? Defesa de um constitucionalismo moralmente reflexivo” . In: Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, v. 15, pp. 7-17, Revista dos TYibunais, 1996.
_________. Gomes. Direito Constituc/onai e teoria da Constituição. 3. ed.Coimbra: Almedina, 1999. . .r .. *— ,---------
_________. “Metodoiog/a ‘fuzzy’ y 'camaleones normativos’ en la problemática actual de los derechos econômicos, sociales e culturoles”. In: Derechos y Libertades, v. 6, pp. 35-49,1998.
CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Access to justice, vol. I, bookI — A Wbrld survey, Part One - General Report. Milano: Giuffrè, 1978.
________. Acesso à justiça, («ad. bras. por Ellen Gracie Northfleet).Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1991.
CARDOSO, ffernando Henrique. Mãos á obra. Brasil - Proposta de Governo. Brasília. Sem ed., 1994.
353
Flávío Galdkio
CARNELUTTI, Francesco. Thoría Geral do Direito. São Paulo: Lejus,1999.
CARRIÓ, Genaro R.. Notas sobre derecho y lenguaje. 4. ed. Buenos Aires: Abledo Perrot, 1994.
_________. Princípios jurídicos y positivismo jurídico. Buenos Aires:Abledo Perrot, 1970.
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil - o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
CASTRO JÚNIOR, Osvaldo Agripino. 7feoria e prática do direito comparado e desenvolvimento: Estados Unidos X Brasil. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2002.
CAVALCANTI FILHO, Theóphilo. Tboría do Direito. São Paulo: José Bushatsky Editor, 1976.
CAVALCANTI, Themístocles Brandão. Princípios Gerais de Direito Público. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1966.
CAZZANIGA, Gláucia Aparecida Ferraroli. "Responsabilidade dos órgãos públicos no Código de Defesa do Consumidor". In: Revista de Direito do Consumidor, v. 11, pp. 144-160.
CHARLES TAYLOR, "Atonusm". In: AVINERI, Shlomo et DE-SHALIT, Avner (orgs.), Communitarianism and individualism. Great Britain: Oxford Univeisity Press, 1996, pp. 29-50.
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 9. ed. São Paulo: Editora Ática, 1997.
CHUERI, Vera Karam. Filosofia do Direito e modernidade - Dworkin e a possibilidade de um discurso instituinte de direitos. Curitiba: JM Editora, 1995.
CITTADINO, Giselle. Pluralismo, direito e justiça distributiva - elementos da filosofia constitucional contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999.
CLÈVE, Clémerson Merlin. “Sobre os direitos do homem” . In: lèmasde Direito Constitucional. São Paulo: Editora Acadêmica, 1993.
COELHO, Fábio Ulhoa. "A análise econômica do Direito” . In: Direito - Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC-SP, vol.2 (1995), pp. 155-170. São Paulo: Max Limonad, 1995.
COING, Helmut. “Signification de la notion de droit subjectif'. In: Archives de Philosophie du Droit. Tome IX - Le droit subjectif en question. Paris: Sirey, 1964.
________ . Elementos fundamentais da filosofia do direito (trad. bras. deGrundzüge der Rechtsphilosophie, por Elisete Antoniuk). Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002.
354
Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos N&o Nascem em Árvores
COLE, Charles. "Precedente judicial". In: Revista de Processo, v. 92, pp. 71-85.
COMANDUCCI, Paolo et GUASTINI, Ricardo. Analisi e diritto - 1995: richerche di giurisprudenza analítica. Tortno: G.Giappichelli Editore, 1995.
COMPARATO, Fabio Konder. “A experiência totalitária do século XX: lições para o futuro". In: NOVAES, Adauto. O avesso da liberdade. São Paulo: Companhia das letras, 2002.
_________. "Natureza do prazo extintivo da ação de nulidade do registrode marcas”. In Revista de Direito Mercantil n. 77 (1990): pp. 57-64.
________ . A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo:Saraiva, 1999.
COMPORT1, Mario, “fbnnaijsmo e realismo in tema di diritto soggetti- vo” . In: Rivista di Diritto Civile, v. XVI, pp. 435-482, Padova: CEDAM, 1970.
COSTA JÚNIOR, Olímpio. A re/ação jurídica obrigacional: situação, relação e obrigação em direito. São Paulo: Saraiva, 1994.
COSTA, Pietro. "A proposito dell’idea moderna di cittadinanza: un itinerário illuministico". In: De la ilustración al liberalismo - Symposium en honor al Profesor Paolo Grossi. Madrid: Centro de Estúdios Constitucionales, 1995.
COUTO E SILVA, Clóvis. A obrigação como processo. São Paulo: José Bushatsky, 1976.
COYLE, Diana. Sexo, drogas e economia - uma introdução não-conven- cional à economia do século 21 (trad. bras. de Sex, drugs & econo- mics. por Melissa Kassner). São Paulo: Futura. 2003.
CRETELLA JR., José. "As categorias jurídicas e o direito público". In: Revista dos Tiibunais, São Paulo, v. 375, pp. 7-11.
________ . “Reflexos do direito civil no direito administrativo". In:Revista de Direito Civil, v. 2, pp. 117-125.
_________. "Esquemas privatísticos no direito administrativo". In:Revista de Informação Legislativa, v. 96, pp. 253-262.
________ . Filosofia do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense,1999.
CRISAFULLI, Vezio. La costituzione e le sue disposizioni di prinzipio. Milano: Giuffrè, 1952.
CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. O direito à diferença. Belo Horizonte: Del Rey. 2003.
CRUZ E TUCCI, José Rogério. Tampo e processo. São Paulo: RT, 1997.
3S5
Flávio Galdino
CRUZ PARCERO, Juan A. “Derechos morales: concepto y relevancia”. In: Isonomia, 2001, v. 15.
DABIN, Jean. El derecho subjetivo (trad. esp. de Le droit subjectif por FVancisco Javier Osset). Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955.
DE GENNARO, Antonio. Introduzione alia storia dei pensiero giuridico. Torino: G.Giappichelli Editore, 1979.
DE SOTO, Hernando. The Other Path - the economic answer to terro- rism. New York: Basic Books. 2002.
DE VITA, Álvaro. A justiça igualitária e seus críticos. São Paulo: Editora UNESR 2000.
DEL VECCHIO, Giorgio. “Direito e Economia". In: Direito, Estado e Filosofia (trad. de A. Rodrigues Queiró, sem indicação do título original). Rio de Janeiro: Livraria Editora Politécnica Ltda., 1952.
DENARI, Zelmo. Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do Anteprojeto. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999.
DERANI, Cristiane. Privatização e serviços públicos. São Paulo: Max Limonad, 2002.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo.10. ed. São Paulo: Atlas, 1998.
________ . Do Direito Privado na Administração Pública. São Paulo:Atlas, 1989.
DINAMARCO, Cândido Rangel. "Tutela jurisdicional". In: DINAMAR- CO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno, v. II. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
________ . Instituições de Direito Processual Civil, vol. I. São Paulo:Malheiros, 2001.
. “O conceito de mérito em processo civil". In: Fundamentos do processo civil moderno, v. I. 3. ed. São Paulò: Malheiros, 2000.
DINIZ, Maria Helena. Conflito de normas. São Paulo: Saraiva, 1987.DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado - Parte geral. 4. ed. Rio
de Janeiro: Renovar, 1996.DONAHUE, John. Privatização - fins públicos, meios privados (tradu
ção brasileira de The prívatization decision (public ends, private means), por José Carlos Teixeria Rocha). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1992.
DREIER, Ralf. “Derecho y moral”. In: GARZÓN VALDÉS, Emesto (comp.). Derecho y filosofia. Barcelona: Editorial Alfa, 1985.
356
Introdução à Ifeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
DUGUIT, Leon. El pragmatismo jurídico. Madrid: FVancisco Beltrán,1924.
________ . Las transformaciones generales dei derecho privado desde elCódigo de Napoleón (sem indicação do titulo original, trad. espanhola por Carlos G. Posada). 2. ed. Madrid: FYancisco Beltran. Sem indicação de data.
DUMONT, Louis. O individualismo - uma perspectiva antropológica da ideologia moderna (trad. bras. de Essais sur rindividualisme - Une perspective antropologique sur 1’idéologie moderne, por Álvaro Cabral). Rio de Janeiro: Rocco, 2000.
DWORKIN, Ronald. "Os juizes políticos e o Estado de Direito” , /n: Uma questão de princípio (trad. bras. de A matter of principie, por Luis Carlos Borges). São Paulo: Martins Fontes, 2000.
_________. El dominio de la vida - Una discusión acerca dei aborto, laeutanasiayla libertad individual (trad. esp. de Life's dominion, por Ricardo Caracciolo). Barcelona: Ariel, 1994.
_________. Taking rights seríously. Cambridge: Harvard UniversityPress, 1977.
_________. “A riqueza é um valor?". ín; Uma questão de principio (trad.bras. de A matter of principie, por Luis Carlos Borges). São Paulo: Martins Fontes, 2000.
_____ . O império do Direito (trad. bras. de Law's Empire, por JefersonLuiz Camargo). São Paulo: Martins Fontes, 1999.
ELSTER, Jon. Peças e engrenagens das ciências sociais (trad. bras. de Nuts and bolts for the social sciences, por Antonio TVânsito). Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994.
ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico (trad. port. de Einführung in das Juristischen Denken, por J. Baptista Machado).
. • . . 6* ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenldan,. 197.7. j
' ÈSPÀDA, João Carlos. Direitos sociais da cidadania. São Paulo: Massao Ohno Editor, 1999.
ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais. São Paulo: RT, 1999.
FACHIN, Luiz Edson. 7feoria crítica do direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.
_________. Estabelecimento da filiação e paternidade presumida. PortoAlegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1992.
_________. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro:Renovar, 2001.
357
Flávio Galdino
FALCÃO, Joaquim de Arruda. “Acesso à justiça: diagnóstico e tratamento". In: Associação dos Magistrados Brasileiros (oig.). Justiça: promessa e realidade. Rio de Janeiro: Nova Ronteira, 1996.
FALK, Ze'ev W. O Direito Tadmúdico. São Paulo: Editora Perspectiva,1988.
FARIA, Anacleto de Oliveira. Do princípio da igualdade jurídica. São Paulo: RT/EDUSí> 1973.
FARIA, Edilson Pereira de. Colisão de direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem versus a liberdade de expressão e informação. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2000.
FARIA, Guiomar T. Estrella. Interpretação econômica do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1994.
FARIA, José Eduardo et KUNZ, Rolf. Qual o futuro dos direitos? São Paulo: Max Limonad, 2002.
FARIA, José Eduardo. O Direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros. 2000.
________ . Eficácia jurídica e violência simbólica. Tese apresentada àFaculdade de Direito da USP São Paulo, 1984.
_________. Direito e economia na democratização brasileira. São Paulo:Malheiros, 1993.
FASSÒ, Guido. "Riflessioni logico-storiche su diritto soggettivo e diritto oggetivo". In Bivista Drimestrale di Diritto e Procedura Civile, Anno XXVI, Milano: Giuffrè, pp. 373-393, 1972.
_________. Verbete "Jusnaturalismo". In: BOBBIO, Norberto et alii.Dicionário de Política, vol. 1 (trad. bras. do Dizionário di Política por João Ferreira e outros). 3. ed. Brasília: Ed. UnB, 1991, pp. 655-660.
FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias - la ley dei más débil (compilação e trad. espanhola por Perfecto Andrés Ibánez e Andrea Greppi). Madrid: Editorial lYotta. 2001.
FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Normas constitucionais progra- máticas. São Paulo: RT, 2001.
FERRATER MORA, José. Dicionário de Filosofia (trad bras. de Diccionario de Filosofia - versión abreviada, por Roberto Leal Fferreira e Álvaro Cabral). São Paulo: Martins Fontes, 1998.
FERRAZ FILHO, Raul Luiz e MORAES, Maria do Socorro Patello. Energia Elétrica - Suspensão do Fornecimento. São Paulo: LTV.2002.
FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1994.
358
Introdução à Itooria doa Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Átvores
"Agências reguladoras: legalidade e constitucionalidade"
- [
1 « f
I
' i
r.t
1
j l
j
I
I I
Revista Tributária e de finanças Públicas, v. 35, pp. 143-158,2000.FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais.
2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.FERRER CORREIA, A. Conflitos de leis. Separata do Boletim do
Ministério da Justiça, n. 136, Lisboa, 1964.FIGUEIREDO JR., César Crissiúma. A liberdade no Estado contemporâ
neo. São Paulo: Saraiva, 1979.FIGUEIREDO, Lucia Valle. Curso de Direito Administrativo. 4. ed. São
Paulo: Malheiros, 2000.FINNIS, John M.. Legge naturale e diritti naturali (trad. italiana de
Natural Law and natural rights, por Fulvio di Blasi, sob a supervisão de Rancesco Viola). Tbrino: G.Giappichelli Editore, 1996.
FONTES, André Ricardo Cruz. A pretensão como situação jurídica subjetiva. Belo Horizonte: Del Rey. 2002.
FORNACIARI JR., Clito. “Dos conceitos jurídicos". In: Revista de Informação Legislativa, v. 56 (1977), pp. 139-150.
FRAGOSO, Heleno Cláudiò. Tkrrorismo e criminalidade política. Tese de Concurso para Professor Titular de Direito Penal da Faculdade de Direito da UERJ. Rio de Janeiro. S.d.
FRANCO MONTORO, André. Introdução à ciência do direito. 23. ed. São Paulo: RT, 1995.
FREDIANI, Yone. Greve nos serviços essenciais à luz da Constituição Federal de 1988. São Paulo: LTfc, 2001.
FREITAS, Juarez. "Da necessária reclassificação dos bens públicos’’. In: Estudos de Direito Administrativo. 2. ed. São Paulo: Malheiros,1997.
FREITAS, Juarez. “Princípios fundamentais do direito administrativo brasileiro”. In: O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999.
_________. “O Estado essencial e o regime de concessões e permissõesde serviços públicos". In: Estudos de Direito Administrativo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1997.
FROSINI, Vittorio. “II soggetto dei diritto como situazione giuridica”. In: Rivista di Diritto Civile, Anno XV (1969), pp. 227-242.
________ . Verbete “Diritto Soggettivo". In: Novíssimo Digesto Italiano.FULLER, Lon L. La moral dei derecho (trad. mex. de The moraüty of
Law, por Francisco Navarro). México: Editorial F. TYillas, 1967.FUX, Luiz. 7btela de segurança e tutela da evidência: fundamentos da
tutela antecipada. São Paulo: Saraiva, 1996.
cc
cccc
c
íc€
í
í
i
3S9
Flávio Galdino
GABARDO, Emerson. Principio constitucional da eficiência administrativa. São Paulo: Dialética, 2002.
GALBRA1TH, John Kenneth. O pensamento econômico em perspectiva - uma história crítica (trad. bras. de Economics in Perspective - a criticai history, por Carlos Malferrari), São Paulo: Pioneira/EDUSP,1989.
GALDINO, Flavio. "A Ordem dos Advogados do Brasil na reforma do ensino jurídico” . In: Ensino Jurídico OAB -170 anos de cursos jurídicos no Brasil. Brasília: Conselho Federal da OAB, 1997.
_________. "O custo dos direitos". In: TORRES, Ricardo Lobo.Legitimação dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
________ . “O novo art. 1211 do CPC: a prioridade de processamentoconcedida ao idoso e a celeridade processual". In; Arquivos de Direitos Humanos. Rio de Janeiro, vol. 4, pp. 524-576, 2002.
________ . “Sobre o minimalismo judicial de CASS SUNSTEIN". In:Arquivos de direitos humanos, vol. 2, pp. 173-215, Rio de Janeiro: Renovar, 2000.
GALVÃO, Paulo Braga. Os direitos sociais nas constituições. São Pulo: LTr, 1981.
GARCÍA ANON, José. "Los derechos humanos como derechos morales: aproximación a unas teorias con problemas de concepto, fundamento y validez” . Jh: BALLESTEROS, Jesús. Derechos Humanos - concepto, fundamentos, sujetos. Madrid: Tecnos, 1992.
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. V. 3. 4. ed. Madrid: Civitas, 1997.
GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al estúdio dei derecho. 3. ed. México: Editorial Porrua, 1949.
GARRIDO FALLA, Fernando. 7>atado de Derecho Administrativo. V. 1. Parte General. 12. ed. Madrid: Tecnos, 1994.
GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva,2000.
GEWIP.TÍI, Alan. The community ofrights. Chicago: The University of Chicago Press. 1996.
GIAMBIAGI, Fabio et ALÉM, Ana Cláudia. Finanças públicas - teoria e prática no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
GIANNETTI, Eduardo. O mercado das crenças - filosofia econômica e mudança social (trad. bras. de Be/ie/s in action - econom/c philo- sophy and social chenge, por Laura Teixeira Motta). São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
360
Introdução à Iboria dos Çustos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
GLENDON. Mary Ann. Rights talk - the impoveríshment of political dis- course. New York: The Free Press. 1991.
GOMES, Carla Amado. Contributo para o estudo das operações materiais da administração pública e do seu controlo jurisdicional. Coimbra: Coimbra Editora, 1999.
GOMES, Joaquim Benedito Barbosa. Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
GOMES, Orlando. “Direitos ao Bem-estar social". In: Anais da Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Rio de Janeiro: OAB. 1974.
________ . Raízes históricas e sociológicas do Código Civil Brasileiro.Salvador: Livraria Progresso, 1958.
________ . Transformações gerais do direito das obrigações. São Paulo:RT, 1967.
________ . Introdução ao Direito Civil. 18. ed. Atualizada por HumbertoTheodoro Jr. Rio de Janeiro: Forense, 2001.
GONÇALVES, Aroldo Plínio. “O processo como relação jurídica". In: Técnica Processual e Tsoria do Processo. Rio de Janeiro: AIDE,1992.
GORDILLO, Agustin A. Tratado de Derecho Administrativo - Parte General, tomo D. Buenos Aires: Ediciones Macchi, 1986.
________ . Introducción al Derecho Administrativo. 2. ed. Buenos Aires:Abledo-Perrot, 1966.
GOUVEA, Marcos Maselli. O controle judicial das omissões legislativas. Rio de Janeiro: Forense. 2003.
GOYARD-FABRE, Simone. Os fundamentos da ordem Jurídica (trad. bras. de Les fondements de l ’ordre juridique, por Cláudia Berliner). São Paulo: Martins Fontes, 2002.
_________. Os principios filosóScos do direito político modemo (trad. bras.de Les príncipes phílosophiques du droit politique modeme, por Irene Paternot). São Paulo: Martins Fontes, 1999.
GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito de águas. São Paulo: Atlas,2001.
GRAU, Eros Roberto. A Ordem econômica na Constituição de 1988. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2001.
_________. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito.São Paulo: Malheiros. 2002.
_________. "Despesa pública - conflito entre princípios e eficácia dasregras jurídicas - o princípio da sujeição da administração às deci-
Flávio Galdino
sões do Podei Judiciário e o principio da legalidade da despesa pública” . In: Revista Timestral de Direito PúMco. v. 2, pp. 130-148.
_________• A constituinte e a Constituição que teremos. São Paulo: RT,1985.
_________■ “Um novo paradigma dos contratos". In: Revista Trimestralde Direito Civil, Rio de Janeiro, vol. 5, pp. 73-82, 2001.
_________• Direito, conceitos e normas jurídicas. São Paulo: RT, 1988.________ . Planejamento econômico e regra juridica. São Paulo: RT. 1978.GRINBERG, Keila. O fiador dos brasileiros - Cidadania, escravidão e
direito civil no tempo de Antonio Pereira Rebouças. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2002
GROTT1, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a Constituição brasileira de 1988. São Paulo: Malheiros. 2003.
GUASTINI, Ricardo. Le fonti dei diritto e l'interpretazione. Milano: Giuffrè, 1993.
_________. "In tema di norme sulla produzione giuridica” . In: COMAN-DUCCI, Paolo et GUASTINI, Ricardo. Analisi e diritto -1995: richer- che di giurisprudenza analítica. Torino: G.Giappichelli Editore, 1995.
_________. U giudice e la legge. Torino: G.Giapichelli Editore, 1995.GUEDES, Marco Aurélio Peri. Estado e ordem econômica e social - a
experiência constitucional da República de Weimar e a Constituição brasileira de 1934. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.
GUERRA FILHO, Willis Santiago. "Sobre princípios constitucionais gerais: isonomia e proporcionalidade". In: Revista do Tribunais, São Paulo, v. 719, pp. 57-63,1995.
_________. Processo constitucional e direitos fundamentais. São Paulo:Celso Bastos Editor, 1999.
HABERMAS, Jürgen. "Sobre a legitimação pelos direitos humanos". In: MERLE, Jean-Christophe et MOREIRA, Luiz (org.). Direito e legitimidade. São Paulo: Landy. 2003.
HAGE, Jorge. Omissão inconstitucional e direito subjetivo. Brasília: Brasília Juridica, 1999.
HARGER, Marcelo. “Reflexões iniciais sobre o princípio da eficiência”. In: Revista de Direito Administrativo, v. 217 (1999), pp. 151-161.
HARIOU, André. “A utilização em direito administrativo de regras e principios do direito privado” . In: Revista de Direito Administrativo, v. 1, pp. 465-473.
HARRISON, Jeffrey L. Law and Economics. St. Paul: West Group. 2000.
363
lnuoduçio à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
HART, H. L. A. “Are there any natural rights?". In: LYONS, David (org.j. Rights. Belmont: Wadsworth, pp. 14-25, 1979.
________ . “Bentham on legal rights". In: LYONS, David (org.). Rights.Belmont: Wadsworth, pp. 125-148,1979.
________ . O conceito de Direito (trad. portuguesa de The concept ofLaw, por A . Ribeiro Mendes). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986.
HENNING, Fernando Alberto Corrêa. Ação concreta - relendo Wach e Chiovenda. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2000.
HENRY SUMMER MAINE. Ancient Law: its connections with the early history o f society and its relation to modarn ideas. ed original - 1861.
HERSHKOFF, Helen et LOFFREDO, Stephen. The rights o f the poor (the authoritative ACLU guide to poor people’s rights). Southern Illinois University Press, 1997.
HESPANHA, Antonio Manuel. “Las categorias dei político y dei jurídico en época moderna". Mimeo 45 p. Retirado em maio de 2001 da página do Professor na internet em forma de arquivo de texto - http://members.nbci.com/am_hespanha.
________ . Panorama histórico da cultura jurídica européia. Lisboa:Fórum da História - Publicações Europa-américa, 1997.
________ . História das Instituições. Coimbra: Almedina, 1982.HESSE, Kònrad. La fuerza normativa de la Constitución (trad. espanho
la de Die norma tive JCra/t der Verfassung, por Pedro Cruz Villalon). In: Escritos de derecho constitucional. 2. ed. Madrid: CEC, 1992.
HILLER, E. T. “Características do status social". In: CARDOSO. Fernando Henrique, et 1ANN1, Octávio (orgs.). Homem e sociedade - leituras básicas de sociologia geral. 7. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1973.
HOBSBAWM, Eric. J. Mundos do trabalho - novos estudos sobre a história operária (trad. de Worlds of labour, por Waldea Barcellos e Sandra Bedran). 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.
HOHFELD, Wesley Newcomb. Concetti giuridici fondamentaii. Torino: Giuiio Einaudi Editore, 1969.
________ . Conceptos jurídicos fundamentales. 5. ed. México: Fontamara.2001.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. 14. reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
HOLMES, Stephen et SUNSTEIN, Cass. The cost o f rights - why liberty depends on taxes. New York: W. W. Norton and Company, 1999.
363
Flávio Galdino
HOLMES, Stephen. “Elprecompromisoyla paradoja dela democracia”. In: Constitucionalismo y democracia (trad. mexicana de Constitutionalism and democracy, por Mónica Utrilla de Neira). México: Fondo de Cultura Econômica, 1999.
_________ . “Las regias mordaza o la política de omisión". In:Constitucionalismo y democracia (trad. mexicana de Constitutionalism and democracy, por Mónica Utrilla de Neira). México: Fondo de Cultura Econômica, 1999.
FREIRE, Homero. “Da pretensão ao direito subjetivo". In: Estudos Políticos e Sociais, Universidade Federal de Pernambuco, vol. I, n. 2, pp. 393-443,1968.
HOROWITZ, David L. The couits and social policy. Washington: Brookings Institution, 1977.
IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor). A proteção ao consumidor de serviços públicos. São Paulo: Max Limonad, 2002.
JACQUES, Paulino. Da igualdade perante a lei. Ttese de concurso para Professor Titular da FND. Rio de Janeiro, 1947.
JELLINEK, Giorgio (ou Georg). Sistema dei Diritti Pubblici Subbiettivi (sem indicação do título original, trad. italiana por Gaetano Vitagliano). Milano: Società Editrice Libraria, 1912.
JUSTEN, Monica Spezia. A noção de serviço púbiico no direito europeu.São Paulo: Dialética. 2003.
KANTOROWICZ, Hermann. The definition o f law. Cambridge: Cambrigde University Press, 1958.
KATAOKA, Eduardo Tàkemi Dutra dos Santos. “Considerações sobre o problema da prescrição". ín: Revista Forense, v. 348, pp. 437-443.
KELSEN, Hans. Tfeoria geral do Direito e do Estado (trad. bras. de General Theory o f Law and State, por Luís Carlos Borges). São Paulo: Martins Fontes, 1998._ Tfeoria pura do direito (trad. Port. de Reine Rechtslehre, por João Baptista Machado). 3. ed. bras. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
________ . Teoria geral das normas (trad. bras. deAllgemeine Theorie derNormen, por José Florentino Duarte). Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1986.
KLOH, Gustavo. A prescrição civil e o princípio da segurança juridica. Rio de Janeiro, Dissertação de Mestrado, submetida à Faculdade de Direito da UERJ, 2003. Disponível na Biblioteca da Faculdade, em fase de publicação.
364
% jIntrodução à Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos N ào Nascem em Árvores
[ KOERNER, Andrei. Habeas corpus, prática judicial e controle social no Brasil (1841-1920). São Paulo: IBCCrim, 1999.
KRELL, Andreas J. “Controle judicial dos serviços públicos básicos na , base dos direitos fundamentais sociais". In: SARLET, Ingo
Wolfgang (org.). A Constituição concretizada - construindo pontes entre o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado,2000.
KRIEGER, Leonard. "Etapas na história das liberdades políticas". In: FRIEDRICH, Carl J.. Liberdade, vol. II. Coleção Nomos (trad. bras. de Nomos IV: Liberty, por Norah Levy). Rio de Janeiro: O Cruzeiro,
| 1967.; LA TORRE. Massimo. “Nostalgia for the homogeneous community: Kart
Larenz and the National Socialist theory o f contract". EUI Working S Paper 93/7, San Domenico, pp. 1-95,1993.i . Disawenture dei diritto soggettivo - una vicenda teórica.! Milano: Giuffrè, 1996.• LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos - um diálogo com ' o pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: Companhia dasí Letras. 1988.| LARENZ, Karl. Derecho Justo - Fundamentos de ética juridica (trad. dei Richtiges Recht - Grundzüge einer Rechtsethik, por Luis Díez-\ Picazo). Madrid: Civitas, 1991.. _________. Metodologia da ciência do direito (trad. da 5. ed. de
Methodenlehre der Rechtswissenschaft, por José Lamego). 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989.
LAZZARINI, Álvaro. "Consumidor de serviços públicos: dever de inde- f nizá-lo enquanto cidadão". In: Revista de Direito Administrativo, v.
219 (2000), pp. 1-9.' LEÃO. Sinaida De Gregorio. A influência da lei hebraica no Direito; ___ Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998. .
LEBERT, Norbert e LEBERT, Stephan. 7li carregas o meu nome: a heran- Ça dos filhos de nazistas notórios (trad. bras. de Denn du tragst meinen Namen por Kristina Michahelles). Rio de Janeiro: Record, 2004.
LEGAZ Y LACAMBRA, Luis. Filosofia dei Derecho. 4. ed. Barcelona: Bosch, 1975.
LIPARI, Nicolò. "D iritti fondamentaU e categorie civitístiche" ■ In: Rivista di Diritto Civile. Anno XL1I, n. 4, pp. 413-426,1996.
LLOYD, Dennis. A idéia de lei (trad. bras. de The ide a oflaw, por Álvaro Cabral). 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
365
Flávio Galdino
LOPES, José Reinaldo de Lima. "Direito subjetivo e direitos sociais: o dilema do Judiciário no Estado Social de Direito". In: FARIA, José Eduardo (org.). Direitos humanos, direitos sociais e justiça. 1. ed. 2. tir. São Paulo: Malheiros, 1998.
LOPEZ Y LOPEZ, Angel M. “Gény, Duguit y el derecho subjetivo: evoca- ción y nota sobre una polemica” . In: Quaderni Fiorentini per la sto- ria dei pensiero giuridico moderno 20. Milano: Giuffrè, pp. 161-179, 1991.
LUMIA, Giuseppe. Elementos de teoria e ideologia do Direito (trad. bras. de Elementi di teoria e ideologia dei diritto, por Denise Agostinetti). São Paulo: Martins Fontes, 2003.
LUZZATI, Cláudio. La vaghezza delle norme: un'analisi dei linguaggio giuridico. Milano: Giuffré, 1990.
MACEDO Jr.. Ronaldo Porto. “A proteção dos usuários de serviços públicos” . In: SUNDFELD, Carlos Ari (org.). Direito administrativo econômico. São Paulo: Malheiros. 2000.
MACEDO JR., Ronaldo Porto. Contratos relacionais e defesa do consumidor. São Paulo: Max Limonad, 1998.
MACHADO NETO, A. L. Compêndio de introdução à ciência do direito. São Paulo: Saraiva, 1969.
MACPHERSON, C. B. Ascensão e queda da justiça econômica - e outros ensaios (trad. bras. de The rise and fali of economic justice and other essays, por Luiz Alberto Monjardim). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.
MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2001.
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos - conceito e legitimação para agir. 3. ed. São Paulo: RT, 1994.
MARQUES, Cláudia Lima. “Proposta de uma teoria geral dos serviços com base no Código de Defesa do Consumidor". In: Revista de Direito do Consumidor, v. 33, pp. 79-122.
________ . Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. SãoPaulo: RT, 1999.
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status (trad. bras. de Sociology at the crossroads por Meton Porto Gadelha). Rio de Janeiro: Zahar Editores. 1967.
MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. “A discricionariedade administrativa à luz do principio da eficiência". Revista dos Tribunais, São Paulo, vol. 789, pp. 62-89, 2001.
366
Introdução k Iboria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
jf|
? !
c€
C€
C
í
í
MARTINS, Sérgio Pinto. Greve do servidor público. São Paulo: Atlas.2001.
MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado. São Paulo: RT, ^ |1999. f
MASSERA, Alberto. “Indivíduo e amministrazione nelio Stato sociale: ça/cune considerazioni sulla questione deite situazíoni giurídiche soggetiVe". In: Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, CMilano: Giuffrè, v. 45 (1991), pp. 1-54. ^
MATOS, Eduardo Lima de. “Suspensão de serviço público (energia elétrica) por falta de pagamento - não violação do CDC". In: Revista de Direito do Consumidor, v. 5 (1993), pp. 202-205. ^
MATTIETTO, Leonardo. "O Direito Civil Constitucional e a nova teoria dos contratos". In: TEPEDINO, Gustavo (org.). Problemas de Direito Civil - Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. ^
MAXIMILIANO, Carlos. Direito Intertemporai. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1946.
MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 4. ed. São Paulo: RT,2000.
MELLO, Celso Antonio Bandeira de. O conteúdo jurídico d o princípio daigualdade. 2. ed. São Paulo: RT, 1984. C
MELLO, Celso Renato Duvivier de Albuquerque. Direitos humanos e £conflitos armados. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
MENDES, Gilmar Ferreira Direitos fundamentais e controle de constitu- t.cionalidade. 2. ed. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1999. ^
_________. Jurisdição constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.MENDONÇA, Sérgio Eduardo Abulu. “Os serviços públicos privatiza- *
dos e o consumidor: tarifas - propostas de mecanismos para o £monitoramento das tarifas públicas” . In: 1DEC (Instituto Brasileiro ,de Defesa do Consumidor). A proteção ao consumidor de serviços ^públicos. São Paulo: Max Limonad. 2002. £
MILL, John Stuart. Capítulos sobre o socialismo (trad. bras. por Paulo *Cezar Castanheira). São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo,20 01. 1
MIRANDA, Jorge. "Os direitos fundamentais - sua dimensão individual ^e social". In: Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política (CDCCP-RT), v. 1, pp. 198-208. C
MODESTO, Paulo. "Notas para um debate sobre o princípio da eficiên- «cia". BDA - Boletim de Direito Administrativo, nov. de 2000, pp.830-837. C
(367 ,
Flávío Galdino
MORAES FILHO, Evaristo de. “Da ordem social na Constituição de 1967". In: CAVALCANTI. Themistocles Brandão (org.). Estudos sobre a Constituição de 1967. Rio de Janeiro: FGV, 1968.
MORAES, Guilherme Braga Pena de. Dos Direitos Fundamentais - contribuição para uma teoria. São Paulo: Ltr, 1997.
MOREIRA ALVES, José Carlos. "Direito subjetivo, pretensão e ação". In: Revista de Processo, v. 47, pp. 109-123.
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Considerações sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal - Finanças públicas democráticas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
________ . Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2001.
________ . Sociedade, Estado e Administração Pública. Rio de Janeiro:Topbooks, 1995.
MOREIRA, Egon Bockmann. "Processo administrativo e princípio da eficiência". In: SUNDFELD, Carlos Ari; MUNOZ, GuiUermo Andrés (coord.J. As leis de processo administrativo. São Paulo: Malheiros.2000.
MORTATI, Vincenzo Piano. Dogmatica e interpretazione - I giuristi medievali. Napoli: Jovene, 1976.
MOTA. Maurício Jorge Pereira. Responsabilidade civil do Estado legislador. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999.
MÜLLER, Ftíedrich. “Que grau de exclusão social ainda pode ser tolerado por um Estado Democrático?”. In: PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos, globalização econômica e integração regional - desafios do direito constitucional internacional. São Paulo: Max Limonad.2002, pp. 567-596.
________ . Métodos de trabalho do Direito Constitucional (trad. bras. porPeter Naumann). 2. ed. São Paulo: Max Limonad. 2000.
NALINI, José Renato. "Direito subjetivo, interesse simples e interesse legítimo” . In: Revista de Processo, v. 38, pp. 240-250.
NEGREIROS, Teresa. Ikoria do contrato - novos paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
________ . "Dicotomia público-privado frente ao problema da colisão deprincípios”. In: TORRES, Ricardo Lobo (org.), Thoria dos Direitos Fhndamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
NEVES, Marcelo. “A interpretação jurídica no Estado Democrático de Direito". In: GRAU. Eros e GUERRA FILHO, Willis Santiago (org.). Direito Constitucional - estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2001.
368
Introdução à Tfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Nâo Nascem em Árvores
_________. “Justicia y diferencia en una sociedad global compleja". In:Doxa v. 24. pp. 349-377, 2001.
NIEMI, Matti. HOHFELD y el anàlisis de los derechos. México: Fontamara, 2001
NUSDEO, Fábio. Curso de Economia - introdução ao direito econômico.2. ed. São Paulo: RT, 2000.
OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebíades. Tfeoria jurídica e novos direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.
OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Por uma teoria dos principios. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
ORSI, Luigi. Verbete “Pretesa”. In: Enciclopédia dei Diritto, pp. 359-373.PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio. "Escasez y solidariedad: una
reflexión desde los c là s ic o s In : Derechos sociales y positivismo jurídico: escritos de filosofia política y jurídica. Madrid: Dykinson, 1999.
_________. "Los derechos econômicos, sociales e cultura/es: su gênesis ysu concepto". In: Derechos y líbertades, n. 6, pp. 15-34, 1998.
_________. Curso de derechos fundamentales. Madrid: UniversidadCarlos III de Madrid/Boletin Oficial dei Estado, 1999.
_________. "De la función de los derechos fundamentales". In: PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio. Derechos sociales y positivismo jurídico: escritos de filosofia política y jurídica. Madrid: Dykinson, 1999.
PECES-BARBA, Gregorio et alii. Curso de Thoria dei Derecho. 2. ed. Madrid: Marcial Pons. 2000.
PENA, Eduardo Spiller. Pajens da Casa Imperial - jurisconsultos, escravidão e a Lei de 1871. Campinas: Editora da UNICAMP. 2001.
PEREIRA, Jane Reis Gonçalves et SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas da. "A estrutura normativa das normas constitucionais - Notas sobre a distinção entre princípios e regras". In: PEIXINHO, Manoel Messias et alli (org.). Os princípios da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001.
PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Reforma do Estado para a cidadania - a reforma gerencial brasileira na perspectiva institucional. São Paulo: ENAP/Editora, 2002.
PERELMAN, Chaim. “O argumento pragmático". In: PERELMAN, Chaim. Retóricas (trad. bras de Rhetoríques por Maria Ermantina Galvão G. Pereira). São Paulo: Martins Fohtes, 1999.
PEREZ LUNO, Antonio E. Los derechos fundamentales. 7. ed. Madrid: Tecnos, 1998.
Flávío Galdino
_________. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. 4. ed.Madrid: Ttecnos,1991.
_________. Thoria dei Derecho - una concepciôn de Ia experiencia juridica. Madrid: Tecnos, 1997.
PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil - Introdução ao Direito Civil Constitucional (trad. bras. de Profiltí di diritto cívito, por Maria Cristina De Cicco). Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
PINHEIRO CARNEIRO, Paulo Cezar. Acesso á justiça. Rio de Janeiro: Forense, 1999.
PINHEIRO, Armando Castelar. “Judicial system performance and eco- nomic development". In: Ensaios BNDES 2. Outubro/1996.
PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval. Manual de Economia - Equipe de Professores da USP. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1999
PINTO, João A. A. O. A responsabilidade civil do Estado-fornecedor de serviços ante o usuário-consumidor. Belo Horizonte: Edições Ciência Jurídica, 1997.
PINTO FERREIRA, Luis. Princípios Gerais do Direito Constitucional Moderno. 5. ed. São Paulo: RT. 1971.
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 1997.
. Proteção judicial contra omissões legislativas. São Paulo: RT, 1995.
PONTES DE MIRANDA, FYancisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1946. 3. ed. Tbmo IV. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960.
________ . Tratado de Direito Privado, tomo 5. Rio de Janeiro: Borsoi. 1971._________. Comentários à Constituição de 1967 - com a Emenda n. 1 de
1969. Tomo IV. 2. ed. São Paulo: RT, 1974._________. “Direito supra-estatal, direito interestatal, direito intra-esta-
tal e sobredireito” . In: AA .W . Estudos jurídicos em homenagem ao Professor Oscar Ttenório. Rio de Janeiro: UERJ, 1977.
_________. Tratado das ações, tomo I. Atualizado por Vilson RodriguesAlves. Campinas: Bookseller, 1998.
POSNER, Richaid. Economic analysis oflaw. 4. ed. Boston: Little, Brown and company, 1992.
_________. FYontiers of legal theory. Cambridge: Harvard UniversityPress. 2001.
_________. Law, pragmatism and democracy. Cambridge: HarvardUniversity Press. 2003
370
371
f
Introdução à Taoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvoros
PRADO, Ney. Economia informa] e o direito no BrasiJ. São Paulo: Editora LTV. 1991.
PRIETO SANCHÍS, Luis. Ley, princípios, derechos. Madrid: Dykinson,1998.
RAMOS, Carmem Lucia Silveira. “Eficácia x eficiência: a análise econô- €mica do direito’’ . In: Revista Trimestral de Direito Civil, vol. 2, Rio gde Janeiro: Padma, 2000, pp. 27-33.
RAMOS, Rui Manuel Gens de Moura. Direito Internacional Privado e €Constituição - uma introdução a uma análise de suas relações. ^Coimbra: Coimbra Editora, 1994.
RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos, vol. 2. 3. ed. atual, por *Ovídio Rocha Bairos Sandoval. São Paulo: RT. Sem data. ^
REALE, Miguel. "Dimensões da liberdade na experiência jurídico- Jsocial brasileira", In: REALE, Miguel. Nova fase do direito moderno. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.
_________. "Diretrizes de hermenêutica contratual” . In: Questões deDireito Privado, São Paulo: Saraiva, 1997.
_________. “Situações jurídicas e direito subjetivo”. In Revista daFaculdade de Direito da USR São Paulo, pp. 9-24. ç
_________. Lições Preliminares de Direito. 19. ed. São Paulo: Saraiva,1991. C
_________. Tboría tridimensional do direito. 5. ed. 3. tiragem. São Paulo: ^Saraiva, 1999.
RESCIGNO, Pietro. “Per uno studio sulla proprietà". In: Rivista di Diritto CCivüe, Anno XVIII, pp. 1-67, 1972. £
_________. “Situazione e status neWesperienza dei diritto". Rivista diDiritto Civile, Padova: CEDAM, Anno XIX, pp. 209-229,1973. *
REZENDE, Fernando. Finanças públicas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001. £REZENDE, Fernando: CUNHA, Armando. Contribuintes e cidadãos - i
compreendendo o orçamento federal. Rio de Janeiro: FGV Editora. ^2002. {
RIGAUX. FVançois. A lei dos juizes (trad. bras. de La loi des juges, por JEdimir Missio). São Paulo: Martins Fontes, 2000. *|
RIGG, Bryan Mark. Os soldados judeus de Hitler - a história que não foi £contada das leis raciais nazistas e de homens de ascendência Jjudia nas forças armadas alemã (trad. bras. de Hitler's Jewish |Soldiers, por Marcos Santarrita). Rio de Janeiro: Imago, 2003. £
ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Estudo sobre concessão e permissão g'de serviço público no Direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1996. I
€
Flávío Galdino
ROCHA, Sonia. Pobreza no Brasil - afinal, de que se trata? Rio de Janeiro: FGV Editora, 2003.
ROEMER, Andrés. Introducción al análisis econômico dei derecho (trad. mex. por José Luiz Pérez Hernández; sem indicação do título original). México: FCE, 1994.
ROPPO, Enzo. O Contrato (trad. portuguesa de 11 Contrato, por Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes). Coimbra: Livraria Almedina. 1988.
ROSANVALLON, Pierre. A nova questão social - repensando o Estado Providência (trad. bras. por Sérgio Bath, sem indicação do titulo original). Brasília: Instituto Teotônio Vilela, 1998.
ROSS, Alf. Direito e justiça (trad. bras. de On law and/usüice, por Edson Bini). São Paulo: Edipro, 2000.
ROUANET, Luiz Paulo. "Igualdade complexa e igualdade de renda 110 Brasil". In MERLE, Jean-Christophe et MOREIRA, Luiz (org.). Direito e legitimidade. São Paulo: Landy, 2003.
SALAMA, Pierre et DESTERMAN, Blandine. O tamanho da pobreza - economia política da distribuição de renda. Rio de Janeiro: Garamond. 1999.
SALDANHA, Nelson. "Liberdades públicas". In: Estado de Direito, liberdades e garantias. São Paulo: Sugestões literárias, 1980.
________ . Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.________ . Formação da Tkoria Constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2000.________ . O jardim e a praça - 0 privado e o público na vida social e 11a
história. São Paulo: Edusp, 1993.________ . Ordem e Hermenêutica - sobre as relações entre as formas de
organização e o pensamento interpretativo, principalmente no Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. ^
SALOMÃO FILHO, Calixta. “Globalização e teoria jurídica do conheci-_ t mento econômico". In: SUNDFELD, Carlos Ari; VIEIRA, Oscar
Vilhena (coord.). Direito Global. São Paulo: Max Limonad, 1999.________ . “Regulação e desenvolvimento". In: SALOMÃO FILHO, Ca-
lixto (coord.). Regulação e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros.2002.
________ . Direito concorrencial - as condutas. São Paulo: Malheiros.2003.
SAMUEL, Geoffrey. Obligations andremedies. 2. ed. London: Cavendish Publishing, 2000.
372
Introdução à Tteoria dos Custos dos Direitos - Direitos Náo Nascem em Árvores
SAN TIAGO DANTAS. “Evolução contemporânea do direito contratual". In: Problemas de Direito Positivo. Rio de Janeiro: Forense, 1953.
________ . Programa de Direito Civil - teoria geral. 3. ed. revista porGustavo Tepedino et alii. Rio de Janeiro: Forense. 2001.
SANTIAGO NINO, Carlos. "El alcance de los derechos. Liberalismo conservador y liberalismo igualitario". In: Ética y derechos humanos - un ensayo de fundamentación. 2. ed. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1989.
________ . “E l concepto de derechos humanos” . In: Ética y derechoshumanos - un ensayo de fundamentación. 2. ed. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1989.
________ . Introducción al anâlisis dei derecho. Barcelona: Ariel, 1997.SANTOS, Alvacir Correa dos. Principio da eficiência da administração
pública. São Paulo: LTV, 2003.SANTOS. Fernando Ferreira dos. Princípio constitucional da dignidade
da pessoa humana. Fortaleza: Celso Bastos Editor, 1999.SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. 2. ed. São Paulo: Nobel, 1993.SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e justiça - a política
social na ordem brasileira. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1994.SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 1998.SARMENTO, Carlos Eduardo et alii (orgs.). Mario Henrique Simonsen:
textos escolhidos. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2002.SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição
Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000._________. "A dimensão objetiva dos direitos fundamentais: fragmentos
de uma teoria". In: Arquivos de Direitos Humanos, vol. 4. Rio de Janeiro: Renovar. 2002: •
SCOCA, Rranco Gaetano. Contributo sulla figura deWinteresse Iegitti- mo. Milano: Giuffrè, 1990.
SEABRA FAGUNDES, Miguel. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 1957.
SEGALLA, Alessandro. "A suspensão do fornecimento de energia elétrica ao usuário inadimplente à luz da Constituição Federal”. In: jRevista de Direito do Consumidor, v. 37, pp. 121-156.
SEN, Amartya. Desigualdade reexaminada (trad. de Inequality Reexamined por Ricardo Doninelli Mendes). Rio de Janeiro: Record, 2001.
373
Flávío Galdino
_________. Sobre ética e economia (trad. bras. de On ethics and econo-mies por Laura Ibixeira Motta). São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
SFORZA, Widar Cesarini. “Diritto soggettivo", verbete na Enciclopédia dei Diritto, vol. XII, pp. 659-696.
SHAKESPEARE, William. “The most excellent and lamentable tragedy o f Romeo and Juliet". Act II, Scene II. In The Complete Works (Eds. Stanley Wells e Gary Taylor). Oxford: Clarendon Press, 1988.
SHOOK, John R.. Os pioneiros do pragmatismo americano (trad. bras. de The pioneering american pragmatists por Fabio M. Said). Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
SHUE, Henry. Basic rights - subsistence, affluence and U.S. foreign policy. Second Edition. New Jersey: Princeton University Press. 1980.
SILBERG, Moshe. “Law and morais in jewish jurísprudence". In: Harvard Law Review, v. 75 (2), pp. 306-331.
SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas da. Princípio constitucional da igualdade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001.
SILVA, Francês Waleska Esteves da. A Lei de responsabilidade fiscal e os seus princípios informadores. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2003.
SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1998.
_________. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo: Malheiros.1999.
SILVA, Luís Virgílio Afonso da. "O proporcional e o razoável". In: Revista dos TYibunais, São Paulo, v. 798, pp. 23-50.
SILVA, Ovidio Baptista da. Jurisdição e execução na tradição romano- canônica. São Paulo: RT, 1996.
SILVA, Ricardo Almeida Ribeiro da. “A critica comunitarista ao liberalismo". In: TORRES, Ricardo Lobo (org.), Teoria dos Direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
SILVA, Ricardo Toledo. "Público e privado na oferta de infra-estrutura urbana no Brasil". In: GEDIM, Anuário 2002, pp. 53-112.
SIMONSEN, Mario Henrique. Prefácio. In: AAW . Ftíedman à luz da Realidade brasileira. Rio de Janeiro: Escola Superior de Guerra, 1973.
SINGER, Peter. ética prática (trad. bras. de Practical Ethics por Jefferson Luiz Camargo). São Paulo: Martins Fontes, 2002.
374
Introdução & Taoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em ÁrvotosJ
SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto. O devido processo legal e a razoa- 'jfbilidade das leis na nova Constituição do Brasil. Rio de Janeiro: $Forense, 1989. j
SMITH, Patrícia. The nature and process of Law - an introduction to ^Legal Philosophy. New York: Oxford University Press, 1993.
SOARES, Guido Fernando Silva. Common law - Introdução ao direitodos EUA. 1. ed. 2. tir. São Paulo: RT, 1999. (
SOLON, Ari Marcelo. A função do conceito de direito subjetivo de propriedade. Dissertação de Mestrado submetida à FDUSP São Paulo,1987. Mimeografado. C
_________. Dever jurídico e teoria realista do direito. Porto Alegre: Sérgio
Cambridge: Harvard University Press, 1996._____. Free Markets and Social justice. New York: Oxford UniversityPress, 1997.
I 1
€
f
C
C
cc€
Antonio Eãbris Editor. 2000.SOUSA JUNIOR, José Geraldo. Introdução crítica ao direito. 4. ed. Série C
o Direito achado na rua - vol. 1. Brasília: UnB, 1993.SOUZA, Sylvio Capanema. Da iocação do imóvel urbano - direito e pro
cesso. Rio de Janeiro: Forense, 1999. CSTEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e princí
pio da proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado,2001. C
STEPHEN, Frank. H. Tboria Econômica do Direito (trad. bras. de The g Economics of the Law por Neusa Vitale). São Paulo: Makron Books,1993. €
STIGLER, George J. "Law or economics?". In: The Journal of Law and c Economics, volume XXXV (2), pp. 455-467.
STRUCHINER, Noel. Direito e linguagem: uma análise da textura aber- €ta da linguagem e sua aplicação ao Direito. Rio de Janeiro: e Renovar. 2002.
STUMM, Raquel Denize. Principio da proporcionalidade no direito cons- €titucional brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1995. ^
SUNSTEIN, Cass. "Constituciones y democracias: Epílogo". In: Constitucionalismo y democracia (trad. mexicana de Constitutionaiism C and democracy, por Mónica Utrilla de Neira). México: Fondo de ^ Cultura Econômica, 1999.
_________. “Free speech now”. In: STONE, Geoffrey; EPSTEIN, Richard; C.SUNSTEIN, Cass. The Bill o f Rights in the modem state). Chicago: £ The University of Chicago Press, 1991.
_________. After rights revolution - reconceiving Seguiatory State. C
375
Flávio Galdino
________ . One case at a time - judicial minimalism on the SupremeCourt. Cambridge: Harvard University Press. 1999.
________ . Republic.com. New Jersey: Princeton University Press. 2001.________ . The Partia] Constitution. Cambridge: Harvard University
Press, 1993.________ . "Beyond the republican revival". In Yale Law Journal 97. pp.
1539-1590.SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Da distribuição da renda e dos direitos à
cidadania. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988.________ . Programa de garantia de renda mínima. Brasília: Senado
Federal, 1992.________ . Renda de cidadania - a saída é pela porta. São Paulo: Cortez,
2002.SÜSSEKIND, Arnaldo. "Limitações ao direito de greve”. In: Revista LTr.
v. 53 (1), pp. 28-30.TÁCITO, Caio. “O retomo do pêndulo: serviço público e empresa priva
d a - o exemplo brasileiro”. In: Temas de Direito Público - estudos e pareceres. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
________ . “O equilíbrio financeiro na concessão de serviço público”. In:Tfemas de Direito Público - estudos e pareceres. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
________ . "Consumidor - falta de pagamento - corte de energia'*. In:Revista de Direito Administrativo, v. 219, pp. 398-399.
________ . "Os direitos do homem e os deveres do Estado” . In: Tkmas deDireito Público - estudos e pareceres. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
TAVARES, Juarez. 7feoria do injusto penai. Belo Horizonte: Del Rey.2000.
TEPEDINO, Gustavo. "Anotações à Lei do Inquilinato (arts. la a 26)” . In: Tbmas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
________ . “As relações de consumo è 'a nova teoria contratual". In:Tbmas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
________ . "Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil". In: Tbmas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
TEUBNER, Gunther. "Altera pais audiatur: o direito na colisão de discursos". In: AAW . Direito e cidadania na pós-modemidade. Piracicaba: UNIMEP. 2002.
TÍMM, Luciano B. Da prestação de serviços. Porto Alegre: Síntese, 1998.
376
»
TORRES, Ricardo Lobo. "A cidadania multidimensional na Era dos Direitos” . In: TORRES, Ricardo Lobo (org.). 7teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
________ . “A legitimação dos direitos humanos e os princípios da ponderação e da razoabilidade''. In: TORRES, Ricardo Lobo (org.). Legitimação dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Renovar. 2002.
________ . Curso de Direito Financeiro. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar,1997.
________ . Normas de interpretação e integração do direito tributário.3. ed. Rio de Janeiro: Renovar. 2000.
________ . Os direitos humanos e a tributação - imunidades e isonomia.Rio de Janeiro: Renovar, 1995.
________ . A idéia de liberdade no estado patrimonial e no estado fiscal.Rio de Janeiro: Renovar, 1991.
________ . O orçamento na Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 1995.________ . 7ya£ado de Direito Constitucional Financeiro e Dributàrio. Vol.
V - O orçamento na Constituição. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.
________ . 7teor/a dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar,1999.
TUCK, Richard. Natural Rights Theories - their origin and development.Cambridge: Cambridge University Press. 1979.
TUGENDHAT, Emst. Lições sobre a ética (trad. bras. de Vorlesungen über Ethik, por uma equipe coordenada por Emildo Stein). Rio de Janeiro: Vozes, 2003.
TUNDISI, José Galizia. Água no século XXI - enfrentando a escassez.São Paulo: RIMA, 2003.
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito na sociedade moderna - contribuição à crítica da teoria social (trad. bras. de Law in modem socie ty - toward a criticism of social theory, por Roberto Raposo). Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1979.
URRUTIGOrrY, Javier. “El derecho subjetivo y la legitimación procesal administrativa". In: SARMIENTO GARCÍA, Jorge H. (org.). Estúdios de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Depalma, 1995.
V. FARIA, Anacleto de Oliveira. Instituições de direito. 2. ed. São Paulo: RT, 1972.
VALLADÃO, Haioldo. "Lei Geral de Aplicação das Normas Jurídicas". Revista Juridica da Faculdade Nacional de Direito, v. 19,1963/1964.
________ . Lei Geral de Aplicação das Normas Jurídicas, ed. oficial. Riode Janeiro, 1964.
Introdução à Tteoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
377
Flávío Galdino
________ . A devolução nos conflitos sobre a lei pessoal. São Paulo: RT.1939.
VAN PARIJIS, PhiUppe. O que é uma sociedade justa? - Introdução à prática da filosofia política (trad. bras. de Qu'est-ce qu'une socié- té juste? por Cíntia Ávila de Carvalho). São Paulo: Editora Ática. 1997.
________ . “Renda mínima garantida para o século XXI". In: SUPLICY,Eduardo Matarazzo. Renda de cidadania - a saída é pela porta. São Paulo: Cortez. 2002.
VLANNA, Luiz Wemeck; CARVALHO, Maria Alice Rezende de; MELO, Manuel Palacios Cunha et BURGOS, Marcelo Baumann. A judicia- lização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: REVAN, 1999.
VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Coimbra: Almedina, 1998.
VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. Rio de Janeiro: Record, 1997.VIGO, Rodolfo L. Los princípios jurídicos - perspectiva jurisprudencial.
Buenos Aires: Depalma, 2000.VILANI, Maria Cristina Seixas. Origens medievais da democracia
moderna. Belo Horizonte: Inédita, 2000.VILLEY, Michel. Estúdios en tomo a la noción de derecho subjetivo.
Valparaiso: Ediciones Universitarias de Valparaiso (sem referências acerca da tradução e do ano).
________ . La formation de ia pensée juridique modeme. Quatrieme edi-tion. Paris: Les Édition Montchetien, 1975.
________ . Filosofia do Direito - definições e fins do direito (trad. bras. dePhilosophie du Droit, por Alcidema Rranco Bueno Torres). São Paulo: Atlas, 1977.
________ . Filosofia do Direito - definições e fins do direito - os meios dodireito (trad. bras. de Philosophie du Droit, por Márcia Valéria Martinez de Aguiar). São Paulo: Martins Fontes. 2003.
VINOGRADOFF, Paul. Introducción al Derecho (trad. mexicana de Common sense in Law, por Vicente Herrero). 6. reimp. México: FCE, 1997.
von GIERKE, Otto. Tborías políticas de la edad media (sem indicação do título original; trad. esp. por Piedad García-Escudero). Madrid: Centro de Estúdios Constitucionales, 1995.
von JHERING. Rudolph. Bromas y veras en la ciência juridica - ridendo dicere verum (trad. esp. por Tomás A. Banzhaf). Madrid: Civitas, 1987.
378
lntiodução à "Teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores
von THUR, Andreas. Derecho Civil - Tkoria General dei Derecho Civil Alemàn. v. 1 (trad. argentina de Der Allgemeine 1feii des Deutschen Bürgerlichen Rechts, por Tito Ravà). Buenos Aires: Depalma, 1946.
WALLICH, Henry C. The cost o f fireedom. New York: Harper and Brothers, 1960.
WALZER, Michael. "The communitarian critique of liberalism". In: ETZIONI, Amitai (org.), New Communitarian Thinking - persons, virtues, institutions and communities. Charlottesville: University of Virginia Press, 1993, pp. 52-70.
________ . “The oMgations o f oppressed minorities". In: WALZER,Michael. Obligations. Cambridge: Harvard University Press, 1970.
________ . Spheres of justice. New York: Basic Books, 1983.WARAT, Luis Alberto (com a colaboração de ROCHA, Leonel Severo). O
direito e sua linguagem. 2. versão. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1995.
_________. Mitos e teorias na interpretação da Lei. Porto Alegre: Síntese.Sem indicação do ano.
WEBER, Max. História agrária romana (trad. bras. de Rómische Agrargeschichte, por Eduardo Brandão). São Paulo: Martins Fontes, 1994.
WEIS, Carlos. Direitos humanos contemporâneos. São Paulo: Malheiros,1999.
WELMANN, Carl. Real rights. New York: Oxford University Press, 1995.WERNECK, Augusto. “DÍrêIFó'administraüyo e direitos fundamentais -
uma abordagem do princípio constitucional da eficiência dos atos administrativos” . In: Direitos Fundamentais - Revista da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro, Volume X (2003), pp. 375-389.
WIEACKER, FYanz. História do Direito Privado Moderno (trad. port. de Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtgung der Deutschen Entwicklung, por A. M. Hespanha). 2. ed. Lisboa: Fundação Catouste Gulbenkian, 1993.
WILSON, John. Pensar com conceitos (trad. bras. de Thinking with con- cepts, por Waldéa Barcellos). São Paulo: Martins Fontes, 2002.
WOLKMER, Antonio Carlos. Constitucionalismo e direitos sociais no Brasil. São Paulo: Acadêmica, 1989.
YAZBEK, Otávio. “Considerações sobre a circulação e transferência dos modelos jurídicos". In: GRAU, Eros e GUERRA FILHO, Willis Santiago (org.). Direito Constitucional - Estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2001.
379
Flávío Galdino
ZAGO, Livia Maria Armentano Koenigstein. O princípio da impessoalidade. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
ZAGREBELSKY, Gustavo. II diritto mite. Ttorino: Einaudi, 1992. ZANOBINI, Guido. Corso di Diritto Amministrativo, v. 1. 8. ed. Milano:
Giuffré, 1958.