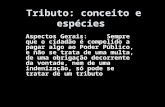Adi 4920 são paulo pede ao stf a derrubada de parte da lei dos royalties
8 6 a 12 de março de 2006 Universidade Estadual de ... · pacífico homem de ciência” foi...
Transcript of 8 6 a 12 de março de 2006 Universidade Estadual de ... · pacífico homem de ciência” foi...

Universidade Estadual de Campinas – 6 a 12 de março de 2006 9Universidade Estadual de Campinas – 6 a 12 de março de 20068
CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5
CAPÍTULO 6
Zeferino Vaz, como interventor na UnB, recebe visita doembaixador Lincoln Gordon: 15 meses produtivos e contraditórios
Fotos: Acervo Arquivo Central (Siarq) Unicamp
Fotos: Acervo Arquivo Central (Siarq) Unicamp
OAry de Arruda Veiga, Roberto Franco do Amaral eEduardo Barros Pimentel: vitória dos “generais”
Luso Ventura, editor-chefe do Diário do Povo:200 artigos em defesa da faculdade
Antonio Augusto de Almeida,o primeiro diretor
Walder Hadler, o primeiro docente contratado
Tanque nas ruas em abril de 1964: em artigo, Zeferino Vaz justifica porque “umpacífico homem de ciência” foi compelido a buscar a derrubada de um estadode direito
Primeira turma de formandos da Medicina, em 1968: primeiro vestibular teve 1.654 candidatos para 50 vagas
Antonio Barros de Ulhoa Cintra profere aula solene de instalação da Faculdade de Ciências Médicas
Notícia de mesa-redonda em favor da Faculdade de Medicina e logotipo autografado por Carvalho PintoEUSTÁQUIO [email protected]
azedume do Diário do Povo para comZeferino não era novo. Remontava a1956, quando ele era diretor da Fa-
culdade de Medicina da Universidade deSão Paulo em Ribeirão Preto, escola funda-da por ele em 1951. Já figura influente nas es-feras de decisão sobre assuntos de educaçãosuperior, Zeferino colocou-se publicamentecontra um projeto caro aos campineiros: do-tar Campinas de uma faculdade de medicinaque fosse igual ou melhor que a sua.
A campanha do jornal pela instalação des-sa escola na cidade começou em 1946 atra-vés de um artigo de seu editor-chefe LusoVentura. Até à época do entrevero comZeferino, Luso, poeta à antiga e polemistaapaixonado, já havia escrito mais de 200 ar-tigos sobre o assunto. Seus argumentos tra-duziam o anseio dos médicos da cidade e dasfamílias que tinham filhos cursando escolasde medicina em outros centros. Se RibeirãoPreto, que era uma cidade menor e economi-camente menos importante, tinha o privilé-gio de contar com uma faculdade de medici-na, por que não Campinas?
Mas Zeferino, um pioneiro do ensino mé-dico no interior paulista, achava que a rotade interiorização devia passar por outros ca-minhos. Ele se dizia inteiramente a favor deuma nova escola de medicina fora do eixopaulistano, mas não exatamente em Cam-pinas. Defendia que as escolas de medicinanão deviam ficar próximas umas das outras,e que Campinas tinha contra si o fato deestar a menos de cem quilômetros da Capi-tal.
Foi o bastante para inflamar o ânimo doscampineiros.
— Parece claro que o projeto da Faculda-de de Medicina de Campinas tem um inimigoacérrimo, e infelizmente para nós podero-so, no professor Zeferino Vaz – constata ootorrinolaringologista Paulo MangabeiraAlbernaz, professor da Escola Paulista deMedicina e campineiro de velha cepa. —Compreende-se que a criação de uma escolamédica do mesmo padrão em Campinas vi-ria matematicamente prejudicar a dele, nãosó porque Campinas é uma “capital” mastambém por ser um dos maiores centros mé-dicos do Brasil.
O argumento da proximidade entre as es-colas era ridículo, dizia Albernaz. Lisboa,Porto e Coimbra são cidades próximas en-tre si e contam com escola de medicina. E naFrança? Só no sul há escolas médicas emMontpellier, Papignan, Toulouse e Aix.
O ressentimento dos campineiros concen-trou em Zeferino todos os dissabores que vi-nham sofrendo com sucessivos governos es-taduais e com os catedráticos da Universi-dade de São Paulo que detinham, na época,o controle do ensino superior no Estado. Es-tava nas mãos da USP – a única universida-de pública no Estado, à época – o principalinstrumento que autorizava ou recusava aabertura de novos cursos ou faculdades: oConselho Estadual de Ensino Superior, pre-cursor do atual Conselho Estadual de Edu-cação. Assim, enquanto os governos criavamno papel um sem-número de faculdades paraagradar seus currais políticos, o Conselho seencarregava de evitar que elas se materializas-sem desautorizando sua instalação; sem con-tar que raramente se consumava a liberaçãode dinheiro para tal fim. Esse expediente, ver-dadeira aberração eleitoral, começou no go-verno de Lucas Nogueira Garcez, tornou-secomum no período Jânio Quadros e teve pros-seguimento com seus sucessores CarvalhoPinto e Adhemar de Barros.
Daí a irritação de Albernaz quandoZeferino, um uspiano de alto coturno, pro-nunciou-se abertamente contra a instalaçãode uma nova faculdade na cidade.
— As opiniões do professor Vaz são cap-ciosas e ocultam no bojo interesses particu-lares – disse.
Uma vez que no ano anterior Garcez ha-
O
via criado por decreto a escola que oscampineiros tanto queriam, toda a expecta-tiva da gente mais ou menos letrada da ci-dade estava voltada para aconsubstanciação desse sonho. Tanto queem outubro de 1955 o recém-criado Conse-lho de Entidades de Campinas – uma orga-nização que reunia as associações de classee clubes de serviços da cidade – fixou comosua tarefa prioritária a orquestração de umacampanha para forçar Jânio Quadros a cum-prir a promessa feita pelo governo preceden-te.
Durante três anos Jânio fez ouvidos sur-dos ao clamor que vinha de Campinas. Em1958, no entanto, encontrou uma forma depacificar momentaneamente os ânimos doscampineiros recriando no papel a escolaexigida por eles mas ao mesmo tempo agra-ciando três outras cidades – Catanduva, SãoJosé do Rio Preto e Botucatu – com promes-sa idêntica. Ou seja, de austero o governopassou a magnânimo. Mas, paralelamente,Jânio criou uma comissão para analisar ascondições específicas de cada cidade. Oscampineiros não demoraram a compreen-der que se tratava de um “leilão” em quepoderiam não dar o último lance. Tiveramcerteza disso quando Jânio, sem consultarninguém, confiou a presidência da comissãoa Zeferino. Para Albernaz, foi como entregaro galinheiro aos cuidados da raposa.
— Zeferino vai fazer o jogo de Botucatu –previu.
Não demorou muito para que os receios deAlbernaz se confirmassem. Em abril de 1959 acomissão entregou ao governador um relató-rio que rejeitava as pretensões de Campinase concluía com um parecer favorável a Bo-
tucatu – “por motivos técnicos, morfológicose econômicos”. No entender de Zeferino, erauma questão de lógica que uma nova escola demedicina no interior paulista devesse situar-se no lado oposto a Ribeirão Preto, onde já existiauma, precisamente a que dirigia. Além disso,das quatro cidades candidatas, Botucatu era aúnica a possuir hospital próprio, com capacida-de para 700 leitos, além de ser “boca de sertão”e epicentro de onde servir tanto à Alta quantoà Baixa Sorocabana, além de alcançar com fa-cilidade a vasta região rural do noroeste doEstado.
Albernaz ironizou:— É simplesmente incrível essa história de
motivos morfológicos. Se se tratasse da BrigitteBardot ou da Lollobrigida, vá lá. Mas trata-se deuma cidade. Os motivos técnicos quais seriam?
E depois de listar todos os pontos favoráveisa Campinas, já então uma metrópole com 15hospitais, 300 médicos, uma universidadeconfessional com dez cursos – a Católica –, 40mil estudantes de todos os níveis e dezenas debibliotecas, enumerou as dificuldades queBotucatu teria em mais de um sentido, inclusi-ve o de conseguir cadáveres para as aulas deanatomia e dissecção.
Zeferino apanhou como um felino o argu-mento dos cadáveres. Acusou Albernaz deatraso científico:
— Essa mentalidade “cadavérica” de ensi-no já está encerrada há vinte anos.
— Falou o parasitólogo, grande autoridadeem mosquitos e carrapatos – ironizou o médi-co campineiro. — Todos sabemos que não sepode fazer uma fenestração no vivo antes deumas cinqüenta num cadáver.
E dirigindo-se aos companheiros do Conse-lho de Entidades:
— Não devemos ter mais ilusões quanto aosinteresses escusos do professor Zeferino.
Ao ouvir essa dura expressão, “interessesescusos”, Zeferino subiu nas tamancas:
— Que interesse escusos teria eu? Políti-cos, afetivos, econômicos? Não sou político,não tenho parentes em Botucatu e não pos-suo propriedades na região. Interesse na di-retoria da faculdade? Duas vezes não! Pla-nificar, executar e dirigir a de Ribeirão Pre-to já é o bastante para encher toda uma vidae satisfazer o mais vaidoso dos homens.
De fato, seu apego à escola médica que criaraem Ribeirão Preto superava qualquer ambição:por duas vezes, ao longo da década de 50, decli-nou o convite feito por Garcez para assumir areitoria da USP (naquele tempo a escolha do reitorera prerrogativa direta do governador) sob oargumento de que sua faculdade de medicinaainda não estava de todo consolidada. Negava,portanto, ser contra Campinas e lastimava aanimosidade dos campineiros:
— É aceitável que um homem normal sejacontra outro homem, contra um time de fute-bol e mesmo que um habitante de uma peque-na cidade seja inimigo de outra cidade vizinhapor motivos esportivos ou por rivalidade debanda de música. Mas é manifestação de psi-cose delirante ser contra toda uma grande cidadecomo Campinas, com sua população culta e ati-va, com suas indústrias, seu comércio e sua la-voura.
Isto soou a discurso de conciliação tardia,prontamente repudiado pelos campineiros. Ofato é que, ao terminar a década de 50, Botucatutinha a sua faculdade de medicina e Campinas,não. Na maioria dos círculos da cidade onde aidéia alguma vez teve curso, Zeferino passoua ser considerado persona non grata. A tal pon-to que, ainda em 1959, quando o governador deSão Paulo já era Carvalho Pinto, foi aconselha-do pelo tribuno Otávio Bierrembach de Castro,seu amigo, a excluir Zeferino Vaz de qualquercomissão que estudasse os problemas deCampinas. E justificou:
— Parece que ele tem ponto de vista firma-do contra a cidade.
De como Zeferino se coloca contraa instalação da faculdade
de medicina e se torna personanon grata na cidade
gastado com a polêmica, Zeferino che-gou a demitir-se da comissão. Foi de-movido pelo governador Carvalho
Pinto. Aos campineiros isso já não importa-va muito, pois tinham decidido contornar oNapoleãozinho e levar a luta adiante com ousem ele no caminho. Para todos os efeitos, a es-cola de Campinas estava criada no papel e pô-la para funcionar continuava sendo umaquestão política e de dinheiro. Em junho de1959, Luso Ventura pontificou mais uma vezno Correio Popular:
— Está superada a fase dos debates.Estamos empenhados na instalação.
No ano seguinte os campineiros se orga-nizaram para valer. Ao tomar posse da pre-sidência da Sociedade de Medicina e Cirur-gia de Campinas, o patologista RobertoFranco do Amaral, um dos esteios do proje-to, elegeu a instalação da faculdade comoprioridade número um da entidade. Pela pri-meira vez alguém definia com clareza os alvosa serem atacados de frente: o Conselho Univer-sitário da USP, que detinha o controle do Con-selho Estadual de Ensino Superior; os mem-bros do próprio Conselho Estadual; os depu-tados da Assembléia Legislativa; e o governa-dor do Estado.
O Conselho de Entidades foi reativado1 euma nova campanha colocada em marcha.Criou-se uma estrutura com organogramae plano de ação definidos. No topo havia umacoordenação geral que tinha à frente, alémde Franco do Amaral, o engenheiro Eduar-do Barros Pimentel, delegado da Federaçãodas Indústrias do Estado na cidade, o presi-dente da Associação Comercial e Industri-al de Campinas Ruy Rodriguez e o presidenteda associação local dos funcionários públi-cos, Ary de Arrruda Veiga. Abaixo delesvinham 86 “combatentes” distribuídos emonze grupos de trabalho cujos líderes foramdenominados “generais”. Cada grupo tinhauma tarefa a cumprir de acordo com a tarefageral que era a de formular estudos jurídi-cos e financeiros para a instalação da facul-dade, fazer o levantamento sócio-econômi-co da região, estabelecer contatos políticos,promover o tráfico de influência e realizarpalestras de convencimento. Foramlistados todos os agentes políticos e admi-nistrativos cuja opinião ou poder de fogopudesse ser útil à causa. Foram arregimen-tados os nove deputados que na época repre-sentavam a cidade na Assembléia do Esta-do e na Câmara Federal, sem distinção departido, para azeitarem o diálogo com o po-der público2. A propaganda foi consideradaum capítulo importante e urdiu-se uma lin-guagem de frente de batalha. O próprio arce-bispo, Dom Paulo de Tarso Campos, cunhouum slogan que depois os jornais repetiriamà larga:
— Não é Campinas que precisa de uma fa-culdade de medicina, mas a medicina queprecisa de uma faculdade em Campinas.
Nos meses seguintes, como uma espé-cie de corrente da sorte em expansão, regis-trou-se um bombardeio de telegramas, ofí-cios, memorandos e bilhetes endereçados aogovernador e aos parlamentares exigindo o
De como, no apagar das luzesdo governo Carvalho Pinto,
Campinas é atendida com muitomais do que havia sonhado
A
atendimento do pleito de Campinas. Eram re-digidos e firmados por vereadores, às vezescâmaras municipais inteiras, dirigentes deinstituições, capitães de indústrias, clubes deserviços e Isso com tal intensidade que a certaaltura o governo já não tinha como ignoraros argumentos dos campineiros; além do queseus relatórios técnicos eram impecáveis. OBrasil tinha apenas 25 mil médicos e preci-sava de mais 90 mil – 15 mil dos quais só noEstado de São Paulo – para estar em dia comos parâmetros da Organização Mundial daSaúde. E Campinas, uma cidade para ondeconvergiam doentes de quase uma centenade cidades, dispunha de 1 médico para cadagrupo de 3.000 pessoas, quando a recomen-dação era de 1 para cada 750.
Na reunião de 14 de março de 1961, dian-te de 56 “generais”, Albernaz foi enfático:
— Se preciso, vamos sacudir no nariz dogoverno as cifras da arrecadação municipal.
Em dezembro, Carvalho Pinto deu mos-tras de mudar de postura e de conselheiro.Retirou Zeferino do caso e nomeou um seuantípoda, o reitor da USP Antônio Barros deUlhoa Cintra, para chefiar um novo grupode trabalho com a missão de “estudar a cri-ação de um núcleo universitário em Campi-nas”. O grupo incluía o professor degastroenterologia Cantídio de Moura Cam-pos, o estatístico Ruy Aguiar da Silva Leme,o bioquímico Isaias Raw e o misto de biólo-go e compositor de samba Paulo EmílioVanzolini, todos da USP ou com passagempela USP.
O grupo tinha vento a favor e trabalhoudepressa, pois assumira o compromisso deconcluir seu relatório ainda no governo Car-valho Pinto, que se encaminhava para o fim.Como tudo indicasse que seu sucessor viriada oposição — Adhemar de Barros tinhacomo principal oponente Jânio Quadros, umex-presidente combalido pela renúncia doano anterior —, isto significava que Zeferino,um ademarista de berço, voltaria a dar ascartas em assuntos de educação superior.Antes de apear do poder, entretanto, Carva-lho Pinto já havia concluído que a postulaçãode Campinas era incontornável: estavamadura o suficiente para não ser colhida. Eresolveu dar aos campineiros um presentemaior do que eles haviam pedido: em 28 dedezembro de 1962, no apagar das luzes deseu governo, assinou o decreto que criava aUniversidade Estadual de Campinas. E, apoucos dias de entregar o posto ao novogovernador, nomeou como primeiro reitorda UEC (sigla que vigorou até 1966) o profes-sor Cantídio de Moura Campos.
O curso foi autorizado a funcionar provi-soriamente nas dependências de um hospi-tal ainda em construção, a Maternidade deCampinas. Em fevereiro de 1963 era contra-tado seu primeiro professor, o especialistaem hanseníase Walter August Hadler, queassumiu a cadeira de histologia eembriologia. Lembrou-se então que a facul-dade, única a compor até aí o projeto da novauniversidade, precisava regimentalmentede um diretor. Em março foi designado paraessa função o oftalmologista Antônio Augustode Almeida. E em agosto começaram a serinstalados os primeiros departamentos, o deGenética Médica – primeiro da AméricaLatina na especialidade – e o de Anatomia,tarefas confiadas respectivamente aogeneticista Bernardo Beiguelman, um dospioneiros da genética humana no Brasil, e aopatologista João Batista Parolari.
O primeiro vestibular, realizado em abril,atraiu 1.654 candidatos para o preenchimentode 50 vagas. Formou-se rapidamente um con-selho de curadores e em 20 de maio, quando oreitor da USP, Ulhoa Cintra, chegou para dar aaula inaugural, encontrou todo o corpo docenteperfilado para cumprimentá-lo. No dia seguin-te, os alunos entraram em bando para a primei-ra aula. (E.G.)
golpe militar de 31 de março de1964 veio encontrar Zeferino pre-sidente do Conselho Estadual de
Educação, depois de um ano como secre-tário da Saúde do governo Adhemar de
Barros. Cinco anos mais tarde, num arti-go comemorativo da quartelada, Zeferino
explicou sua posição:
Pode-se perguntar por que razão um pacíficohomem de ciência, acreditando com a mais profun-da fé nas virtudes do regime democrático, que por elelutara como soldado em 1932, foi compelido a bus-car a derrubada de um estado de direito para substi-tuí-lo por um estado revolucionário. A razão esta-va em que o que existia era um pretenso estado de di-reito cujos dirigentes se preparavam ardilosamentee sub-repticiamente para implantar uma ditadura demedíocres.1
Zeferino tomou essa decisão em agosto de1963, depois de concluir que o ministro doTrabalho do governo João Goulart, Amauryde Oliveira e Silva, estaria “prestigiando”moralmente uma greve salarial na SantaCasa de Santos, que ele, ainda secretário daSaúde, tentava a duras penas debelar. Quan-do a greve ganhou o apoio dos estivadoresdas docas, o ministro viajou a Santos parareunir-se com as lideranças sindicais. Aolado do provedor da Santa Casa, RicardoPinto de Oliveira, estudava a conveniênciade aceitar-se ou não as condições dos grevis-tas. Zeferino tomou isso como uma afronta.Numa operação de emergência, desceu aserra na companhia de 40 enfermeiras em-prestadas do Hospital das Clínicas de SãoPaulo para tentar restabelecer aquele servi-ço de enfermagem . Cruzou com o ministrona entrada do hospital e desviou-se dele como semblante carregado. Terminou de subiras escadas como se não o conhecesse. “Apartir daí”, escreveu Zeferino, “não tivemais dúvida sobre o governo”:
Um governo que, para alcançar seus objetivossubalternos, através do caos social, não sentia,comprovadamente, o menor escrúpulo em procedercriminosamente, não mais podia merecer o meu res-peito de cidadão e muito menos de médico.2
E ia mais longe na sua interpretação do quepretendia o governo de Jango: nada menosque “implantar o caos e a desordem socialatravés da degradação da economia brasi-leira, mesmo à custa de vidas de crianças ede pobres trabalhadores doentes, para jus-tificar o golpe de Estado que preparava”.Caos que, na opinião do reitor da Universi-dade de São Paulo, Luís Antônio da Gama eSilva, um adepto de primeira hora do movi-mento militar, também ameaçava dominaro meio universitário e particularmente ainstituição que dirigia.
Quando eclodiram as primeiras notíciasdo golpe, na manhã de primeiro de abril de1964, a congregação da Faculdade de Medi-cina da USP reuniu-se em sessão extraordi-nária para formalizar seu voto de confian-ça no Exército. Pela rapidez com que isso foifeito, deve ter sido o primeiro apoio
Zeferino acusa o ministro doTrabalho de Jango de fomentar
greves e justifica dessemodo seu apoio ao golpe militar
institucional que os militares receberam dasociedade civil. Houve prisões em sala deaula. A Faculdade de Filosofia foi invadidapor tropas de choque e portas foram aber-tas a pontapés. O reitor cruzou os braços. Ogoverno agradeceu cumulando Gama e Sil-va de poderes — deu-lhe o Ministério daEducação e logo em seguida o da Justiça — queele usou para instalar, em julho, uma comis-são especial “para investigar atividadessubversivas na USP” da qual fizeram par-te os professores Theodureto de ArrudaSouto, da Escola Politécnica, Moacyr Amaraldos Santos, da Faculdade de Direito, e Jerô-nimo Geraldo de Campos Freire, da Facul-dade de Medicina. Três meses mais tarde,essa comissão recomendou a suspensão dosdireitos políticos de 44 professores e oitoalunos e funcionários. Entre os “agentes dadoutrinação marxista” estavam o físico Má-rio Schenberg, o arquiteto VillanovaArtigas, os sociólogos Caio Prado Júnior, Flo-restan Fernandes e Fernando Henrique Car-doso, o economista Paulo Singer e o estu-dante politécnico José Serra. Não houve san-ção imediata por parte dos órgãos de segu-rança, mas os inquéritos policial-militaresinstalados serviriam de base, cinco anosmais tarde, para um expurgo efetivo quealcançaria parte dos arrolados em 1964.
O clima de caça às bruxas instalou-se namaioria das principais universidades bra-sileiras, sobretudo nas federais, onde não sóprofessores eram presos ou indiciados comotambém reitores foram caindo um após ou-tro. A deposição do reitor e fundador da Uni-versidade de Brasília, Anísio Teixeira, umeducador marcado por suas ligações comDarcy Ribeiro e Leonel Brizola, homens deJango, era uma questão de honra para o re-gime. Anísio caiu no dia 9 de abril, junto comseu vice-reitor Almir de Castro, e o campusda UnB foi invadido por tropas do Exércitoe da Polícia Militar de Minas Gerais,acantonadas em Brasília com me-tralhadoras em posição de fogo. O ConselhoDiretor foi dissolvido e os escritórios dosprofessores interditados por duas semanas.
Menos de uma semana depois da invasão,no dia 15, Zeferino Vaz amanheceuinterventor da UnB. O próprio general-pre-sidente, Humberto de Alencar CastelloBranco, convocou-o para o cargo por telefo-ne.
— Preciso de você aqui para impedir adestruição da universidade – o general lheteria dito, conforme relato posterior do pró-prio Zeferino.
Os quinze meses que passou na UnB como“interventor ou reitor a serviço da Revolu-ção de 31 de Março”, segundo sua própria ex-pressão, foram ao mesmo tempo produtivose contraditórios. A parte boa é que, hábil emarrancar dinheiro do Estado, colocou em diaas finanças da instituição. Recebido com re-servas pela comunidade universitária, sur-preendeu a todos cuidando pessoalmente dalibertação dos professores e estudantes pre-sos durante a invasão. No entanto, poucosdias depois expulsou nove professores equatro instrutores “por conveniência da ad-ministração” (mais tarde admitiu ter erradoem dois casos, mas não conseguiu trazê-losde volta).
Em meados de 1965 tornou a causar sur-presa ao convidar para organizar o Depar-tamento de Filosofia o professor ErnaniMaria Fiori, que havia sido demitido e apo-sentado da Universidade Federal do RioGrande do Sul no primeiro dos 16 atos ins-titucionais do período militar. Quando as es-peranças da comunidade interna voltavama aglutinar-se em torno dele, Zeferino foiobrigado a voltar atrás, demitindo Fiori porordem do Planalto.
Aborrecido com as interferências e abaladocom a perda de prestígio interno, deu sua mis-
são por terminada na ca-pital federal e passou ocargo a um homem quefaria história na Univer-sidade de Brasília — oprofessor paulistaLaerte Ramos de Carva-lho — graças não só àquantidade de uísqueque consumia mas tam-bém por ter rapidamen-te conduzido a institui-ção ao abismo.
Menos de dois mesesdepois da saída de Ze-ferino, o novo reitor de-mitiu 16 professores e,em represália, recebeu223 cartas de demissão,o que equivalia a 80% do
corpo docente da UnB. Foi a maior crise da his-tória de uma universidade no Brasil. (E.G.)
Zeferino se opõe ao sonho campineiro ‘Generais’ triunfam e FCM é instaladaAventuras de
um revolucionáriocivil