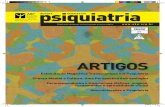8- Psicanálise e psiquiatria com crianças - Desenvolvimento ou estrutura
-
Upload
fabiola-poliana -
Category
Documents
-
view
222 -
download
1
Transcript of 8- Psicanálise e psiquiatria com crianças - Desenvolvimento ou estrutura
Oscar Cirino
Psicanlisee Psiquiatria
com
crianasdesenvolvimento ou estrutura
Psicanlise e Psiquiatria com crianasDesenvolvimento ou estrutura
Oscar Cirino
Psicanlise e Psiquiatria com crianasDesenvolvimento ou estrutura
Belo Horizonte 2001
Copyright 2001 by Oscar Cirino
Capa Jairo Alvarenga Fonseca Editorao eletrnica Waldnia Alvarenga Santos Ataide Reviso de textos Erick Ramalho Editora responsvel Rejane Dias
C578p
Cirino, Oscar Psicanlise e Psiquiatria com crianas : desenvolvimento ou estrutura/Oscar Cirino. Belo Horizonte: Autntica, 2001. 160p. ISBN 85-7526-024-3 1. Psicanlise. 2. Psiquiatria infantil. I. Ttulo. CDU 159.964.2 616.89 (053.2)
2001Todos os direitos reservados pela Autntica Editora. Nenhuma parte desta publicao poder ser reproduzida, seja por meios mecnicos, eletrnicos, seja via cpia xerogrfica, sem a autorizao prvia da editora.
Autntica EditoraRua Januria, 437 Floresta 31110-060 Belo Horizonte MG PABX: (55 31) 3423 3022 Televendas 0800-2831322 www.autenticaeditora.com.br e-mail: [email protected]
O que assim encontramos nada tem de microscpio, tal como no h necessidade de instrumentos especiais para reconhecer que a folha tem os traos de estrutura da planta de que destacada. LACAN, Escritos, p. 627
Muitos anos depois, diante do peloto de fuzilamento, o Coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. GABRIEL GARCA MRQUEZ
Para Marcella e Adriano
Sumrio
PREFCIO............................................................................................................. 13 APRESENTAO.................................................................................................. 15 INVENO E DESAPARECIMENTO DA INFNCIA............................................. 19Uma poca desprezvel marcada pela maldade: Santo Agostinho............. Uma poca importante marcada pela inocncia: Rousseau........................ A criana o pai do homem............................................................................ O cultivo da infncia no Brasil....................................................................... A criana como sujeito de direitos.................................................................. De que so responsveis as crianas?............................................................ Desaparecimento da infncia?........................................................................
23 25 28 29 33 39 42
A PSICANLISE, A INFNCIA E O INFANTIL...................................................... 49Sujeito, eu, indivduo....................................................................................... 50 A criana e a pessoa grande........................................................................ 54 A infncia e o infantil...................................................................................... 56PSICANLISE, PSIQUIATRIA E SADE MENTAL INFANTIL.................................
Retardamento e delinqncia......................................................................... Higiene, sade mental e ateno psicossocial............................................... O fim da clnica?............................................................................................... Demncia precocssima e esquizofrenia infantil........................................... O caso Dick: psicanlise e psicoses na infncia............................................. Da neuropsiquiatria psicopedagogia.......................................................... Os poderes da palavra.....................................................................................
65 68 71 78 80 82 84 87
DESENVOLVIMENTO
OU ESTRUTURA................................................................. 95 A teoria dos estdios........................................................................................ 96 Lacan e o estdio do espelho........................................................................... 102 Desenvolvimento ou histria.......................................................................... 104 O gato faz au-au........................................................................................... 109 O tempo lgico.................................................................................................. 114 Um preconceito?............................................................................................... 117
REFERNCIAS: A CRIANA NOS ESCRITOS (LACAN)....................................... 121Referncias diretas............................................................................................ 122 Referncias indiretas........................................................................................ 123
A CLNICA PSIQUITRICA DA CRIANA: ESTUDO HISTRICO......................... 127Paul Bercherie O retardamento, nico transtorno mental infantil........................................ 130 A loucura (do adulto) na criana.................................................................... 133 Nascimento de uma clnica pedo-psiquitrica.............................................. 136 Quadro terico e metodologia clnica............................................................ 139
REFERNCIAS
BIBLIOGRFICAS..........................................................................
145
12
Prefcio
Desde os trabalhos de Philippe Aris, sabemos que a infncia um conceito essencialmente socioeconmico. A infncia no foi sempre reconhecida como tal e se essa poca da vida atualmente to valorizada, isso se deve a inmeros fatores, entre os quais preciso destacar as exigncias de escolarizao nos meios burgueses. A infncia , portanto, to mais reconhecida quanto o meio rico e culto. Por isso, no h um estatuto unvoco da infncia para todo o planeta e podemos nos perguntar qual o real alcance dos famosos Direitos da Criana que se queria ver aplicados em todos os lugares do mundo. O livro de Oscar Cirino oferece a oportunidade de refletir sobre as razes e as conseqncias dessa mutao histrica no estatuto da infncia e de avaliar todos os seus paradoxos, principalmente, na sociedade brasileira. Ao ler esta obra, rica de referncias bibliogrficas, pareceu-me que a difuso da psicanlise foi um elemento que, sem dvida, contribuiu para essa mudana de perspectiva sobre a poca da infncia. Isso evidente na prtica mdica; incontestvel, por exemplo, que a psiquiatria infantil provm diretamente do saber elaborado pelas diferentes teorias psicanalticas. Mas, de maneira mais geral, na vida cotidiana, nos lugares onde se pratica a psicanlise, os adultos tomaram conscincia da importncia de sua infncia; certamente, no mais olhamos as crianas da mesma maneira a partir do momento em que fazemos uma anlise. H a, entretanto, um ligeiro mal-entendido, uma vez que a psicanlise do adulto no nos ensina nada sobre a infncia; o que ela permite construir o infantil, que constitui o ncleo da neurose. Quanto prtica da psicanlise com crianas, preciso deixar claro que, na medida em que saiba resistir tendncia educativa, ela se esfora sobretudo para dar a palavra ao sujeito que no se reduz a ser a criana-objeto do Outro.
13
Quer se dirija a uma criana ou a uma pessoa grande, a psicanlise acolhe a fala de um sujeito, ou seja, de algum que no se encaixa em nenhum quadro de saber universal. por isso tambm que a aplicao do saber psicanaltico, em uma poltica da sade mental, tem poucas chances de ser eficaz. No entanto, face aos problemas da sociedade, os psicanalistas esto condenados ao silncio?
Bernard Nomin
14
Apresentao
Todos os que convivem ou trabalham com crianas so cotidianamente confrontados com questes relacionadas ao desenvolvimento, evoluo e histria. Quanto tempo devo deixar o beb mamar? Por que ele ainda no engatinha? Ser que no est demorando a falar? normal ela continuar se masturbando? Esse egosmo, impacincia e alienao vo passar? Ele vai se chamar Jorge em homenagem ao escritor argentino... Ela organizada como a av ou teimosa como o pai... De fato, so diversas as possibilidades evolutivas da criana: a maturao neurolgica, o desenvolvimento sensrio-motor, os hbitos alimentares e de higiene, o desenvolvimento cognitivo, os processos de adaptao escolar e social. O prprio Estatuto da criana e do adolescente que os reconhece como sujeitos de plenos direitos postula sua condio peculiar de pessoas em desenvolvimento. Assim, aos diferentes fenmenos ocorridos no organismo agregam-se caractersticas psicolgicas e comportamentais, o chamado desenvolvimento emocional ou afetivo. Favorece-se, desse modo, a uma confuso conceitual, pois, quando se fala do desenvolvimento da criana, misturam-se e sobrepem-se noes provenientes de lgicas distintas a do ser vivo, a do ser falante e a do ser social. Marcado pela insgnia do desenvolvimento, o perodo da infncia tambm considerado, sem dificuldades, como determinante na vida de qualquer indivduo. Tudo que nele acontece adquire papel fundamental na formao no s do futuro adulto para o qual, confessemos, no fcil encontrar um modelo ou tipo ideal , mas do prprio desenvolvimento humano. A difuso da psicanlise tambm contribuiu para fortalecer a importncia da infncia, principalmente dos seus acontecimentos sexuais, que se constituram em fatores causais das neuroses. Propagaram-se sedues, traumas e complexos, bem como as fases do chamado desenvolvimento
15
psicossexual, cujo estgio final sua apoteose seria a relao genital, momento em que o sujeito estabeleceria uma relao madura com o objeto. Confunde-se, portanto, o sujeito com o eu e define-se o objeto como sendo primordialmente de satisfao. Por outro lado, a concepo de que a criana no apenas um adulto em potncia ou seja, o adulto seria o fim e o sentido ltimo do seu desenvolvimento , mas um ser com existncia e caractersticas prprias, encontra antecedentes no pensamento de Rousseau e no movimento romntico, fortalecendo-se, a partir do final do sculo XIX, com o discurso cientfico da psicologia da criana e do seu desenvolvimento. Alis, essa outra idia pouco questionada: a diviso da existncia humana em perodos ou fases infncia, adolescncia, maturidade e velhice e a crena de que possvel saber o que acontece ou deveria acontecer em cada um deles. No entanto, nunca podemos esquecer que a psicanlise no se constitui em uma teoria sobre a infncia, mas sobre o inconsciente e o gozo. Para ela, o que importa no a realidade dos fatos da infncia, mas a realidade psquica constituda pelos desejos inconscientes e fantasias a eles vinculadas. Por no ser uma psicologia evolutiva, a distino entre a criana e o adulto, para a psicanlise, s tem algum interesse a partir de parmetros diferentes do crescimento ou da maturidade. Isso porque seu foco tanto um sujeito que no tem idade o sujeito do inconsciente quanto uma satisfao paradoxal que no se desenvolve o gozo. Podemos dizer que o processo maturativo do organismo humano sofre, portanto, a presena de um sujeito de algum que subjetiva e d sentido a esses fenmenos conduzindo ao fato de que, inevitavelmente, seu desenvolvimento ordene-se na dialtica da demanda de amor e da experincia do desejo. Da a importncia de se explicitar a diferena entre uma clnica da infncia que se faz a partir da perspectiva gentica do desenvolvimento psicolgico e a clnica do infantil freudiano que se faz na vertente estrutural da diviso do sujeito entre o significante e o real do gozo. Sabemos que foi possvel construir com trechos seletos da obra de Freud sem considerar a lgica que o conduz uma interpretao gentica do seu pensamento, tornando-o uma psicologia evolutiva. Foi preciso o retorno a Freud, proposto por Lacan, para que se pudesse efetivar uma crtica contundente essa leitura e noo de desenvolvimento em psicanlise noo que havia assumido feio normalizadora e at moralista, relacionada ao acesso fase genital e capacidade de amar. Lacan mostrou que era possvel entender o discurso freudiano de maneira
16
radicalmente diversa, livrando-o de sua aderncia biolgica ou de uma compreenso demasiado realista ou psicologizante. Neste livro, discutiremos questes relacionadas ao estatuto do tempo, da histria, do desenvolvimento e da estrutura em psicanlise, bem como ruptura ou continuidade entre a criana e o adulto. No primeiro captulo, recorreremos s anlises de alguns historiadores, filsofos, psicanalistas e juristas, que, a partir de diferentes perspectivas, se dedicaram a pensar a infncia na civilizao ocidental e, mais particularmente, na sociedade brasileira. No segundo captulo, repensaremos a concepo que associa de maneira insofismvel infncia e psicanlise, delimitando diferenas entre a infncia e o infantil. O terceiro captulo estabelece inter-relaes histricas e conceituais entre as teorias e prticas da psicanlise e da psiquiatria infantil no campo da sade mental e da ateno psicossocial. O ltimo captulo discute principalmente a partir do ensino de Lacan as idias de estdio ou fase e a concepo linear do tempo presente na perspectiva gentica do desenvolvimento psquico. A oposio de Lacan aos conceitos de desenvolvimento e evoluo no implica na negao ou desconsiderao do tempo e das mudanas e transformaes subjetivas. Trata-se antes de uma ordenao lgica e no de seqncias cronolgicas. Assim, analisaremos as noes de histria, de tempo lgico, de retroao (aprs-coup) e antecipao, bem como a noo de estrutura e sua relao com o sujeito. Se a perspectiva estrutural nos impossibilita de defender que a criana enquanto um conceito historicamente produzido existe no inconsciente, isso no implica em abandon-la, pois ela pode ocupar tanto o lugar de falo enquanto significante privilegiado do desejo como tambm de objeto a. A especificidade da relao do analista com a criana no deve, portanto, ser dissolvida, pois ela tem possibilitado avanos na teoria e na clnica psicanaltica, ainda que tambm tenha favorecido a riscos e desvios, pois os analistas, muitas vezes, substituram o silncio da criana por suas prprias produes delirantes ou educativas. Trata-se, antes de tudo, de reconhec-la como um sujeito, um analisante integral. Alm disso como j sugeria Freud os que lidam com as crianas tm a tarefa de faz-las ter vontade de viver, de despert-las para o mundo, no as deixando ao sabor do destino, mas, sim, responsabilizando-as pela inveno de suas prprias vidas e de sua sociedade.
17
Neste livro, encontram-se tambm publicados dois trabalhos de colegas estrangeiros. O primeiro um importante instrumento de investigao para os interessados no estudo da criana no ensino de Lacan. Trata-se da adaptao, para a edio brasileira dos Escritos, da pesquisa o significante criana nos Escritos desenvolvida por Anibal Leserre, que, de maneira afetuosa, acolheu nosso pedido para adapt-la e public-la. O segundo a traduo de um artigo de Paul Bercherie no qual ele realiza um estudo histrico sobre a clnica psiquitrica da criana, demonstrando que ela diferentemente da clnica psiquitrica do adulto constituiu-se, propriamente, depois do advento da psicanlise. hora de registrar, mais uma vez, que vrios se escondem atrs do nome de um autor. Gostaria de expressar-lhes minha gratido, enunciando o nome de alguns: Margareth Diniz e Tnia Ferreira, pela idia do livro; Dra Apocalypse, pela leitura atenta; colegas da Residncia em Psiquiatria da Infncia e da Adolescncia do Centro Psicopedaggico da FHEMIG, em especial a Cludio Costa; Elisa Alvarenga, pelas sugestes ao segundo captulo; ngela Diniz e Fernando Grossi, pelo entusiasmo; Anibal Leserre e Paul Bercherie, pela autorizao para a publicao de seus trabalhos. importante destacar ainda o apoio de Formaes Clnicas do Campo Lacaniano-BH.
Belo Horizonte, 21 de julho de 2001.
18
Inveno e desaparecimento da infncia
Eu no tenho saco. Eu tenho assim essa lembrana de festa de aniversrio da minha infncia... Maravilhosas. Mas eu acho que hoje tudo demais. Tudo over. Voc no precisa chamar um palhao, um mgico, um pulapula, gastar cinco ou seis mil reais. Acho legal organizar as festas das crianas. Acho legal as crianas ficarem juntas. Acho legal essa coisa das crianas se encontrarem e tal. Mas, eu acho demais. over, over demais. (Entrevista annima, CASTRO (org.), 1999, p.180)
Em 1994, importante revista de circulao nacional anuncia em capa o tema da matria principal: A infncia de um vencedor Como viveu at a adolescncia o prximo presidente do Brasil. So contados detalhes histricos e pitorescos sobre a infncia e adolescncia de Lula, Leonel Brizola, Fernando Henrique, Orestes Qurcia e Esperidio Amin, os cinco candidatos melhor colocados para a eleio presidencial da poca. Ao leitor lanam-se as seguintes questes: Seria diferente a infncia de algum que, um dia, ser presidente de seu pas? Revelar ele desde cedo uma estrela na testa? Ou, ao contrrio, uma infncia como as outras? (Veja, 17/08/94, edio 1353). Essa reportagem curiosa, em um veculo de comunicao de massa, expe algumas idias atualmente inquestionveis. A primeira a de que a existncia humana, desde a concepo at a morte, est dividida em perodos infncia, adolescncia, maturidade e velhice , sendo que seria possvel saber o que acontece ou deveria acontecer em cada um deles. A segunda a de que a infncia uma fase determinante na vida de
19
qualquer indivduo, situada entre o nascimento e a adolescncia, e marcada por importante desenvolvimento fsico, intelectual e emocional. Por outro lado, apesar de destacar o valor da infncia na vida de um futuro presidente, a reportagem j deixa vislumbrar, paradoxalmente, certa diminuio da importncia concedida a essa fase da existncia. Neste captulo, recorreremos s anlises de alguns historiadores, filsofos, psicanalistas e juristas, que, a partir de diferentes perspectivas, se dedicaram a pensar algumas questes sobre a infncia. Buscaremos demonstrar que a representao atual da infncia fruto de uma inveno histrica e social, e que, por essa mesma razo, possvel que ela venha a assumir outro estatuto ou desaparecer. Essa perspectiva distancia-se, portanto, da idia de pensarmos a infncia como uma etapa natural da vida, biologicamente situvel, que nos leva a acreditar na existncia de uma essncia ou natureza infantil. A justificativa mais imediata para se invocar essa natureza infantil a imaturidade biolgica. No entanto, s condies objetivas do desenvolvimento fsico da criana vinculam-se tambm freqentemente caractersticas psicolgicas e comportamentais, tornando-a prisioneira de uma dupla armadilha da naturalidade. Por um lado, a idia de criana, tal como a concebemos, nos natural no sentido de auto-evidente. Por outro, as caractersticas que compem essa representao so atribudas a uma natureza prpria condio biolgica da criana (ver SILVA, 1985, p. 15-20). No h dvida de que o organismo humano sempre se desenvolveu, desde a concepo at a idade adulta, atravessando um perodo inicial de extraordinria prematuridade, que requer cuidados e proteo constante dos adultos, a fim de assegurar a sobrevivncia da espcie: a criana sempre foi a cria do homem em todas as sociedades e culturas. No entanto, essa idia ou viso da criana e dos cuidados a ela dedicados no foram sempre os mesmos, constituindo-se em produo relativamente recente. Philippe Aris, em livro j clssico na anlise das representaes histricas da criana Lenfant et la vie familiale sous lAncien Rgime (1960)1 demonstra como a definio de criana se modificou de acordo com1
No Brasil, o livro foi traduzido em verso abreviada, com o ttulo Histria social da famlia e da criana.A edio brasileira reproduziu integralmente apenas as partes I (O sentimento da infncia) e III (A famlia), eliminando captulos da parte II (A vida escolstica) e suprimindo totalmente a parte IV (Do externato ao internato). LAncien Rgime, do ttulo original, refere-se denominao dada monarquia de direito divino, principalmente da Frana dos sculos XVII e XVIII.
20
parmetros ideolgicos. Nessa obra, em que analisa diferentes objetos, como pinturas, dirios, testamentos, tapearias, esculturas funerrias e vitrais produzidos na Europa, principalmente no perodo anterior aos ideais da Revoluo Francesa, Aris utiliza a expresso sentimento da infncia para designar a conscincia da particularidade infantil, essa particularidade que distingue essencialmente a criana do adulto (ARIS, 1981, p. 156). Inicia-se assim o processo de sacralizao da infncia, perodo miticamente feliz livre de obrigaes e responsabilidades que fez das crianas objeto de contemplao e agrado, herdeiras dos anseios e da insatisfao dos adultos. Esse sentimento, que comea a surgir a partir do sculo XVI, no se confunde com a afeio que se podia ter pelas crianas em geral ou por alguma criana em especial. Se ele no existia anteriormente, isso no quer dizer que as crianas fossem desprezadas ou negligenciadas, mas, sim, que no se tinha conscincia de uma srie de caractersticas intelectuais, comportamentais e emocionais que passaram, ento, a ser consideradas como inerentes, naturais s crianas. Na Idade Mdia, com suas sociedades agrrias, no se concedia lugar particular criana. A infncia era um perodo de transio rapidamente superado e sem importncia. Sua durao reduzia-se fase mais frgil da criana, que, quando adquiria algum desembarao fsico, tornava-se uma espcie de companhia natural dos adultos, partilhando seus trabalhos, jogos e festas. Sua socializao no era assegurada nem controlada pela famlia constituda, nessa poca, por consanginidade extensa , pois logo afastava-se dos pais, indo aprender as coisas que devia saber, ajudando outros adultos a faz-las. Seus trajes no as diferenciavam, nem os seus divertimentos. Por isso, se a arte medieval no representava a criana com expresso particular, limitando-se a reproduzir um adulto em miniatura (algo semelhante a um ano), no era por incompetncia ou falta de habilidade dos artistas, mas, sim, porque, nesse momento, a infncia era insignificante. Sabemos que no sistema feudal quase no havia mobilidade social, uma vez que o destino de cada homem estava praticamente traado a partir de sua posio na hierarquia (vassalo ou senhor). Assim, cada criana vinda ao mundo ocupava lugar definido numa rede social bem articulada e estabelecida pela tradio. Com a ascenso do capitalismo e dos ideais da burguesia, os valores individuais adquirem importncia: espera-se que qualquer um possa construir seu lugar e destino. O indivduo, com sua liberdade, direitos e deveres, passa a ocupar o centro da cena, despertando interesse por tudo o que se relaciona com ele: sua
21
sade, capacidade de trabalho, sua moral, seu desenvolvimento e, conseqentemente, sua infncia inveno do individualismo moderno. Ao abandonar a antiga diviso social entre o clero, a nobreza e o terceiro estado, a Revoluo Francesa vai encontrar na cincia a definio do novo cidado: a discriminao do cidado livre, maior, responsvel, cr encontrar uma base slida na oposio entre adulto e criana. A partir disso, a criana oferecida ps e mos atados aos especialistas da cincia e da educao (SAURET, 1998, p. 13). A emergncia do sentimento da infncia contempornea afirmao da famlia como um ncleo restrito de pais e filhos unidos por sentimentos ntimos o que possibilita, portanto, que a criana passe a ser pensada como o homem de amanh, sendo destacada e recortada como objeto de teorizao e de prticas educacionais, higinicas e cientficas. essa perspectiva que possibilitar o desenvolvimento, em momentos diferentes, da pedagogia, da pediatria, da puericultura, da psicologia do desenvolvimento, e de uma srie de especialistas, que legitimados por uma posio de autoridade pelo saber cientfico, falaro e, de fato, construiro a infncia.Uma infncia que requer especialistas no , certamente, uma infncia qualquer, mas, sim, uma que supostamente necessita de um squito de conhecedores para lhe revelar sua verdade. Assim, a noo de infncia na modernidade se articula dentro de uma poltica de verdades, amparada pela autoridade do saber de seus porta-vozes. (CASTRO, 1999, p. 24)
A proposta educativa que faz com que a escola ganhe a importncia de continuao do lar visa a produzir adultos convenientes aos ideais da sociedade que eles constituem. O projeto claro: trata-se de harmonizar a criana para preparar o adulto, a fim de mold-lo aos ideais da burguesia em ascenso. Assim, para o psicanalista Guy Clastres, a promoo do significante educao faz aparecer o [significante] da criana, atrelando, portanto, a criana normatividade e moralidade (ver CLASTRES, 1991, p. 137-138). Nesse sentido, ser interessante nos determos em dois pensadores que marcaram profundamente a concepo de criana e de educao na civilizao ocidental: Santo Agostinho e Jean-Jacques Rousseau2.2
Uma importante referncia sobre possvel encontro entre a filosofia e a infncia encontra-se no livro Filosofia e Infncia, organizado por Walter Kohan e David Kennedy. A preocupao sistemtica e no referncias espordicas ou aforsticas dos filsofos com a infncia , segundo os autores, bem recente.
22
Apesar das marcantes diferenas de suas idias, gestadas em contextos histricos distintos, podemos aproxim-los em pelo menos dois pontos: 1) ambos produziram suas teorias de modo intimamente ligado s suas experincias de vida; 2) cada um, sua maneira, buscou uma comunho, uma relao perfeita, sem falta, ou com Deus ou com a Natureza.
UMA POCA DESPREZVEL MARCADA PELA MALDADE: SANTO AGOSTINHOSanto Agostinho (354-430) marca o apogeu do pensamento patrstico, que , de forma genrica, a filosofia crist dos primeiros sculos. Embora essencialmente baseado em verdades de f (verdades reveladas), o Cristianismo teve a necessidade de justificar-se diante da razo humana, mostrando, desde o incio, sua credibilidade e coerncia internas. A patrstica traduz a busca da sntese entre a religio crist e a filosofia grega clssica a qual ela combate por seu paganismo, mas da qual necessita dos recursos conceituais. Agostinho realiza esse trabalho com afinco, no momento em que o Cristianismo se consolida como religio de importncia social e poltica, e a Igreja se afirma como instituio. Nos anos 397/398, Santo Agostinho, com cerca de 45 anos, relata, no livro I de suas Confisses memrias que so um dilogo consigo mesmo diante de Deus detalhes sobre sua infncia. Apesar de no se lembrar do perodo da amamentao e dos primeiros sorrisos, ele reconhece que j nessa poca trazia consigo a marca do pecado original: a alma das crianas no inocente. Essa idia comprovada por suas observaes:Vi e observei [uma criana] cheia de inveja, que ainda no falava e j olhava plida, de rosto colrico, para [seu irmozinho]. Quem no testemunha do que afirmo? Diz-se at que as mes e as amas procuram esconjurar este defeito, no sei com que prticas supersticiosas. Mas, enfim, ser inocente a criana quando no tolera junto de si, na mesma fonte fecunda do leite, o companheiro destitudo de auxlio e s com esse alimento para sustentar a vida? Indulgentemente se permitem estas ms inclinaes, no porque sejam ninharias sem importncia, mas porque ho de desaparecer com o andar dos anos. (AGOSTINHO, 1984, p. 14-15)
Lacan considera que Agostinho antecipou-se psicanlise, ao detectar, na relao entre a criana e seu irmo de leite, uma agressividade original, agressividade presente em toda situao de absoro especular, isto , em toda relao dual entre o eu e o semelhante (LACAN, 1998 [1948], p. 117).
23
No captulo VIII (Como aprendi a falar), Agostinho discute a maneira como o infante aprende a interpretar as palavras e os sinais, expondo a tese de que a criana impulsionada a aprender a linguagem pela vontade imperiosa de que conheam as suas necessidades. Os gritos, gemidos e movimentos dos membros, na medida em que eram insuficientes para exteriorizar tudo o que desejava, suscitavam as palavras daqueles que rodeavam Agostinho:Retinha tudo na memria quando pronunciavam o nome de alguma coisa, e quando, segundo essa palavra, moviam o corpo para ela. Via e notava que davam ao objeto, quando o queriam designar, um nome que eles pronunciavam. Esse querer era-me revelado pelos movimentos do corpo [...]. Por esse processo retinha pouco a pouco as palavras convenientemente dispostas em vrias frases freqentemente ouvidas como sinais de objetos. Domando a boca segundo aqueles sinais, exprimia por eles as minhas vontades. Assim principiei a comunicar-me com as pessoas que me rodeavam, e entrei mais profundamente na sociedade tempestuosa dos homens, sob a autoridade de meus pais e a obedincia dos mais velhos. (AGOSTINHO, 1984, p. 16-17)
Anuncia-se, ento, o final da infncia, quando ele j no era mais um beb que no falava, mas um menino que principiava a balbuciar algumas palavras (AGOSTINHO, 1984, p. 15). No curso da vida, a infncia , segundo ele, sucedida pela puercia, palavra de origem latina que, durante muito tempo, serviu para designar o perodo entre a infncia e a adolescncia. A partir dessa e de outras referncias, o psicanalista Anibal Leserre considera que Lacan faz uma incluso implcita de Santo Agostinho, no seguinte pargrafo de A psicanlise e seu ensino (1957):E, com efeito, aquilo a que a descoberta de Freud nos conduz a imensido da ordem em que ingressamos, na qual, por assim dizer, nascemos uma segunda vez, saindo justamente do estado denominado infans, sem fala, ou seja, a ordem simblica constituda pela linguagem, e o momento do discurso universal concreto e de todos os sulcos abertos por ele nessa hora, onde foi preciso nos alojarmos. (LACAN, 1998, p. 446)
Assim, se, para Santo Agostinho, no particular do homem est o universal, Deus; para a psicanlise, no particular daquele que fala est outro universal, a linguagem (ver LESERRE, 1994, p. 21-28). Deus deve ser buscado no prprio interior de cada homem. Por isso, Agostinho envergonha-se do perodo em que no fala, pois esse no
24
suscita lembranas. S depois que comeou a balbuciar algumas palavras, que pde conservar algumas recordaes: a paixo pelos jogos e divertimentos, a indisposio para os estudos, apesar do fascnio pela Eneida de Virglio, os castigos aplicados pelos professores. Recorda-se tambm dos pequenos furtos e crueldades, bem como de sua ira, quando era derrotado pelos colegas, e de seu orgulho, quando vencia. Desse modo, Santo Agostinho tenta demonstrar que as crianas so eminentemente pecadoras, e se, na Bblia (Mt 19, 14), Jesus as abenoa e diz que delas o reino dos cus, Deus est, segundo ele, apenas louvando na estatura das crianas o smbolo da humildade (AGOSTINHO, 1984, p. 25). Ou seja, Deus submete-se humilhao, no apenas por adotar o aspecto humano, mas por assumir a condio de criana, colocando-se num nvel inferior ao do prprio Ado. Portanto, o pensamento de Santo Agostinho, que, durante sculos, exercer influncia sobre a tradio crist e sobre a pedagogia, postula tanto a idia de que a infncia concebida como o perodo em que no se fala uma poca desprezvel quanto a perspectiva de que a maldade seria a verdade da criana antes de qualquer adestramento educativo e moral.
UMA POCA IMPORTANTE MARCADA PELA INOCNCIA: ROUSSEAUEssa concepo agostiniana da infncia ser radicalmente confrontada apenas no final do sculo XVIII, por Jean-Jacques Rousseau (17121778), pensador que, apesar de herdeiro da tradio cartesiana, racionalista, colocar o sentimento cuja sede o corao ou a conscincia moral no centro de sua viso de homem. Em outras palavras, para Rousseau o eu sensvel tem supremacia sobre o cogito racional, do mesmo modo que o senso ntimo sobre a universalidade lgica. Alm disso, como precursor do Romantismo, ele no pensar a natureza como um sistema de leis e entidades de carter matemtico, mas como a fonte de todo bem e de todo valor, enfatizando que o sentimento mstico de comunho com a Natureza inseparvel do sentimento de interioridade pessoal. Ser a partir desses pressupostos que se poder anunciar um novo homem, definitivamente reconciliado com a Terra, ou, em termos lacanianos, totalmente livre da dependncia ao significante.33
Colette Soler, em artigo sobre Rousseau, chama esse procedimento de foracluso metdica em analogia dvida metdica de Descartes. Ver Rousseau, o smbolo. In: A psicanlise na civilizao. Rio de Janeiro: Contracapa, 1998, p. 29-62.
25
No tempo de Pascal (1623-1662), quando se fala da infncia, para dizer que uma criana no um homem (LACAN,1988 [1959-60], p. 36)4 ou que ela apenas uma representao alegrica dele, um ser temporrio tanto porque sua vida seria provavelmente breve quanto pelo que ela poderia vir a ser posteriormente. J com Rousseau, a partir de seu livro Emlio ou Da Educao (1762), estabelece-se uma nova perspectiva: a infncia tem maneiras de ver, de pensar e de sentir que lhe so prprias (ROUSSEAU, 1999, p. 86). Alm disso, ela to perfeita e importante quanto a idade adulta: Cada idade, cada estado da vida tem sua perfeio conveniente, o tipo de maturidade que lhe prpria. Ouvimos falar muitas vezes de um homem feito, mas consideremos uma criana feita: o espetculo ser mais novo para ns, e talvez no venha a ser menos agradvel (ROUSSEAU,1999, p. 192). As fases de formao na vida poderiam, seguindo a proposta de Rousseau, ser divididas do seguinte modo: a idade de natureza o beb (infans); a idade de natureza de 2 a 12 anos (puer); a idade de fora de 12 a 15 anos; a idade de razo e das paixes de 15 a 20 anos e a idade de sabedoria e do casamento de 20 a 25 anos. Para ele, a segunda fase da vida aquela onde acaba propriamente a infncia, pois as palavras infans e puer no so sinnimas. A primeira est contida na segunda e significa quem no pode falar... (ROUSSEAU, 1999, p. 65). No entanto, ele esclarece que, seguindo o costume da lngua francesa, continua a se servir da palavra infans para designar uma fase que j possui outro nome. Rousseau entende a natureza humana como malevel e mutante. A criana pode ser educada e no apenas instruda. O homem se faz, pode ser aperfeioado, e por isso seu manual para educadores, escrito sob a forma de romance Emlio traa as linhas gerais que deveriam ser seguidas com o objetivo de se produzir um adulto bom. Mais exatamente ele trata dos princpios para evitar que a criana se torne m, j que, ao contrrio de Santo Agostinho, ele cr na bondade natural do homem: no h perversidade original no corao humano. No se encontra nele um s vcio de que no possamos dizer como e por onde entrou (ROUSSEAU, 1999, p. 90). Como conseqncia, para Rousseau, a educao deve visar a duas metas: o desenvolvimento das potencialidades naturais da criana e seu4
Alm dessa referncia no Seminrio 7 (1959-1960), Lacan j havia nas Formulaes sobre a causalidade psquica (1946) recorrido idia de que a criana no um homem (ver 1998, p. 188). Anibal Leserre analisa essas citaes de Lacan no artigo Dos referencias al nio en Lacan. In: Psicoanlisis con nios, 1995, p. 35-43.
26
afastamento dos males sociais. Ela deve ser progressiva. A cada etapa da vida da criana, novas lies, mas no apenas novos contedos, tambm novos procedimentos para lidar com ela e sua natureza em formao. A primeira etapa, por exemplo, deve ser inteiramente dedicada ao aperfeioamento dos rgos dos sentidos, pois as necessidades iniciais da criana so principalmente fsicas. Incapaz de abstraes, o educando deve ser orientado para conhecer o mundo atravs do contato com as prprias coisas: os livros s podem fazer mal, com exceo do Robinson Cruso, que relata as experincias de um homem livre em contato com a natureza. Essas indicaes de Rousseau nos so bem familiares, pois, afinal, ele fez escola e no Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, estudaram J. Pestalozzi (1746-1827, seu discpulo direto), E. Claparde (18731940), J. Piaget (1896-1980) e algum bem prximo de ns, Helena Antipoff (1892-1974). A importncia dessa obra de Rousseau expressa da seguinte maneira por Renato Janine Ribeiro:pouco livro de filosofia ter sido to inaugural quanto o Emlio. O interesse que despertou pelas crianas foi tal que... desde ento, a infncia deixou de ser vista como uma poca marcada s pela carncia de razo, para se entender como senhora de uma percepo, de um sentimento positivo e prprio. A pedagogia e a psicologia atuais devem muito a Rousseau. (RIBEIRO, 1992)
J o professor da Universidade de Genebra, Alain Grosrichard, prope uma interessante leitura do texto do filsofo suo. Recorrendo ao livro IV do Emlio que, segundo ele, explicita bem o que uma criana para Rousseau, Grosrichard atem-se ao momento em que se vai colocar o problema da educao sexual de Emlio, j com 18 anos. Esse momento, requerido pela Natureza, , para Rousseau, o de um segundo nascimento: nascemos uma primeira vez para a espcie, e uma segunda vez para o sexo. Antes desse segundo nascimento, diferente do proposto, como notamos anteriormente, por Lacan, o pequeno homem , de certa forma, assexuado, como um anjo: at a idade [de se casar] as crianas dos dois sexos nada tm de aparente que as distinga; mesmo rosto, mesmo aspecto, mesma cor, mesma voz, tudo igual; as meninas so crianas, os meninos so crianas; o mesmo nome basta para seres to semelhantes (ROUSSEAU,1999, p. 271). Grosrichard comenta que, atravs deste significante criana, estabelece-se a posio de Rousseau, adotada por todo sculo XIX, a saber, o lado naturalmente assexuado da criana, a ausncia de toda a
27
sexualidade infantil. Ser preciso esperar Freud para que essa perspectiva se modifique.
A CRIANA O PAI DO HOMEMA criana o pai do homem cantava com otimismo o poeta romntico ingls William Wordsworth (1770-1850), concedendo espao e valor inditos infncia na civilizao ocidental. Ela adquire a funo simblica de ser o solo frtil e sensual, que abastecer o crescimento de um ser sublimemente humano: a criana torna-se a fonte de toda excelncia humana posterior e a perfeio s contemplar o adulto que conseguir preservar sua experincia infantil.5 Durante o perodo romntico os anos transcorridos desde a Revoluo Francesa at as Revolues de 1848 artistas, poetas e filsofos estabelecem como seu tema central o crescimento e o desenvolvimento humano, em um universo de processo e mudana. Esse movimento inclui, entre outros, alm de Wordsworth, Schiller Cartas sobre a educao esttica do homem (1795) e Goethe, com seu Fausto (1831). Para o Romantismo, as crianas e os artistas so figuras modelares, capazes de provocar a regenerao e a redeno da raa humana, a partir de sua imaginao criativa, espontaneidade, liberdade dos preconceitos sociais e do uso da sensibilidade como sustentculo para o pensamento. Com isso, o mundo da infncia, as recordaes e anseios infantis se tornaro a fonte de inspirao e de explorao dos artistas seres da melhor qualidade e vitalidade pois souberam conservar as aptides da infncia, adquirindo o intelecto e a conscincia moral do adulto. Em O interesse cientfico da psicanlise (1913), Freud cita Wordsworth, dizendo que a psicanlise teve de levar a srio o velho ditado que diz que a criana o pai do homem, ao ser obrigada a atribuir a origem da vida mental dos adultos vida das crianas (1980 [1913], p. 218). Por isso, ele foi levado a construir uma psicologia gentica e a propor a continuidade entre a mente infantil e a mente adulta. J Lacan utiliza-se da frmula de Wordsworth no Seminrio 7 (19591960), afirmando que no suficiente valorizar as lembranas e os ideais infantis a idia da criana que h no homem para estabelecer o benefcio e a novidade da experincia analtica. Em outras palavras,5
Estudo rigoroso e interessante sobre a relao entre o Romantismo e a infncia realizado por Judith Plotz, no artigo Romantismo, infncia e os paradoxos do desenvolvimento humano. In: Filosofia e Infncia, op.cit., p. 161-205.
28
Lacan no define o pensamento inconsciente como a permanncia da criana no homem. Perguntando onde est o modelo do ser adulto, ele considera que preciso reinterrogar a dura aresta do pensamento de Freud e que a referncia fundamental da experincia analtica no dada em termos de gnese ou desenvolvimento, mas de tenso e oposio entre processo primrio e processo secundrio, entre princpio do prazer e princpio de realidade (ver LACAN, 1988 [1959-60], p. 36-37).6 Esse contraponto entre as perspectivas desenvolvimentista e estrutural ser retomado nos prximos captulos.
O CULTIVO DA INFNCIA NO BRASILUma anlise histrica e crtica sobre o cultivo da infncia no Brasil encontra-se em Ordem mdica e norma familiar (1979)7, livro que busca explicitar como o saber mdico, em sua vertente higienista, produziu normas educativas e teraputicas para as famlias brasileiras. Jurandir F. Costa analisa uma srie de romances, teses de medicina, estudos pedaggicos e histricos, constatando que, apenas a partir de meados do sculo XIX, a criana passou a ser valorizada de forma diferenciada, uma vez que mantivemos, por muito tempo, uma estrutura rural e escravocrata. O captulo V, intitulado Adultos e Crianas, demonstra como at esse perodo a criana permaneceu prisioneira do inexpressivo papel reservado aos filhos durante o Brasil Colnia. Nem sempre o nenm foi majestade na famlia. Durante muito tempo seu trono foi ocupado pelo pai [...] ao pai, ao adulto, os louros; ao filho, criana, as batatas! (COSTA, 1979, p. 155).6
Lacan refere-se tambm frmula de Wordsworth no Seminrio 17 (1969-1970), no qual em concordncia com a proposta de um para alm do complexo de dipo e com a anlise da lio Do mito estrutura, ele diz que a psicanlise nos demonstra que a criana o pai do homem (ver LACAN, 1992, p. 117). Uma anlise dessas duas referncias de Lacan a Wordsworth encontra-se em LESERRE, Anibal. Dos referencias al nio en Lacan, art.cit., p. 35-43. Segundo Maria Luiza Marclio, a historiografia brasileira, at fins da dcada de 1980, pouco se ocupou da criana e mesmo da famlia. O estudo desses novos objetos teria sido possvel a partir da utilizao dos recursos da Demografia Histrica e da chamada Histria Nova. A parte II (Brasil) de seu livro Histria social da criana abandonada (1998) uma excelente referncia. Outra indicao a coletnea Histria da criana no Brasil (1991), que apresenta pesquisas, desde o perodo colonial at a Repblica de 1930, sobre diferentes aspectos envolvendo as crianas em nosso pas. A organizadora do livro constata que a histria da criana fez-se sombra daquela dos adultos. Ver PRIORE, Mary del (org.). Histria da criana no Brasil. So Paulo: Contexto, 1991.
7
29
Na sociedade colonial, a criana era ignorada em funo da importncia concedida ao valor da propriedade, ao saber tradicional e tica religiosa. Ela se encontrava distante desses trs ideais: no tinha nenhuma posse e, se tivesse, seria incapaz de preserv-la; no tinha vivido o bastante para entender o passado e nem responsabilidade suficiente para respeitar a experincia; e, alm disso, no tinha sua vida concreta e material valorizada pelo catolicismo, que voltado para a imortalidade e a vida sobrenatural considerava-a apenas a partir de sua funo espiritual, signo de pureza e inocncia. O anjinho, como queria Rousseau, era a representao dominante da criana, reforada especialmente pela criana morta. Em resumo, por oposio ao adulto, a criana era percebida negativamente, sendo tratada como um adulto incompetente.No perodo colonial a representao social e religiosa da criana monopolizava o sentido de sua vida. Os papis culturais de filho incapaz e de anjinho superpunham-se e obscureciam sua condio de etapa biolgico-moral no desenvolvimento do adulto. A vida infantil persistia cindida da vida dos mais velhos, como se seu cerne pertencesse a uma segunda natureza humana. Natureza imprecisa, expectante, que se mantinha em estado larvar at o despertar da puberdade. Entre o adulto e a criana as ligaes existentes eram a da propriedade e da religio. Fora disso, um fosso os separava. A alteridade e a descontinuidade entre um e outro eram radicais. (COSTA, 1979, p. 162)
Os elos que ligaram a gerao dos adultos das crianas s se estabeleceram a partir da emergncia da representao da criana como matriz fsico-emocional do adulto. As noes de evoluo, diferenciao e gradao, heterogeneidade e continuidade, permitiram que a famlia pudesse ver na criana e no adulto o mesmo e o outro. A partir da os papis invertemse: a criana passa a determinar a funo e o valor do filho (ibidem, p. 162). importante destacar que a evoluo torna-se o paradigma terico dominante na segunda metade do sculo XIX. A teoria de Charles Darwin (1809-1882) propunha que a luta pela vida e a seleo natural seriam os mecanismos essenciais da evoluo dos seres vivos. Partindo de uma suposta relao de continuidade entre o animal e o homem, Darwin inscrevia o homem como mais uma espcie na ordem da natureza, rompendo radicalmente com as concepes religiosas e divinas sobre a sua origem. Essa teoria, de acordo com Freud, seria responsvel pelo golpe biolgico no narcisismo do homem, colocando um fim sua presuno de superioridade:O homem no um ser diferente dos animais, ou superior a eles; ele prprio tem ascendncia animal, relacionando-se mais
30
estreitamente com algumas espcies, e mais distanciadamente com outras. As [aquisies] que posteriormente fez no conseguiram apagar as evidncias, tanto na sua estrutura fsica quanto nas suas aptides mentais, da analogia do homem com os animais. (FREUD, 1980 [1917], p. 175)
Para garantir seu aperfeioamento, etapas superiores de humanizao, a espcie humana teria passado por um longo processo evolutivo, desde os seus primrdios no reino animal. Esse percurso apontaria, portanto, para a infncia da humanidade, que s teria sido superada posteriormente, depois dos processos de seleo natural e adaptao. Uma das intenes de Darwin era investigar as relaes entre os elementos da natureza e os da cultura, entre as etapas de transformao pelas quais o recm-nascido que to parecido aos animais se converte em um adulto e se integra socialmente. Ele chegou at a publicar, em 1877, um relato sobre o desenvolvimento do seu prprio filho A Biographic Sketch of An Infant onde estudava suas emoes, sua capacidade de reao e de comunicao, buscando relacion-las com manifestaes anlogas no mundo animal (ver CIACCIA, 1997, p. 25). A teoria da evoluo das espcies ultrapassou em muito o registro da ordem biolgica, constituindo-se em um dos signos reveladores do novo horizonte delineado pela modernidade. A partir de ento, alm da natureza, a cultura e a sociedade so tambm atravessadas pelo tempo e marcadas em seu ser pela histria. O alcance dessa perspectiva foi to amplo que obrigou a uma reviso em todos os pressupostos tericos das disciplinas que tinham alguma relao com o homem, favorecendo o nascimento de disciplinas como a antropologia, a sociologia, a psicologia comparada e a psicologia evolutiva. A problemtica da infncia ganha novo impulso com essa inscrio do ser do homem na ordem da histria e do tempo. No Brasil, os mdicos higienistas tambm so influenciados pelas idias de Darwin e reagem com vigor contra o alto ndice de mortalidade infantil. A criana morta deixou de ser o vetor da esperana religiosa dos pais, para se tornar um atestado da incompetncia, imprudncia e ignorncia de quem cuidava dela: parteiras, escravas, enfim, os prprios pais que a elas entregavam seus filhos. O saber mdico confrontou-se, ento, aos valores sociais e religiosos, dominados por uma mentalidade pr-cientfica. Como representante do saber cientfico, o mdico tornou-se o sacerdote do corpo e da sade, com a tarefa de definir o que era bom ou mau para os indivduos, suas famlias e a populao.31
Buscando as razes da irresponsabilidade da famlia colonial com a vida das crianas, os higienistas se depararam com o aluguel de escravas como amas de leite, com o papel da mulher como mera guardi do patrimnio do marido, e, principalmente, com o papel do pai-proprietrio, piv de toda famlia. A organizao da famlia colonial era, portanto, funesta infncia e deveria sofrer transformaes. A nova famlia contaria com participao mais justa e eqitativa entre homens e mulheres. Ressituado no quadro familiar dentro de limites precisos, o pai se responsabilizaria pela proteo material dos filhos. A me, por sua vez, ganharia um papel autnomo no interior da casa, como iniciadora da educao infantil. E os filhos deveriam ser criados para amar e servir humanidade e nao e no apenas ao pai. Assim, a nova criana reclamava um casal que, ao invs de comportar-se como proprietrio, aceitasse, prioritariamente ser tutor. Tutor de filhos cujo verdadeiro proprietrio era a nao, o pas (COSTA, 1979, p. 170). A idia da nocividade do meio familiar foi o grande trunfo que os higienistas utilizaram para se apropriarem medicamente da infncia. Sua interveno revelaria os segredos da vida e da sade infantil, prescrevendo a boa norma de comportamento familiar dos adultos, visando proteo da sade de toda populao. Para os higienistas, a criana era uma entidade fsico-moral amorfa, espcie de cera mole, que seria moldada a partir de pequenos hbitos exercidos cotidianamente pela disciplina fsica (costumes alimentares, ginstica, controle da masturbao...), pela disciplina intelectual e moral, que visava uma regulao autnoma e automtica do esprito das crianas atravs do remorso e do amor-prprio ferido, mais do que dos castigos corporais. A renovao da sociedade brasileira, aps a chegada da Corte (1808), incrementou a demanda de escolarizao, especialmente a partir da segunda metade do sculo, quando houve uma melhoria geral do sistema de transportes, viabilizando o envio dos filhos das famlias rurais para diferentes estabelecimentos escolares. Coube a eles difundir o cultivo da infncia atravs do valor do hbito, que gravava, nas crianas, convices e interesses muitas vezes opostos aos de seus pais. Essa foi uma ttica utilizada amplamente pelo higienismo: apropriar-se das crianas, separando-as dos pais, e, em seguida, devolv-las s famlias convertidas em soldados da sade. Em suma, no Brasil, a representao da criana como um ser com caractersticas fsicas, comportamentais e morais particulares ocorreu somente a partir do sculo XIX, em funo do conjunto de interesses32
mdico-estatais e das transformaes econmico-sociais que se interpuseram entre a famlia e a criana.
A CRIANA COMO SUJEITO DE DIREITOSNo Brasil Repblica, a distino entre a criana rica e a criana pobre ficou bem delineada. A primeira foi alvo de atenes e das polticas da famlia e da educao, com o objetivo de prepar-la para dirigir a Sociedade. A segunda, virtualmente inserida nas classes perigosas e estigmatizada como menor, deveria ser objeto de controle especial, de educao elementar e profissionalizante, visando prepar-la para o mundo do trabalho (ver MARCLIO, 1998, p. 224-228). Uma das maneiras de se exercer esse controle sobre a infncia desamparada e delinqente foi a promulgao, em 1927, do Cdigo de Menores primeira legislao especfica para a infncia no Brasil. Mais de cinqenta anos depois, este conjunto de leis ganhar outra verso em 1979, com o novo Cdigo de Menores, que, entre outras coisas, determinava que o Poder Pblico criasse as instituies de assistncia e proteo ao menor. Momento do aparecimento, em diferentes estados da federao, das tristes FEBEM. De responsabilidade dos governos estaduais, mas sob a superviso das polticas gerais estabelecidas pela Fundao Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), esses estabelecimentos foram concebidos como centros especializados destinados triagem e observao dos menores, bem como sua permanncia. A maior parte dessas instituies, no entanto, j existia h anos, tendo sido apenas repassadas para os governos estaduais. O que ocorre com as FEBEM a intensificao do processo de criminalizao da pobreza, a partir de internaes que constituam verdadeiras privaes de liberdade com tempo indeterminado por motivos de falta ou carncia de recursos materiais. A excluso e segregao realizadas a partir da categoria menor analisada pelo jurista Emlio Mndez, um dos maiores especialistas na promoo e defesa dos direitos da criana e do adolescente, na Amrica Latina.8 De acordo com ele, desde suas origens, as leis de menores nascem vinculadas a um dilema crucial. Satisfazer simultaneamente o discurso da piedade assistencial junto com as exigncias mais urgentes de ordem e controle social (MNDEZ, 1998, p. 23).8
O livro Infncia e Cidadania na Amrica Latina (1998), de Emlio Mndez, uma indicao indispensvel para se compreender as transformaes nas legislaes sobre a infncia no Brasil e na Amrica Latina.
33
Teramos, ento, dois tipos de infncia. Uma, includa na cobertura das polticas sociais bsicas, seria formada por crianas e adolescentes, controladas e socializadas pela famlia e pela escola. A outra, excluda das famlias e das polticas sociais, constituiria o contingente dos menores, alvo de um controle sociopenal diferenciado, realizado a partir da criao de uma nova instncia: o tribunal de menores (ver MNDEZ, 1998, p. 24 e 86). No terceiro captulo, analisaremos a importncia desses tribunais para a constituio do saber psiquitrico sobre a criana. Emlio Mndez considera que as legislaes de menores foram impregnadas pelos princpios da doutrina da situao irregular, praticamente hegemnica em nosso continente, pelo menos at a dcada de 80. Trata-se de uma doutrina arbitrria que, embora vagamente formulada, permite que os juzes, com competncia penal e tutelar, possam declarar em situao irregular (e por conseguinte objeto explcito de interveno estatal) a criana e o adolescente que enfrentem dificuldades nunca taxativamente definidas, pois iam desde a carncia material at o abandono moral. Assim, crianas e adolescentes abandonados, vtimas de abusos ou maus-tratos e supostos infratores da lei penal, quando pertencentes aos setores mais dbeis da sociedade, se constituem em alvos potenciais dessa definio. Em suma:A essncia desta doutrina se resume na criao de um marco jurdico que legitime uma interveno estatal discricional sobre esta espcie de produto residual da categoria infncia, constituda pelo mundo dos menores. A no-distino entre abandonados e delinqentes a pedra angular desse magna jurdico. Nesse sentido, a extenso do uso da doutrina da situao irregular torna-se inversamente proporcional extenso e qualidade das polticas sociais bsicas. (MNDEZ, 1998, p. 88)
A definio do menor como criana em situao irregular exorciza, portanto, as deficincias das polticas sociais, apontando solues de natureza individual que privilegiam a institucionalizao ou a adoo. Dessa maneira, o nmero de menores atualmente de meninos de/na rua9 pode diminuir ou aumentar de acordo com o maior cuidado ou descuido no campo das polticas sociais bsicas. Durante dcadas, no entanto, o Estado brasileiro no assumiu, de fato, a responsabilidade pela assistncia da infncia pobre, foco prioritrio de prticas de caridade individual e filantrpicas. Limitava-se s funes de estudo e de controle da assistncia ao menor, bem como da represso9
Ver, por exemplo, a esse respeito o livro de FERREIRA, Tnia. Os meninos e a rua: uma interpelao psicanlise, Belo Horizonte: Autntica, 2001.
34
aos desviantes, atravs da criao de rgos pblicos especializados, como o Departamento Nacional da Criana (1919) ou o Servio Nacional de Menores (1941). Foi s nos anos 60 que o Estado se tornou o grande interventor e o principal responsvel pela proteo e pela assistncia infncia abandonada e em situao de risco no Brasil. Essa nova postura foi, sem dvida, influenciada pela Declarao Universal dos Direitos da Criana (1959) que faz srie com a Declarao Universal dos Direitos Humanos e dos Direitos da Mulher proclamada pela Organizao das Naes Unidas (ONU).10 Dentre esses direitos destacam-se: o direito vida e sade; liberdade, respeito, dignidade; convivncia familiar e comunitria; educao, cultura, ao esporte, ao lazer; profissionalizao e proteo no trabalho. Todas as crianas ganham, ento, o status de sujeito de direitos, cabendo ao Estado protetor atuar para garantir essa nova posio. Pressionado pela Declarao, o governo militar cria, em 1964, a j citada FUNABEM, que introduziu, nos assuntos da assistncia infncia no Brasil, a perspectiva do Estado do bem-estar social (Welfare State). No entanto, nesse momento de ditadura militar, o dever de proteger e garantir o bem-estar das crianas mistura-se Lei de Segurana Nacional. Com o restabelecimento do Estado de direito e o agravamento da pobreza e violncia urbanas, as reaes comeam a surgir, sobretudo na dcada de 80, resultando em movimentos como a Pastoral do Menor (posteriormente Pastoral da Criana) e na presena ativa de organizaes nogovernamentais, nacionais e internacionais, denunciando o desrespeito constante aos direitos das crianas. A intensa mobilizao, que envolveu movimentos sociais, polticas pblicas e mundo jurdico, culminou, em 1990, com a aprovao do Estatuto da Criana e do Adolescente (ECA), cujos destinatrios j no eram mais os menores, mas todas as crianas e adolescentes, sem distino. Incorporando os princpios da nova Constituio do Brasil (1988), o Estatuto deixou integralmente sem efeito as leis que dispunham sobre a poltica nacional do bem-estar do menor e sobre o Cdigo de Menores, rompendo com a tradio latino-americana, ao substituir a chamada doutrina da situao irregular pela doutrina da proteo integral.10
importante esclarecer, como sugere Tnia Pereira, que os direitos estabelecidos em Declaraes so princpios que no representam obrigaes para os Estados. Refletem uma afirmao de carter meramente moral, no encerrando obrigaes especficas.
35
Essa doutrina foi defendida na Conveno Internacional dos Direitos da Criana (1989), organizada pela ONU, constituindo-se em verdadeiro divisor de guas na histria da condio jurdica da infncia (MNDEZ, 1998, p. 31). Reconhecendo como antecedente direto a Declarao Universal dos Direitos da Criana, a doutrina da proteo integral estabelece um novo paradigma no campo dos direitos da infncia e da adolescncia: do menor como objeto da compaixo-represso infncia-adolescncia como sujeito pleno de direitos (ver MNDEZ, op. cit, cap. 4). Objeto de quem ou do qu? Objeto da me, dos pais, das polticas pblicas, dos juizes, das FEBEM, dos educadores, enfim, de vrios outros sujeitos e instituies que, com boas ou ms intenes, se dispunham a proteg-los, tutel-los ou castig-los. A adoo da doutrina da proteo integral veio reafirmar o princpio do melhor interesse da criana, que, em essncia, significa que quando ocorrem conflitos, como, por exemplo, no caso da dissoluo de um casamento, os interesses da criana sobrepem-se aos de outras pessoas ou instituies.11 Ao serem reconhecidos como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituio e nas leis (art.15 do Estatuto), tanto a criana quanto o adolescente encontram instrumento legal para garantir sua participao e cidadania. Definidos e diferenciados a partir de perspectiva cronolgica, a criana at doze anos de idade incompletos e o adolescente entre doze e dezoito anos (art.2) so tambm considerados em sua condio peculiar de pessoas em desenvolvimento (ver, por exemplo, arts. 6, 15, 71). Eles tm, portanto, plenos direitos, mas com a peculiaridade de serem pessoas em desenvolvimento, o que lhes confere direitos especiais.12 Alm do direito liberdade de expresso e opinio (inciso II do art. 16), a palavra da criana passa a ser valorizada em decises que envolvem sua vida, como, por exemplo, a colocao em famlia substituta mediante guarda, tutela ou adoo. Assim, o pargrafo primeiro do art. 28 estabelece: Sempre que possvel, a criana ou o adolescente dever ser previamente ouvido e sua opinio devidamente considerada.Uma referncia bibliogrfica fundamental sobre esse princpio o livro O melhor interesse da criana: um debate interdisciplinar, coordenado por Tnia da S. Pereira. 12 Uma discusso sobre a relao entre as normas de direito comum (ou regular), como o Cdigo Civil, por exemplo, e as normas de direito especial (ou singular), como o ECA, desenvolvida por Helosa Barboza. Em suma, podemos entender que o direito especial das crianas e adolescentes constitui-se de regras prprias, no opostas s regras gerais, mas delas distintas.11
36
A fala da criana torna-se, portanto, uma das provas essenciais na instruo dos processos que envolvem seus interesses. Para o exerccio desse direito perante Juizes e Tribunais preciso criar condies objetivas como, por exemplo, adaptar os procedimentos com vistas a garantir a manifestao autntica da vontade da criana (para outros procedimentos, ver PEREIRA,T. 2000, p. 30-31). Expondo suas opinies e dvidas, a criana pode tornar-se presena ativa no processo. Outro aspecto digno de nota no Estatuto o direito inquestionvel da criana filiao (art. 27), que deixa de ser um produto natural do casamento. Estabelece-se a plena igualdade entre os filhos, no sendo relevantes as condies em que foram gerados, nem o estado civil de seus genitores casados, no casados, companheiros... durante a concepo. Assim, no se pode mais, no campo jurdico, adjetivar os filhos como legtimos ou ilegtimos, naturais, esprios ou adotivos. Em suma, toda criana tem direito a um nome prprio, que faa referncia sua origem biolgica e sua histria. Alm disso, ao reconhecer a perspectiva da famlia substituta nome dado s famlias no biolgicas o Estatuto avana no entendimento do papel social do pai e da me, desvinculando-os da ordem natural e gentica. Ou seja, a paternidade e a maternidade, enquanto funes, podem ser exercidas a despeito dos laos consangneos (ver PEREIRA, R., 2000, p. 575-586). Os juristas e especialistas destacam ainda quatro pontos dentre as muitas inovaes que o Estatuto apresenta: a) a municipalizao da poltica de ateno direta; b) a eliminao de formas coercitivas de internao, por motivos relativos ao desamparo social; c) participao paritria e deliberativa do governo-sociedade civil, assegurada pela existncia de Conselhos dos Direitos da Criana e do Adolescente, nos nveis federal, estadual e municipal; d) hierarquizao da funo judicial, transferindo aos conselhos tutelares, de atuao exclusiva no mbito municipal, tudo o que for relativo ateno de casos no vinculados ao mbito da infrao penal nem a decises relevantes passveis de produzir alteraes importantes na condio jurdica da criana ou do adolescente. luz do Direito, o ECA representa um avano sociojurdico sem precedentes na histria, outorgando no s famlia e ao Estado a obrigao de proteger, com prioridade absoluta, as crianas e os adolescentes. Trata-se de um dever de toda a sociedade. Contudo, sem desconsiderar a importncia da dimenso jurdica no processo de luta para melhorar as condies de vida das crianas brasileiras, temos de admitir que, dez
37
anos depois de promulgado o Estatuto, vrios direitos das crianas e dos adolescentes so violados cotidianamente em nosso pas. No preciso muito esforo para constatarmos a explorao do trabalho infantil, os altos ndices de desnutrio, de abandono e de prostituio, as aes violentas dos pais e da polcia, a delinqncia juvenil etc. Por outro lado, alm de objeto de diferentes tipos de abuso sexual, de autoridade, de violncia fsica e social as crianas, quando conseguem ser includas nas instituies educacionais ou de sade, so ainda objeto de diferentes avaliaes, selees, classificaes e orientaes. Trata-se, em suma, de novas formas de excluso e de segregao, que impedem sua considerao de pleno direito em um discurso (ver LAURENT, 1999a, p. 101-103). A fim de que o Estatuto no seja reduzido a um formalismo abstrato, necessrio que o governo e a sociedade civil se empenhem decididamente em estabelecer comunidades de discurso, fortalecendo intercmbios entre diferentes experincias. Por outro lado, o apelo ao universal, ao regime do todos iguais, uniformizao presente nas Declaraes da ONU e no Estatuto produzem tenses e dificuldades para os envolvidos com a clnica psicanaltica, para sempre destinada a ser uma cincia do particular, visando produo de um saber prprio e no a conformao s normas ou aos ideais. Assim, tratar o sujeito a partir de referncias gerais, sejam elas quais forem crianas, mulheres, homossexuais, toxicmanos acaba por reforar os efeitos segregativos, uma vez que no h comunidade sem excluso. As leis tm limites, estando impossibilitadas de regular a relao particular de cada um com o gozo. Por isso, possvel destacar um paradoxo presente no discurso do Estatuto: ao mesmo tempo em que se concede a palavra criana, segrega-se a particularidade dessa palavra (ver DUARTE, 1999, p. 82). Em outros termos, a definio do sujeito a partir do seu ser social como cidado pressupe um ajuste, uma concordncia entre o sujeito do enunciado e o sujeito da enunciao, o que dificulta a possibilidade de reconhecer um sujeito dividido como prope a psicanlise, aspecto que desenvolveremos no prximo captulo. Nesse sentido, tambm possvel comear a entender porque os psicanalistas no deixam de apontar o fracasso das prticas que se declaram as mais humanistas e se articulam em nome do universal (cit. por LAURENT, 1999b, p. 7).
38
DE QUE SO RESPONSVEIS AS CRIANAS?So cada vez mais freqentes, no Brasil, as discusses sobre a diminuio da maioridade penal atualmente so inimputveis os menores de 18 anos. Discute-se tambm, entre outros aspectos, a faixa etria mais adequada para se tirar carteira de habilitao, para se fazer uso de bebida alcolica, para assistir a determinados espetculos etc. Em geral, essas discusses tm como foco os adolescentes e no as crianas, como se, de fato, estas ltimas se caracterizassem por sua falta de responsabilidade frente lei, social e jurdica. O art. 105 do Estatuto estabelece que ao ato infracional (crime ou contraveno) praticado por criana correspondero s medidas especficas de proteo dispostas no artigo 101, cuja gesto importante destacar no da rbita judicial, mas dos Conselhos Tutelares. A capacidade jurdica para assumir, de fato, a responsabilidade individual por seus atos comea aos doze anos. Assim, em razo de sua conduta, uma criana pode, por exemplo, ser encaminhada aos pais ou responsveis; receber orientao, apoio e acompanhamento temporrios; ser matriculada e ter freqncia obrigatria em estabelecimento oficial de ensino fundamental; ser requisitada para fazer tratamento mdico, psicolgico ou psiquitrico, em regime hospitalar ou ambulatorial. Se do ponto de vista penal, a criana inimputvel, no mbito do Direito Civil, ela considerada absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil (CC, art. 5). Ou seja, ela no pode vender um imvel, decidir e celebrar um matrimnio, viajar desacompanhada ou sem autorizao etc. Sua assinatura no vale nada e seu compromisso com sua palavra , na maioria das vezes, colocado em dvida. Assim, a criana tem direitos, mas no pode exerc-los diretamente, devendo ser representada pelos adultos pais, tutores aos quais pertence a competncia e o dever de proteg-los.13 A justificativa para essa incapacidade absoluta dada pela idade, que no permitiria criana atingir o discernimento para distinguir o13
Helosa Barboza estabelece um confronto entre o ECA (1990) e as normas do Cdigo Civil (1916) voltadas para as crianas e os adolescentes. Ela conclui que o Estatuto no s derrogou o Cdigo Civil nas disposies em que se verifica incompatibilidade entre ambos, como tambm impe um novo critrio interpretativo, consentneo com o ordenamento institucional sintetizado no artigo 227 da CF/88. (Ver BARBOZA, 2000, p. 117). Trata-se do artigo da Constituio que estabelece os deveres da famlia, da sociedade e do Estado para com as crianas e adolescentes.
39
que pode ou no fazer, o que lhe conveniente ou prejudicial. Acreditase que ela seria facilmente influencivel. Sem dvida, estabelece-se uma identificao entre sua condio de pessoa em desenvolvimento e essa incapacidade. Alguns, pautando-se na Conveno Internacional dos Direitos da Criana, interpretam que a criana fundamentalmente capaz com incapacidades lgicas advindas de sua idade e no uma pessoa incapaz que progressivamente viria a adquirir capacidades (FIORINI, 1999, p. 20). Outros consideram que a condio peculiar de desenvolvimento no pode ser definida apenas a partir do que a criana no sabe, no tem condies e no capaz:Cada fase do desenvolvimento deve ser reconhecida como revestida de singularidade e de completude relativa, ou seja, a criana e o adolescente no so seres inacabados, a caminho de uma plenitude a ser consumada na idade adulta, enquanto portadora de responsabilidades pessoais, cvicas e produtivas plenas. Cada etapa , sua maneira, um perodo de plenitude que deve ser compreendido e acatado pelo mundo adulto, ou seja, pela famlia, pela sociedade e pelo Estado. (COSTA, apud. PEREIRA, T. 2000, p. 18)
De toda maneira, tanto para efeitos penais quanto civis, a criana no pode ser considerada responsvel por seus atos, o que, no entanto, no a absolve, de forma alguma, das conseqncias desses atos. Essa representao jurdica da criana como pessoa em desenvolvimento, que no pode ser responsabilizada por seus atos e palavras tem repercusses na clnica psicanaltica, dando lugar a prticas em que se avaliza que o outro diga pela ou sobre a criana. As anamneses; as terapias que se fundamentam no que o outro queixa da criana e no naquilo que verdadeiramente a incomoda; a idia de que o sintoma da criana um mero reflexo dos pais so alguns exemplos dessa afirmao (ver FERREIRA, 1999, p. 24). De que, afinal, so responsveis as crianas? Para a psicanlise, no se trata de implantar nas crianas o sentimento de que preciso submeter-se a certas regras, no estilo no se pode ou no se deve fazer isso. Nesse caso, responsabilizar seria culpabilizar, e isso, do ponto de vista psicanaltico, no necessrio, porque os sujeitos j chegam culpabilizados aos consultrios. preciso no esquecer que, em Totem e tabu (1913), Freud definiu a sociedade, o fundamento do lao social, exatamente, a partir de um mito: o do crime primordial na origem da lei. Esse mito enuncia: todos culpveis. Ou seja, o assassinato do pai primordial nos deixa uma herana
40
coletiva: a culpa. Propriamente falando, ela o pathos da responsabilidade, a patologia essencial do sujeito, que se expressa cotidianamente no sinto-me responsvel por no sei o qu. Por essa ntima relao com a responsabilidade, a culpa acaba constituindo-se em uma pr-condio da prtica analtica (ver MILLER, 1999, p. 23-24). No se trata de culpabilizar, tampouco de desculpabilizar as crianas as desculpas, como sabemos, na maioria das vezes no funcionam. Em psicanlise, quando falamos de responsabilidade, devemos pensar no que Freud indica para Dora, quando a leva a perceber que ela participa das coisas das quais se queixa. Assim, no campo analtico, a responsabilidade comea com uma desestabilizao da adaptao realidade que o sintoma e o fantasma buscam. Ao visar o contrrio da adaptao, a responsabilidade em psicanlise tem um sentido oposto responsabilidade legal; trata-se, antes, de uma responsabilidade face estrutura, ou seja, o consentimento determinao da cadeia significante e ao objeto que causa o sujeito. Por isso, se a criana, como qualquer sujeito, no puder responder pelo que diz e pelo que faz no existe nenhuma possibilidade para a prtica analtica. A conhecida mxima de Lacan, em A cincia e a verdade: Por nossa posio de sujeitos somos sempre responsveis (1998 [1966], p. 873) suscita a relao entre o determinismo significante e a liberdade, que no se confunde com o livre-arbtrio, mas com o consentimento do sujeito ao que o causa.14 Marie-Hlne Brousse prope, no lugar de uma definio da responsabilidade em termos de impotncia, uma definio em termos de eleio, de escolha:Uma eleio, isto , uma deciso do desejo. Disso responsvel o sujeito, da deciso do desejo inconsciente, o que implica na responsabilidade tanto por seus atos como por suas palavras, por seus sintomas como por seus fantasmas mas fora do campo do super-eu, isto , da culpa e do gozo da culpa. Dessa forma, o sujeito se faz heri de seu destino, no sentido em que Lacan define um heri: aquele que no pode ser trado, que no h maneira de tra-lo, precisamente por sua responsabilidade absoluta. (BROUSSE, 1994, p. 75)
Em um breve escrito, Contribuies para uma discusso acerca do suicdio (1910), Freud sugere, de maneira feliz, que a tarefa daqueles que lidam com as crianas a de faz-las ter vontade de viver, de despert-las14
Ver, a esse respeito, por exemplo, SOUZA, Neusa. Determinismo e responsabilidade. In: FREIRE, Ana et al. A cincia e a verdade: um comentrio. Rio de Janeiro: Revinter, 1996, p. 60-65.
41
para o mundo, no as deixando ao sabor do destino, mas, sim, responsabilizando-as pela inveno de suas prprias vidas e de sua sociedade.
DESAPARECIMENTO DA INFNCIA?Se a infncia no uma categoria natural, ontolgica, mas uma construo histrica e social, certamente podemos nos perguntar se as transformaes socioculturais do sculo XXI, j anunciadas ao final do sculo XX, produziro mudanas no estatuto da infncia? Essa mudanas implicariam no seu prprio desaparecimento? Enquanto um ideal da cultura, paradigma de um tempo feliz, estaria a infncia perdendo sua posio para a adolescncia, que, pelo apelo da fora e beleza da juventude, estaria fazendo para ela confluir tanto as crianas quanto os adultos e os idosos? Relembremos que a tese de Aris articula a inveno da infncia com uma nova realidade socioeconmica e cultural ascenso do capitalismo, do individualismo moderno e das sociedades industriais e com uma nova viso da famlia um ncleo restrito formado pelo pai, a me e os filhos unidos por sentimentos ntimos. Alm disso, as propostas educativas e cientficas dos especialistas em crianas tiveram importncia decisiva na construo da infncia como perodo diferenciado, essencial ao futuro da vida de um homem e de sua nao. Sabemos que uma das maneiras de se caracterizar a contemporaneidade, em termos socioeconmicos, falar em um mundo globalizado, movido pela lgica do mercado e pela sociedade de consumo. Sumariamente, este ltimo termo designa uma nova formao social que se solidificou no final do sculo XX, na qual a lgica dominante j no mais determinada pela produo de objetos, servios e bens materiais e culturais, mas por seu consumo acelerado. Em suma, o mercado a lei dessa sociedade. Este novo estado de coisas decorre de um capitalismo multinacional, em sua face neoliberal, e representa uma reorganizao abrangente que inclui todas os setores da vida em sociedade, desde a produo tecnolgica e a informatizao da vida cotidiana at os processos que regulam o lao social. Nessa sociedade de consumo marcada pela seduo e multiplicao de objetos os homens no se cercam prioritariamente de outros homens, mas sim de informaes e bens (celulares, computadores, carros, objetos virtuais...), que se tornam rapidamente obsoletos. Prometese que na relao com esses objetos de consumo, esses gadgets, produzidos
42
graas ao discurso da cincia, o sujeito encontrar a satisfao. Alm disso, d-se a garantia de que se ela no for obtida, teremos o nosso dinheiro de volta. Esse gozo prometido, e no alcanvel por estrutura, leva efetivamente decepo, tristeza e nostalgia do encontro falsamente prometido. Por isso, a sociedade, regida por essa lgica, produz sujeitos insaciveis, vorazes, em sua demanda de consumo. Independente da idade, todos so consumidores e acreditam serem nicos e especiais por adquirirem determinado objeto, a minha marca. Paradoxalmente, no entanto, todos so exatamente iguais na sua diferena fabricada pelas marcas da publicidade discurso especfico do mercado. Aqueles que no tm acesso a esses diferentes objetos de consumo so segregados, fazendo proliferar o grupo dos sem: sem terra, sem teto, sem celular, sem carro...(ver QUINET, 1999, p. 14). Antevendo essa situao, Lacan vai utilizar, em 1967, a expresso a criana generalizada (lenfant gnralis), para se referir a essa posio de objeto a que todos estamos submetidos pelos progressos do discurso da cincia e do capitalismo (ver LACAN, 1987b, p. 159). Perguntar se a cultura do consumo consiste em uma nova forma de totalitarismo torna-se, portanto, algo inteiramente pertinente nesse novo milnio (CASTRO, 1999, p. 18). Por outro lado, o ideal da famlia nuclear, heterossexual, mongama, patriarcal encontra-se ameaado, pois o ncleo se quebrou em muitos pedaos. Formas heterogneas de organizao da famlia ganham visibilidade, geradas pelo enfraquecimento da instituio do casamento, por sucessivas separaes e recasamentos. Entram em cena os namorados do pai e da me, os meio-irmos, os solteiros com filhos, os solteiros com filhos que moram com os pais... A ordem jurdica acompanha essas transformaes, como, por exemplo, no caso do Brasil, em que a Constituio de 1988 desencadeou uma reforma no Direito de Famlia a partir da mudana de trs eixos bsicos: homens e mulheres so iguais perante a lei; o Estado reconhece outras formas de famlia para alm daquela constituda pelo casamento; os filhos passam a ser reconhecidos, como dissemos anteriormente, advindos ou no de um casamento e fora dele (ver PEREIRA, R. 2000, p. 579). Em todas essas transformaes na organizao da famlia, talvez apenas a me tenha garantido e ampliado sua importncia. De acordo com as investigaes psicossociais, ao aumentar sua participao na renda da famlia, alm de cuidar da educao dos filhos e das tarefas domsticas, ela passou de dona-de-casa para dona-da-casa. Em outras palavras, o pai se enfraqueceu novamente.
43
A cincia passa tambm a desempenhar papel decisivo na fragmentao da clula familiar. As tcnicas de fecundao in vitro e de barriga de aluguel, os exames de DNA que possibilitam a certeza da paternidade, acabam colocando em questo um adgio latino milenar, mater semper certa est, pater numquam a me sempre certa, o pai nunca (ver TOSI, 2000, p. 660). J os filhos convivem cada vez menos com os pais ou outros adultos, usufruindo mais da convivncia com seus pares ou da companhia das telas da TV, do computador, dos jogos eletrnicos e de outros gadgets lanados no mercado. A Internet possibilita a extenso crescente do ciberespao, tornando acessvel uma massa de novos signos e de novos efeitos de sentido. Nesse espao virtual estabelecem-se outras redes simblicas de troca, que fazem da autoridade e experincia dos pais e professores algo menos absoluto. De todo modo, independente da natureza de seus laos, a famlia segundo a mais ampla e completa pesquisa realizada sobre o tema no Brasil a instituio social mais presente na vida dos brasileiros, ultrapassando o trabalho, a religio, a escola etc. (ver Caderno Especial Famlia, Folha de So Paulo, 20-09-98). Podemos pensar, com Lacan (1969), que a instituio familiar persiste no por assegurar a vida da espcie, a partir da satisfao das necessidades; o que garante a sobrevivncia da famlia a sua funo de transmisso subjetiva, que implica a relao com um desejo que no seja annimo, ou seja, com um desejo possvel de ser interrogado (ver LACAN, 1986, p. 13-14). Os casos de adoo demonstram bem que os laos naturais, consangneos no so o aspecto primordial dessa instituio social. Assim, se o ponto de partida o real um organismo com uma diferena sexual anatmica (macho-fmea) na estrutura da linguagem que esse real tem de inscrever-se, a partir de combinatrias simblicas, em um sistema de parentesco expresso pela lngua (pai do pai, av...). Em suma, a famlia o lugar do Outro simblico, anterior e preeminente ao sujeito. Para a psicanlise, no se pode reduzir a famlia a um sistema de imagens ou representaes imaginrias a variedade de formas que ela historicamente pode adquirir. Nela, alguns elementos so estruturais, invariveis, pois ela a instituio que faz valer, para o ser falante, a funo simblica da castrao, o impossvel de inserir no campo da linguagem. J em Os complexos familiares (1938), Lacan apontava que a famlia desempenha papel primordial na transmisso da cultura. Ela a instituio que prevalece na primeira educao, na represso dos instintos,44
na aquisio da lngua acertadamente chamada materna. (LACAN, 1987a, p.13). Em seu ensino posterior (1967), ele substitui a idia de uma represso dos instintos pela funo reguladora do gozo. Assim, a famlia como toda formao humana tem por essncia, e no por acidente, de refrear o gozo (LACAN, 1987b, p. 153). A famlia tambm o lugar do Outro da Lei. Lei de um nico artigo: a proibio do incesto. Para ambos os sexos, est proibido o gozo supremo, que seria poder gozar do corpo da me, num encontro sexual. Nesse sentido, segundo Esthela Solano, a famlia pode ser considerada como uma pequena mquina: entramos nela com um certo gozo, que se pode imaginar mtico e originrio, e dela samos com uma moderao de gozo, que recebe, no ensino de Lacan, o nome de castrao. pelo exerccio dessa funo, que aquele que advm na sua condio de ser vivo enquanto produto sexual, ser admitido em um lugar simblico, que lhe assinala um lao de parentesco, uma posio nas geraes e uma identidade civil. Desse produto do sexual, a famlia tem a tarefa de fazer advir um sujeito desejante (ver SOLANO -S UREZ , 1992, p. 12). Em sntese, podemos dizer que, para a psicanlise, famlia , antes de tudo, formada pelo Nome-do-Pai (ou pelos Nomes-do-Pai), pelo desejo da me e pelos objetos. Se, entretanto, aceitamos os pressupostos que do suporte tese de Aris sobre a inveno da infncia, estaramos diante das condies uma nova realidade socioeconmica e uma nova viso da famlia para pensarmos um outro estatuto para a infncia ou, at mesmo, no seu desaparecimento? Alguns autores sugerem que sim. Clio Garcia indica que, depois da considerao da criana como sujeito de direitos, alguns sinais j prenunciam que novos rtulos podem ser atribudos a ela, como sujeito da informao ou sujeito para a mdia. Na sociedade, gerida pela lgica do mercado, a criana , antes de tudo, como qualquer um, um consumidor (ver GARCIA, 2000, p.2). Consumidor de todos os tipos de produtos, inclusive, de tcnicas contra o stress e de antidepressivos... O livro Infncia e adolescncia na cultura do consumo (1999) apresenta pesquisas nesse sentido e sua organizadora comenta:Crianas e adolescentes j no so mais os mesmos. Transformamse para assumir posies inusitadas: de congneres supostamente considerados inocentes e inaptos, as crianas e os adolescentes tornam-se os convivas que requisitam sua participao na realidade orgistica do consumo e dos prazeres...(CASTRO, 1999, p. 12)
45
Contardo Calligaris observa que, nas ltimas dcadas, tanto as crianas quanto os adultos querem, cada vez mais, parecer adolescentes. Comeando mais cedo e prolongando-se ao mximo, a adolescncia conquista espaos, tornando-se a esttica e a cultura hegemnicas, tomando o lugar da infncia no iderio ocidental. Se a imagem da infncia encantada, feliz e despreocupada satisfaz e consola os adultos, trazendo esperana de continuidade, eles, geralmente, no entanto, no gostariam de voltar a ser crianas. J a adolescncia facilita o processo de reconhecimento, oferecendo uma imagem plausvel, menos utpica e mais narcisista. Os adultos podem querer voltar a ser adolescentes, pois seus corpos, em suas formas e prazeres, so mais parecidos sexo, dinheiro e poder e no mais carrinhos e bonecas. Ao mesmo tempo, os adolescentes conservam a mgica da infncia, pois so ou deveriam ser felizes, ao terem hipoteticamente suspensas as obrigaes e dificuldades da vida adulta. Enfim, eles seriam adultos de frias, gozando, felizes, sem impedimento ou quase (ver CALLIGARIS, 2000, p. 68-74). Lanou-se, inclusive, o neologismo adultescncia, que exprime, com charme lingstico e pertinncia, a permanncia dos valores adolescentes na vida adulta (ver Folha de So Paulo 20/09/98). A adolescncia satisfaz tambm a um dos smbolos da contemporaneidade: a liberdade de escolher. Pelo fato de ser o momento da possibilidade (e da necessidade) de preparar e fazer escolhas, a adolescncia valorizada como imagem e garantia dessa liberdade, tempo de acesso aberto a uma diversidade de identidades possveis. Por isso, tantos adultos e idosos com suas plsticas, seus regimes e Viagras sonham com a eterna beleza e vigor do corpo, querendo para sempre ser jovens. Por sua vez, essa idealizao e essa imagem romntica da adolescncia desconsideram outra expresso corrente a juventude tem que passar do mesmo modo que se espera o fim de uma tormenta. De fato, o sujeito encontra motivos, justamente nesse perodo da vida, para ficar atormentado, chegando muitas vezes a tentar suicdio, a fazer uso excessivo de drogas, a viver a experincia de desencadeamento de uma psicose ou a lidar precocemente com a paternidade ou a maternidade: o corpo transforma-se, colocando-se em questo o imaginrio do sujeito, as exigncias do Outro diversificam-se, obrigando a um posicionamento no mundo, e desfaz-se a ligao com os pais da infncia, com os modelos identificatrios, exigindo novas relaes com os outros (ALBERTI, 1996, p. 2).
46
Freud prefere o termo puberdade para se referir a esse momento de confronto entre a possibilidade de realizao do ato sexual e o carter traumtico da sexualidade. Em outras palavras, o momento da maturao do organismo que torna a relao sexual possvel tambm o momento em que ela se revela como impossvel para os seres falantes. Trata-se, em suma, do despertar do sujeito aos encontros e desencontros que marcam as relaes (ver COTTET, 1996, p. 7-20). O filme American Pie (1999), de Paul Weitz, apresenta de forma bem humorada as inquietaes e angstias de um grupo de adolescentes na expectativa e nas surpresas da primeira vez. Ao mesmo tempo, as crianas teriam comeado a perder sua especificidade esttica. Existe o apelo a uma erotizao precoce do seu corpo, incentivando-as a rebolar na boquinha da garrafa, a se maquiarem e a se vestirem de modo sensual. S que, diferentemente da Idade Mdia, seus trajes no lembram adultos em miniatura, mas a camuflagem de adolescentes:Caminhe pela rua 125 em Nova York: sem falta voc encontrar, por exemplo, garotos de quatro anos de calas cargo ridiculamente largas, mantidas abaixo do cs para mostrar trs dedos de cueca, chapu de beisebol virado para trs, ou ento, no inverno, capuz por cima da cabea. Em suma, a caricatura dos membros de uma gangue. Eles no esto vestidos nem de crianas nem de adultos. Eles esto de adolescentes. O adolescente que eles imitam o ideal dos adultos que os vestem. (CALLIGARIS, 2000, p.72)
So essas as razes e os argumentos que tornam plausvel a hiptese do processo de desaparecimento da infncia, ainda que, como veremos no prximo captulo, o infantil no deixe de ser a caracterstica essencial e incurvel da sexualidade humana.
47
48
A psicanlise, a infncia e o infantil
... ao que se articula na pergunta cujo endereamento parece ser regular, para no dizer obrigatrio, em toda infncia que se preza: De quem voc gosta mais, do papai ou da mame? [...] pois essa pergunta, onde a criana nunca deixa de concretizar a repulsa que sente pelo infantilismo dos pais, precisamente aquela com que essas verdadeiras crianas que so os pais [...] pretendem mascarar o mistrio de sua unio ou sua desunio, conforme o caso, ou seja, daquilo que seu rebento sabe muito bem ser todo o problema, e que se formula como tal. (LACAN, Escritos, p. 585)
Uma idia se difundiu e se imps no imaginrio social e no prprio meio psicanaltico, desde a novidade introduzida pelo pensamento freudiano: a psicanlise teria tudo a ver com a infncia, pois, a partir de algo ligado ordem sexual, os primeiros meses ou anos seriam determinantes para a vida psquica posterior do ser humano. Ela se constituiria, ento, em um tratamento onde se faria uma pesquisa historicista de acontecimentos passados, objetivando preencher as lacunas fatuais do que teria sido esquecido ou recalcado. Por isso, o analisante seria, inevitavelmente, conduzido a lembrar-se e a falar de sua infncia. A teoria freudiana foi fundamental para destacar a existncia da sexualidade infantil e do saber que as crianas elaboram, concedendolhes estatuto diferente de um simples objeto de investigao. Precisamos, no entanto, repensar essa concepo que associa de maneira insofismvel infncia e psicanlise. importante lembrarmos, inicialmente, que a psicanlise no se constitui em uma teoria sobre a infncia, mas sobre o inconsciente e o gozo. preciso tambm considerar que se a distino entre a criana e o
49
adulto tem algum interesse para a psicanlise; ela se estabelece a partir de parmetros diferentes do crescimento ou da puberdade, uma vez que o seu foco tanto um sujeito que no tem idade o sujeito do inconsciente quanto uma satisfao paradoxal que no se desenvolve o gozo. Enfim, teremos, ainda, que explicitar a diferena entre a infncia e o infantil. J podemos, contudo, indicar que a clnica da infncia se faz a partir da perspectiva do desenvolvimento, enquanto a clnica do infantil freudiano se faz na vertente da diviso do sujeito entre o significante e o real do gozo. De todo modo, as questes relacionadas ao estatuto do desenvolvimento, da histria e da estrutura em psicanlise, bem como ruptura ou continuidade entre a criana e o adulto, no so simples. Por isso, elas voltaro a ser abordadas nos prximos captulos.
SUJEITO, EU, INDIVDUOLacan nos ensina que devemos distinguir severamente o sujeito que interessa psicanlise o sujeito do inconsciente, o sujeito do significante tanto do indivduo biolgico quanto de qualquer evoluo psicolgica classificvel como objeto de compreenso (LACAN, 1998 [1966], p. 890). Essa diferenciao entre sujeito, indivduo, eu e pessoa fundamental para conseguirmos uma definio psicanaltica da criana ou do infantil a partir de coordenadas estruturais e no cronolgicas (ver VALAS, 1991, p. 141). Antes de realizarmos rpido percurso por essas noes, bom lembr