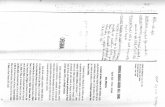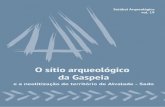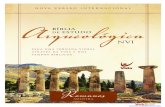CHYMZ, I. Terminologia Arqueológica Brasileira Para a Cerâmica
A Descrição Arqueológica
-
Upload
pedrao-eduardo -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of A Descrição Arqueológica

A DESCRIÇÃO ARQUEOLÓGICAFoucault
Michel Foucault define um novo domínio do pensamento histórico, o dos enunciados, o campo enunciativo, as práticas discursivas.
A história das ideias conta a história dos elementos secundários, o jogo de representações que corre entre os homens. Ela deve penetrar nas disciplinas existentes, trata-las e reinterpreta-las constituindo, mais que um domínio de análise, um enfoque. Neste sentido trata-se de uma disciplina das interferências que descreve a passagem do periférico ao central
A descrição arqueológica é precisamente abandono das ideias, recusa sistemática de seus postulados e de seus procedimentos, tentativa de fazer uma história inteiramente diferentes daquilo que os homens disseram. A propósito da determinação de novidade, da análise das contradições, da descrição comparativa, da demarcação das transformações. A arqueologia busca definir não os pensamentos, as representações e imagens, mas os próprios discursos enquanto práticas que obedecem a regras. Não um discurso como documento, mas como monumento com seu volume próprio. A Arqueologia não procura uma transição contínua e insensível, mas definir os discursos em sua especificidade; mostrar em que sentido o jogo das regras que utilizam é irredutível a qualquer outro; segui-los ao longo de suas arestas exteriores para melhor salientá-los. A Arqueologia defini tipos e regras de práticas discursivas que atravessam obras individuais. Finalmente, a Arqueologia não procura reconstituir o que pôde ser pensado, não tenta repetir o que foi dito, reencontrando-o em sua própria identidade. Trata-se de uma reescrita, uma transformação regulada do que lá foi escrito. É a descrição sistemática de um discurso-objeto.
A história das Ideias trata o campo dos discursos sob dois domínios, o antigo e o novo. No primeiro caso ela conta a história das invenções, das mudanças e metamorfoses. Já no segundo, manifesta a história como um marasmo. Ela descreve os conflitos entre o antigo e o novo, a resistência do adquirido, a repressão que este exerce sobre o que nunca tinha sido dito, mas esse entrecruzamento não a impede de manter sempre uma análise bipolar do antigo e do novo pensando a história entre semelhanças e sequências.
Não basta a demarcação dos antecedentes para determinar uma ordem discursiva. Ela é subordinada, ao contrário, ao discurso que se analisa, ao nível que se escolhe, à escala que se estabelece. Em que sentido e sobre que critérios pode-se dizer “isto já foi dito”? Não há semelhança em si, imediatamente reconhecível, entre as formulações. Sua analogia é um efeito do campo discursivo em que a delimitamos. A Originalidade não estabelece hierarquia de valor. Procuro, portanto, estabelecer a regularidade dos enunciados, a performance verbal, o conjunto de condições nas quais se exerce a função enunciativa que assegura e define sua existência. Todo o enunciado é portador de uma certa regularidade e não pode dela ser dissociado. Não se deve opor a regularidade de um enunciado a irregularidade de outro, mas sim a outras regularidades que caracterizam outros enunciados. A Arqueologia revela a regularidade de uma

prática discursiva que é exercida, do mesmo modo por todos os seus sucessores menos originais. Uma descoberta não é menos regular, do ponto de vista enunciativo, do que o texto que a repete e a difunde. Enunciados criadores tem a mesma importância que enunciados imitativos.
Podemos encontrar performances verbais que são idênticas do ponto de vista da gramática ou da lógica, mas que são enunciativamente diferentes (Kafka e seus precursores). É preciso, pois distinguir entre analogia linguística (ou tradutibilidade), identidade lógica (ou equivalência) e homogeneidade enunciativa.
O menor enunciado coloca em prática todo o jogo das regras segundo as quais são formados seu objeto, sua modalidade, os conceitos que utiliza e a estratégia de que faz parte. A Arqueologia pode assim, construir uma árvore de derivação de um discurso. Nas raízes, enunciados reitores, os que se referem à definição das estruturas observáveis e dos campos de objetos possíveis, os que representam as formas de descrição e os códigos perceptivos de que ele pode servir-se. A ordem arqueológica não é nem a das sistematicidades, nem das sucessões cronológicas. A arqueologia descreve um nível de homogeneidade enunciativa que tem seu próprio recorte temporal, e que não traz com ela todas as outras formas de identidade e de diferenças que podem ser demarcadas na linguagem.
A História das Ideias se encarrega de encontrar, em níveis mais ou menos profundos, um princípio de coesão que organiza o discurso e lhe restitui uma unidade oculta. Essa lei da coerência é uma regra heurística, uma obrigação de procedimento. Entretanto, partindo dela, a história das ideias não supõe que o discurso dos homens esteja continuamente minado, a partir do interior, pela contradição de seus desejos, das influências que sofreram, ou das condições que vivem. O Campo da não contradição lógica parece ser o objetivo da lei da coerência, mais que uma análise correta dos acontecimentos. A coerência, assim descoberta desempenha sempre o mesmo papel: mostrar que as contradições imediatamente visíveis não são mais que um reflexo de superfície e que é preciso reconduzir a um foco único. A contradição é a ilusão de uma unidade que se oculta. A contradição é a lei da existência do discurso. Ela funciona como princípio de sua historicidade. “O discurso é o caminho de uma contradição a outra” (p.186). Tomando as contradições como objetos a ser descritos, a análise arqueológica não tenta descobrir em seu lugar uma forma ou uma temática comum, e sim determinar a medida e a forma de sua variação. Há nisto um logo percurso discursivo que passa por: uma inadequação dos objetos; uma divergência das modalidades enunciativas; uma incompatibilidade dos conceitos e uma exclusão das opções teóricas. Uma formação discursiva não é, pois, o texto ideal contínuo e sem aspereza, que corre sob a multiplicidade das contradições e as resolve na unidade calma de um pensamento coerente. É antes um espaço de dissenso múltiplo, um conjunto de oposições diferentes cujos níveis e papeis devem ser descritos.
A análise arqueológica individualiza e descreve formações discursivas. Longe de querer fazer aparecer formas gerais, a arqueologia procura desenhar configurações singulares. A descrição faria aparecer uma rede interdiscursiva que não se superporia à primeira, mas a cruzaria em alguns de seus pontos. O horizonte ao qual se dirige a arqueologia não é pois, uma ciência, uma racionalidade, uma mentalidade, uma cultura.

É um emaranhado de interpositividades cujos limites e pontos de cruzamentos não podem ser fixados de imediato. A análise arqueológica não tem um efeito unificador, mas multiplicador. A descrição arqueológica, portanto, implica em cinco tarefas:1) Mostrar como elementos discursivos inteiramente diferentes pode ser formados a
partir de regras análogas;2) Mostrar até que ponto essas regras se aplicam ou não so mesmo modo, se encadeiam
ou não da mesma ordem, dispõem-se ou não conforme o mesmo modelo nos diferentes tipos de discurso;
3) Mostrar como conceitos perfeitamente diferentes ocupam uma posição análoga na ramificação de seu sistema de positividade;
4) Mostrar, em compensação como uma única e mesma noção pode abranger dois elementos arqueologicamente distintos; e
5) Mostrar, finalmente, como, de uma positividade a outra, podem ser estabelecidas relações de subordinação ou de complementaridade, estabelecer as correlações arqueológicas.
A arqueologia faz aparecer relações entre as formações discursivas e domínios não discursivos. Diante de um conjunto de fatos enunciativos, a arqueologia tenta determinar como as regras de formação de que depende podem estar ligadas a sistemas não discursivos.
A Arqueologia parece tratar a história só para imobilizá-la. De um lado, descrevendo suas formações discursivas, abandoa as séries temporais que ai se podem manifestar; busca regras ferais que valem uniformemente, e da mesma maneira, em todos os pontos do tempo: não impõe, a um desenvolvimento talvez lento e imperceptível, a figura coatora de uma sincronia. A Arqueologia define as regras de formação do enunciado. Sua tarefa é mostrar em que condições pode haver tal correlação entre eles, e em que ela consiste precisamente (quais são seus limites, formas, códigos, leis de possibilidade). A Arqueologia não toma, pois modelos nem um esquema puramente lógico de simultaneidades, nem uma sucessão linear de acontecimentos, mas tenta mostrar o entrecruzamento entre relações necessariamente sucessivas e outras que não o são. Neste sentido, uma história arqueológica do discurso livra-nos de dois modelos, o linear de atos de fala, em que todos os acontecimentos se sucedem e o modelo de fluxo de consciência cujo presente escapa sempre a sim mesmo na abertura do futuro e na retenção do passado. Quebra-se a linearidade entre causa e efeito. Uma vez que a causa é determinada pelos efeitos que ela própria produz.
A arqueologia, ao invés de considerar que o discurso é feito apenas de uma série de acontecimentos homogêneos, distingue diversos planos de acontecimentos possíveis: planos dos próprios enunciados em sua emergência singular. Planos de aparecimento dos objetos, dos tipos de enunciação, dos conceitos, das escolhas estratégicas, das derivações de novas regras. A arqueologia tenta estabelecer o sistema das transformações em que consiste a mudança; tenta elaborar essa noção vazia e abstrata para dar-lhe o status analisável da transformação. Dizer que uma formação discursiva substituiu outra é dizer que aconteceu uma transformação geral de relações que entretanto, não altera forçosamente todos os elementos; que os enunciados obedecem a novas regras de formulação e não que todos os objetos ou conceitos, todas as

enunciações ou todas as escolhas teóricas desaparecem. O aparecimento e a destruição das positividades, o jogo de substituições a que dão lugar não constituem um processo homogêneo que se desenrolaria em toda parte da mesma maneira. A análise dos cortes arqueológicos tem por propósito estabelecer, entre tantas modificações diversas, analogias e diferenças, hierarquias, complementaridades, coincidências e defasagens: em suma descrever a dispersão das próprias descontinuidades.
A Positividade assim revelada dá conta, na verdade, de um certo número de enunciados referentes às semelhanças e às diferenças entre os seres, sua estrutura visível, seus caracteres específicos e genéricos, sua classificação possível, as descontinuidades que os separam e as transições que os unem; mas ela deixa de lado muitas outras análises, que datam, no entanto, da mesma época e que traçam, também, as figuras ancestrais da biologia. As formações discursivas não são, pois, as ciências futuras no momento em que, ainda inconscientes de si mesmas, se constituem em surdina: não estão, na verdade, em um estado de subordinação teleológica em relação à ortogênese das ciências. Analisar as positividades é mostrar segundo que regras uma prática discursiva pode formar grupos de objetos, conjuntos de nunciações, jogos de conceitos, séries de escolhas teóricas. E este conjunto de elementos, formados de maneira regular por uma prática discursiva e indispensáveis à constituição de uma ciência, apesar de não se destinarem necessariamente a lhe dar lugar, pode-se chamar saber.
Um saber é aquilo de que podemos falar em uma prática discursiva que se encontra assim especificada: o domínio constituído pelos diferentes objetos que irão adquirir ou não um status científico. Um saber é também o espaço em que o sujeito pode tomar posição para falar dos objetos de que se ocupa em seu discurso. O campo de coordenação e de subordinação dos enunciados em que os conceitos aparecem, se definem, se aplicam e se transformam. Finalmente, um saber se define por possibilidades de utilização e de apropriação oferecidas pelo discurso.
A ideologia não exclui a cientificidade. As contradições, as lacunas, as falhas teóricas podem assinalar o funcionamento ideológico de uma ciência. Um discurso não anula sua relação com a ideologia ao corrigir-se e retificar seus erros. Estudar o funcionamento ideológico de uma ciência para fazê-lo aparecer e para modifica-lo não é revelar os pressupostos filosóficos que podem habitá-lo. É coloca-la novamente em questão como formação discursiva; é estudar não as contradições formais de suas proposições, mas o sistema de formação de seus objetos, tipos de enunciação, conceitos e escolhas teóricas.
Diferentes limiares de cronologia:1) Limiar de positividade – um sistema de formação dos enunciados, ou ainda o
momento em que esse sistema se transforma;2) Limiar de epistemologização – quando no jogo de uma formação discursiva um
conjunto de enunciados se delineia, pretende fazer valer normas de verificação e de coerência e o fato de que exerce, em relação ao saber, uma função dominante;
3) Limiar de cientificidade – obedece a um certo número de critérios formais, quando seus enunciados não respondem somente a regras arqueológicas de formação, mas, além disso, a certas leis de construção das proposições;

4) Limiar de formalização – esse discurso científico, por sua vez, puder definir os axiomas que lhe são necessários, os elementos que usa as estruturas proposicionais que lhe são legítimas e as transformações que aceita, quando puder assim desenvolver, a partir de si mesmo, o edifício formal que constitui.Por episteme entende-se na verdade, o conjunto das relações que podem unir, em
uma dada época, as práticas discursivas que dão lugar a figuras epistemológicas, a ciências, eventualmente a sistemas formalizados; o modo segundo o qual, em casa uma dessas formações discursivas, se situam e se realizam as passagens à epistemologização, à cientificidade, à formalização; a repetição desses limiares que podem coincidir, ser subordinados uns aos outros, ou estar defasados no tempo; as relações laterais que podem existir entre figuras epistemológicas ou ciências, na medida em que se prendam a práticas discursivas vizinhas mas distintas. É o conjunto das relações que podem ser descobertas, para uma época dada. A descrição da episteme apresenta, portanto, diversos caracteres essências: abre um campo inesgotável e não pode nunca ser fechada; não tem por finalidade reconstituir o sistema de postulados a que obedecem todos os conhecimentos de uma época, mas sim percorrer um campo indefinido de relações. A episteme é aquilo que, na positividade das práticas discursivas, tona possível a existência das figuras epistemológicas e das ciências. É uma interrogação que só acolhe o dado da ciência a fim de se perguntar o que é, para essa ciência, o fato de ser conhecida.
O que a Arqueologia tenta descrever não é a ciência em sua estrutura específica, mas o domínio, bem diferente, do saber. Além disso, se ela se ocupa do saber em sua relação com as figuras epistemológicas e as ciências pode, do mesmo modo, interrogar o saber em uma direção diferente e descrevê-lo em um outro feixe de relações. A orientação para a episteme foi a única explorada até aqui. A razão disso é que, por um gradiente que caracteriza, sem dúvida, nossa cultura, as formações discursivas não param de se epitemologizar.