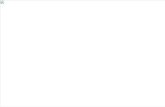A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO PLANO NACIONAL DE … · Apesar de atestar um “número razoável” de...
Transcript of A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO PLANO NACIONAL DE … · Apesar de atestar um “número razoável” de...
PNE em Debate
2015
A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
2014-2024: METAS 12 E 13
Eduardo Araujo Couto e Ighor Rafael de Jorge
Pano de Fundo
A educação superior brasileira é vista sempre como uma barreira, quando se
considera a expectativa da continuidade de estudos, até mesmo para classes não
tão desprivilegiadas na sociedade. Seu histórico retrata um avanço muito lento, que
até pouco tempo se restringia apenas ao mais abastados, enquanto acesso. Oliveira
(2007), em importante estudo com foco no ensino fundamental, coloca que o
problema de falta de vagas no ensino foi postergado enquanto nível - o fundamental
se universalizou, o médio teve um grande aumento e parece ser o próximo a
alcançar tal façanha. É o ensino superior o grande gargalo da educação brasileira
enquanto direito.
O PNE que englobou a primeira década do século XXI não a tem como
prioridade, seu desenvolvimento tendo sido feito concorrentemente, por vezes até
desconsiderando as metas propostas.
As políticas públicas de financiamento da educação superior, maior gap do
primeiro PNE, foram ampliadas (FIES, PROUNI) e empreendidas nos últimos anos,
e transpuseram o tom de desigualdade financeira à qualidade do serviço prestado,
possibilitando que muitos voltassem aos estudos no nível superior. A contrapartida,
o financiamento de um setor do provimento de educação superior caracterizado por
Almeida (2012) como “privado lucrativo”. Ao mesmo tempo, um programa de
Reestruturação e Ampliação das Universidades Federais (REUNI), buscou não
deixar que o setor privado ocupasse a totalidade do número de vagas.
De uma maneira geral, é possível inferir que muitas visões de planejamento
existem no país, e o PNE de 2014 visou consolidar uma mistura delas. Pretende-se
neste artigo verificar os vários planos para o Ensino Superior e demonstrar o
escolhido para os próximos dez anos no Brasil.
2
2
-Legislação Correlata
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 4º, legisla
sobre o dever do Estado em relação a educação:
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública
será efetivado mediante a garantia de:
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de
cada um.
Diferentemente do ensino fundamental (I) e ensino médio (II) - a educação
básica, da qual poderia até se questionar por que a superior não lhe faz parte -,
cujos incisos cravam a obrigatoriedade (do Estado em prover e do cidadão em
cursá-lo) e a gratuidade, a educação superior é assim normatizada:
O caráter meritocrático é visível a partir da legislação. Não se prescreve nem
a obrigatoriedade de provimento do Estado, nem a gratuidade. Apesar disso, seu
órgão responsável de jure na partilha federal é a União, que se responsabiliza
também pelo acompanhamento da atividade privada na área.
Os Planos Nacionais da Educação
-2001-2010 e o panorama da educação superior no limiar do século XX
O Plano Nacional da Educação que regeu o país de 2001 a 2010 foi
sancionado sob a lei 10.172, de 2001. No escopo que estabelece as diretrizes e
metas para o ensino superior no período vigente, há um amplo diagnóstico desta
utilizando-se sobretudo os dados do Censo Escolar aglomerados de 1980 a 1988,
disponíveis no sítio do INEP. Sua primeira frase é atestadora da frequente visão
sobretudo de acadêmicos, consequente ao segundo PNE, em relação à educação
superior: “a educação superior enfrenta, no Brasil, sérios problemas, que se
agravarão se o Plano Nacional de Educação não estabelecer uma política que
promova sua renovação e desenvolvimento”.
3
3
Apesar de atestar um “número razoável” de vagas para os 1,5 mi de
estudantes que saíam do Ensino Médio na época (776.031 vagas), esperava-se uma
verdadeira explosão na demanda a partir da mudança no quadro demográfico e da
expansão de matrículas no Ensino Médio, em parte fruto das expectativas para o
PNE (sobretudo no período noturno). Um crescimento de 9% entre 1997 e 1998 no
número de matrículas (de 1,945 mi para 2,125 mi), provava tal previsão, como na
tabela 1.
Tabela 1 - Evolução da Matrícula no Ensino Superior por dependência administrativa
Fonte: INEP/MEC
Para atender a tal demanda, os objetivos explicitados em um certo “espírito”
do texto do PNE eram de fortalecer o setor público, sem deixar de lado o setor
privado que se dispusesse a garantir qualidade em suas funções. Dentro desse
mesmo escopo-projeto, salienta-se que com tais diretrizes objetivava-se manter a
tríplice função universitária (ensino, pesquisa e extensão).
4
4
A regionalidade também é fator central de atenção no decorrer do texto-lei,
onde reclama-se da concentração do setor privado no Sudeste e elogia-se a
distribuição do público, a ser expandido nos conformes de considerar todas as
regiões do país, fator a ser elaborado melhor nas metas do PNE 2014-2024.
Ademais, destaca-se a proeminência das esferas municipal e estadual, que
cresceram mais que a federal e percentualmente mais que o próprio setor privado
entre 1980 e 1998. A tabela 2 demonstra tal crescimento.
Tabela 2 - Índice de Crescimento da Matrícula por Dependência Administrativa Brasil
1988-1998 (1988 = 100)
As diretrizes e metas apontam, dentro do diagnóstico apresentado, portanto,
o planejamento da expansão com qualidade, “evitando-se o fácil caminho da
massificação” (BRASIL, 2001) que seria dado com a abertura simples e fácil a
qualquer iniciativa privada, sem considerar requisitos mínimos de qualidade, e
sempre com o protagonismo público.
Elas apresentam, em linhas gerais, temas como a autonomia universitária: a
partir da liberdade de investimento; menor rigidez burocrática para a liberdade de
decisões a partir de conselhos, aplicável também às instituições não-universitárias
(centros universitários, por exemplo, muito levados em conta no PNE, mesmo que
estejam apenas em um dos papeis da educação superior, o ensino). A expansão de
5
5
vagas para o período noturno, visando a democratização do acesso. A articulação
com a educação básica, sobretudo no sentido de formação de professores.
Mais pormenorizadamente, e com fim de estabelecer comparações com o
segundo PNE, destaca-se a primeira meta listada: “prover, até o fim da década, a
oferta de educação superior para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos.
Esse crescimento da taxa bruta de matrículas1 deveria levar em conta, como
constava no projeto de lei que foi à sanção presidencial, um horizonte de partilha
que legasse à administração direta pública 40% das instituições de ensino superior,
a partir de parcerias com estados e municípios, vinculação de 75% dos gastos da
união com a manutenção e desenvolvimento do ensino voltados à expansão da rede
de instituições federais (a partir do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Superior); levando em conta também a autonomia da instituições. Dentro
do setor privado, financiamentos sob a forma de créditos estudantis, atrelados à
avaliação das instituições e prioritariamente para os estudantes de baixa renda.
Essa visão de futuro para o ensino superior, entretanto, teve grande parte de
seus projetos travados no já citado ponto de maior disputa, destaque de indefinição
nesse PNE: o financiamento. Dos nove vetos presidenciais ao PNE, Oliveira Jr. e
Beraldo (2003) destacam que todos tiveram de certa forma relação com o ensino
superior, sendo que quatro são diretamente voltados diretamente para tal.
O primeiro veto pode ser descrito como “na carne” do dilema de investimento.
O projeto aprovado do PNE dispunha em seu ponto 4.3, subitem 2, da meta de
manter em um patamar mínimo de 40% das ofertas de vagas no ensino superior no
setor público. Como se pôde ver na tabela 1, tal façanha havia sido alcançada
apenas entre os anos de 1992 e 1994. Desde então, o crescimento do setor privado
logrou manter uma média na dezena dos 60% até a sanção do PNE (em 2001,
segundo o INEP, 69,1% das vagas superiores estavam no setor privado).
Apesar de os motivos para grande parte dos vetos, inclusive os
posteriormente citados, seja de uma suposta inconstitucionalidade por não-
referência a qualquer Plano Plurianual (PPA) - combatida pelos autores citados -, é
1 Taxa bruta de matrícula: demonstra a amplitude da oferta educacional para a faixa etária correspondente ao
nível em questão. Já a taxa líquida retrata o número de matriculados que se encontram dentro da faixa etária recomendada.
6
6
possível inferir que não estava nos planos sobretudo orçamentários a expansão da
educação pública no nível superior. O crescimento necessário para o setor público
atingir a meta de 30% das matrículas brutas em 2010 e a taxa básica de 40% do
setor público, mantendo o crescimento privado (132% acumulado), segundo os
mesmos, seria de 216%.
O segundo veto cortou o já citado Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Superior, “subvinculando” 75% do orçamento educacional da União à
manutenção e expansão da rede pública superior - apesar de uma fatia maior já ser
“naturalmente” destinada.
O terceiro, veta a ampliação de crédito educativo advindo da União, Estados
ou se possível até mesmo das instituições privadas. O objetivo era abarcar 30% dos
matriculados fazendo com que os mais vulneráveis que não alcançassem o ensino
público pudessem ter seu acesso garantido.
O quarto veto considerado direto por Oliveira Jr. e Beraldo à educação
superior e por nós considerados o abandono de um projeto para a educação
superior para a promoção de outro toca na meta que determinava triplicar os
recursos destinados à pesquisa científica e tecnológica.
Todos esses vetos demonstram que a Educação Superior não foi central para
o primeiro PNE e, para análise comparativa posterior, o início da supremacia das
instituições privadas com reflexo nas decisões políticas. O fato de dois projetos de
PNEs terem sido enviados a debate e a maior parte daquele realizado “em gabinete”
ter sido elegido em detrimento do levantado pelos movimentos sociais demonstra a
influência do setor privado.
Resumidamente, para este quadro, tem-se a negação do projeto previsto no
próprio corpo do PNE, em seu “espírito”, a partir do ambiente político e sobretudo
econômico dado no contexto de sua aprovação. As consequências, o
aprofundamento da expansão do setor privado e a estagnação do setor público, com
uma certa vitória do setor financeiro sobre políticas públicas mais concretas, dentro
de uma lógica da Nova Gestão Pública e do projeto privatizador, legando ao setor
público a regulação e supervisão. Um instrumento chave para entender isso são as
7
7
Parcerias Público-Privadas que se seguirão no governo Lula. Aliás, dentro do
escopo pretendido, o que se segue?
A política de Educação Superior no período Lula
É na virada da gestão FHC à Lula que iniciam discussões mais concretas
sobre o que fazer na Educação Superior, já que a situação havia sido bem
diagnosticada, a despeito dos prognósticos estarem ainda turvos: a necessidade
básica verificada era a de expansão do número de vagas - havia chegado a hora tão
sonhada e temida da demanda aumentar significativamente. O porém, já esperado,
se concentra na encruzilhada dos meios empreendidos para chegar ao fim desejado:
o financiamento e consequentemente as formas, objetivos e razões de ser das
instituições de ensino superior. Interessante perceber então que os fins se deturpam
dependentemente do próprio fim escolhido: é possível ter como base sólida e
consensual apenas um certo senso comum (já citado) da necessidade de reforma e
expansão.
É neste ponto de início de governo Lula então que a palavra “reforma” tem
sua (pré) estreia. A palavra, que não aparece na parte concedida à educação
superior do primeiro PNE, estampa os jornais e documentos oficiais a partir de 2003.
Em outubro desse ano, é proposto o Grupo de Trabalho Interministerial que dirigirá
questões e medidas preliminares para uma reforma posterior, mais ampla. Tal
dinâmica se considerou necessária provavelmente pela vazia, porém extensa “carta
de intenções” (VALENTE, ROMANO 2002) do PNE 2001. A única citação a ele feita
é em relação aos “40% de universitários matriculados no setor público determinados
pelo Plano Nacional da Educação” (BRASIL, 2003) - que foi o primeiro ponto vetado.
Na primeira parte desse documento, colocam-se ações emergenciais para as
Instituições Federais de Ensino (IFES), em situação de crise por conta dos
resultados intrínsecos ao que foi considerado na seção anterior uma vitória do setor
financeiro e consequente menor prioridade da administração direta (inclusive) da
educação. Essas ações serão diretrizes teóricas para os programas empreendidos
no período e para o panorama que pautará a elaboração do PNE 2014-2024.
Otranto (2006), a partir da análise do diagnóstico dado pelo documento, de crise não
8
8
só no setor público, mas no setor privado também - a inadimplência do alunado, que
interfere na capacidade de sustentação das instituições e em consequência da maior
fatia de vagas, e o questionamento em relação a qualidade dos seus diplomas -, as
divide em quatro pontos centrais.
O primeiro é o ponto central da discussão e do documento: o aumento do
número de vagas para estudante e ampliação do quadro docente. A análise sob viés
histórico (recente) mostra que a ampliação da demanda e seu reflexo na quantidade
de vagas disponíveis, processo diagnosticado no PNE 2001 e já em voga, não
refletiu no aumento do número de docentes. Na verdade, o inverso aconteceu, como
demonstra a tabela 3, retirado do documento governamental:
Tabela 3 - Relação entre alunado e professorado nas IFES
O remédio a ser adotado, segundo as diretrizes do documento, leva em conta
a continuidade desse processo, a partir de um certo “mantra” que será repetido e
tem sua provável origem no então ministro da educação Cristóvam Buarque, cujas
ideias podem ser vistas no próprio documento analisado: “por meio de um aumento
na dedicação à sala de aula, de um maior número de alunos por turma e sobretudo
graças ao esperado uso de técnicas de ensino a distância, será possível atingir um
aumento significativo na relação alunos/docente para os próximos anos”. Com isso,
a previsão está representada na tabela 4, recortada do relatório do grupo
interministerial:
9
9
Tabela 4 - Previsão até o ano de 2007 na relação aluno/docente
As ferramentas atribuídas a Buarque estão todas dentro de um projeto que
tenta resolver o dilema da “encruzilhada” apresentada acima e que de certa forma
vão demonstrar o paradigma escolhido pelos governos do PT a partir do PNE 2001 e
dos próprios vetos de FHC: educação à distância, a autonomia universitária
“ressignificada” e o financiamento são peças-chave para compreendermos como
chegar ao panorama atual. Dando um passo atrás, podemos atrelar a linha
condutora desses 3 pontos e da política toda de maneira geral ao novo papel do
Estado: o objetivo é diminuir custos, aumentar eficiência e legar à administração
pública intervenções pontuais, que não atrapalhem e incentivem a atividade privada,
financiando o estudo e garantindo contrapartidas na indústria, por exemplo.
A educação à distância é relevante pois diminui drasticamente a quantidade
de recursos necessária para a manutenção do aluno no curso superior; a autonomia
(das IFES sobretudo), preconizada como financeira e entendida em primeira
instância como a liberdade de gerir os recursos destinados pelo governo, torna-se a
“liberdade” de financiamento, este cada vez mais a partir fundações e institutos de
pesquisa privados. Veremos posteriormente a configuração das novas federais, e a
tentativa de mudança de paradigma no registro legal, algumas como famigeradas
“fundações públicas de direito privado”. Voltando ao caso analisado: o aumento do
número de alunos por docente, e as medidas propostas de aumento no número de
horas em sala de aula para os docentes, ou a bonificação para aposentados
continuarem ensinando, estão no pacote de redução de custos e incluídos na
concepção anterior ao próprio plano no tocante a instituições privadas (sobretudo no
setor “privado lucrativo” categorizado por Almeida).
Projetos como esse adotado pelo Brasil que são fortemente aconselhados e
condicionantes para obter recursos do Banco Mundial e da UNESCO, por exemplo.
Michelotto, Coelho e Zainko (2006) colocam que além de ser condicionantes das
principais instâncias de investimento para o desenvolvimento das nações; por
10
10
estarem interessadas em resultados, acabam criando uma segmentação no ensino
superior. E aqui uma nova variável adentra na reconfiguração das instituições de
uma maneira geral: “ponto negativo” para a universidade como a conhecemos (tríade
ensino-pesquisa-extensão) e a insurgência de diversos tipos de entidades que
exercem a função de higher education: no Brasil, sobretudo CEFETs (Centros
Federais de Educação Tecnológica, o crescimento de cursos tecnológicos (tendo
como produtos os “tecnólogos”) e as próprias instituições privadas estão dentro da
cena da flexibilização do mundo do trabalho e da rápida dinâmica do mercado.
Distanciando-se pois cada vez mais do modelo público e de prezar apenas
pela universidade (como modelo tríplice de educação superior), a estratificação do
ensino superior é pedra fundamental para a edificação do setor. Reproduz-se, e
nesse sentido há simbiose com a legislação apresentada no início, a ideologia
meritocrática: “los prógramas más extensos de educación humanista no son para
todos, sino para los más inteligentes y motivados; un amplio espectro del resto de
los estudiantes podría acceder a programas menos intensivos (GRUPO
ESPECIAL.... apud MICHELOTTO et al, 2006).
É sob esse paradigma que se desenvolverão os programas de governo já
bem conhecidos pela população e articulados a partir das gestões Buarque e
Haddad no MEC - PROUNI, ENEM, FIES, REUNI - que serão analisados mais
adiante no documento.
A análise acima, apesar de simplista visto que há uma complexidade
subjacente de interesses, objetivos e dinâmicas quase infinita, é importante para
diagnosticarmos o panorama atual e tentarmos fazer uma incisão “psicológica” nos
desenhos do PNE 2014-2024. É o que se pretende na próxima sessão. Antes,
alguns dados para verificar o resultado do primeiro PNE.
Por fim, alguns dados mais concretos do intervalo 2001-2010. Primeiramente,
na figura 1, o crescimento das Instituições de Ensino Superior (IES), segundo a
categoria administrativa.
11
11
Figura 1 - Crescimento das IES entre 2001 e 2010. (Fonte: MEC/CNE)
Em números absolutos, eis o panorama: as instituições públicas saíram de
183 unidades em seu conjunto, no ano de 2001, para 278 em 2010. No setor
privado, esse número foi de 1208 para 2100.
Na tabela 5, vemos o reflexo disso no número de vagas, em série histórica
mais ampla.
Vemos um crescimento significativo no número de vagas - se contarmos 1999
como pré-PNE, temos quase o triplo do número de vagas em 2010, com o “custo” de
ter em sua maioria, e com um crescimento de quase 14% do setor privado (que
quase triplicou seus assentos) em relação ao público (com aumento de cerca de
50% de vagas).
Outro dado que é constitutivo do descrito na primeira parte desse trabalho é a
divisão por “tipo” de IES, assunto do gráfico 1, elaboração de Barreyro (2008). Os
dados são de 2004, quase metade do 1º PNE. O importante é demonstrar que o
12
12
crescimento da oferta se deu a partir apenas do ensino, fugindo do modelo standard
universitário, que abarca muito mais o setor privado.
Gráfico 1 - IES por “tipo”, 2004
O gráfico 2, abaixo apresentado e retirado do Resumo Técnico do Censo da
Educação Superior de 2012 demonstra qual o resultado ao fim do PNE:
Gráfico 2 - IES por “tipo” e matrículas correspondentes - 2012
13
13
A partir desse gráfico temos uma informação metodológica relevante: é
importante considerar o número de vagas, além do número de instituições; e revela
que as universidades ainda se mantém como o principal modelo de ensino superior
(das 193 no Brasil, 121 abarcam mais que 10.000 estudantes cada), e nos faz inferir
que as faculdades surgiram ao passo da demanda, absorvendo a partir
principalmente do PNE o “boom” que se esperava. É importante ressaltar a variação
do percentual de faculdades e “não-universidades”, ganhando fatias maiores de
mercado.
Por fim, uma análise do crescimento do número de matrículas categorizados
pelo modo de oferta, também retirado do Resumo Técnico do Censo da Educação
Superior, demonstrando a adoção de modos recomendados pelo Banco Mundial e
pela UNESCO de redução de custos. Nesse caso, o Ensino a Distância.
Imagem 2 - Crescimento da oferta de vagas por modo de ensino
É dentro desse quadro estatístico que chegamos ao ambiente da aprovação
do PNE 2014-2024.
14
14
-O PNE 2014-2024: consolidação da estratificação
As duas metas correlatas ao Ensino Superior e objeto central desse trabalho
são as metas 12 e 13, dispostas a seguir.
Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%
(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da
população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade
da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas
matrículas, no segmento público.
Essa primeira meta, à luz da análise predisposta, retoma o que foi vetado no
primeiro, mas dessa vez em conformes mais conciliatórios: não é mais o total de
vagas que devem ter 40% sob o jugo público, mas das novas vagas. Ou seja, a
escalada da educação superior pública tem sua previsão de crescimento em ritmo
mais lento quando analisamos o PNE.
Analisando o histórico da distribuição do crescimento de vagas segundo a
categoria administrativa, temos a tabela 6, contribuição de Barreyro:
Tabela 6 - Crescimento do número de matrículas por cat. administrativa
Apenas entre 1995 e 2000 chegou-se perto do panorama vislumbrado, com
um forte declínio até 2004 a quase metade da variação em relação a anterior (para
se ter ideia da relação entre os crescimentos, meça a diferença entre os dois
percentuais). O setor privado vem crescendo cerca de 25% ao ano segundo esta
tabela, enquanto o setor público não o fez no último período analisado (4-5 anos). É
interessante dispor também os dados do Observatório do PNE, de 2013, em relação
à meta:
15
15
Em relação ao número de matrículas proposto, trocando em miúdos, o
objetivo é ter um número de vagas correspondente à metade da população de 18 a
24 anos e 33% dessa população cursando o ensino superior.
Trazendo a situação atual e dados correlatos, temos a imagem 3, retirada do
Resumo Técnico já citado:
16
16
Imagem 5 - Série Histórica das taxas bruta, líquida e líquida ajustada de escolarização
no Ensino Superior
Como já citado, a taxa bruta corresponde ao percentual de pessoas que
frequentam cursos de graduação em relação à população de 18 a 24 anos; a taxa
líquida, por sua vez,o número de pessoas de 18 a 24 anos que frequentam cursos
de graduação. A taxa líquida ajustada acrescenta à anterior a parte da população na
idade mencionada que já terminou um curso de graduação no ensino superior.
Acrescentando os dados mais recentes, 2013, temos infográficos elaborados pela
ONG “Todos pela Educação”, no sítio “Observatório do PNE”, que os atrelam à meta
buscada até 2024:
17
17
Imagem 6 - Taxa Bruta de Escolarização 2013 em comparação à meta 12 do PNE
Imagem 7- Taxa Líquida de Escolarização 2013 em comparação à meta 12 do PNE
É possível notar que as metas não estão tão longe de serem cumpridas, salvo
a porcentagem atrelada à oferta pública, que não segue crescendo principalmente
pelo prazo final do REUNI. O problema - o “gargalo” ou encruzilhada, recolocada
após 15 anos do primeiro PNE - está na maneira de serem atingidas. Em 2013, a
porcentagem das instituições privadas atingiu 74%, recorde desde 1980 pelo menos.
Já é possível perceber a tese que se defende aqui: pretende-se regular o ensino
18
18
privado e manter as vagas públicas criadas. A “fase final” de expansão projeta ser
feita a partir da iniciativa privada, a partir da visão corroborada pelo Banco Mundial e
pela UNESCO. Mais será considerado nos desafios à implementação.
Meta 13: Elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da
proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no
conjunto do sistema de Educação Superior para 75%, sendo, do total, no
mínimo, 35% doutores.
É nessa meta que se mostra o caráter mais explícito da regulação da
qualidade no setor privado. O Censo Escolar de 2013 traz essa série histórica sobre
a titulação dos docentes nas IES públicas e privadas:
Imagem 8 - Titulação dos professores nas IES privadas e públicas
19
19
Pode-se perceber que somando os 29,6% de mestres e 53,2% de doutores, a
taxa de titulação total das duas categorias no setor público é de 82,8%. Por outro
lado, os 18,2% de doutores e 47,1% de mestres resultam em um índice de 65,3% no
setor privado. Seguindo a série histórica, ainda, a tendência no setor público é de
substituição de até-especializados por doutores, enquanto no setor privado os não-
especializados vêm sendo substituídos por mestres. Talvez daí tenha vindo a
diretiva de reservar ao menos 35% da titulação para doutores.
Para melhor ilustrar os dois setores como um só e vislumbrar as perspectivas
de cumprimento da meta, vejamos os infográficos do Observatório do PNE:
Imagens 9 e 10 - Titulação dos professores no Ensino Superior e a Meta 13
Aqui percebemos que não se está longe do cumprimento da meta, e que o
ponto central para o Plano é que o setor privado a alcance com maior êxito. O
dilema, porém, é a assimetria que pode dar um “falso positivo” a partir do
cumprimento sem uma mudança ampla no setor privado.
Um outro dado correlato ao professorado das IES pode ser apresentado,
tentando ampliar o conceito de “titulação” que de certa forma corresponde à
qualidade do ensino e/ou das atividades acadêmicas como um todo: a dedicação do
docente à(s) instituição(ões) que trabalha(m). O gráfico a seguir demonstra tais
dados retirados do Censo da Educação Superior 2013:
20
20
Imagem 11 - Regime de trabalho dos docentes nas IES
Percebe-se que apesar de ainda ser maioria, os horistas no setor privado vêm
diminuindo e as contratações em tempo integral e parcial aumentando. No caso do
setor público, a expansão foi feita via contratação integral, muitas vezes com o pré-
requisito de dedicação exclusiva, diretiva do REUNI.
A seguir, pretende-se analisar alguns dos principais desafios à
implementação e avanço nas políticas do Ensino Superior, à luz das estratégias do
programa.
Desafios e Perspectivas de Implementação
1) Infraestrutura e otimização
Muitas das estratégias das metas 12 e 13 falam da necessidade de melhoria
na infraestrutura das IES. Vamos a elas:
12.1) otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos
humanos das instituições públicas de educação superior, mediante
ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o
acesso à graduação;
21
21
12.21) fortalecer as redes físicas de laboratórios multifuncionais das
IES e ICTs nas áreas estratégicas definidas pela política e estratégias
nacionais de ciência, tecnologia e inovação.
13.5) elevar o padrão de qualidade das universidades, direcionando
sua atividade, de modo que realizem, efetivamente, pesquisa
institucionalizada, articulada a programas de pós-graduação stricto
sensu;
Nenhuma das estratégias prevê qualquer regulação à construção de novas
IES, mas sim de otimização da estrutura já existente, de modo parecido com o que
se recomenda em relação aos docentes, aproveitar melhor seu potencial para
abarcar um número maior de estudantes. Isso sobretudo nas IFES criadas nos
últimos anos.
2) Interiorização
12.2) ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização
da rede federal de educação superior, da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta
do Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de vagas
públicas em relação à população na idade de referência e observadas
as características regionais das micro e mesorregiões definidas pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
uniformizando a expansão no território nacional;
A distribuição geográfica das IES no país é desigual. Vejamos tal situação a
partir do Censo da Educação Superior 2012:
Imagem 12 - IES por
Região
22
22
Obviamente tal distribuição está correlacionada com o contingente
populacional dessas regiões, porém as IES, universidades sobretudo, tem papel de
dinamizar a economia de uma região mais afastada dos centros já dinâmicos da
economia. Fato relacionado a isso são as universidades de interior de São Paulo
(71% das universidades paulistas). O objetivo para o PNE parece caminhar para a
ampliação desse panorama como medida para diminuir diferenças regionais no país.
3) Acesso
12.5) ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas
aos (às) estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições
privadas de educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento
Estudantil - FIES, de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, na
educação superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e
ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior de
estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes e indígenas e de
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico;
12.6) expandir o financiamento estudantil por meio do Fundo de
Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a Lei no 10.260, de 12 de
julho de 2001, com a constituição de fundo garantidor do financiamento, de
forma a dispensar progressivamente a exigência de fiador;
12.9) ampliar a participação proporcional de grupos historicamente
desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante a adoção de
políticas afirmativas, na forma da lei;
12.10) assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação
superior, na forma da legislação;
12.16) consolidar processos seletivos nacionais e regionais para acesso à
educação superior como forma de superar exames vestibulares isolados;
Diante do número de estratégias relacionadas ao acesso ao ensino superior,
mostra-se que esse ainda é o central a se desenvolver. Para tal, muitas das
23
23
estratégias que já vinham sendo usadas foram promovidas e reguladas por essas
estratégias. O FIES é exemplo central, com sua centralidade nos estudantes de
baixa renda e relacionado a camadas historicamente desfavorecidas.
Camadas essas que, seguindo a linha mestra do plano, são promovidas como
ponto central de avanço para a próxima década. As cotas aprovadas na última
década são verdadeiros outdoors desse tipo de política.
No entanto, apesar de muito se falar de acesso, a permanência é apenas
citada, e em relação às camadas mais vulneráveis. Muito é sabido, e o trabalho de
Almeida (2012) é central, que as políticas de permanência são tão importantes
quanto o acesso. Muito disso está conectado a outros desafios, como a conclusão e
as vagas ociosas do ensino superior.
Um outro fator que é importantíssimo no acesso e que já vem sendo
implementado de maneira mais efetiva é a expansão de cursos noturnos. Seguem
dados do Censo 2012 para o mesmo ano:
24
24
É possível perceber que nesse quesito as privadas saem na frente, pois o
acesso nos útimos anos diz respeito a sobretudo uma camada mais baixa da
população que tem que trabalhar para conseguir se manter, sobrando o período
noturno para se educar. As públicas, sobretudo federais, tiveram como diretriz no
REUNI a expansão dos cursos noturnos, o que demonstra um certo avanço nos
últimos anos.
A LDB traz em seu artigo 47, parágrafo 4º:
§ 4º As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno,
cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no
período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições
públicas, garantida a necessária previsão orçamentária.
A diretiva legal já existe, mas a salvaguarda na “previsão orçamentária” ainda
fala mais alto muitas vezes.
5) Conclusão e vagas ociosas
12.3) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de
graduação presenciais nas universidades públicas para 90% (noventa por
cento), ofertar, no mínimo, um terço das vagas em cursos noturnos e
elevar a relação de estudantes por professor (a) para 18 (dezoito),
mediante estratégias de aproveitamento de créditos e inovações
acadêmicas que valorizem a aquisição de competências de nível superior;
13.8) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de
graduação presenciais nas universidades públicas, de modo a atingir 90%
(noventa por cento) e, nas instituições privadas, 75% (setenta e cinco por
cento), em 2020, e fomentar a melhoria dos resultados de aprendizagem,
de modo que, em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% (sessenta por cento)
dos estudantes apresentem desempenho positivo igual ou superior a 60%
(sessenta por cento) no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes -
ENADE e, no último ano de vigência, pelo menos 75% (setenta e cinco
por cento) dos estudantes obtenham desempenho positivo igual ou
25
25
superior a 75% (setenta e cinco por cento) nesse exame, em cada área
de formação profissional;
Inicialmente, em relação à conclusão. Atualmente, tal como demonstra o
Observatório do PNE, apenas 41,7% dos alunos que entram no ensino superior
púbico o terminam. É necessário dobrar esse número para atingir a meta. No setor
privado, a situação é parecida: 36% atualmente, 75% a taxa.
12.17) estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada
período letivo na educação superior pública;
Talvez seja o fenômeno da não conclusão, junto com o das vagas ociosas,
um dos grandes desafios ao aumento da taxa de escolarização. As políticas voltadas
ao acesso ao ensino superior vêm dando frutos, mas não têm todo seu potencial
atendido na escolarização/conclusão do ensino superior.
Sousa (2010) coloca que o aumento do número de vagas ociosas está
intrinsecamente ligado ao período de expansão do acesso, compreendendo de 2003
a 2008. O aumento, no período, foi de 99% (de 739.779 para 1.479.318). As
públicas detêm 2,5% delas e as privadas os 97,5% restantes, no ano de 2008.
Em 2008, 5.534.689 estudantes buscaram a uma vaga no ensino superior. A
relação candidato vaga geral foi de 1,9, desmembrada em: 8,8 nas públicas
estaduais, 8,0 nas federais e 1,3 nas municipais. O setor privado apresentou 1,2
candidatos por vaga. Mesmo assim, quase 1,5 mi de vagas ficaram ociosas. Por
que?
Sousa traz como razões para essa “conta que não fecha”. No que tange o
setor privado, há um deliberado “estoque de vagas”, com pedidos ao MEC
superiores à capacidade de atendimento; além do crescimento desordenado do
setor, e mal distribuído regionalmente - com tendência a atender sinais imediatos de
mercado, mais que a própria demanda social.
Em relação ao ensino público, entram como razões a não-adaptabilidade ao
curso, seja por desejo ou por falta de condições materiais a continuar, além das
26
26
transferências entre cursos. A falta de atração por novos cursos também é fator
constituinte, sobretudo nas novas IES do REUNI. Porém estão em escala muito
menor que as privadas.
Muitos autores colocam que a própria causa das vagas ociosas são
programas que tendem a financiar o setor privado, como o ProUni. O próprio
governo Lula esperava tal consequência e algumas medidas, como o novo modelo
de universidade aos conformes da UFABC, evitando o abandono de cursos por seu
conteúdo ou a migração, talvez sejam expectativas de reversão do quadro. No setor
privado, não há muita previsão de melhora nesse sentido.
Parte II: programas governamentais relacionados
A expansão do acesso à educação superior e o fortalecimento das
Instituições de Educação Superiores públicas foram alguns dos principais pontos do
programa de governo do Partido dos Trabalhadores (PT) publicado em 2002. O
documento tinha um eixo denominado “uma escola do tamanho do Brasil”, no qual
foi enfatizada a falta de democratização do ingresso no Ensino Superior:
É preciso romper a lógica vigente segundo a qual aos mais pobres estão reservadas as vagas em escolas públicas despreparadas, durante a educação básica, e o acesso a faculdades e universidades pagas de baixo nível, enquanto à elite destinam-se as escolas privadas de qualidade, capazes de preparar alunos aptos a ganhar, nos vestibulares, as melhores vagas na Universidade pública brasileira, onde se concentra o ensino superior de mais alto nível. Um projeto que assegure a educação como direito obedecerá a três diretrizes gerais: - Democratização do acesso e garantia de permanência; - Qualidade social da educação; - Implantação do regime de colaboração e democratização da gestão. [...]Nosso governo vai empenhar-se para ampliar as vagas e matrículas na educação superior, em especial pública. Estimulará a qualidade do ensino, que também decorre da multiplicação dos investimentos no setor público, do respeito ao princípio da associação entre ensino, pesquisa e extensão e da permanente avaliação das IES públicas e privadas para a melhoria da gestão institucional e da qualidade acadêmica, com cumprimento de sua missão pública no âmbito local, regional ou nacional (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2002).
Foram propostas vinte e cinco metas para a educação superior, das quais
podem ser destacadas a ampliação das vagas no ensino superior, em até quatro
anos, com taxas compatíveis com o que era estabelecido pelo PNE então vigente:
27
27
prover até o final da década, a oferta da educação superior para, pelo menos, 30%
da faixa etária de 18 a 24 anos- (proposta 1), bem como a ampliação da oferta de do
ensino público universitário, que deveria atingir o percentual mínimo de 40% do total
de vagas. Foi prevista, inclusive, a parceria da União com os Estados na criação de
novos estabelecimentos de educação superior (proposta 2).
Entretanto, por mais que a expansão do segmento público estivesse na
agenda, a lista de temas e de problemas que os atores governamentais prestam
atenção (Kingdon, 2014, p. 3), o fato é que os programas de ação do governo Lula
seguiram três tendências distintas (Cabral Neto e Castro, 2014): i) expansão do
segmento privado, sobretudo pela implementação do ProUni e reformulação do Fies;
ii) Difusão de uma lógica gerencial, baseada na otimização dos recursos humanos e
físicos existentes, o que pode ser exemplificado pelo programa Reuni; e iii) Foco na
educação a distância.
Para Romualdo Portela de Oliveira, a pressão popular pelo ingresso no
ensino superior está atrelada ao fato de que o segmento mais pobre da população,
que não concluía o ensino médio, passou a conclui-lo, o que fez com que a oferta de
mais profissionais diminuísse o valor da conclusão dessa etapa para o ingresso no
mercado de trabalho. Diante do elevado custo do ensino universitário público e da
falta de ampliação do investimento em educação pelos governos anteriores “o
Estado, para se desobrigar dessa demanda, opta pela solução mais barata, que é
comprar vaga ou bancar o mecanismo de empréstimos estudantis, canalizando
recursos para o setor privado” (2014, p. 10).
1. ProUni
O Programa Universidade para Todos” (ProUni) foi formulado e implementado
no primeiro mandato do Presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). O programa
federal foi criado por meio da Medida Provisória nº 213, de 10 de setembro de 2004
e convertido na Lei 11.096 de 13 de janeiro de 2005 e é também regulamentado
pelo Decreto 5.493/2005.
Os principais objetivos do programa são a expansão do acesso ao ensino
superior e a inclusão social, por meio da concessão de bolsas de estudo em
instituições privadas de Ensino Superior. Tais bolsas podem ser integrais, para
28
28
brasileiros não portadores de diploma de curso superior, com renda mensal per
capita não superior a 1 (um) salário mínimo e ½ (meio), ou parciais, também
destinadas à brasileiros não portadores de diploma de curso superior, com renda
mensal per capita não superior a 3 (três) salários mínimos2.
O ProUni tem como público alvo os estudantes egressos do ensino médio da
rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais, com renda
familiar per capita máxima de três salários mínimos, bem como professores da rede
pública de ensino3, independentemente da renda, o que pode ser justificado pela
necessidade do aprimoramento do quadro do magistério da educação básica. O
programa também contempla a reserva de vagas para indígenas e negros e os
candidatos devem obter, no mínimo, 450 pontos na média do Enem e nota acima de
zero na redação.
Em contrapartida, as Instituições de Ensino Superior privadas são
beneficiadas por isenções de impostos e contribuições federais4, ou seja, não há o
custeio de mensalidades pelo Estado. Importante notar que a renúncia fiscal já
estava prevista na Constituição Federal desde 1988, todavia, diante da falta de
regulamentação das contrapartidas que deveriam ser prestadas pelas instituições, o
impacto no acesso ao ensino superior foi pouco significativo:
Sobre essa iniciativa, dado o persistente desencontro de informações, cabe um comentário. Com atraso de 16 anos, foram reguladas, pelo ProUni, as isenções fiscais constitucionais concedidas às instituições privadas de ensino superior [...]De 1988 a 2004, as instituições de ensino superior sem fins lucrativos, que respondem por 85% das matrículas do setor privado, amparadas pelos artigos 150, inciso VI, alínea c, e 195, § 7º, da Constituição Federal, gozaram de isenções fiscais sem nenhuma regulação do Poder Público. Ou seja, sem nenhuma contrapartida. Acórdão do
2 Art. 1º da Lei 11.096/2005.
3 Art. 2º da Lei 11.096/2005.
4 Art. 8º: A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes impostos e contribuições no
período de vigência do termo de adesão: I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas;II -
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei Complementar no 70, de 30 de
dezembro de 1991; e III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída
pela; e IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela Lei Complementar
no 7, de 7 de setembro de 1970. § 1
o A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o lucro
nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, e sobre a receita auferida, nas hipóteses dos
incisos III e IV do caput deste artigo, decorrentes da realização de atividades de ensino superior, proveniente de
cursos de graduação ou cursos sequenciais de formação específica.§ 2o A Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda disciplinará o disposto neste artigo no prazo de 30 (trinta) dias.§ 3o A isenção de que trata
este artigo será calculada na proporção da ocupação efetiva das bolsas devidas.
29
29
Supremo Tribunal Federal (STF), de 1991, reconhecia a lacuna legislativa. Mas, por conta dessa omissão, garantia o gozo das isenções enquanto perdurasse a situação. Até 2004, as instituições sem fins lucrativos concediam bolsas de estudos, mas eram elas que definiam os beneficiários, os cursos, o número de bolsas e os descontos concedidos. Resultado: raramente era concedida uma bolsa integral e quase nunca em curso de alta demanda. A isenção fiscal não resultava em uma ampliação do acesso ao ensino superior (Haddad, 2008, p. 16)
Por outro lado, ainda que o Estado não custeie diretamente as mensalidades,
é inegável que a “isenção” concedida às instituições de ensino superior minora a
arrecadação de recursos que poderiam ser direcionados para a expansão das
intuições de ensino públicas : no caso do ProUni, “apesar do discurso da
democratização do acesso, seguindo a mesma lógica de diversificação das fontes
de financiamento da educação superior pública, o que ocorre, na verdade, é a
transferência de verbas públicas para as instituições privadas” (Cabral Neto e
Castro, 2014).
Assim, o ProUni notadamente é um programa que garante a expansão das
instituições privadas. Como mostra Carvalho (2014, p. 34), tais instituições passaram
a ser favorecidas pela retomada da desoneração tributária por meio do programa, de
forma que a lógica empresarial foi combinada à renúncia fiscal, até então restrita ao
modelo sem fins lucrativos.
Embora o programa tenha proporcionado a expansão do acesso e seja uma
política “extremamente criativa de inclusão social, rigor fiscal, e uso das ferramentas
de tecnologia de informação e comunicação para a gestão administrativa e
transparência educacional, que serviu de referência para outras inovações que se
seguiram” (Bucci e Branco, 2013), não promoveu uma alteração no sistema de
educação superior brasileiro. Wilson Mesquita de Almeida adverte que
[...] o ProUni vem atacar o problema da estagnação do setor privado lucrativo, consubstanciada pelas condições estruturais [...] do ensino de graduação brasileiro, ou seja, explosão de vagas levando à saturação e inadimplência ligada aos valores das mensalidades quando cruzados com a folha salarial dos trabalhadores-estudantes brasileiros. O resultado: vagas não preenchidas, aumento nos custos e despesas da atividade empresarial. Aqui se faz necessária outra precisão conceitual. Não se trata de vagas “ociosas”. São vagas não preenchidas criadas com o relaxamento para a abertura de cursos durante a gestão do Ministro Paulo Renato, no governo Fernando Henrique Cardoso (2014, p. 98).
30
30
De fato, a maioria das bolsas são ofertadas por instituições com fins
lucrativos. Cerca de 57% das bolsas concedidas até o segundo semestre de 2014,
são provenientes de instituições mercantis. Por outro lado, as instituições sem fins
lucrativos não beneficente5 e as beneficentes de assistência social6 ofertaram,
juntas, 43% das bolsas (MEC, 2015).
Fonte: Sisprouni de 06/01/2015. Bolsistas ProUni 2005-2º/2014
Em 2005, primeiro ano do programa, foram ofertadas cerca de 112.000
bolsas. Houve crescimento sustentado até 2009, quando o número de bolsas
chegou a cerca de 247.000. Uma das possíveis explicações para a referida queda é
a instituição do Sistema de Seleção Unificada (SiSu) em 2009 como parte do
processo seletivo para instituições de ensino superior públicas. Entretanto, a
concessão de bolsas voltou a crescer em 2011, chegando a cerca de 306.726 em
2014.
5 São consideradas instituições sem fim lucrativo não beneficente as mantidas por ente privado. As
instituições dessa espécie podem ser comunitárias ou confessionais. Nos termos do art. 20 da LDB, comunitárias são (II) “as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade”. Já as confessionais (III) “são as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior” 6 São as instituições mantidas por entes privados que ostentam o Certificado de Assistência Social,
nos termos da legislação própria. Também podem ser confessionais ou comunitárias.
57% 26%
17%
BOLSISTAS POR CATEGORIA ADMINISTRATIVA DE IES
Com fins lucrativos Entidade beneficente de assistência social
Sem fins lucrativos não beneficente
31
31
Gráfico 1: Bolsas Ofertadas no ProUni no período 2005-2014/2º.
Fonte: MEC. Elaboração própria
Importante notar que o segmento privado se beneficiou da flexível base
normativa do programa, sobretudo no tocante aos poucos encargos. O desenho
institucional do ProUni, criado por meio da Medida Provisória nº 213, de 10 de
setembro de 2004 e convertido na Lei nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, foi
resultado do lobby de grupos de pressão dos empresários da educação
Wilson Mesquita de Almeida destaca que o ProUni foi um dos fatores que
impulsionaram a transição do modelo do setor privado lucrativo, marcada pelo
ingresso dos fundos de investimentos nacionais e estrangeiros no setor:
Podemos designá-la como uma fase onde o capital internacional entra no ´mercado´ brasileiro e, também, manifesta-se nos movimentos dos grandes grupos nacionais em busca de maior aporte de capital com o objetivo de obter maior escala e vantagem competitiva em busca pelos “clientes”. Precisamente, é o momento de compra de ações das universidades, aquisições de instituições pelos fundos de investimento nacionais e estrangeiros e captação de recursos na Bolsa de Valores, objetivo maior de todo investidor, instante no qual há a plena maximização do retorno do investimento (2014, p. 63) [...] A implicação é que a gestão de fundos de investimentos, pautada na ação negociada na Bolsa, introduz a lógica do curto prazo (o resultado do desempenho da ação, trimestral) em detrimento da lógica do médio e do longo prazo (requerida pela educação, mesmo que esta seja tratada como um "produto" qualquer). Eis o paradoxo: exige-se reduzir custos para maximizar o retorno dos investimentos, porém, reduzi-los - leia-se, principalmente, demitir professores mais bem formados - significa
112.275 138.668
163.854
225.005 247.643 241.273
254.598
284.622
252.374
306.726
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bolsas Ofertadas por ano
Vagas preenchidas
32
32
entregar, cada vez mais, qualidade educacional precária aos estudantes (2014, p. 273).
Conforme dados divulgados pela Revista Exame (Werner, 2013), a união de
dois grandes grupos educacionais lucrativos em 2013, Kroton e da Anhanguera, por
meio de uma troca de ações estimada em 5 bilhões de reais, resultou na criação do
maior grupo educacional do mundo "com valor de mercado próximo a 12 bilhões de
reais- o dobro da segunda colocada, a chinesa New Oriental”. Anteriormente, Kroton
e Anhanguera incorporaram, respectivamente 25 e 39 instituições de ensino superior
(Idem, Ibidem).
Portanto, a mera ampliação do acesso à educação superior não é sinônimo
da efetiva inclusão da população historicamente excluída do processo de
desenvolvimento. Considerando que a maioria das instituições de ensino
beneficiadas pelo ProUni são de qualidade insatisfatória, a melhor solução seria a
expansão do ensino superior público, baseado na criação de um sistema de ensino
superior público de massa diversificado e de qualidade.
No tocante à relação de cursos com vagas mais ofertadas no ProUni, a
maioria das vagas disponibilizadas são de cursos na área de ciências sociais
aplicadas, como Administração e Direito, de implementação menos onerosa do que
a de cursos na área de exatas e biológicas. A título de comparação, enquanto foram
oferecidas 22.050 vagas no curso de Administração em 2015, foram disponibilizadas
para o curso de medicina, no mesmo ano, apenas 639 vagas (EBC, 2015).
Tabela - Cursos com mais vagas ofertadas (2015/1) e Cursos com mais inscrições (2015/1)
Curso Vagas
Administração 22.050
Pedagogia 15.562
Direito 15.010
Ciências Contábeis
11.917
Engenharia Civil 8.408
Fonte: Empresa Brasil de Comunicação
33
33
Curso Inscrições
Administração 230.657
Direito 208.095
Pedagogia 119.214
Engenharia Civil 115.544
Fonte: Empresa Brasil de Comunicação
Analisando o panorama da educação brasileira entre 2000 e 2010, Menezes
Filho (2012) constatou que “formações específicas, como Enfermagem,
Administração de Empresas, Turismo, Farmácia, Marketing e Terapia e Reabilitação”
tiveram um aumento significativo na proporção de formandos, entretanto, os salários
médios dessas carreiras tiveram queda. Por outro lado, o referido autor identificou
que algumas profissões tiveram aumentos expressivos nos salários, “mas queda na
participação entre os formados, tais como: Medicina, Arquitetura, Engenharias,
Economia e Ciências sociais. Nessas profissões, a demanda está aumentando mais
rapidamente que a oferta, ou seja, são áreas em que a sociedade está precisando
de mais profissionais”. Dessa forma, constata-se que o programa pouco contribuiu
para a formação em áreas deficitárias.
Em que pese os professores da rede pública de ensino sejam parte do
público, é possível constatar a pouca significância do ProUni para o aprimoramento
do quadro de professores da rede pública de ensino, haja vista que correspondem a
cerca de 1% dos bolsistas do programa (MEC, 2015).
Outro dado importante, é o turno em que os bolsistas do programa estudam:
Tabela - Bolsistas por turno
Turno Bolsistas Percentual
Noturno 945.746 74%
Matutino 241.652 19%
Integral 47.020 4%
Vespertino 38.904 3%
Fonte: Sisprouni 06/01/2015 Bolsistas Prouni 2005-2º/2014
34
34
Depreende-se dos dados acima transcritos que parte expressiva dos bolsistas
estuda no período noturno, o que pode ser explicado pelo fato de a maioria dos
estudantes conciliarem o curso com o trabalho, quadro que indica a necessidade de
políticas públicas complementares, como a concessão de bolsa auxílio, haja vista
que a dificuldade de manutenção dos alunos no ensino superior é um dos fatores
que provocam desistência.
2. Fies
O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foi implementado em 2001 pelo
Governo Fernando Henrique Cardoso e mantido nos Governos Lula e Dilma. O
programa tem como finalidade a ampliação do acesso à educação superior e a
permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior, por meio da
concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos
superiores presenciais não gratuitos e com avaliação positiva nos processos
conduzidos pelo MEC.
O programa passou por diversas reformulações no Governo Lula, uma vez
que as rígidas exigências de fiador e renda do grupo familiar afastavam possíveis
interessados (Bucci; Branco, 2013, p. 4). No ano de 2004, o critério raça cor foi
acrescentado entre as variáveis que compõe o cálculo do índice de classificação.
Em 2007, foi sancionada a Lei nº 11.552/2007, que permitiu o financiamento de
100% das mensalidades (o limite anterior era de 70%).
No ano de 2010, a fim de estimular a expansão do setor privado, as taxas de
juro do programa tiveram queda (de 6,5% para 3,4). Ademais, os requisitos para os
fiadores foram flexibilizados e o prazo de quitação do empréstimo foi ampliado
(Lorenzini, 2010). Como consequência, a adesão ao programa e os gastos do
governo cresceram de forma sustentada entre os anos de 2010 e 2014.
Conforme dados do Portal da Transparência (Brasil, Controladoria Geral da
União, 2015), no ano de 2014 o Governo Federal repassou cerca de 14 bilhões de
reais ao FIES, dos quais 904 milhões, aproximadamente, foram repassados ao
grupo educacional Anhanguera.
35
35
Diante dos vultuosos repasses, em um cenário de “ajuste fiscal”, o Governo
da Presidente Dilma Roussef iniciou, a partir no final do primeiro mandato, uma série
de alterações no programa, com o intuito de diminuir os gastos públicos.
Foi estipulado um teto de reajuste, de forma que só podem ser aceitos cursos
com reajuste mensal de até 6,4%. Ademais, o limite de renda foi diminuído: só
podem participar estudantes cuja renda familiar per capita não ultrapasse 2,5
salários mínimos (antes o limite era 20 salários mínimos). A taxa de juros também foi
elevada, passando para 6,5%. Foi introduzida, ainda, a exigência de pontuação
mínima (450 pontos) e nota acima de 0 na redação do Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM). As referidas alterações foram feitas por meio de Portarias
Ministeriais (Portarias 21 e 23).
Diferentemente do ProUni, o Fies não pode ser considerada uma política
focalizada na população de baixa renda, uma vez que, até o primeiro semestre de
2015, podiam participar do programa estudantes que tivesses renda bruta familiar de
até 20 salários mínimos, o que, somado a baixa taxa de juros, abaixo da inflação,
estimulou a adesão até mesmo de estudantes que não precisariam de
financiamento.
Além de ter beneficiado as instituições de ensino superior privadas com fins
lucrativos, o programa gera incertezas para o estudante, tendo em vista que o
financiado assume o adimplemento de uma dívida de longo prazo, sem a certeza da
inserção no mercado de trabalho.
3. Reuni
Outra política pública importante para a ampliação do acesso ao ensino
superior, é o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (Reuni), instituído pelo Decreto 6.096, de 24 de abril de
2007. O lançamento do programa “buscou atender às exigências do Plano Nacional
de Educação de 2001 de prover oferta de ensino superior a ao menos 30% dos
jovens entre 18 e 24 anos até 2011” (LIBÂNEO et. al., 2012, p. 360). Importante
destacar que o programa foi uma das ações previstas no Plano de Desenvolvimento
da Educação (PDE), lançado em 24 de abril de 2007.
36
36
O principal escopo do Reuni, conforme o art. 1º do referido Decreto, é o de
dotar as universidades federais das condições necessárias para a ampliação do
acesso à educação superior, no nível de graduação, e da permanência nela, por
meio do aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas
universidades federais. Ou seja, diferentemente do ProUni, voltado para a educação
superior privada, o Reuni tem como alvo a expansão do ensino superior público por
meio da racionalização de recursos:
É um programa de caráter gerencial e estabelece metas a serem cumpridas pelas instituições que a ele aderirem. [O Decreto 6.096/2007] em seus oito artigos, lança as bases para significativas mudanças na estrutura das universidades federais e reforça o objetivo de ampliar o acesso e a permanência na educação superior, em nível de graduação, por meio do melhor aproveitamento dos recursos humanos existentes e da estrutura física [...] O Reuni estimula as universidades públicas federais a estabelecer termos de compromisso (Acordo de Metas) para receber verbas públicas e cumprir as metas estabelecidas nesse contrato, ou seja, transferir para a gestão pública a lógica gerencial da administração por resultados, relacionando metas, prazos e indicadores quantitativos. Essa configuração implica um plano de gestão a curto e médio prazo, imputando às universidades uma avaliação contínua em razão da pertinência de seus resultados em ensino e pesquisa, bem coimo de seu impacto no desenvolvimento socioeconômico da região (Cabral Neto e Castro, 2014).
As principais diretrizes do programa estão previstas no art. 2º do Decreto
6.096/2007:
Art. 2º. O Programa terá as seguintes diretrizes:
I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de ingresso, especialmente no período noturno;
II - ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas de educação superior;
III - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a constante elevação da qualidade;
IV - diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não voltadas à profissionalização precoce e especializada;
V - ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e
37
37
VI - articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior com a educação básica.
O Decreto é complementado pelo documento “Diretrizes gerais do Programa
de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais –
REUNI”, que detalha o objetivo e aprofunda as diretrizes supramencionadas. No
documento foram ressaltados aspectos como a elevação da qualidade dos cursos,
bem como o respeito à vocação de cada instituição, noção atrelada ao princípio da
autonomia universitária e a diversificação da formação (incentivo a criação de
bacharelados interdisciplinares, por exemplo).
De 2003 a 2014, houve um salto de 45 para 63 universidades federais, uma
ampliação de 18%, e de 148 campus para 321 campus/unidades, o que representa
crescimento de cerca de 117%. Somente no período entre 2011 e 2014 foram
criados 47 novos campus/unidades.
Depreende da análise do gráfico abaixo que o Reuni contribuiu para a
expansão do conjunto das universidades federais brasileiras, uma vez que é
significativo o aumento da quantidade de vagas oferecidas nos cursos de graduação
presenciais das universidades federais a partir do ano de 2007 :
Gráfico I – Vagas ofertadas na graduação presencial nas universidades federais de 2003 a 2011
Fonte: Ministério da Educação. Análise sobre a expansão das universidades federais 2003-2012. Relatório da
Comissão Constituída pela Portaria nº 126/2012. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_doc man&task=doc_download&gid=12386&Itemid=>.
10
9.1
84
10
9.8
02
11
6.3
48
13
2.2
03
13
9.8
75
15
0.8
69
18
6.9
84
21
8.1
52
23
1.5
30
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1
V A G A S O F ER T A D A S N A G R A D U A Ç Ã O P R ES EN C I A L N A S U N I V ER S I D A D ES F ED ER A I S D E 2 0 0 3 A 2 0 1 1
Vagas ofertadas na graduação presencial nas universidades federais
38
38
Note-se que em 2007, ano de criação do programa, existiam no Brasil 54
universidades federais, dentre as quais a Universidade Federal do ABC (UFABC),
criada em 2005, que não integrou o Programa, uma vez que já tinha adotado as
inovações pedagógicas previstas pelo Reuni.
O programa contribuiu, ainda, para a intensificação da interiorização das
instituições de ensino superior públicas federais. Entre 2003 e 2014 o número de
municípios atendidos por universidades federais passou de 114 para 289, um
crescimento de cerca de 153%.
Para Romualdo Portela de Oliveira (2009), a ampliação da oferta de vagas
pelo segmento público é a única forma de limitar a expansão do segmento privado
lucrativo, “a partir de uma ampliação da oferta pública, de modo a atender a parcelas
substantivas da população e criar alternativas de atendimento em massa”. Oliveira
adverte, entretanto, que o fortalecimento da educação superior público é difícil se ser
colocado em prática, uma vez que “ pressupõe superar desafios complexos, que se
iniciam com a construção de uma estratégia comum de valorização do público. O
problema é que longe estamos de conseguir estabelecer tal estratégia” (Idem).
Entretanto, como o Reuni é um programa temporário, o setor público pode ter
sua participação reduzida na oferta de vagas da educação superior. Ademais, a
expansão proporcionada pelo programa ainda é inexpressiva diante do crescimento
do setor privado (Cabral Neto e Castro, 2014).
3. ENEM e Sisu
A partir de 2005, o Exame Nacional do Ensino Médio deixou de ser apenas
um instrumento de avaliação dos egressos e concluintes da educação básica,
passando a funcionar, também, como um mecanismo de seleção dos bolsistas do
PROUNI.
No ano de 2009 o papel do exame como indutor de mudanças no currículo do
ensino médio foi reforçado, de forma que passou a ser estruturado em quatro
39
39
matrizes7 e começou a ser empregado como avaliação para o acesso às instituições
federais de ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
O “novo ENEM” intensificou a abordagem de conteúdos voltados para a
interdisciplinaridade e para as habilidades do estudante, em detrimento do
conhecimento enciclopédico, baseado na memorização, típico dos vestibulares e
dos currículos tradicionais.
O sistema, totalmente informatizado, decorre de um aprendizado
institucional, uma vez que é inspirado na plataforma informatizada do ProUni,
embora seja mais simples que esta, uma vez que não depende de funcionalidades
para cálculo de número de bolsas com fins de isenção fiscal nem para sua alocação
de acordo com os requisitos de renda e cotas --- obrigatórios para todos os bolsistas
no caso do ProUni e aplicáveis apenas à parcela dos cotistas, no Sisu (Bucci e
Mello, 2013, p. 3).
Fonte: Ministério da Educação
Nos dois processos seletivos realizados a cada ano dois por ano, as
instituições, por meio de adesão voluntária, lançam as vagas ofertadas em seus 7 A nova matriz reforçou o caráter interdisciplinar do ENEM. As disciplinas foram divididas em quatro eixos:
Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia); Ciências da Natureza e suas
Tecnologias (Química, Física e Biologia); Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação (Língua
Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira - Inglês ou Espanhol, Artes, Educação Física e Tecnologias da
Informação e Comunicação) e Matemática e suas Tecnologias (Matemática).
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
10000000
INSRIÇÕES NO ENEM
Inscritos
40
40
cursos de graduação no sistema. Com as notas obtidas no Exame, extraídas da
base informatizada do Inep, os alunos fazem suas inscrições no curso desejado. As
notas de corte são atualizadas diariamente, de forma que o candidato sabe, antes
da publicação da lista de aprovados, se a nota é suficiente para o ingresso no curso
desejado, sendo possível alterar a escolha.
O Sisu desonera, ainda, as instituições que participam com a totalidade de
suas vagas da realização de seus vestibulares. Ademais, o estudante pode
ingressar em instituições distantes da sua localidade de origem, diminuindo a
relevância da capacidade econômica para o custeio de vários vestibulares (Bucci e
Mello, p. 3).
Nota-se a crescente adesão das instituições de ensino superior ao programa,
o que reflete no aumento das inscritos, que cresceu 252% em 2015 (1º semestre):
Fonte : Ministério da Educação
4. Educação a distância e o programa Universidade Aberta do Brasil – UAB
A Educação a Distância (EaD) é uma das estratégias para a expansão do
ensino superior privado, ante o potencial dessa modalidade para a oferta de vagas
em grande escala. É uma tendência recente, razão pela qual só foi regulamentada
41
41
na década de 1990. Conforme Castro e Cabral Neto (2014), a ampliação da EaD foi
impulsionada pela aprovação da LDB em 1996, uma vez que os procedimentos para
criação e implementação de cursos de graduação e pós-graduação lato sensu foram
flexibilizados. Conforme já indicado, a EaD é respaldada por orientações de
organismos internacionais como o Banco Mundial e a Unesco.
Como resultado das poucas exigências previstas na base normativa, a EaD
foi predominantemente ofertada pelo setor privado, dada a “exaustão da oferta de
cursos presenciais (que tinha se expandido de forma extraordinária nos últimos anos
do século XX) e, essencialmente, pela busca de ocupar novos nichos no mercado
educacional” (Castro e Cabral Neto, 2014).
É importante notar que a LDB disciplina a educação a distância em apenas
um único artigo:
Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. § 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. § 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação a distância. § 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. § 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público; (Redação dada pela Lei nº 12.603, de 2012) II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários de canais comerciais.
O dispositivo supracitado é regulamentado pelo Decreto n. 5.622/2005, que
sucedeu o Decreto n. 2.494/1998 e a Portaria Ministerial 4.361/2004, o que indica a
importância da atividade Legislativa do Poder Executivo para a consecução de
políticas públicas, uma tendência no mundo contemporâneo, no qual foi rompido “o
monopólio da produção legislativa pelo Poder Legislativo” (CLÈVE, 2011, p. 343). O
fato é que portarias, instruções normativas e operacionais são mecanismos de
“permanente remodelagem” de políticas públicas “permitindo seu ajuste às
42
42
necessidades encontradas ao longo de sua implementação” (COUTINHO, 2013, p.
116).
O novo decreto foi necessário “porque as orientações normativas
precedentes não surtiram os efeitos esperados, continuando a ocorrer uma
expansão desordenada dos cursos de EaD, sem o devido acompanhamento e
controle” (Castro e Cabral Neto, 2014).
Castro e Cabral Neto (2014) advertem que a partir de 2005 o governo passou
a exercer um maior controle da EaD. A primeira tendência identificada pelos autores,
foi a maior regulação da EaD, por meio de Decretos e Portarias, como as Portarias
Normativas n. 01/2007 e 02/2007. A segunda, foi a criação de um Sistema Federal
de EaD por meio do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB).
A UAB foi instituída pelo Decreto 5.800 de 8 de julho de 2006. O programa é
voltado para o desenvolvimento de um sistema nacional educação a distância e tem
como principal finalidade a expansão e interiorização da oferta de cursos e
programas de educação superior pública.
O programa é vinculado à Diretoria de Educação a Distância-DED da CAPES
(Vide Lei nº 11.502, de 2007, Decreto nº 6.755, de 2009, e Portaria MEC nº. 318, de 02
de abril de 2009) e deve ser operacionalizada em regime de colaboração da União
com entes federativos, por meio da articulação das Instituições Públicas de Ensino
Superior com polos presenciais.
As Instituições Públicas de Ensino Superior que compõem o Sistema UAB
podem ofertar cursos de aperfeiçoamento, bacharelado, especialização, extensão,
formação pedagógica, licenciatura e mestrado. Note-se que embora a UAB ofereça
cursos para diversos públicos, a prioridade do programa é a formação de
professores para a educação básica em cursos de licenciatura e de formação inicial
e continuada. Ademais, são também objetivos do programa a capacitação de
dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Até o ano de 2013, o sistema da UAB era Integrado por 104 Instituições
Públicas de Ensino Superior (56 Universidades Federais, 31 Universidades
43
43
Estaduais e 17 Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia) e 657 polos
de apoio presencial ativos, distribuídos nos 26 estados brasileiros e Distrito Federal.
O programa contava, no mesmo ano, com cerca de 245 mil alunos matriculados.
Quadro Resumo de Alunado por Tipo de Curso até o final de 2013:
Fonte: DED/CAPES
Importante destacar a articulação da UAB com outros programas
educacionais, como os Programas de Mestrado Profissional em Matemática
(PROFMAT), letras (PROFLETRAS) e física (PROFIS) na modalidade a distância.
Tais programas têm como principal objetivo a formação continuada, em nível de
Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado Profissional), de professores atuantes nas
redes públicas da educação básica e são ofertados no Sistema UAB.
Para Iria Brzezinski (2014), embora o Sistema UAB tenha ampliado a oferta
de cursos destinados à formação de professores, a expansão não regulada pela
CAPES promoveu um rompimento com os compromissos firmados inicialmente,
TIPO DE CURSO MATRICULADOS EVADIDOS FORMADOS
Aperfeiçoamento 13.754 17.700 23.877
Bacharelado 33.327 14.252 3.833
Especialização 61.537 33.926 34.203
Extensão 6.039 3.227 2.589
Formação
Pedagógica
673 97 89
Licenciatura 119.475 55.415 23.179
Mestrado
Profissional
5.337 917 746
Sequencial 926 399 239
Tecnológico 5.771 5.700 2.149
TOTAL 246.839 131.633 90.904
44
44
direcionados para a redução da desigual distribuição geográfica das instituições de
ensino superior:
“[..] os cursos a distância seriam ofertados somente em locais de difícil acesso , onde não existissem cursos presenciais de nível superior, ou em localidades em que a demanda ultrapassasse muito o número de vagas em cursos regulares disponibilizadas pelas instituições formadoras públicas. A oferta desordenada de ensino superior na modalidade a distância em territórios econômicos e educacionais muito desenvolvidos, com boa cobertura de cursos de formação de professores presenciais, revela o equívoco do Estado em relação ao atendimento da população atendida.
Conforme dados da CAPES (2013), até 2013 foram matriculados 64.203
professores de educação básica e formados 34.626 nos cursos de graduação e de
pós-graduação ofertados pela UAB.
Considerações finais
Conclui-se, diante do exposto, que embora nos últimos governos tenham sido
formuladas e implementadas políticas públicas voltadas para a expansão da rede
pública, caso do Reuni e da UAB, a expansão da educação superior no Brasil foi
impulsionada, sobretudo, pelo segmento educacional privado mercantil, por meio de
programas como o Fies e o ProUni.
A definição constitucional de educação compreende não só o ensino e a mera
transmissão de conhecimento. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, no
art. 205, preceitua que a educação deve ser promovida “visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho”.
Entretanto, o padrão instituído por empresas educacionais, nem sempre é
comprometido com o interesse público, mas sim com o lucro de seus investidores.
Dessa forma, as políticas públicas voltadas para o segmento privado poderiam ter
uma regulamentação mais rigorosa, a fim de ao menos induzir a melhoria da
qualidade dos cursos.
Por mais que as demandas pela ampliação do acesso ao ensino superior
sejam legítimas, é necessário questionar em qual ensino o estudante está sendo
incluído. Será que a formação oferecida pelas instituições lucrativas garante uma
45
45
efetiva emancipação dos estudantes, “o pleno desenvolvimento da pessoa” e até
mesmo um bom preparo para o mercado de trabalho?
Uma das alternativas para alterar o cenário exposto, é a expansão do ensino
superior público por meio da estruturação de um sistema de ensino de massa de
qualidade. Diferentemente de países desenvolvidos como França e EUA, “que
combinam instituições de pesquisa de ponta com um sistema público de ensino de
massa” (Almeida, 2014, p. 274), o ensino superior público brasileiro é pouco
diversificado. A UAB pode ser considerada um avanço nesse sentido, uma vez que
não só é voltada para o setor educacional público, como também viabiliza a oferta
de vagas em grande escala, a interiorização de cursos e a formação de professores
em área deficitária.
Em que pese o Reuni tenha proporcionado uma expansão significativa das
instituições de ensino superior federais, não é garantida uma expansão contínua,
dada a falta de institucionalização do programa, o que compromete a “expansão
para, pelo menos, quarenta por cento das novas matrículas, no segmento público”
prevista na meta 12 do PNE 2014-2024. Assim, o grande desafio é tornar a
expansão da educação pública uma política de Estado.
Referências bibliográficas
ALMEIDA, Wilson Mesquita de. ProUni e o ensino superior privado lucrativo em São
Paulo: uma análise sociológica. São Paulo: Musa; FAPESP, 2014.
Barreyro, Gladys Beatriz. Mapa do Ensino Superior Privado / Gladys Beatriz
Barreyro. – Brasília : Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira, 2008. 77 p. : il. (Série Documental. Relatos de Pesquisa, ISSN 0140-6551 ;
37)
BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional. Diário Oficial, Brasília, DF, 23 dez. 1996, Seção 1. Disponível
em: . Acesso em: 8 jul. 2015.
______. Lei n. 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de
Educação (PNE). Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil,
Brasília, DF, 10 jan. 2001. Acesso em: 3 jul 2015.
________. Análise sobre a expansão das universidades federais 2003-2012.
Relatório da Comissão Constituída pela Portaria nº 126/2012 Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_doc man&task=doc_download&gi
d=12386&Itemid=>. Acesso em 14 jul. 2015
46
46
______. Apresentação do Censo Escolar 2013, Coletiva de Imprensa. Disponível
em:
<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/apresentacao/2014/
coletiva_censo_superior_2013.pdf>. Acesso em 5 jul 2015.
______. Resumo Técnico do Censo da Educação Superior 2012. DIsponível em:
<file:///C:/Users/Eduardo/Desktop/resumo_tecnico_censo_educacao_superior_2012.
pdf> Acesso em 3 jul 2015.
_________. CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Total destinado pelo Governo Federal em âmbito nacional em 2014 ao FIES. In: Portal da Transparência do Governo Federal, 2015. Disponível em: <http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasEDFa vorecido.asp?Ano=2014&CodigoGD=5&CodigoED=66&CodigoOS=26000&CodigoOrgao=26298&CodigoUG=151714&Ordem=0>. Acesso em 22 jul.2015.
BRZEZINSKI, Iria. Formação de profissionais da educação e mudanças da
LDB/1996: dilemas e desafios ? Contradições e compromissos. In: BRZEZINSKI, Iria
(Org.). LDB Contemporânea: contradições, tensões, compromissos. São Paulo:
Cortez, 2014, livro digital.
BUCCI, Maria Paula Dallari; MELLO, Paula Branco de. Democratização e acesso à
educação superior - parte I e parte II. Grupo Estratégico de Análise da Educação
Superior no Brasil-GEA. Rio de Janeiro: Flacso Brasil, Opinião ns. 7 e 8, 2013.
CABRAL NETO; Antônio; CASTRO, Alda Maria Duarte Araújo. Educação superior no
Brasil: os contraditórios caminhos da expansão pós-LDB. In: BRZEZINSKI, Iria
(Org.). LDB Contemporânea: contradições, tensões, compromissos. São Paulo:
Cortez, 2014, livro digital.
CAPES. Relatório de Gestão 2013. Disponível em: <
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/Cont as_Publicas/Relatorio-de-
Gestao-2013.pdf> . Acesso em 16 jul.2015.
CARVALHO, Cristina Helena Almeida de. Política para a educação superior no
governo Lula expansão e financiamento. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros,
Brasil, n. 58, p. 209-244, jun. 2014. Disponível em:
<http://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/82397>. Acesso em: 13 Jul. 2015
CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade Legislativa do Poder Executivo. 3 ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.
COUTINHO, Diogo R.. Direito, Desigualdade e Desenvolvimento. São Paulo:
Saraiva, 2013.
GATTI, B.A.; NUNES, M.M.R. (Org.). Formação de professores para o ensino
fundamental: estudo de currículos das licenciaturas em Pedagogia, Língua
Português, Matemática e Ciências Biológicas. Textos FCC, São Paulo, v. 29, 2009.
155p.
47
47
HADDAD, Fernando. O Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e programas / Fernando Haddad. – Brasília : Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2008.
KINGDON, John W. Agendas, Alternatives and public policies. 2 ed. London: Pearson, 2014.
LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, José Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra.
Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 10 ed. São Paulo: Cortez,
2012.
LORENZINI, Ionice. Mudanças no Fies vão agilizar o crédito e ampliar o acesso. Portal do MEC, Brasília, 26 jan.2010. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14936:fim-do-processo-seletivo-e-outras-mudancas-vao-agilizar-o-acesso-ao-fies&catid=212>. Acesso em 18 jul.2015.
MEC, EBC. Administração é o curso que mais oferece bolsa no ProUni. Disponível
em: < http://www.ebc.com.br/educacao/2014/01/administracao-e-o-curso-que-
oferece-mais-bolsas-do-prouni>. Acesso em 9.jul.2015.
MENEZES-FILHO, Naércio. Apagão de mão de obra qualificada? As profissões e o
mercado de trabalho brasileiro entre 2000 e 2010. São Paulo, 2012. Disponível em:
<http://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2013/01/Apag%C3%A3o-de-
m%C3%A 3o-de-obra-qualificada.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2014.
OLIVEIRA JR, Lourival Batista de; BERALDO, Antonio Fernrando. Vetar é preciso,
educar não é preciso: os vetos presidenciais ao Plano Nacional de Educação.
Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, Piracicaba, v.19, n.1,
p.55-80, 2003.
OLIVEIRA, Romualdo Portela de. A transformação da educação em mercadoria no
Brasil. Educ. Soc., Campinas , v. 30, n. 108, p. 739-760, Out. 2009 . Disponível
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
73302009000300006&lng=en&nrm=iso>. Accesso em 22 ago. 2015.
OLIVEIRA, Romualdo Portela de. Planos de educação são peças para crítica radical
das traças. Revista Adusp, São Paulo, p. 6-16, mar. 2014. Disponível em:
<http://adusp.org.br/files/revistas/56/mat01.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2015.
OLIVEIRA, Romualdo Portela de. Da universalização do ensino fundamental ao
desafio da qualidade: uma análise histórica. Educação e sociedade, Campinas, vol
28, n. 100 - Especial, p. 661-690,, out. 2007.
OTRANTO, Celia Regina. Desvendando a política da educação superior do governo
Lula. Universidade e Sociedade - ANDES-SN, ano XVI, nº 38, jun/2006, p. 18 a 26.
PARTIDO DOS TRABALHADORES. Programa de Governo 2002: coligação Lula
Presidente. Uma Escola do Tamanho do Brasil. 2002. Disponível em:
<www.construindoumnovobrasil.com.br/images/downloads/umaescoladotamanhodo
brasil.pdf>. Acesso em 11 jul. 2015.
48
48
WERNER, João. Kroton, o azarão que chegou ao topo do mundo. Exame, 25 abr.2013. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1040/noticias/o-azarao-chegou-ao-topo>. Acesso em 23 jul.2015.
RIBEIRO, Carlos Antônio Costa; SCHLEGEL, Rogério. Estratificação horizontal da
educação superior no Brasil (1960 a 2010). In: ARRETCHE, Marta (Org.). Trajetórias
das desigualdades: como o Brasil mudou nos últimos cinquenta anos. 1 ed. São
Paulo: Editora Unesp; CEM, 2015, pp. 133-162.
SOUSA, José Vieira de. Aumento de vagas ociosas na educação superior brasileira
(2003-2008): redução do poder indutor da expansão via setor privado?. ANPED
2010.
SOUZA, Donaldo Bello de. Avaliações Finais sobre o PNE 2001-2010 e preliminares
do PNE 2014-2024. Estudos em Avaliação Educacional, São Paulo, v.25, n 59, p.
140-170, set/dez 2014.
TOLEDO, José Roberto de Santana; SALDANA, Paulo; BURGARELLI, Rodrigo. 7 gráficos
que explicam a farra do financiamento estudantil. O Estado de São Paulo, São Paulo, 04
mar.2015. Blog do Estadão Dados. Disponível em: < http://blog.estadaodados.com/fies/>.
Acesso em 17 jul.2015.
VALENTE, Ivan; ROMANO, Roberto. PNE: Plano Nacional de Educação ou carta de
intenções? Educação & Sociedade, Campinas, v. 23, n. 80, p. 96-107, set. 2002
Sites
MEC Fies- http://sisfiesportal.mec.gov.br/index.html
MEC- ProUni (Dados e estatísticas) - http://prouniportal.mec.gov.br/dados-e-estatisticas