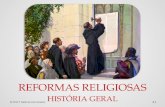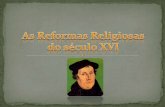A REGULAÇÃO DO PREÇO DE ACESSO EM INDÚSTRIAS DE … · Em geral, as reformas ... A...
Transcript of A REGULAÇÃO DO PREÇO DE ACESSO EM INDÚSTRIAS DE … · Em geral, as reformas ... A...
1
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE ECONOMIA
MONOGRAFIA DE BACHARELADO
A REGULAÇÃO DO PREÇO DE ACESSO EM INDÚSTRIAS DE REDE
JOANA NARITOMI matrícula nº: 100107633
ORIENTADOR: Prof. Ronaldo Fiani
DEZEMBRO 2004
2
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE ECONOMIA
MONOGRAFIA DE BACHARELADO
A REGULAÇÃO DO PREÇO DE ACESSO EM INDÚSTRIAS DE REDE
__________________________________________________ JOANA NARITOMI
matrícula nº: 100107633
ORIENTADOR: Prof. Ronaldo Fiani
DEZEMBRO 2004
4
AGRADECIMENTOS
À minha família, pois sem eles nada seria possível.
À minha “família do Rio”, Sabrina e Renata, pela amizade, cumplicidade e por todo apoio que tive durante esse ano.
Ao Gabriel pelo amor, companheirismo e compreensão.
A todos do Grupo de Energia pela amizade e pela importância que tiveram na minha formação profissional.
Ao meu orientador e professor Ronaldo Fiani por toda a atenção, paciência e disponibilidade na realização dessa monografia. Sem o seu apoio, esse trabalho não teria sido possível.
.
5
RESUMO
A partir dos anos 80, em diversos países, os setores de infra-estrutura passaram por reformas
estruturais. Em geral, as reformas implicaram liberalização, privatizações e introdução de
competição. Entretanto, a estrutura física da rede, devido a suas características tecnológicas,
em geral permaneceu como monopólio natural. É a partir dessa configuração – competição
associada a monopólio – que emergiu a questão do acesso ao gargalo, insumo essencial para
as firmas operarem. Esta monografia discute as principais metodologias empregadas para o
cálculo do preço de acesso e experiências internacionais de acesso em telecomunicações e gás
natural.
6
ÍNDICE INTRODUÇÃO............................................................................................................................07 CAPÍTULO I: ORIGENS E IMPLICAÇÕES DA QUESTÃO DO ACESSO...............................................10
I.1. PERSPECTIVA HISTÓRICA : AS REFORMAS SETORIAIS................................................10
I..2. SEPARAÇÃO VERTICAL VERSUS INTEGRAÇÃO VERTICAL.........................................13
I.3. O PREÇO DE ACESSO E A QUESTÃO DO INVESTIMENTO............................................ 19
I.4. O PREÇO DE ACESSO E A INTRODUÇÃO DE COMPETIÇÃO...........................................22
CAPÍTULO II: DAS METODOLOGIAS PARA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DE ACESSO EM INDÚSTRIAS DE REDE.................................................................................................................................... 24
II.1 - METODOLOGIAS PARA INDÚSTRIAS VERTICALMENTE SEPARADAS.........................24
II.1.1 - SOLUÇÕES ÓTIMAS .................................................................................25
II.1.2 - REGRA DE RAMSEY .................................................................................27
II.2 - METODOLOGIAS PARA INDÚSTRIAS VERTICALMENTE INTEGRADAS.......................29
II.2.1 - REGRA DO COMPONENTE DO PREÇO EFICIENTE (ECPR)........................... 29
II.2.1.1 - VERSÃO SIMPLES......................................................................30
II.2.1.2 NOVAS VERSÕES PARA A ECPR....................................................33 II.2.2 - REGRAS BASEADAS EM CUSTOS. .............................................................37
II.2.3 – REGRAS DE ACESSO SOB ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO: MENU DE CONTRATOS........................................................................................................40
II.2.4 - PREÇO-TETO GLOBAL (GLOBAL PRICE CAP) ............................................40
II.3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE AS REGRAS DE ACESSO.........................................42
CAPÍTULO III: APLICAÇÕES DAS REGRAS DE PRECIFICAÇÃO DO ACESSO: A TELEFONIA FIXA E O GÁS NATURAL............................................................................................................................44
III.1. O PREÇO DE ACESSO NA TELEFONIA FIXA..............................................................44
III.1.1. EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL...............................................................45
III.1.2. A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA...................................................................49
III.2. O PREÇO DE ACESSO NO GÁS NATURAL.................................................................52
III.2.1. A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL: O CASO BRITÂNICO............................53
III.2.2. A EXPERIÊNCIA DO BRASIL.....................................................................54
III.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS ACERCA DAS APLICAÇÕES DAS REGRAS DE PRECIFICAÇÃO DO ACESSO.................................................................................................................... 58
CONCLUSÃO..............................................................................................................................60 BIBLIOGRAFIA......................................................................................................................... 63
ANEXO: REGRA DE RAMSEY................................................................................................... 67
7
INTRODUÇÃO
A determinação do preço de acesso em industrias de rede tornou-se uma das questões
mais controversas e importantes nos debates sobre regulação econômica nas últimas décadas.
Tal questão emergiu das reformas implementadas nos setores de infra-estrutura de diversos
países. Historicamente, estas indústrias eram consideradas monopólios naturais e a elas eram
atribuídos alguns papéis tipicamente de Estado, como promover o bem-estar social e o
desenvolvimento. A partir dos anos 80, houve uma acentuada modificação nesta visão e, em
diversos países, essas indústrias passaram por verdadeiras revoluções estruturais.
O mote central do argumento econômico era que as indústrias de rede continham
atividades potencialmente competitivas, como ligações telefônicas de longa distância,
produção de gás natural e comercialização de energia. A participação do Estado nessas
atividades era vista como ineficiente e pouco dinâmica e a privatização das firmas estatais
representava um modo de solucionar esse problema. A introdução da lógica do mercado
nesses setores passou a ser vista como essencial para superar as ineficiências e desonerar o
Estado. Frente a este quadro, o Estado-empresário deveria minimizar a sua atuação na
economia, dando lugar ao Estado-regulador.
Entretanto, a estrutura física da rede, devido a suas características tecnológicas,
continuaria sendo operada por uma só firma. Este é um traço presente em todas as indústrias
de rede, dado que apresentam uma infra-estrutura cuja duplicação é antieconômica. Vale
ressaltar que esta característica foi, durante muito tempo, usada como argumento para a
intervenção estatal. Na medida em que as reformas foram sendo realizadas, a coordenação
entre monopólio e competição, dentro de uma mesma indústria, assumiu um papel de
destaque.
Neste contexto, o preço de acesso surge como um importante instrumento para se
alcançar os resultados pretendidos pelas reformas setoriais. A regra de acesso pode ser crucial
para desenvolvimento de um ambiente competitivo. Se o preço estabelecido for muito alto,
pode excluir do mercado firmas eficientes e traduzir-se em preços altos para os consumidores
finais. O preço de acesso pode também funcionar como um sinalizador para investimentos. Se
8
for estabelecido em um nível muito baixo, pode desestimular investimentos e, no caso
contrário, pode gerar um sobre-investimento. Dessa forma, nota-se que o preço de acesso
desempenha um papel central no contexto pós-reformas.
A literatura sobre o preço de acesso, em geral, apresenta essa questão em duas
dimensões: o acesso em uma via (one-way access) – que se caracteriza por uma firma precisar
do acesso à rede de outra firma, mas não o contrário – e o acesso em duas vias (two-way
access) – que se caracteriza por uma firma requerer acesso à rede de outra firma e vice-versa
(Vogelsang, 2003). No presente trabalho, concentrar-nos-emos na dimensão do acesso em
apenas uma via, pois apresenta interessantes desafios do ponto de vista dos investimentos e da
defesa da concorrência, além de ser uma questão que permeia todas as indústrias de rede,
enquanto que o problema do acesso em duas vias é mais aplicado à indústria de
telecomunicações1.
A escolha do melhor método para definir o preço de acesso de uma indústria de rede
depende fundamentalmente das especificidades setoriais e do ambiente regulatório, sendo este
último determinado, em geral, pelo grau de discricionariedade concedido à firma proprietária
do gargalo e pelo grau de intervencionismo do órgão regulador. Configuram entre as
possibilidades de regulação: o regulador determinar os termos de acesso; o regulador permitir
que a firma escolha entre um menu de esquemas alternativos; a firma poder decidir sobre a
precificação do acesso sujeita a restrições regulatórias; a firma poder decidir sobre a
precificação do acesso sujeita apenas às restrições das leis antitruste. (Armstrong, Doyle e
Vickers, 1996)
Quanto às especificidades setoriais, destaca-se a estrutura vertical das indústrias, isto
é, se, com as reformas, foram mantidas firmas verticalmente integradas ou se houve uma
separação de todos os elos da cadeia. O problema do acesso, neste último caso, não gera
muitas dificuldades para o regulador. A questão torna-se mais complexa e interessante nas
indústrias em que a firma proprietária do gargalo atua também em segmentos competitivos da
cadeia produtiva. Nesses casos, a regulação do acesso tem grande influência no
desenvolvimento dos segmentos competitivos e, por isso, pode gerar problemas no âmbito da
defesa da concorrência.
1 No presente trabalho, toda vez que se fizermos menção a ‘preço de acesso’ estaremos nos referindo ao preço de uma só via.
9
Com o intuito de abarcar as diferentes dimensões do problema do acesso, o presente
trabalho está dividido em três capítulos. No Capítulo I, analisaremos, a partir de uma
abordagem histórica, as origens do problema e, em seguida, as implicações da questão do
acesso nos diferentes tipos de estruturas resultantes das reformas. Destacaremos os dois
pontos principais relacionados às regras de acesso: os investimentos na infra-estrutura de rede
e a criação de um ambiente competitivo.
No Capítulo II, apresentaremos diversas metodologias de precificação do acesso.
Destacaremos as principais contribuições teóricas da literatura segundo a estrutura vertical
para as quais foram desenhadas. Analisaremos também algumas tentativas de aproximar as
teorias do preço de acesso da prática regulatória, considerando imperfeições de mercado,
como, por exemplo, os problemas de assimetria de informação entre órgãos reguladores e
firmas reguladas.
No Capítulo III, estudaremos alguns casos em que foram aplicadas algumas das
metodologias mencionadas no Capítulo II. Serão analisadas algumas experiências
internacionais e o caso brasileiro, tendo como focos principais as indústrias de
telecomunicações fixa e gás natural. Destacaremos ainda no Capítulo III, e também na
Conclusão, os problemas impostos pelo grau de desenvolvimento das indústrias à regulação
do acesso.
10
CAPÍTULO I
ORIGENS E IMPLICAÇÕES DA QUESTÃO DO ACESSO
O presente capítulo tem como objetivo apresentar as origens da discussão sobre o
preço de acesso e sua relevância para a regulação de indústrias de rede. Na primeira seção,
sob uma perspectiva histórica, analisaremos as transformações pelas quais essas indústrias
passaram nas últimas décadas. Na segunda seção, daremos destaque às diferentes estruturas
verticais decorrentes das reformas setoriais e suas conseqüências na esfera regulatória. A
terceira e quarta seções abordam, respectivamente, a questão dos estímulos ao investimento e
à concorrência, temas centrais do problema do acesso e do novo ambiente institucional que se
criou a partir das reformas.
I.1. PERSPECTIVA HISTÓRICA : AS REFORMAS SETORIAIS
O caráter estratégico das indústrias de infra-estrutura e suas especificidades
tecnológicas foram, durante muito tempo, fortes argumentos para a intervenção direta do
Estado nessas atividades e, em muitos casos, na forma de monopólios verticalmente
integrados. Indústrias como energia, água e telefonia eram consideradas estratégicas para o
desenvolvimento econômico e a garantia do acesso a estes serviços era avaliada, no âmbito de
uma sociedade moderna, como essencial para o bem-estar.
São características comuns a tais indústrias a presença de externalidades, economias
de escala e escopo e a necessidade de mobilizar um grande volume de recursos para os
investimentos requeridos. Estes investimentos são marcados por longos prazos de maturação,
alto grau de especificidade de ativos e pela presença de custos irrecuperáveis. Frente a tais
características, essas atividades foram desenvolvidas, primordialmente, sob alguma forma de
intervenção estatal. O Estado assumia riscos que a iniciativa privada não estava disposta a
assumir, garantindo a provisão desses serviços essenciais.
11
As últimas décadas do século XX foram marcadas por significativas mudanças nessa
visão do papel do Estado na economia. Um novo paradigma se estabeleceu a partir do
chamado “Consenso de Washington”. Tornou-se dominante a idéia de se criar um ambiente
pró-mercado em indústrias historicamente conduzidas pelo Estado. Ao invés de interferir
diretamente na atividade produtiva, ao Estado dever-se-ia atribuir o papel de regulador
econômico (Araújo, 2003).
A Teoria da Contestabilidade deu suporte teórico a essas mudanças. Um mercado é
considerado perfeitamente contestável se a entrada na indústria é livre e reversível sem custos,
isto é, se não há barreiras à entrada ou à saída nem custos irrecuperáveis (Kupfer, 2002). A
grande novidade trazida por essa teoria é a importância conferida à ameaça à entrada, à
concorrência potencial. Caso configure um mercado contestável, um monopólio pode ter
comportamento aproximadamente competitivo em função da ameaça da entrada de novas
firmas (Araújo, 2003).
Nesse contexto, por todo o mundo, países passaram por reformas setoriais, ou o
chamado processo de desregulamentação2, com o objetivo de implementar políticas
econômicas de remoção de barreiras à entrada, tornando, assim, contestáveis as indústrias de
infra-estrutura, isto é, introduzindo pressões competitivas como intuito de ganhar eficiência
econômica. De acordo com Pinto Jr e Fiani (2002, p.533), são traços gerais das reformas as
seguintes medidas:
� Desverticalização dos diferentes segmentos de atividades da cadeia produtiva dos
serviços de infra-estrutura.
� Introdução da concorrência em diferentes segmentos de atividade das indústrias de
rede
� Abertura do acesso de terceiros às redes
� Estabelecimento de novas formas contratuais
� Privatização de empresas públicas
� Implementação de novos mecanismos de regulação e criação de novos órgãos
reguladores
Algumas causas e trajetórias das reformas variaram de acordo com o grau de
desenvolvimento dos países que as implementaram. No caso dos países centrais, Araújo 2 É importante ressaltar que, segundo Pinto Jr. e Fiani (2002, p.534), a “desregulamentação não é sinônimo de ausência de regulamentação. Ao contrário, o processo de desmantelamento das estruturas de mercado verticalizadas tem reservado um papel central para as tarefas de regulação”.
12
(2003) identifica na maturidade da indústria, na estagflação dos anos 70 e nas mudanças
tecnológicas do período as principais causas das reformas setoriais. Apesar das peculiaridades
de cada país, pode-se observar “uma tendência a expor a indústria a pressões competitivas,
suplementadas por regulação incentivada, sob a supervisão de agências reguladoras
especializadas” (Araújo, 2003, p.4).
Ainda segundo Araújo (2003), os países periféricos realizaram reformas por razões
distintas das dos países centrais. O autor destaca o caráter imaturo da rede desses países e a
mudança de orientação das principais instituições de financiamento, como o Banco Mundial,
num sentido mais “market-friendly”.
“(...) as reformas devem responder a um conjunto de problemas diferentes daqueles enfrentados pelos países centrais (...). Dada a imaturidade das redes e dada a necessidade de desenvolvimento da economia e da sociedade, a reforma dos países em desenvolvimento deve responder não só à necessidade de introduzir pressões para eficiência como introduzir incentivos ao investimento e à expansão.” (Araújo, 2003, p.5)
Apesar das diferenças significativas presentes nas experiências de cada país, é possível
identificar um ponto comum às reformas: os monopólios verticalizados sofreram ampla
reestruturação. Com o intuito de aumentar a eficiência da indústria, nos segmentos
considerados potencialmente competitivos, o monopólio foi quebrado com a abertura do
mercado a novas firmas. No entanto, a infra-estrutura da rede continuou sendo operada por
uma só firma por configurar um monopólio natural.
É a partir dessa configuração industrial híbrida – competição associada a monopólio –
que emergiu a questão do acesso ao gargalo, insumo essencial para as firmas operarem. O
preço de acesso assumiu um papel central nessa nova configuração industrial. A ele foram
atribuídas múltiplas funções, freqüentemente conflitantes, como incentivar, ao mesmo tempo,
investimentos, eficiência, novas entradas e concorrência. Essa questão gerou muito debate e
diversas metodologias de precificação do acesso foram propostas.
Dessa forma, não há uma solução única para o problema do acesso e a regra mais
adequada para uma determinada indústria depende, fundamentalmente, da estrutura vertical
que a caracteriza. Na próxima seção, analisaremos alguns trade-offs envolvidos no tipo de
estrutura vertical decorrente das reformas setoriais, contrastando os regimes de separação
vertical e integração vertical e analisando o impacto de cada caso no ambiente regulatório.
13
I.2. SEPARAÇÃO VERTICAL VERSUS INTEGRAÇÃO VERTICAL
As reformas setoriais resultaram em diferentes estruturas verticais. O tipo de
configuração industrial tem implicações decisivas na determinação do preço de acesso e,
conseqüentemente, nos incentivos ao investimento e à concorrência. As indústrias de rede, em
linhas gerais, apresentam duas características comuns: a existência de mercados verticalmente
relacionados e a presença de uma instalação essencial (essential facility). Esta é conhecida, na
literatura, por gargalo (bottleneck) e, geralmente, operada sob regime de monopólio natural3.
Segundo Considera et al (2002, p.29), pode-se definir essa instalação essencial da
seguinte maneira:
“Infra-estrutura ou insumo essencial para a produção de algum produto/serviço. Nesse caso, essencialidade implicaria basicamente em três assertivas: (i) o insumo é indispensável para um competidor (existente ou potencial); (ii) o insumo é detido por uma (ou poucas) firmas dominantes; e (iii) o insumo não pode ser economicamente ou tecnicamente duplicado pelos competidores.”
Devido a tais características, o gargalo pode configurar um monopólio natural. Em
monopólios naturais, os ganhos de escala implicam custos médios de produção decrescentes
para todos os níveis relevantes de produto. Assim, o custo marginal (CMg) está sempre
abaixo do custo médio (CMe). Com isso, a escala mínima de eficiência do mercado não
permite a atuação de mais de uma firma.
Gráfico I: Custos em Monopólio Natural
Vale ressaltar que o fato de um mercado ter características de monopólio natural não
significa que o será indefinidamente. A definição de monopólio natural baseia-se num
3 Em alguns casos, é possível, por exemplo, que haja um duopólio, ou seja, que duas redes sejam operadas paralelamente. Entretanto, tal configuração industrial é bastante rara porque exige uma grande densidade populacional ou de grandes consumidores para que seja viável economicamente (Considera, 2002).
CMe
Produto
CMg
Demanda
Preço
p = CMg
p = CMe
q*
14
argumento tecnológico e depende da dimensão do mercado em questão. Uma vez que haja
uma inovação que transforme as características da indústria ou mesmo um crescimento do
mercado tal que a escala mínima de eficiência permita competição, o mercado deixa de
configurar um monopólio natural (Viscusi, 1995).
Segundo Valletti (1999, p.3), mercados são verticalmente relacionados quando a oferta
final de bens ou serviços envolve diferentes atividades do upstream ao downstream, ligadas
numa seqüência clara. Ao longo dessa cadeia, alguns segmentos são potencialmente
competitivos e outros se caracterizam por serem monopólios naturais. O quadro abaixo ilustra
essa questão.
Indústria Gargalo Segmento Potencialmente Competitivo
Telecomunicações Rede Local Longa distância
Eletricidade Rede de Transmissão Geração
Gás Gasodutos Extração
Transporte Ferroviário Linha férrea, estações Serviços de passageiros e fretes
Serviço Postal Rede de distribuição local Segmentos complementares
Fonte: Laffont e Tirole (2000, p. 98)
Há diversas formas de relacionar o gargalo e os segmentos competitivos ao longo da
cadeia produtiva. O principal trade-off em relação a qual seria a melhor estrutura industrial se
dá entre as vantagens – importantes economias de custos de transação e eficiência na
produção de bens complementares – e desvantagens – risco de comportamento
anticompetitivo, como ações predatórias e manipulação de preços – de se permitir a presença
de firmas verticalmente relacionadas.
Diante desse trade-off, pode-se identificar duas estratégias extremas. A primeira
consiste no regime de desintegração vertical (divestiture regime), que proíbe a firma que
detém o monopólio do gargalo de atuar nos mercados competitivos. A segunda é o regime de
integração vertical e livre acesso à infra-estrutura, que permite à monopolista competir nos
outros elos da cadeia (Weare, 1996).
15
No regime de desintegração vertical, a separação dos elos da cadeia produtiva facilita
a regulação da indústria, pois o preço do acesso à rede tem o papel apenas de remunerar a
proprietária do gargalo por seus investimentos e custos de fornecimento do serviço. Nesse
regime, não há qualquer tipo de incentivo ao favorecimento de uma firma que necessite do
acesso à rede, isto é, não gera conflitos no campo da defesa da concorrência. Entretanto, há
economias de escopo que não estão sendo aproveitadas e corre-se o risco da dupla
marginalização se a competição no downstream for imperfeita4.
As indústrias verticalmente integradas, além de aproveitarem as economias de escopo
oriundas da realização de atividades complementares, apresentam vantagens do ponto dos
vista da Teoria dos Custos de Transação. Em linhas gerais, segundo Fiani (2002), esta teoria
busca explicar as razões pelas quais diferentes etapas do processo produtivo são integradas
verticalmente dentro de uma empresa, ao invés de se recorrer ao mercado. Racionalidade
limitada, complexidade, incerteza, oportunismo e especificidades de ativos são os fatores
determinantes dos custos de transação. Tais elementos são flagrantes em indústrias de rede.
Em função da presença do gargalo, destaca-se a questão da especificidade dos ativos e o
“problema do refém” (hold-up).
“Esse problema ocorre quando uma das partes que realizou um investimento em um ativo específico torna-se vulnerável a ameaças da outra parte de encerrar a relação. Essa ameaça pode permitir a essas partes obter condições mais vantajosas do que as do início da transação. (...) A especificidade de ativos é uma condição necessária para que o risco associado a atitudes oportunistas seja significativo”(Fiani, 2002, p.272).
Desta forma, permitir que a firma operadora do gargalo se integre verticalmente para
um segmento competitivo representa uma economia em termos de custos de transação. A
integração vertical gera benefícios ao superar as externalidades das partes envolvidas. Evita o
mark-up duplo, o hold-up e melhora a divisão de riscos entre o upstream e o downstream
(Valletti, 1999). Contudo, segundo Weare (1996), o regime de integração vertical torna a
atividade regulatória mais complexa, o que, por sua vez, gera custos de transação, devido ao
fato de os contratos regulatórios serem incompletos5 e demandarem um forte monitoramento
ex post.
4 Diz-se dupla marginalização porque, quando a competição é imperfeita, as firmas do downstream podem cobrar, pelo produto, um preço acima do custo marginal, impondo uma margem além da já presente na cobrança pelo acesso. No próximo capítulo, exploraremos melhor o porquê da cobrança pelo acesso ser necessariamente mais elevada que o custo marginal 5 Devido à racionalidade limitada dos agentes, os contatos, de maneira geral, dificilmente abarcam todas as contingências futuras. Com isso, é possível que conflitos surjam em decorrências de questões não antecipadas no contrato.
16
No regime de integração vertical, como a firma estabelecida concorre com as entrantes
nos mercados competitivos, a tarifa cobrada pelo acesso ao gargalo passa a ser uma questão
relevante do ponto de vista da defesa da concorrência6. A firma estabelecida pode tentar obter
vantagens competitivas aumentando os custos das rivais através da cobrança pelo acesso.
Nesse sentido, há dois tipos principais de regulação em indústrias verticalizadas: a de
estrutura e a de conduta.
“The regulation of structure includes merger controls, the removal of entry barriers, restrictions on the line of business or the break up of an integrated incumbent. (...) it addresses two fundamental questions at the downstream level, and if and how entry is regulated downstream. The regulation of conduct concerns the pricing behavior of firms both in terms of their level and their structure”. (Valletti, 1999, p.4)
Na esfera da regulação de estrutura, discutiremos na seção I.2. a relação entre o
ambiente regulatório e o investimento. Em seguida, no âmbito da regulação de conduta,
apresentaremos os potenciais conflitos em termos de defesa da concorrência em indústrias de
rede que associam monopólio à competição.
A próxima subseção tem o objetivo de ilustrar esquematicamente o problema do
acesso tanto nas indústrias com separação vertical quanto nas indústrias com integração
vertical. Esse tipo de representação auxiliará na compreensão das diversas metodologias de
acesso que serão apresentadas no Capítulo II.
Representação esquemática
No esquema abaixo, representamos uma indústria separada verticalmente. No primeiro
segmento, o upstream, o mercado é competitivo e composto pelas firmas Gi, sendo i = 1, 2,
3,..., n. O elemento em destaque é o gargalo M, que é monopólio natural. O terceiro segmento,
o downstream, também é competitivo, composto pelas firmas Pi, sendo i = 1, 2, 3, ..., n.
As firmas Pi contratam a produção de uma das firmas Gi para fornecer o bem, ou
serviço, aos consumidores finais Ci. Para tanto, precisam passar pela estrutura de M que, por
sua vez, cobra uma taxa pela provisão do acesso.
6 Somente quando a demanda é linear, os produtos são homogêneos e os retornos de escala são constantes tanto no upstream quanto no downstream, é que não há diferença entre integração vertical e separação vertical: a competição de preços reduz os custos e não existem custos fixos adicionais a recuperar. (Valletti 1999, p. 6)
17
Figura I: Estrutura de uma indústria com separação vertical
Esse tipo de esquema é representativo para a indústria de Eletricidade, com
competição na geração (Gi) e na comercialização (Pi) e monopólio na transmissão e
distribuição (M). Optamos por mostrar esse tipo de estrutura porque permite visualizar
claramente a questão do acesso em um contexto em que há coexistência de monopólio e
concorrência.
No caso da indústria de gás natural, este esquema representaria apenas uma parte do
setor que seria constituído, na verdade, por dois esquemas desse tipo em seqüência. Em linhas
gerais, primeiramente, tem-se a exploração (ou importação) do GN, depois o transporte via
gasodutos (M) até os city gates. Nesse processo, entra a figura do carregador, que compete via
contratos para levar o gás aos distribuidores – ou diretamente aos grandes consumidores. A
rede de distribuição também é monopólio natural. Nesta etapa, entra o comercializador que
concorre, também via contratos, para levar o gás aos consumidores finais.
A estrutura industrial da telefonia fixa é um pouco diferente. As redes locais,
representadas por M1 e M2, são monopólio natural. O serviço das ligações de longa distância é
competitivo7, onde atuam as firmas Li, sendo i = 1, 2, 3, ..., n. Se T1 faz uma ligação para T2,
pode optar pelo serviço de uma das operadoras de longa distância Li. Para completar a
chamada, entretanto, é preciso passar pela monopolista da rede local M2, que cobra uma taxa
pela provisão do acesso.
7 O serviço de ligações de longa distância pode ser competitivo porque têm disponíveis diversas possibilidades tecnológicas, ao contrário da rede local, cuja tecnologia a caracteriza como monopólio natural.
MG2
P1
Ci
G1
P2
I II III
Gn Pn
18
Figura II: Indústria de telefonia fixa com separação vertical
A questão do acesso na presença de integração vertical pode ser ilustrada pelo
esquema da Figura III. Assim como na Figura I, os segmentos I e III são competitivos e o II é
monopólio natural. Para oferecer o bem ou serviço para o consumidor Ci, as firmas Pi
contratam uma das produtoras Gi e pagam um preço de acesso a M pelo uso da rede. M e Pm
estão em destaque na Figura III porque, se M é dona da distribuidora Pm – isto é, se
constituem uma mesma empresa, ou se estão, em algum sentido, relacionadas – a questão do
acesso torna-se conflituosa. M terá que dar acesso às firmas que, no mercado final, serão suas
rivais.
Figura III: Estrutura de uma Indústria com integração vertical
Analogamente, no setor de telefonia fixa, a operadora local M2 pode estar
verticalmente integrada no segmento de longa distância por meio da operadora Lm, ambas em
Pm
P2
Pn
Ci
Origem da
ligação
Destino da
ligação
T1
L1
T2L2
Ln
M1 M2
MG2
G1
I II III
Gn
19
destaque na Figura IV. Deste modo, o acesso à rede local torna-se problemático, pois a
operadora M2 terá que completar chamadas de suas concorrentes na longa distância.
Figura IV: Indústria de telefonia fixa com integração vertical
A partir dos esquemas apresentados, pode-se notar que o grau de complexidade da
questão do acesso depende do tipo de estrutura industrial à qual se refere. No caso
verticalmente integrado, destaca-se o problema de se garantir um ambiente de fato
competitivo na presença de uma firma com situação tão diferenciada. O preço de acesso deve
ser regulado tendo isso em vista, mas sob a restrição de que as firmas monopolistas precisam
ser recompensadas pelos investimentos realizados. Nas duas próximas seções analisaremos
essas duas questões: o investimento e a concorrência.
I.3. O PREÇO DE ACESSO E A QUESTÃO DO INVESTIMENTO
A tarefa ‘básica’ do preço de acesso é compensar a firma estabelecida pelo uso de sua
infra-estrutura. Porém, como já mencionamos, o preço de acesso desempenha múltiplos
papéis. Freqüentemente, o regulador o utiliza como instrumento de incentivo a investimentos,
atuando como sinalizador tanto para as firmas estabelecidas quanto para as entrantes nas suas
decisões de investimento (Valletti, 1999).
Conforme destacamos na seção anterior, a maior parte das indústrias de rede era
formada, historicamente, por monopólios verticalmente integrados sob forte intervenção
Origem da
ligação
Destino da
ligação
T1
Lm
T2L2
Ln
M1 M2
20
estatal. Neste contexto, as firmas assumiam riscos e realizavam investimentos que talvez não
aconteceriam se houvesse ameaça competitiva, isto é, se o grau de incerteza fosse maior.
As firmas estabelecidas podem enfrentar dois cenários durante uma reforma: um em
que os investimentos já foram inteiramente recuperados e outro em que os investimentos
ainda estão em processo de amortização. Se, no momento da reforma, os investimentos já
estiverem completamente amortizados, poderia surgir o problema do oportunismo pós-
contratual, pois há risco de hold-up devido à especificidade de ativos. Segundo Valletti (1999:
21), “the need to anticipate the hold-up risk is particularly important during transition periods
to competition since investments of monopolist operators in the past were probably made with
the conviction that they would be recovered under a different (more protected) market
structure”.
Em alguns casos, os investimentos não estavam totalmente amortizados. Dentre estes
investimentos, podem estar presentes alguns custos irrecuperáveis (sunk costs) decorrentes da
reforma regulatória. Tais custos são chamados stranded costs e podem ser definidos do
seguinte modo:
“Stranded costs are investments made, contracts signed, or costs incurred by a utility which are not fully recoverable from consumers in a fully competitive market and which…would not have been incurred in the first place if the market had been competitive…They will have been incurred by the utility as part of its fulfillment of public policy instruments or directives” (ICC, 1998 apud OCDE, 2000, p.48)
Desta forma, uma das questões centrais que emergiram com as reformas é se houve,
ou não, expropriação regulatória dos investimentos não recuperados com a introdução de
competição. Segundo Laffont e Tirole (2000: 139), em um ambiente de competição, várias
ações regulatórias têm potencial de constituir uma expropriação:
� Preço de acesso baixo.
� Obrigações excessivas.
� Subsídios à entrada.
� Rigidez dos preços regulados antes da ameaça competitiva.
� Não compensação da adição de transmissão ou mudança de capacidade para acomodar
o novo tráfego.
� Restrições de linhas de negócios e etc.
21
A fim de evitar a expropriação regulatória, o preço de acesso deve tentar compensar
essa defasagem residual de financiamento. Com isso, as firmas estabelecidas têm fortes
incentivos para alegar que existe uma expropriação, toda vez que os reguladores e
legisladores contemplam um movimento competitivo. (Laffont e Tirole, 2000)
De acordo com Valletti (1999), se os reguladores são mal informados sobre os custos
dos investimentos, a firma estabelecida pode tentar inflá-los ou praticar o chamado gold
plating, que consiste em adotar técnicas e insumos mais caros desnecessariamente. Neste
caso, o regulador, ao tentar não prejudicar a firma estabelecida na recuperação de seus custos,
pode estar garantindo rendas não observáveis e induzindo a um comportamento ineficiente.
Além disso, o regulador deve considerar que uma entrada, em geral, não está livre de
custos. Há uma série de barreiras à entrada, como o custo do consumidor de trocar de
fornecedor e os custos incorridos na divulgação de marcas e produtos desconhecidos. Se os
consumidores valorizam a diversidade de produtos e se o fomento ao learning-by-doing é
importante para a indústria, é possível que o regulador tenha que dar algum tipo de assistência
à entrada. Sendo assim, ao formular uma política de acesso, o regulador deve conciliar
objetivos e interesses freqüentemente incompatíveis. (Laffont e Tirole, 2000; Valletti, 1999)
Segundo Laffont e Tirole (2000), as regras de acesso são necessariamente ineficientes
por uma série de razões que foram por eles agrupadas em três categorias. Primeiramente,
qualquer preço de acesso é um instrumento de regulação por taxa de retorno. Esse método,
por um lado, garante o investimento necessário por assegurar sua remuneração, mas, por
outro, induz a firma a optar por tecnologias caras e a “sobreinvestir”. Desta forma, há um
trade-off entre a chamada eficiência ex post – promover competição por intermédio do acesso
– e a eficiência ex ante – conceder ao proprietário do gargalo flexibilidade para explorar a
infra-estrutura de modo a incentivar investimentos. Em segundo lugar, o desenho de uma boa
política de acesso esbarra na controvérsia acerca da correta definição de “serviço”. Por último,
estão os problemas associados ao monitoramento da política de acesso uma vez
implementada. (Laffont e Tirole, 2000: 137)
Na próxima seção, nos concentraremos na parte do trade-off referente ao estímulo à
competição, isto é, à eficiência ex post da questão do acesso. Analisaremos também
problemas relacionados à defesa da concorrência na política de acesso à rede.
22
I.4. O PREÇO DE ACESSO E A INTRODUÇÃO DE COMPETIÇÃO
Conforme vimos na seção I.1., um dos principais objetivos das reformas era aumentar
a eficiência e o dinamismo das indústrias e, para tanto, introduzir competição em diferentes
segmentos da cadeia produtiva, abrindo o acesso à rede. Com isto, a política de precificação
do acesso, além de ter que considerar a questão do investimento mencionada da seção
anterior, é um meio de fomentar a concorrência. Se for muito alto, por exemplo, pode excluir
firmas entrantes e viabilizar um comportamento predatório da firma estabelecida nos
segmentos competitivos. Deste modo, o preço de acesso é uma preocupação do ponto de vista
da defesa da concorrência.
Esta preocupação é mais acentuada no regime de integração vertical, pois esse tipo de
estrutura cria condições favoráveis a práticas anticompetitivas. A firma estabelecida, nesse
caso, tem vantagens comparativas no mercado, não só por ser monopolista da estrutura
essencial, mas também por conhecer o histórico da atividade e por deter um acúmulo de
conhecimento específico. Contudo, segundo Mello (2002), a presença de firmas com poder de
mercado não é um problema em si para a defesa da concorrência. O uso abusivo desse poder
de mercado é o que se procura reprimir.
Sobre as práticas abusivas, Valletti (1999, p.2) argumenta que “in a broader context,
access pricing is related to a variety of competition policy issues that include quantity
discounts, cross-subsidies, tie-ins, refuse to deal or to unbundled, exclusive dealing and
predatory pricing”. O autor defende, ainda, que o ganho potencial da reestruturação das
indústrias de rede pode não ser maximizado se a regra de acesso não for elaborada de maneira
adequada.
Se o preço de acesso for elevado, a firma estabelecida pode fazer subsídios cruzados.
Os lucros extraordinários provenientes da provisão de acesso podem ser utilizados para
subsidiar um preço baixo no segmento competitivo. Entretanto, segundo Cave e Doyle (1994),
é importante ressaltar que as firmas estabelecidas, muitas vezes, têm obrigações sociais,
como, por exemplo, a universalização do acesso ao bem ou serviço, que não são impostas às
entrantes. Esses lucros extraordinários podem ser importantes para custear tais obrigações.
Frente à necessidade de se garantir um ambiente competitivo que não seja desleal, a
implementação da política de acesso exige monitoramento da conduta da firma estabelecida.
Isto, somado às dificuldades do regulador em observar custos e criar incentivos ao
23
investimento, leva ao contra-senso da regulação pesada. Se as reformas tinham como objetivo
reduzir a intervenção do Estado nos setores de infra-estrutura e elevar a eficiência, a
necessidade de se implementar uma regulação pesada é um contra-senso. (Laffont e Tirole,
2000).
A questão no acesso, portanto, envolve muitos desafios. Adotar uma determinada
metodologia de precificação do acesso tem implicações em diversos sentidos. Este é um dos
problemas centrais das reformas e pode ser determinante para os seus resultados. No próximo
capítulo, apresentaremos as principais metodologias para a determinação do preço de acesso
de acordo com o tipo de estrutura vertical do setor.
24
CAPÍTULO II
DAS METODOLOGIAS PARA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DE
ACESSO EM INDÚSTRIAS DE REDE
A escolha de uma determinada metodologia para a fixação do preço de acesso ao
gargalo de uma indústria de rede é uma questão-chave da regulação setorial, variando,
fundamentalmente, de acordo com a estrutura vertical da indústria e com os objetivos do
órgão regulador. Conforme discutimos no capítulo anterior, as reformas setoriais
implementadas nas últimas décadas resultaram em distintas configurações industriais,
demandando a elaboração de diferentes regras de acesso e suscitando debates que em muito
contribuíram para a prática regulatória.
Neste capítulo, apresentaremos as principais metodologias de acesso debatidas na
literatura, segundo a estrutura vertical para a qual foram desenhadas. Na seção II.1,
exporemos as regras de acesso para indústrias verticalmente separadas. Na seção II.2,
discutiremos as principais contribuições para o caso das indústrias verticalmente integradas.
Na seção final, faremos um breve balanço dos prós e contras presentes nas teorias
apresentadas.
II.1 - METODOLOGIAS PARA INDÚSTRIAS VERTICALMENTE SEPARADAS
A estrutura vertical da maior parte das indústrias de infra-estrutura sofreu
modificações com as reformas setoriais. Em casos mais extremos, houve de fato uma
desintegração vertical no sentido de que cada elo da cadeia é composto por firmas diferentes e
não associadas. Em outros, implementou-se a chamada separação contábil, que consiste em
exigir de uma firma integrada em elos diferentes da cadeia produtiva uma contabilidade
separada para cada segmento, tratando-a como se fossem firmas distintas. O principal objetivo
25
da separação contábil é combinar os benefícios de economia de escopo da integração vertical
com a repressão a práticas anticompetitivas8.
Nesta seção, apresentaremos as soluções consideradas ótimas do ponto de vista
teórico. No próximo tópico, discutiremos o significado do preço de acesso first best e second
best para indústrias cujas firmas ofertam um único produto. Posteriormente, abordaremos a
solução dada pela regra de Ramsey para analisar o caso de firmas multiprodutos.
II.1.1 - SOLUÇÕES ÓTIMAS
A solução teórica ótima (first best) é a regra que iguala o preço de acesso ao custo
marginal de prover o serviço. Seja ca este custo e c2 o custo unitário no downstream . Supondo
concorrência perfeita no elo seguinte da cadeia, o preço ao consumidor seria estabelecido ao
nível do custo marginal, garantindo o bem-estar máximo, já que o benefício marginal da
sociedade se iguala ao custo marginal da sociedade de produzir o bem ou serviço. O preço
final (P) seria igual ao custo unitário (c2) no dowstream mais o preço de acesso ‘a’ (Cave e
Doyle, 1994).
a = ca (1)
P = c2 + a (2)
Porém, existe um trade-off entre eficiência produtiva e eficiência alocativa9. A regra
do custo marginal é ótima apenas do ponto de vista da eficiência alocativa. As indústrias de
infra-estrutura, porém, caracterizam-se pelos grandes volumes de recursos necessários ao
investimento, especificidade de ativos, economias de escala e escopo e pela existência de um
gargalo na cadeia produtiva com características de monopólio natural.
Conforme vimos no capítulo I, o custo marginal está sempre abaixo do custo médio
em monopólios naturais. Se o preço de acesso for estabelecido ao nível do custo marginal, a
firma proprietária do gargalo não conseguirá recuperar custos fixos. Em função disso, a regra
8 Dado que existe geralmente uma assimetria de informação significativa entre o órgão regulador e as firmas reguladas, a separação contábil pode gerar distorções, pois a firma integrada terá interesse em atribuir a maior parte possível de seus custos ao gargalo para aumentar seus retornos em termos de acesso e elevar os custos das rivais. (Cave e Doyle 1994, p.183). 9 Eficiência produtiva é custo mais baixo para um dado mix de produto, enquanto a eficiência alocativa é o melhor mix de produto para a sociedade para um dado nível de escassez de recursos.(Valletti e Estache, 1999, p.8).
26
do custo marginal não apresenta qualquer incentivo aos investimentos requeridos pela rede
além de não gerar os retornos necessários para recuperar os que já foram realizados.
Desta forma, a solução first best não é factível. Uma maneira de viabilizar essa regra é
o governo transferir para a proprietária do gargalo o montante de recursos necessário para
corrigir os problemas gerados pela regra do custo marginal. Para que a solução seja a first
best, a captação desse recurso deve ser feita através de um imposto lump sum10. Apesar de sua
relevância teórica, esse tipo de imposto é de difícil aplicação prática.
Como alternativa à inviabilidade da solução anterior, pode-se adotar um critério de
acesso baseado no custo médio ao invés do custo marginal. Sob tal critério, as firmas
entrantes passam a participar da recuperação dos custos fixos, assim como os consumidores
finais. É uma regra que difere do resultado competitivo, sendo, portanto, uma alocação de
recursos dita ‘sub-ótima’. Apesar desta perda de eficiência, a regra garante a recuperação dos
custos fixos ao estabelecer que o preço de acesso (a) deva ser igual ao custo unitário da
provisão do acesso (ca) mais os custos fixos (F) divididos pela quantidade demandada (Qd)
(Valletti e Estache, 1999).
a = ca +F/Qd (3)
Apesar da ineficiência mencionada, a regra do custo médio não necessariamente reduz
o bem-estar social. Se a economia não está inicialmente em equilíbrio competitivo em função
de alguma distorção, como o fato de o preço estar diferente do custo marginal em um mercado
qualquer, por exemplo, a distorção adicional decorrente da não adoção de uma regra de acesso
first best poderá ter um impacto tanto negativo quanto positivo no bem-estar social. É o que
diz o teorema do second best. A regra do custo médio pode perfeitamente ser enquadrada
nesse contexto, o que explica o fato de a literatura, comumente, referir-se a ela como a ‘regra
second best’ (Viscusi, 1995).
Esta discussão teórica da regra ótima de acesso supõe que as firmas produzem para um
só mercado. Com o intuito de analisar o caso em que as firmas ofertam bens ou serviços para
mercados diferenciados, é preciso incluir no cálculo do preço de acesso as especificidades de
cada mercado para se obter a solução teórica ótima. Para tanto, apresentaremos, em seguida, a
regra de Ramsey.
10 O imposto lump sum é dito imposto não distorcivo porque não altera preços relativos, funcionando como uma dedução uniforme da renda dos agentes.
27
II.1.2 - REGRA DE RAMSEY
Ainda que as características físicas dos bens e serviços finais sejam as mesmas, é
possível que os consumidores atribuam valores diferentes aos bens e serviços ofertados. É
como se a firma operasse com múltiplos produtos. Neste contexto, a solução first best seria
equivalente à que acabamos de demonstrar para o caso de um único mercado, isto é, fixar os
preços de acordo com o custo marginal de produção. Todavia, os problemas em termos de
eficiência produtiva são os mesmos mencionados na seção anterior.
O critério second best para esse caso é a chamada Regra de Ramsey. A idéia é
minimizar as distorções causadas pela fixação do preço acima do custo marginal e pela
necessidade de recuperação dos custos fixos por intermédio de um preço de acesso
diferenciado para cada mercado. Nos preços de Ramsey, o mark-up com relação ao custo
marginal deve ser inversamente proporcional à elasticidade-preço da demanda. Isso implica,
em outras palavras, repartir os custos fixos entre todos os consumidores e cobrar mais de
quem é menos sensível a variações de preços (Noam, 2002; Valletti e Estache, 1999).
Sob a ótica formal, a regra de precificação de Ramsey baseia-se na idéia do regulador
benevolente, que maximiza o excedente social sob a restrição de a firma estabelecida obter
lucros normais11. A partir dessa otimização, chega-se ao preço ótimo para cada tipo de
mercado.
pi(qi) = CMgi + [(λ)/(1+ λ)]. (pi(qi)/|εi|) (4)
O preço do bem i, i = 1,2,...,n, portanto, seria o seu custo marginal mais um termo de
Ramsey que capta os efeitos supracitados. O λ é o multiplicador de Lagrange desta otimização
e representa o valor implícito, ou preço-sombra, da restrição orçamentária da firma
estabelecida. O |εi| é o valor em módulo da elasticidade-preço da demanda do bem i. Dessa
forma, se usamos o preço de Ramsey para calcular o preço de acesso ao gargalo, este seria
igual ao custo marginal de prover o acesso mais o termo de Ramsey (Pinto Jr. e Fiani, 2002;
Valletti e Estache, 1999)
a = ca + [(λ)/(1+ λ)]. (a/ |εa|) (5)
11 No Anexo 1, apresentamos a derivação da regra de Ramsey.
28
Essa regra, no entanto, tal como apresentamos, deve sofrer algumas modificações para
melhor se adequar ao contexto do acesso ao gargalo de uma indústria de rede, visto que a
competição no downstream pode não ser – e em geral não é – perfeita (Vogelsang, 2003). “In
the case of downstream market power, optimal access price regulation has to strike a balance
between compensating for downstream markups by lowering access charges and inducing
inefficient downstream entry” (Armstrong, 2003, p.5).
Segundo Laffont e Tirole (2000), estes incentivos a entradas ineficientes podem ser
contrabalançados pela cobrança de uma tarifa em duas partes. Uma parte seria composta por
uma taxa variável equivalente ao custo por unidade e a outra seria composta por uma taxa
fixa. Este tipo de tarifa é interessante para casos de competição imperfeita no downstream,
pois, conforme mencionamos no capítulo I, nesses casos, corre-se o risco do duplo mark-up,
isto é, as firmas do downstream – que precisam pagar pelo acesso à rede – estabelecem um
mark-up nos preços dos seus bens ou serviços além da margem já presente na regra de
Ramsey.
Com a tarifa em duas partes, a proprietária da infra-estrutura deve subsidiar o uso do
gargalo na margem de modo a reduzir o mark-up ao nível de Ramsey. Esta estratégia permite
capturar renda do grande usuário da rede e reduzir o custo social da contribuição de outros
usuários na recuperação dos custos da infra-estrutura, ou seja, pode ser um bom instrumento
para corrigir o poder de mercado no downstream. Além disso, é possível que seja socialmente
ótimo alugar a infra-estrutura cobrando o custo marginal e usar taxa fixa paga pelo grande
usuário para a recuperação pretendida dos custos fixos, desempenhando, portanto, o papel do
imposto lump sum (Laffont e Tirole, 2000).
Apesar de ser uma regra ótima do ponto de vista teórico, não é sempre politicamente
ou legalmente possível de ser posta em prática. Uma das questões mais delicadas é a da
eqüidade. Setores de infra-estrutura se caracterizam muitas vezes por proverem bens e
serviços fundamentais para a sociedade, como é o caso do fornecimento de energia elétrica e
água. Dado que consumidores residenciais são menos elásticos que os industriais, por
exemplo, a adoção da regra de Ramsey pode excluir residências de baixa renda do consumo
desses bens e serviços (Valetti, 1999).
Soma-se a isso, a possibilidade, reconhecida da literatura especializada, de os preços
de Ramsey violarem a legislação de defesa da concorrência ou a legislação setorial de alguns
países. Por fim, a regra de Ramsey demanda uma quantidade muito grande de informação, o
29
que compromete a sua viabilidade prática. O regulador precisa conhecer os custos marginais,
as elasticidades de demanda e a substitutibilidade entre os bens ou serviços. Tais informações,
em geral, estão nas mãos das firmas e dificilmente são obtidas pelo órgão regulador,
evidenciando um dos principais problemas da regulação, vale dizer, a assimetria de
informação.
Esta questão informacional torna-se ainda mais complicada nas indústrias
verticalmente integradas, visto que é difícil observar separadamente os custos referentes a
cada atividade da cadeia produtiva. Na próxima seção, apresentaremos as principais regras de
acesso formuladas para indústrias verticalmente integradas, destacando os principais debates
teóricos em termos de incentivo ao investimento e defesa da concorrência.
II.2 - METODOLOGIAS PARA INDÚSTRIAS VERTICALMENTE INTEGRADAS
A questão do acesso para indústrias verticalmente integradas é bem mais complexa e
controversa se comparada ao caso das indústrias verticalmente separadas. Isto se dá em
função de uma outra questão, que emerge quando a proprietária do gargalo atua nos
segmentos competitivos: a defesa da concorrência. A regulação do acesso, nesse caso, deverá
ter em vista que o preço praticado pela monopolista deve, ao mesmo tempo, remunerá-la
pelos investimentos na rede, sem que seja proibitivo para o desenvolvimento da concorrência
nos outros elos da cadeia produtiva.
Na presente seção, apresentaremos a regra do componente do preço eficiente (ECPR),
as regras baseadas em custos e regras que buscam superar o problema informacional que
envolve todas as regras de acesso, vale dizer, menu de contratos e preço-teto global.
II.2.1 - REGRA DO COMPONENTE DO PREÇO EFICIENTE (ECPR)
Nos casos em que a regulação de acesso é separada da regulação dos preços finais, o
preço de acesso deixa de afetar eficiência alocativa, pois os preços finais tornam-se exógenos.
O regulador passa a se preocupar, portanto, apenas com a recuperação dos investimentos e
com a eficiência produtiva, ou seja, com o estímulo a entradas eficientes e com a minimização
de custos (Valletti, 2003).
30
A regra de acesso mais popular e controversa para tal contexto, na literatura sobre
preço de acesso, é a Regra do Componente do Preço Eficiente, ECPR (Efficient Component
Pricing Rule), conhecida também por regra Baumol-Willig12. A principal contribuição da
ECPR foi introduzir a noção de custo de oportunidade no cálculo do preço de acesso.
Apresentaremos, primeiramente, a versão mais simples dessa regra e as principais críticas que
a ela foram feitas. Em seguida, discutiremos algumas versões mais sofisticadas da ECPR para
a questão do acesso.
II.2.1.1 - VERSÃO SIMPLES
A versão mais simples da regra consiste, basicamente, em cobrar uma tarifa que seja
igual ao custo incremental médio do acesso, mais o chamado custo de oportunidade de prover
acesso a uma firma que compete com a proprietária do gargalo no elo seguinte da cadeia
produtiva.
A definição exata do custo de oportunidade depende das hipóteses utilizadas. Se o
acesso e o produto final são gerados em proporções fixas, se o produto final da firma
estabelecida e da entrante são substitutos perfeitos e se os entrantes consideram o preço final
da firma estabelecida como dado, o custo de oportunidade é a quase-renda ou contribuição em
termos de lucro gerado pela firma estabelecida ao prover acesso à rede13.
Seja p o preço final, c1 o custo incremental médio da firma estabelecida no segmento
AB e c2 no segmento BC. Partindo-se da hipótese de que os produtos finais são homogêneos e
o mercado é contestável, a cobrança ótima pelo acesso, a*, que garante custo mínimo do
transporte, é a diferença entre o preço final(p) e o custo marginal do segmento BC (c2) :
12 A ECPR é atribuída a Robert Willig (1979) e Willian Baumol (1983). 13 Fiani (2001) ressalta que existe um aspecto dinâmico do custo de oportunidade que não é abordado pela ECPR. “(...) uma unidade a menos vendida hoje pode significar um market share menor no futuro, e, conseqüentemente, um grau de monopólio menor em um mercado já consolidado. Isso pode levar a um custo de oportunidade maior que o sacrifício de receita líquida, por deixar de vender o acesso aos seus competidores não integrados”.
A ------------------------------- B ------------------------------- C
(Upstream) (Gargalo) (Downstream)
31
a* = p – c2 (6)
Uma outra forma de escrever (6) é:
a* = c1 + ( p – c1 – c2) (7)
A equação (7) representa exatamente a definição da ECPR, pois explicita o custo de
oportunidade que a firma estabelecida incorre ao prover acesso: (p – c1 – c2). É possível
interpretar essa regra de diversas maneiras. É uma regra de margem porque a margem do
firma estabelecida no mercado final (p-a) é igual ao custo marginal c2 da atividade no
downstream. Além disso, contém um princípio de paridade, já que o proprietário do gargalo
cobra de si mesmo uma taxa de uso da rede igual à cobrada aos entrantes. (Valletti e Estache,
1999)
Uma das principais característica da ECPR é assegurar que uma entrada ocorra
somente se a firma for mais eficiente no segmento BC que a estabelecida. Vale ressaltar que
se a entrante for de fato mais eficiente, a firma estabelecida deixará de operar no segmento
competitivo. Assim, de acordo com Cave (1994), a entrada seria do tipo “ou tudo ou nada”, já
que a regra implica que uma firma só consiga se manter no mercado se for a mais eficiente,
isto é, que não haverá oferta de uma firma ineficiente.
Supondo que o preço final do monopolista é R$ 1,00 e que o seu custo marginal de
prover acesso é R$ 0,20 para o segmento BC e R$ 0,50 no segmento AB, o custo de
oportunidade será R$ 0,30. Assim, o preço de acesso deveria ser R$ 0,80 de acordo com as
equações supracitadas. Como o preço final é R$ 1,00 e o custo do acesso é R$ 0,80, a firma
entrante só produzirá se seu custo marginal no segmento BC for menor ou igual a R$ 0,20,
isto é, se for mais eficiente que a firma estabelecida14.
Portanto, a regra oferece os incentivos certos aos entrantes potenciais e não altera a
recuperação dos custos fixos. A ECPR é neutra com relação aos retornos da firma
estabelecida. No exemplo numérico anterior, a firma estabelecida recebe R$ 0,80
independentemente da composição final do mercado no downstream. Tais conclusões, no
entanto, dependem fundamentalmente de o preço final ser cobrado a níveis concorrenciais.
Esta questão é alvo de muitas críticas, dado que indústrias de rede não comportam, em geral,
mercados perfeitamente competitivos (Economides e White, 1995). 14 Exemplo baseado em Economides e White (1995).
32
Os resultados da ECPR têm um forte apelo em função da sua simplicidade se
comparada à complexa regra de Ramsey e do fato de incorporarem o custo de oportunidade
envolvido na provisão de acesso. Apesar da “lógica sedutora”, Economides e White (1995)
advertem que tal regra só assegura uma solução first best, isto é, só equivale à regra de
Ramsey, sob hipóteses muito restritivas. Tipicamente, são estabelecidas as seguintes
hipóteses15:
� O preço final do monopolista é baseado no custo marginal. � A competidora não tem poder de mercado. � Os bens produzidos pela firma estabelecida e pela competidora são substitutos
perfeitos. � A tecnologia de produção apresenta retornos constantes de escala no segmento BC. � O custo marginal de produção em BC pode ser perfeitamente observado. � Não há possibilidade de bypass. � A atividade competitiva é contestável.
Se não for possível garantir algumas dessas hipóteses, a ECPR pode tornar-se
ineficiente. Se, por exemplo, a firma estabelecida exerce poder de monopólio e cobra um
preço final acima do custo marginal, a ECPR garante a continuidade dos preços altos. Com
isso, uma série de consumidores pode estar sendo excluído do mercado (Economides, 1995).
Além disso, nesse caso, exclusão de entrantes ineficientes pode ser danosa do ponto de
vista social. É possível que haja benefício líquido decorrente de uma entrada ineficiente se a
presença da competidora baixar os preços de tal maneira que a redução do peso morto do
monopólio exceda a perda social gerada pela ineficiência da firma. Em tal situação, pode
valer a pena sacrificar um pouco de eficiência produtiva para reduzir a ineficiência alocativa
(Economides e White, 1995)
Diante disto, ao atentar apenas para a eficiência produtiva, a ECPR preserva a
ineficiência alocativa do poder de monopólio no caso de os preços não serem estabelecidos de
maneira ótima. A regra de acesso garante rendas de monopólio uma vez que tais rendas
entram no cálculo do custo de oportunidade da firma estabelecida. Sendo assim, Economides
e White (1995) argumentam que o regulador não deveria preocupar-se apenas com entradas
eficientes, mas também com a perda de bem-estar resultante do exercício do poder de
monopólio. Fiani (2001, p.13) critica a tentativa dos defensores da ECPR de isentá-la de
responsabilidade sobre a manutenção de rendas de monopólio:
15 Ver, a respeito, Armstrong, Doyle e Vickers (1996) e Economides e White (1995).
33
“E não é solução afirmar, como fazem Boumol e Sidak que, caso isso ocorra, a responsabilidade não é da ECPR, mas sim do regulador que permitiu ao monopolista auferir rendas extraordinárias. Dada a assimetria envolvida na relação entre firma regulada e agente regulador, vale perguntar quando que, efetivamente, o agente regulador conseguirá impedir que o regulado, em situação de monopólio, não consiga auferir alguma renda extraordinária”.
Além disso, se o custo de entrada for muito alto, pode ser melhor socialmente que o
preço de acesso seja elevado para evitar entradas excessivas. Por outro lado, novas entradas
trazem maior variabilidade de produtos se há heterogeneidade, podendo compensar os
problemas do argumento anterior, além de evitar um dispendioso e desnecessário bypass. Um
dos maiores riscos, portanto, da ECPR é ser mal interpretada e mal aplicada, podendo levar a
resultados bastante negativos se empregada a situações para as quais não foi desenhada.
Valletti e Estache (1999) destacam que a mais séria crítica à ECPR é que a regra se
torna irrelevante exatamente no contexto mais apropriado ao seu desenvolvimento: indústrias
verticalmente integradas com introdução de competição. Conforme vimos anteriormente, se a
entrante for mais eficiente, apenas ela operará no downstream. Desta forma, a firma
estabelecida deixa de competir com a entrante no mercado final e passa atuar apenas como
provedora de acesso, convertendo a indústria num modelo de separação vertical. Neste caso,
contudo, a noção de custo de oportunidade deixa de ser relevante, pois a entrante não mais
compete com a firma estabelecida. Se a entrante for menos eficiente, a indústria será
plenamente integrada verticalmente e a questão do acesso deixa de existir.
De modo a superar algumas de suas limitações e responder às diversas críticas que lhe
foram feitas, a Regra do Componente do Preço Eficiente foi reformulada em versões mais
sofisticadas. Algumas hipóteses foram flexibilizadas e outros elementos foram incorporados
aos modelos de acesso, conforme analisaremos na próxima seção.
II.2.1.2 NOVAS VERSÕES PARA A ECPR
Os debates acerca da ECPR foram bastante profícuos ao induzir novas proposições
teóricas e ao contribuir para a prática regulatória. Na presente seção, não faremos uma análise
exaustiva dos ‘subprodutos’ da ECPR, apresentaremos apenas algumas discussões que
ilustram essa produção na literatura sobre acesso. Apresentaremos o relaxamento da hipótese
de que os preços finais são exógenos, em seguida, uma combinação entre as principais
metodologias do acesso – a ECPR e a regra de Ramsey – e, por último, a ECPR-M (Market
determined Efficient Component Pricing Rule).
34
Preços finais não regulados
De acordo com Volgesang (2003), se o preço de acesso é regulado e os preços finais
são determinados pelo mercado, a ECPR pode ser satisfeita ex post sob algumas formas de
competição. Se supusermos, por exemplo, que mercado segue o modelo de Bertrand
homogêneo, é possível demonstrar que o equilíbrio ex post leva sempre à solução da ECPR,
ou seja, o preço final será igual ao custo incremental mais o custo de oportunidade16.
Armstrong e Vickers (1999) também estendem a análise do ECPR para o caso de
preços finais não regulados. Demonstram que quando o instrumento de regulação é a margem
entre o preço final e o preço de acesso, de modo que a firma estabelecida possa escolher
livremente níveis entre os dois preços, a margem ótima é obtida de acordo com a ECPR. Este
é um argumento a favor da ECPR, pois a regra é muitas vezes criticada por depender
crucialmente de uma regulação adequada no mercado final. Entretanto, destacam também que
o bem-estar e os lucros da entrante são maiores quando o próprio preço de acesso, ao invés da
margem, é regulado.
A regra de Ramsey e a ECPR
Com o objetivo de tornar a regra teoricamente mais atraente e realista, Armstrong,
Doyle e Vickers (1996) analisaram a noção de custo de oportunidade de acordo com várias
hipóteses sobre as condições de demanda e oferta no downstream. O custo de oportunidade
proposto pelos autores reflete elasticidades cruzadas da demanda final, substituição técnica e
o tipo de competição no downstream. Para tanto, combinaram a ECPR com a regra de
Ramsey.
Enquanto a regra de Ramsey postula que os mercados estão relacionados e que oferta e
demanda não podem ser consideradas separadamente, a ECPR foca apenas na eficiência
produtiva, ignorando o fato de que, por exemplo, os lucros gerados no acesso podem ser
usados para reduzir os preços no varejo. Para os casos em que há múltiplos produtos
fornecidos pelas firmas e existem alternativas de acesso (bypass ou duplicação da rede17), a
16 É possível fazer essa análise para um modelo de competição de Cournot, mas há algumas mudanças significativas a serem consideradas. Cria-se uma assimetria entre o que é considerado custo de oportunidade pela firma estabelecida e pelas firmas entrantes. Tais problemas são compreensíveis uma vez que a ECPR é uma regra de preço e a competição de Cournot é via quantidade. 17 “While bypass is, say, the phenomenon in wich large custumers dispense with the incumbent’s services to reach the long distance market, network duplication consists in the competitors’ building a local network in order to reach custumers who would not have bypassed by themselves”. (Laffont e Tirole, 2000, p.129)
35
regra de Ramsey e a idéia da ECPR podem ser combinadas e representadas pela seguinte
fórmula:
a = c1 + σ (p1 – c1 – c2)+ termo de Ramsey (8)
Neste caso, o custo de oportunidade está multiplicado por uma “taxa de deslocamento”
σ (displacement ratio). A taxa σ fornece um mecanismo de análise interessante e permite uma
melhor compreensão da idéia de custo de oportunidade proposta pela ECPR. Ela representa a
perda em vendas que a firma estabelecida incorre ao prover acesso a firmas rivais, levando em
consideração as possibilidades de substituição do lado da demanda e do lado da oferta
(Armstrong, 2002). Desse modo, é possível desmembrar essa taxa em três componentes
multiplicativos (Armstrong, Doyle e Vickers,1996):
σ =σd . σt . σb (9)
O componente σd capta o efeito da diferenciação do produto, enquanto o σt representa
o efeito do bypass e o σb o efeito da substituição tecnológica. Esses componentes variam entre
zero e um. A diferenciação de produto, por exemplo, reduz o impacto da provisão de acesso,
podendo chegar, no limite, a não representar nenhuma perda para a firma estabelecida se σ =
018.
O termo de Ramsey, apresentado na fórmula (5), permite considerar a resposta
diferenciada da demanda com relação às mudanças nos preços. A adição do “termo de
Ramsey” em (8) tem como objetivo incorporar à formula de acesso a idéia de minimizar
distorções causadas pela necessidade de se recuperar os custos fixos. Conforme vimos na
seção II.1.2., a regra de Ramsey estabelece que o mark-up sobre o custo marginal de um
produto deve ser inversamente proporcional à elasticidade-preço da demanda. Dessa forma, a
adição do preço de Ramsey aumenta o preço de acesso em relação ao nível estabelecido pela
ECPR e, portanto, permite uma redução do preço dos produtos ao consumidor final
(Armstrong, 2002).
“This Ramsey mark-up reflects the benefits – in terms of a reduction in P – caused by increasing the revenue generated by selling access to the fringe. In particular, the Ramsey access charge is above the ECPR recommendation (which applies taking as given the retail
18 Vale ressaltar que, se σ = 1 e o termo de Ramsey for nulo, obtemos a fórmula (7) da ECPR. Para isso, é preciso que: os produtos das firmas, estabelecida e entrante, sejam substitutos perfeitos, σd = 1; que não haja oportunidade de bypass, σb = 1; que os coeficientes tecnológicos sejam fixos, σt = 1. Além disso, para que o termo de Ramsey seja nulo, a restrição orçamentária da firma estabelecida não deve ser uma questão relevante (Armstrong, Doyle e Vickers,1996).
36
price P). The reason for this is that a higher a raises more revenue that can be used partly to cover the fixed costs, and this allows P to be lowered (which is good for welfare).” (Armstrong, 2000, p.322).
Na presença de verticalização, essa abordagem de Ramsey para a questão do acesso
deve considerar novas preocupações, principalmente no âmbito da defesa da concorrência, já
que esses critérios de compensação, por ela introduzidos, podem ser vistos como uma prática
de subsídios cruzados (Valletti e Estache, 1999).
Nota-se que essa nova versão da ECPR demanda uma grande quantidade de
informação e esforço do órgão regulador. Assim sendo, o contraste entre a “simples” ECPR e
a “complexa” regra de Ramsey é apenas aparente (Armstrong, Doyle e Vickers,1996). Ao
dar-se um tratamento mais realista para a ECPR, a regra se torna complexa e passa a requerer
informações de difícil obtenção, como elasticidades e custos.
ECPR-M
Uma outra maneira encontrada de reformular a ECPR foi através da chamada ECPR-
M, que seria a ECPR determinada pelo mercado. A tarifa de acesso seria igual à diferença
entre o preço final do entrante (p2) e o custo marginal da firma estabelecida no segmento
competitivo.
a = p2 – c2 (10)
Se o preço final da entrante for o mesmo da firma estabelecida, não há diferença entre
as duas regras, mas se a entrante puder ofertar o bem final a um preço menor, a ECPR-M
conduzirá a um preço de acesso mais baixo, corrigindo em parte as possíveis distorções
geradas pela ECPR. No caso em que há oportunidades de bypass por parte das entrantes, o
custo do bypass deve funcionar como um limite superior para o preço de acesso porque um
preço acima desse limite cria incentivos às firmas para fazerem bypass ao invés de pagarem
pelo acesso. (Valletti e Estache, 1999)
Vale ressaltar que ECPR-M pode ter como resultado um preço de acesso não
compensatório para a firma estabelecida, já que é baseada num preço final ajustado pelo
mercado. Além disso, a maior parte das críticas dirigidas à ECPR podem ser feitas também à
ECPR-M (Vogelsang, 2003). Economides (1997) critica todas ambas as formas da ECPR com
o argumento de que são regras baseadas em custo de oportunidade privado ao invés de serem
baseadas no custo de oportunidade social:
37
“The fallacy of the proponents of ECPR and the M-ECPR lies in confusing social opportunity costs with private opportunity cost. Social opportunity cost of a resource reflects the present social cost of the resource and should be correctly included in a cost calculation. Private opportunity cost is the benefit or cost to a private party of a certain activity. Private opportunity cost differs in general from social opportunity cost”
“...access fees based on the ECPR or ECPR-M, or other forms of private opportunity cost, perpetuate inefficiencies. Such fees include monopoly profits and historical cost inefficiencies, if they were present to start with, thereby resulting in losses in consumer surplus and social welfare.” (Economides, 1997, pp 143 e 153).
Pode-se perceber que as novas versões da ECPR procuram ajustar a regra às críticas e
às particularidades da indústria, levando a novas contribuições e controvérsias. A seguir,
apresentaremos regras baseadas em custos, isto é, que olham apenas para a estrutura de
custos, sem considerar questões de mercado.
II.2.2 - REGRAS BASEADAS EM CUSTOS.
A partir das seções anteriores, conclui-se que um preço de acesso eficiente depende de
diversas circunstâncias e requer uma grande quantidade de informações. Conforme Doyle e
Cave (1994), diante de tais dificuldades, os reguladores geralmente optam por se basear em
uma média dos custos totalmente distribuídos (fully allocated costs), incluindo uma parte dos
custos indiretos (common costs). O freqüente uso, na prática, de regras baseadas em custos, se
justifica pelos três principais motivos: (i) são de fácil implementação; (ii) se há possibilidades
de bypass, sinalizam corretamente para entrantes; (iii) não tem viés discriminatório
(Armstrong, 2002).
As metodologias baseadas em custo de serviço (backward looking) representam uma
abordagem tradicional. A mais popular, de acordo com Laffont e Tirole (2000), é a
metodologia do mark-up aditivo ou proporcional ao uso. Este método leve em conta o fato de
que diversos bens ou serviços usam elementos comuns que são os custos indiretos.
O mark-up, nesse caso, é fixo, independe do preço praticado, é como um imposto
indireto cuja magnitude é computada de modo a cobrir os custos não distribuídos. Essa regra
satisfaz a ECPR, uma vez que a soma dos custos diretos de prover acesso (ca) mais os mark-
ups é igual ao preço final menos o custo marginal do downstream (c2) que pode ser
interpretado como o custo de oportunidade da ECPR:
38
a = ca +mark-up = p – c2 (11)
Uma outra abordagem, também popular, é o mark-up uniforme ou proporcional ao
preço. Neste caso, o resultado não equivale à ECPR. Isto se dá porque o custo marginal total
do segmento competitivo é maior do que o custo marginal de acesso ao gargalo, ou seja, o
preço do segmento competitivo é mais inflado e, portanto, a cobrança pelo acesso não
compensa o custo de oportunidade da firma estabelecida. Assim, o ônus da recuperação dos
custos não recai de forma eqüitativa nos diferentes segmentos. (Laffont e Tirole, 2000, p.142).
A vantagem da precificação baseada nos custos totalmente distribuídos é que o
regulador permite à proprietária do gargalo recuperar seus investimentos e obter lucros
normais. Com isso, soluciona-se o problema da desapropriação regulatória mencionada no
Capítulo I. A desvantagem é que não induz à minimização de custos e, por ser baseada em
custos, “subsidia” segmentos com demandas inelásticas em detrimento dos segmentos com
demandas elásticas19 (Laffont e Tirole, 2000, p.144).
É importante ressaltar que o custo de reposição do gargalo é diferente do seu custo
histórico e que regras baseadas nestes últimos podem sinalizar erroneamente para os
entrantes. Se o custo histórico for muito alto em comparação com o custo de reposição, o
preço de acesso também o será, podendo criar entraves a entradas eficientes. Caso contrário,
pode ser artificialmente baixo e gerar entradas ineficientes (Valletti e Estache, 1999).
Uma outra maneira de elaborar uma regra de acesso a partir dos custos é baseá-la no
custo incremental de longo prazo (foward-looking long-run incremental cost - LRIC). Ao
contrário da anterior, baseada nos custos históricos, esta abordagem é voltada para o futuro.
“(...) assets are valued and depreciated according to their current replacement cost. Typically, they involve the valuation of the firm’s existing assets at the cost of replacing them with assets which serve the same function and are likely to incorporate the latest available technology.” (Valletti e Estache, 1999, p.29)
A principal vantagem do LRIC é eliminar o incentivo a inflar custos que caracteriza as
regras do tipo custo de serviço. Segundo Laffont e Tirole (2000), este se tornou o paradigma
dominante das reformas regulatórias recentes, não obstante a falta de um bom argumento
econômico para a sua sustentação. Alguns autores chamam atenção para o fato de se usar
modelos de redes de engenharia no cálculo do LRIC. (Valletti e Estache, 1999)
19 Não apresenta um mecanismo de compensação do tipo proposto pela regra de Ramsey.
39
Laffont e Tirole (2000) destacam que a regulação por meio do LRIC atribui aos
reguladores um papel central no gerenciamento da entrada de firmas. Por um lado, há um alto
grau de discricionariedade presente na determinação do custo incremental de longo prazo. Por
outro, mesmo que obtido de maneira imparcial, o LRIC impede que o fornecimento do acesso
seja lucrativo e induz a firma dona do gargalo a agir de maneira anticompetitiva nos
segmentos concorrenciais. Sendo assim, a regra do LRIC demanda uma regulação bastante
pesada em termos de intervenção e monitoramento.
Laffont e Tirole (2000, p.149) argumentam ainda que “even if long-run incremental
costs could be determined objectively and rival’s exclusion could be prevented costlessly, the
associated access prices would still not be efficient prices and thus would imply economic
distortions.”
De acordo com Valletti e Estache (1999), o cálculo do acesso baseado no LRIC é a
melhor referência para tarifar o acesso ao gargalo se o principal objetivo do regulador é
promover a concorrência. A regulação do acesso, no entanto, não se resume a isso e um maior
grau de competitividade pode não ser desejável se obtido a partir de entradas ineficientes e
perdas da firma estabelecida.
Na análise do LRIC, é importante retomar o tema da expropriação regulatória
mencionado no Capítulo I. Como é voltada para o futuro, essa regra sempre considera a
tecnologia mais avançada para o cálculo do preço de acesso, de modo a estimular eficiência e
incorporação dos avanços tecnológicos. Dessa forma, é possível que, no momento de um
avanço tecnológico, a firma estabelecida ainda não tenha recuperado por completo os custos
incorridos nos investimentos para se adaptar à tecnologia anterior. Sendo assim, a firma
estabelecida é impedida de recuperar tais custos, o que pode ser entendido como uma
expropriação regulatória (Laffont e Tirole, 2000).
Um dos maiores desafios da implementação de uma regra de acesso é saber
exatamente quais custos considerar e como observar estes custos. De um modo geral, regras
baseadas em custos demandam muita informação. Entretanto, como todas as regras precisam
que os custos sejam estimados de alguma forma, as regras baseadas em custos tornam-se as
mais simples comparativamente. O problema da assimetria de informação já foi mencionado
diversas vezes em seções anteriores, sendo um ponto crucial da prática regulatória. Na
próxima seção, de forma sucinta, daremos um enfoque especial para essa questão que, de
certa forma, permeia grande parte do debate sobre o acesso.
40
II.2.3 – REGRAS DE ACESSO SOB ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO: MENU DE CONTRATOS
A prática da regulação é marcada pela presença de informação assimétrica. As duas
principais questões envolvidas são a seleção adversa – referente ao oportunismo pré-
contratutal – e o risco moral – relacionado ao oportunismo pós-contratual. Valletti e Estache
(1999) sugerem incorporá-las por meio da adição de um termo de correção de incentivo.
Em linhas gerais, tal termo deve ser introduzido a partir de um menu de contratos com
incentivos. A idéia é que firmas diferentes, com características de custos distintas, devam ser
induzidas a escolher livremente, nesse menu, o contrato mais adequado à sua estrutura de
custos. Desta forma, a firma revelaria o seu tipo ao regulador e receberia os incentivos
apropriados. Esquemas de incentivo chamados de alta potência, isto é, que induzam corte de
custos, devem ser escolhidos pelas firmas mais eficientes. As firmas ineficientes, por outro
lado, devem ser induzidas a optar por um contrato que não lhes permita produzir em demasia.
Esta questão torna-se mais complexa se os esforços não podem ser observados e os
custos no dowstream e no upstream não podem ser separados. Tal problema é conhecido
como observação parcial dos custos e é especialmente relevante para os casos em que novas
instalações devem ser construídas para que seja possível fornecer acesso aos entrantes. A
firma estabelecida pode alegar que o custo incorrido é mais alto e ainda ter uma estratégia
predatória no mercado final. Uma solução para essa questão é a exigência de separação
contábil, um instrumento de certa forma precário em virtude da possibilidade de manipulação
da estrutura contábil (Valletti e Estache, 1999).
Além do menu de contratos, outros métodos foram laborados de modo a incorporar o
problema da informação no cálculo de acesso. Na seção seguinte, apresentaremos o preço-teto
global que também foi elaborado com esse intuito.
II.2.4 - PREÇO-TETO GLOBAL (GLOBAL PRICE CAP)
Com o objetivo de superar o problema informacional comum às principais regras de
acesso, o regulador pode delegar essa decisão à própria firma estabelecida que, por sua vez,
deverá ser livre para estabelecer o preço de acesso, sujeita a um ‘preço-teto global’. Esta é, na
41
realidade, uma extensão da noção de preço-teto para produtos finais que, através de um fator
X deduzido da fórmula de reajuste, rompe a ligação entre preços e custos e fornece um
incentivo à eficiência.
Proposto por Laffont e Tirole (2000), o global price cap consiste em fixar um preço
teto para uma cesta que inclui tanto bens finais quanto intermediários. Esta proposta inova por
considerar a provisão do acesso como mais um tipo de serviço final oferecido pela firma
proprietária do gargalo.
De acordo com Valletti e Estache (1999), sendo 1 e 2 bens ofertados pela firma, wi o
peso conferido ao serviço i (i = 1, 2), wa o peso referente à provisão do acesso e p* o preço-
teto, a firma pode estabelecer p1 e p2 da maneira que lhe for conveniente desde que:
w1 p1 + w2 p2 + wa a ≤ p* (10)
Teoricamente, aplicando-se (10) pode-se chegar aos preços de Ramsey, isto é, a uma
solução ótima do ponto de vista social. Para tanto, o bem intermediário – o acesso ao gargalo
– é tratado como bem final, conforme mencionado, e os pesos usados no cálculo são
considerados exógenos e fixados de acordo com a quantidade de produto considerado na
cesta. Esta regra induz a firma, ao maximizar lucros, a internalizar o excedente líquido do
consumidor proporcionalmente aos pesos do teto, o que torna a regra equivalente à de Ramsey
(Laffont e Tirole, 2000).
Este método, no entanto, permite à firma estabelecida ter um comportamento
predatório, reduzindo os preços finais dos bens ou serviços e aumentado o valor de a para
elevar os custos das concorrentes. Tal possibilidade levou a que também fosse proposta a
adoção de preços-teto parciais, separando o mercado final da provisão de acesso. Pode-se
associar aos tetos outros instrumentos como, por exemplo, a exigência de que os preços finais
sejam estabelecidos acima do custo incremental de longo prazo (LRIC) ou, de acordo com
Vogelsang (2003), adotar pesos que inibam o comportamento predatório.
A importância do preço-teto global, por enquanto, limita-se ao plano teórico.
Vogelsang (2003) argumenta que uma das principais barreiras à aplicação do preço-teto
global é o consenso entre os agentes com relação à incapacidade dos reguladores de se
comprometerem com uma regra de acesso específica no longo prazo:
42
Global price caps have been so far too bold for any regulator to implement. One reason is the common knowledge among all participants that regulators cannot commit to a specific regulatory scheme in the long run. Thus, under global price caps, the integrated firm may use aggressive tactics against rivals, in order to keep overall market position, just in case regulation changes in the future. (Vogelsang, 2003, p.22)
II.3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE AS REGRAS DE ACESSO
A partir das possibilidades metodológicas para a determinação do preço de acesso
apresentadas neste capítulo, pode-se observar que não há uma solução única para a questão do
acesso e que a regra mais adequada para uma dada situação depende, essencialmente, das
características da indústria considerada.
É possível perceber também que muitos dos problemas relacionados às regras de acesso
decorrem do fato de o regulador usar o mesmo instrumento – o preço de acesso – para atingir objetivos
conflitantes. Se for demasiadamente alto, impõe restrições à concorrência e estimula bypass
ineficientes. Se for baixo demais, pode desestimular novos investimentos, impedir a
recuperação dos custos fixos já incorridos e permitir entradas ineficientes no mercado.
“(...) interconnection charges must reflect multiple objectives. They must induce an efficient use of networks, encourage their owners to invest while minimizing cost, generate an efficient amount of entry into infrastructure and services, and do all this at a reasonable regulatory cost”. (Laffont e Tirole, 2000, p.99)
Laffont e Tirole (1994) alertam que na medida em que o regulador tenta usar a regra
de acesso como um meio para atingir múltiplas metas, torna-se mais difícil a sua aplicação.
Assim, a regulação do acesso deveria utilizar outros instrumentos paralelamente para não
“sobrecarregar” o preço de acesso com atribuições que correm o risco de não serem
plenamente cumpridas.
Diante dessa polêmica acerca da determinação da regra de acesso mais adequada,
pode-se questionar se, de fato, é necessário que haja intervenção direta do órgão regulador
nessa questão. Segundo Spulber e Sidak (1997), é possível que se estabeleça uma tarifa de
acesso de tal forma que a firma estabelecida não se oponha a novas entradas e que tais
entradas só ocorram se as concorrentes potenciais forem mais eficientes que a firma
estabelecida. É a chamada provisão voluntária de acesso. A tarifa não só incentivaria a
competição como asseguraria que os ganhos de eficiência fossem compartilhados com a firma
estabelecida.
43
Spulber e Sidak lançam mão de diversos modelos de competição para sustentar o
argumento de que o fornecimento voluntário é consistente com eficiência no preço de
acesso20. Em todas as estruturas de mercado e estratégias competitivas consideradas, a
cobrança pelo acesso que satisfaz a condição de racionalidade individual da firma
estabelecida, atrai a entrada de rivais mais eficientes e resulta em preços finais mais baixos do
que os obtidos sob regulação. Esta análise, porém, é desenvolvida apenas para o caso em que
não há alternativa de rede, ou seja, não há possibilidade de bypass ou duplicação da estrutura.
Alguns países optaram por não intervir na questão do preço de acesso, permitindo que
fosse livremente negociado entre os agentes. O setor de telecomunicações da Nova Zelândia e
o de gás natural do Brasil são exemplos de casos em que não há uma regulamentação
específica para a determinação do preço de acesso.
Com o intuito de demonstrar a importância do debate metodológico apresentado neste
capítulo, analisaremos, no próximo capítulo, a política de acesso implementada pelas
indústrias de gás natural e telecomunicações no âmbito internacional e, em particular, no caso
brasileiro. Entre outros, destacaremos os dois casos supracitados.
20 Os autores desenvolvem esse argumento para modelos de competição dos tipos: Cournot-Nash, Bertrand-Nash e competição de Chamberlin com diferenciação de produto. Ver Spulber e Sidak (1997)
44
CAPÍTULO III
APLICAÇÕES DAS REGRAS DE PRECIFICAÇÃO DO ACESSO: A
TELEFONIA FIXA E O GÁS NATURAL
As diversas contribuições teóricas acerca do tema do acesso procuram, em certa
medida, abarcar as possíveis idiossincrasias de cada setor. Introduzem, nos modelos teóricos,
imperfeições de mercado para tornar mais realista a análise e avaliar como as metodologias
propostas respondem a diferentes situações. Apesar deste esforço, as teorias do preço de
acesso ainda se encontram distantes da prática. Uma das principais razões para isto é que as
regras, de um modo geral, demandam muita informação e esforço do regulador para
monitoramento.
No presente capítulo, analisaremos a implementação das teorias de precificação do
acesso. Na primeira seção, estudaremos o caso da indústria de telecomunicações, com foco na
telefonia fixa. Primeiramente, avaliaremos algumas experiências internacionais e, em seguida,
o caso brasileiro. Na segunda seção, nosso objeto de estudo será a indústria de gás natural.
Assim como na seção anterior, trataremos da experiência internacional e do caso brasileiro.
III.1. O PREÇO DE ACESSO NA TELEFONIA FIXA
A maior parte da literatura sobre preço de acesso tem como foco as telecomunicações.
Esta indústria se caracteriza por um acentuado dinamismo tecnológico e no funcionamento do
mercado. Além disso, são múltiplas as possibilidades de acesso, desde chamadas de longa
distância até a conexão de provedores Internet. Dessa forma, a questão do acesso é bastante
complexa no caso da telefonia. Um método de precificação do acesso mal empregado pode ter
sérias conseqüências por influenciar diretamente na relação entre oferta e demanda do
mercado final.
45
Os casos que trataremos, nesta seção, estão relacionados com introdução de
competição nas ligações de longa distância e o acesso às redes locais de telefonia fixa.
Apresentaremos a seguir algumas aplicações das metodologias de precificação do acesso,
destacando duas experiências internacionais, o caso da Nova Zelândia e o da Grã-Betanha, e a
experiência brasileira na determinação do preço de acesso.
III.1.1. EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL
A questão do acesso recebeu tratamentos variados nos diversos países que passaram
por reformas. Segundo Valletti e Estache (1999), muitas experiências, no entanto, partem do
mesmo referencial teórico, funcionando, elas próprias, como propulsoras de novas idéias e
debates. Discutiremos nesta seção e na próxima, casos em que a monopolista da rede também
atua nos mercados competitivos, ou seja, situações que envolvem precificação do acesso e
defesa da concorrência.
Analisaremos o caso da Nova Zelândia, que se tornou conhecido em função das
divergências causadas pela adoção da ECPR e das suas especificidades regulatórias. Em
seguida, apresentaremos o caso da Grã-Betanha, país com ampla experiência na prática de
precificação do acesso. Por último, trataremos do caso do Brasil que, apesar de ser pouco
experiente nessa questão ilustra problemas interessantes acerca do ambiente regulatório e da
defesa da conorrência.
O caso da Nova Zelândia
Conforme vimos no capítulo anterior, regra do componente do preço eficiente (ECPR)
tornou-se muito popular em função da sua simplicidade e por ter introduzido o conceito de
custo de oportunidade na regulação do acesso. O caso mais representativo e discutido sobre a
influência da ECPR na prática regulatória é o da telefonia de longa distância na Nova
Zelândia, Telecom versus Clear (1993).
Com as reformas, o país aboliu a autoridade regulatória, introduziu competição na
telefonia e privatizou a firma estabelecida, a Telecom Corporation of New Zealand. O caso
referido acima envolveu a Telecom e a sua concorrente na longa distância Clear
46
Communications. O litígio consistiu na alegação da Clear de que a Telecom estava abusando
da sua posição de monopolista da rede local na negociação do acesso à rede. A Telecom
defendia o uso da ECPR como regra de acesso. Tal alegação se baseava nas leis antitruste do
país, que reprimem comportamento predatório e abuso de posição dominante (Laffont e
Tirole, 2000).
Depois de muita controvérsia na Suprema Corte da Nova Zelândia, o caso chegou ao
Privy Council21, em Londres. Este entendeu que a ECPR não era nem anticompetitiva, nem
predatória, sendo compatível com as leis antitruste do país. Apesar de a validade da regra
depender, conforme analisamos no Capítulo II, fundamentalmente, da regulação dos preços
finais, o Privy Council apoiou a adoção da ECPR sem impor condições. Vale ressaltar que os
próprios formuladores da ECPR, Baumol e Willig, responderam às críticas enfatizando que a
regra não havia sido desenhada para ambientes regulatórios como o da Nova Zelândia, onde
não há um órgão que regule o setor (Armstrong, Doyle e Vickers, 1996).
Segundo Economides (1995), há uma certa confusão na decisão do Privy Council
entre custos diretos, custo de oportunidade e custos sociais. A ECPR, de acordo com o autor,
é uma soma do custo direto com o custo de oportunidade privado e, conforme vimos no
capítulo anterior, a garantia da recuperação do custo de oportunidade privado pode ser
ineficiente ao não garantir o retorno do custo de oportunidade social.
O caso em questão ocorreu no início dos anos 90: foram dois anos de trâmite jurídico,
tendo passado por três tribunais diferentes, e quatro anos de negociação entre as partes
(Blanchard, 1995). Esse caso da Nova Zelândia é considerado interessante para o debate sobre
acesso por duas razões. Por um lado, reflete as dificuldades de se lidar com a questão do
acesso na ausência de um órgão regulador. Por outro, demonstra as dificuldades dos órgãos
competentes de chegar a um consenso com relação à melhor técnica de precificação do acesso
(Laffont e Tirole, 2000).
Diante de tais dificuldades, o sistema da Nova Zelândia foi repensado no
Telecommunicatios Act 2001. A ECPR foi revogada pouco tempo depois da decisão final do
Privy Council. Segundo um relatório da Telecom (2000, p.21), frente ao longo e confuso caso
Telecom versus Clear, “many New Zealanders saw that process as a demonstration of the
21 O Privy Council, por intermédio de seu comitê jurídico, é a instância final das Courts of Appeal de uma série de países que compõem o Commonwealth, entre os quais está a Nova Zelândia.
47
wrong way to manage the industry. The costs and delays involved in reaching that agreement
put a long-lasting dent in public confidence in the industry”.
Atualmente, o preço de acesso continua sendo objeto de livre negociação na Nova
Zelândia, estando prevista, no Telecommunication Act, a intervenção do Commerce
Commission, órgão vinculado ao Ministério do Comércio, nos casos em que não há acordo
entre as partes. Apesar de a regulação continuar sendo “leve”, há uma tentativa de estabelecer
o referencial metodológico nas decisões sobre preço de acesso e de garantir mais agilidade
processual. De modo geral, tem-se adotado o TSLRIC, regra baseada no custo incremental de
longo prazo (LRIC). Uma das críticas que a firma estabelecida Telecom faz ao método é que
ele pode apresentar problemas de estimação e não reflete as variações de uso da rede ao longo
do dia (Telecom, 2000; Blackett, 2002).
Caso Britânico
A indústria de telecomunicações foi a primeira das indústrias de rede a ser privatizada
na Grã-Betanha. Desde 1984, discute-se no país diferentes possibilidades de aplicação de
regras de acesso, o que torna a experiência britânica extremamente rica para ilustrar o
problema do acesso na prática regulatória. Com o intuito de analisar a evolução tal
experiência, Valletti (1998) a divide em três fases: o período do duopólio, a transição para a
competição e a fase de normalização.
O período do duopólio, entre 1984 e 1991, foi marcado pelo fracasso dos acordos
privados de acesso entre a British Telecom (BT), firma estabelecida verticalmente integrada, e
a Mercury, única competidora na longa distância. O órgão regulador teve que intervir no
conflito. Não havia uma regra de acesso clara nesta fase. O regulador optou por usar um preço
de acesso baseado no preço final da BT como um sinal para a Mercury de que a sua entrada
seria viável.
No período de transição para a competição, entre 1991 e 1997, houve a abertura do
mercado de longa distância para novos entrantes. O desenho da regra de acesso adotada foi
inspirado na ECPR e ficou conhecido como Regra Oftel22. O cálculo se baseava em três
22 Oftel era o órgão regulador do setor de telecomunicações britânico. Este órgão sofreu reestruturação e passou a ser chamado de Ofcom, responsável por todas as atividades da indústria de comunicação, incluindo, por exemplo, rádio, televisão e telecomunicações.
48
elementos: custos totalmente distribuídos, taxa de retorno do capital empregado na rede e a
contribuição para o déficit de acesso (access deficit contributions – ADCs). A inclusão do
déficit nesse cálculo pretendia cobrir a perda de rendimento da BT na provisão de acesso, isto
é, o custo de oportunidade por ela incorrido, revelando a influência da ECPR nessa regra. O
ADC, na prática, não teve grande destaque. O regulador tinha um alto grau de
discricionariedade no problema do acesse e uma série de restrições foi imposta ao pagamento
dessa compensação, tendo sido deixada de lado em 1996 (Laffont e Tirole, 2000; Valletti,
1998).
Além disso, segundo Cave e Vogelsang (2003), essa versão da ECPR era baseada em
custos inflados e em uma firma estabelecida não muito eficiente. Em decorrência disto, ficou
provado que erros na adoção da ECPR podem levar a ineficiências, pois diversas redes foram
desenvolvidas nesse período. As firmas entrantes tinham permissão de conectar-se
diretamente a grandes consumidores finais. Este é um resultado interessante da fase do
duopólio. Hoje, a maior parte dos domicílios tem disponíveis duas redes locais, configurando
uma rara experiência de competição de infra-estruturas.
Com o objetivo de melhor detectar práticas anticompetitivas e sinalizar para as
entrantes que havia a preocupação de se criar um ambiente de fato concorrencial, a BT foi
obrigada a fazer separação contábil. Com isso, o regulador almejava colocar em prática a
idéia de se cobrar das firmas que requerem acesso o equivalente à taxa que a firma
estabelecida cobra de si mesma pelo serviço (Valletti, 1998).
O último período, o da normalização, que se inicia em 1997, foi marcado por uma
importante mudança no ambiente regulatório. Tornou-se prioridade para o regulador que a
cobrança pelo acesso fosse transparente e baseada em custos. A regra de acesso praticada até
1997 era do tipo ‘taxa de retorno’. Como é notório em toda regulação desse tipo, não houve
incentivos à minimização de custos. Com o intuito de reduzir o intervencionismo do regulador
e criar mecanismos de incentivo à eficiência, adotou-se um sistema de preço-teto para o
acesso, tendo em vista o sucesso verificado desse tipo de regulação para os bens finais.
Neste novo modelo, a BT tornou-se livre para determinar o preço de acesso sujeita aos
controles impostos pela Oftel baseados no LRIC. Essa modificação da mensuração dos custos
foi uma questão importante do período. Inicialmente, o cálculo tinha como base os custos
totalmente distribuídos que usavam como referência o custo histórico da rede. Como o setor
de telecomunicações é caracterizado por freqüentes e significativos avanços tecnológicos,
49
houve uma mudança de foco. Sendo assim, o agente regulador britânico passou a se basear no
custo incremental de longo prazo (LRIC) que adota como referencia os custos correntes
(OCDE, 2002; Valletti, 1998).
Conforme vimos no capítulo anterior, de acordo com a teoria econômica, dever-se-ia
adotar o preço-teto global nesse caso: considerar todos os bens e serviços em uma só cesta,
incluindo o acesso. A abordagem do Oftel, entretanto, pode ser dita parcial, uma vez que não
coloca todos os bens e serviços em uma só cesta. Essa adaptação do preço-teto global pode ser
arriscada, já que não há referências teóricas das implicações de uma regra parcial.
“Very little is nown about the properties of the dual system of partial caps that Oftel has adopted.(…) Oftel approach is very ad hoc, separating the partial cap for residential users from the more complicated system of network caps. The latter particular still poses considerable constraints on the incumbent operator”(Valletti, 1998, p.16).
Essa mudança no ambiente regulatório faz parte um objetivo mais amplo dos órgãos
reguladores de, progressivamente, desregular a indústria e promover competição. Para melhor
monitorar esse o sistema de preços-teto e coibir práticas anticompetitivas, desde
comportamento predatório até colusão, estabeleceu-se limites para variação do preço do
acesso.
Como resultado positivo da trajetória inglesa, podemos apontar que o preço de acesso
apresentou uma significativa diminuição de acordo com relatório da OCDE (2002, p.31). Em
dez anos, houve uma redução acumulada de cerca de 60% na cobrança pelo acesso. A
significativa experiência da indústria de telecomunicações britânica, no âmbito do acesso, é
uma referência para outros países e em muito contribuiu para o debate teórico. Na próxima
seção, analisaremos a experiência brasileira na regulação do acesso que, ao contrário do caso
britânico, é bastante recente.
III.1.2. A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA
Um dos principais objetivos da reestruturação e privatização do Sistema Telebrás foi a
introdução de concorrência na telefonia fixa. Com as reformas, o Sistema Telebrás foi cindido
horizontal e verticalmente. A cisão horizontal deu origem a quatro empresas de Serviço
Telefônico Fixo Comutado (STFC) que atuariam em quatro regiões diferentes. A opção por
este modelo se baseou na yardstick competition ou competição por padrão. Esse tipo de
50
sistema permite ao órgão regulador comparar diferentes performances e, assim, mitigar o
problema informacional da regulação (Considera et al, 2002; Pires, 1999).
A cisão vertical, por sua vez, foi parcial. A Embratel atuaria nos segmentos de longa
distância e internacional, tendo sido vedada a ela a propriedade de rede local. Entretanto, a
Telemar, Brasil Telecom e Telefónica, firmas estabelecidas da rede local, obtiveram o direito
de operar também na longa distância. O objetivo era introduzir imediatamente competição
neste segmento. E a premissa da qual se partiu era a de que a relação entre as concessionárias
locais e as operadoras de longa distância seria simétrica (Considera et all, 2002).
Conforme vimos nos capítulo I, a introdução de competição na longa distância
depende do acesso dos competidores às redes locais. No Brasil, as redes locais são obrigadas a
prover acesso de forma não discriminatória. A tarifa de acesso, ou interconexão, é chamada
TR-UL (Tarifa de Uso de Rede Local) e cobrada por minuto de utilização. A metodologia
adotada pelo Brasil para precificar o acesso consiste em um tipo de preço-teto. A cobrança
pelo acesso é livremente negociada entre as partes, sob a restrição de um valor máximo
estabelecido no Contrato de Concessão de cada operadora23. A ANATEL, órgão regulador das
telecomunicações, é responsável por arbitrar os casos em que não se chega a um acordo.
(SEAE, 2000).
A regulação do setor também determina que as operadoras locais devem apresentar
registros contábeis diferenciados. Assim como observamos no caso britânico, o objetivo dessa
exigência é que a taxa cobrada pelo acesso das firma rivais seja equivalente àquela cobrada da
própria operadora local. Com isso, pretende-se reduzir o problema da informação na criação
um ambiente competitivo.
Apesar da preocupação em se estimular a concorrência, o que se tem observado é que
os preços que de fato vigoram são fixados ao nível do teto. Este resultado, proveniente de
livre negociação, sugere que a premissa de simetria entre as partes não tem sido confirmada
na prática (Considera, 2002). As operadoras de longa distância, Embratel e Intelig,
recentemente, denunciaram as operadoras locais – Telemar, Brasil Telecom e Telefónica –
por abuso de posição dominante e comportamento predatório. (Queiroz, 2004).
23 Este valor está sujeito a reajustes anuais com base na inflação e em um fator de produtividade como mecanismo de incentivo à eficiência.
51
Em linhas gerais, as concessionárias da rede local estariam subsidiando suas operações
na longa distância por intermédio de uma cobrança abusiva pelo acesso da Embratel e da
Intelig à infra-estrutura local. Isto não só estaria reduzindo, de forma desleal, os preços da
longa distância das firmas estabelecidas, como inviabilizaria a operação das firmas
concorrentes, pois os altos custos de acesso fatalmente se refletem nos preços. Vale ressaltar
que o caso da Embratel é ainda mais complexo, porque a firma opera em regime de concessão
e deve respeitar tetos tarifários impostos pela ANATEL, o que muitas vezes a obriga a
completar chamadas cujo custo de interconexão é superior à receita gerada (Estado de São
Paulo, 2002; Queiroz, 2004; SEAE, 2003).
A Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) entendeu que a argumentação
das operadoras de longa distância era procedente. De acordo com a análise da SEAE, os
valores atuais da TU-RL são superiores aos custos decorrentes do tráfego de longa distância
através das redes locais. Com isso, recomendou ao Conselho Administrativo de Defesa da
Concorrência (CADE) que fossem julgadas as infrações à ordem econômica e sugeriu à
ANATEL “o estabelecimento de normas que viabilizem a verificabilidade dos eventos
relatados (...) através de auditorias periódicas e da instalação de sistemas informatizados que
permitam monitoramento constante da ANATEL”(SEAE, 2003).
Entretanto, em notícia recente24, constatou-se que o parecer final da agência foi
favorável à cobrança da TU-RL. A ANATEL argumentou que esta matéria seria
exclusivamente regulatória e que o preço cobrado pelo acesso era condizente com a norma de
interconexão estabelecida em contrato com as empresas STFC. Ao mesmo tempo, o anúncio
da criação de uma Superintendência de Defesa da Concorrência sinaliza a preocupação da
ANATEL com relação às questões concorrenciais.
Este caso demonstra que a questão do acesso não é trivial. Conforme vimos no
capítulo anterior, freqüentemente, preço de acesso é incumbido de múltiplas funções, o que o
deixa suscetível a ineficiências. A incipiente experiência brasileira já apresentou evoluções,
mas são muitos os desafios, sendo a consolidação e fomento da concorrência na longa
distância um ponto fundamental do processo de evolução da indústria brasileira.
24 Ver “O desafio da competição na telefonia fixa”, por Pedro Aurélio de Queiroz, publicado, em 4 de novembro de 2004, www.ultimainstancia.com.br.
52
III.2. O PREÇO DE ACESSO NO GÁS NATURAL
O problema do preço de acesso da indústria de gás natural (GN) é bastante diferente
do que vimos na indústria de Telecomunicações. Como é possível perceber na análise da
telefonia fixa, fatores de mercado têm grande importância no cálculo do preço de acesso. Isto
se dá porque a elasticidade da demanda dos consumidores finais é bem maior na telefonia do
que no GN.
De modo geral, a firma distribuidora contrata um determinado produtor25 para o
fornecimento local de GN. De acordo com o relatório da OCDE (2000), se, ao invés de haver
esse contrato único, milhões de pequenos consumidores pudessem escolher o produtor de GN
que desejam contratar, haveria, inevitavelmente, um grande aumento dos custos de
transação26. No caso do GN, apenas os grandes consumidores tomam esse tipo de decisão.
Além disso, segundo a OCDE (2000), é consenso na literatura que, para introduzir
competição na indústria de GN, é necessário permitir que os consumidores finais escolham o
produtor de gás e assegurar que o operador do gasoduto não discriminará, de nenhuma
maneira, os produtores. Para tanto, a separação vertical pode ser fundamental, mesmo
implicando perdas de economia de escopo.
“... arguments in favor of separation need to be balanced against the potential losses of vertical economies of scope. However, in gas industry, since the vertical economies of scope are not very large, vertical separation can yeld a meterial improvement in competition.” (OCDE, 2000, p.37).
Este ponto é importante porque, conforme discutimos anteriormente, a determinação
do preço de acesso torna-se menos controversa e mais simples no caso de desintegração
vertical. É importante ressaltar que, apesar dessas vantagens, em muitos países, inclusive no
Brasil, a indústria é marcada pela presença de uma firma verticalmente integrada.
Nesta seção, ilustraremos as formas que a questão do acesso assumiu em diferentes
países. Primeiramente, apresentaremos a experiência internacional. Em seguida, analisaremos
o caso brasileiro.
25 Vale lembrar que, na indústria de Gás Natural, a produção é competitiva, enquanto o transporte e a distribuição constituem monopólio natural. 26 Na Grã-Betanha, entretanto, desde 1998, é possível que todos os consumidores escolham o seu fornecedor de gás.
53
III.2.1. A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL: O CASO BRITÂNICO
A Bristish Gas (BG) foi privatizada, em 1986, na forma de um monopólio integrado.
Assim como no caso da British Telecom, inicialmente, não havia um controle explícito da
cobrança pelo acesso à infra-estrutura. O preço de acesso era objeto de livre negociação entre
a BG e os competidores potenciais (De Franja e Price, 1999). Esta estrutura, entretanto, não se
mostrou favorável à criação de um ambiente efetivamente competitivo.
Após algumas tentativas mal-sucedidas de estimular a concorrência, o Monopolies and
Merger Commission (MMC)27 da Grã-Betanha concluiu que era preciso reformar a indústria
do ponto de vista estrutural. Com isto, propôs a separação vertical da BG, que não ofereceu
qualquer resistência, uma vez que os contratos de take-or-pay, com os quais estava
comprometida, se baseavam em preços acima dos preços de mercado. Em 1997, a BG foi
desmembrada em duas companhias: a operadora dos gasodutos, BG Transco, e a operadora do
fornecimento de gás – produção e varejo, Centrica (OCDE, 2000).
Durante o período em que a BG permaneceu verticalmente integrada, o regulador não
tinha uma política de preço específica para o acesso. Price (1997) identifica alguns elementos
da ECPR na determinação da estrutura do preço de acesso para o mercado residencial. Tal
estrutura consistia em um equilíbrio entre uma taxa fixa por consumidor e um preço por
unidade de gás transportado. Essa taxa por consumidor paga pelas entrantes à BG se refletia
em um preço final mais baixo da firma estabelecida.
Em 1994, a Grã-Betanha adotou um sistema de preço-teto para o acesso. Este sistema
tinha um caráter híbrido porque introduzia dois tetos: um para o preço e um para a receita da
operadora do gargalo Transco (Percebois e David, 2002). Segundo Easaw (2000), a máxima
taxa de retorno dos ativos não poderia ultrapassar 4,5%. Sistemas do tipo preço-teto, apesar de
não incentivar o desenvolvimento da infra-estrutura, estimulam ganhos de produtividade.
Com o processo de separação houve a desvinculação do preço de acesso do preço
final. O preço de acesso passou a ser cobrado de acordo com um teto baseado no custo médio
e com cobrança diferenciada entre os grupos de consumidores segundo a alocação
correspondente de custos. Além disso, um mark-up proporcional cobriria os custos não-
distribuídos. Segundo Price (1997), esse método satisfaz a ECPR no sentido que garante que
uma firma só terá incentivos à entrada se for mais eficiente que a firma estabelecida.
27 Em 1999, o MMC foi substituído pela Competition Comission.
54
O uso da regra de Ramsey foi cogitado pela Ofgas28, órgão regulador do GN, para
diferenciar as demandas no pico e fora do pico, mas foi rejeitada em função da quantidade de
informação que demandava e das distorções que poderiam ser geradas. Um grande embate
entre a Ofgas e a BG Trasnco se deu em função da base de capital apropriada para o cálculo
do acesso. A BG Transco sustentava que o preço de acesso deveria recuperar os investimentos
historicamente realizados. Já a Ofgas acreditava ser mais apropriado permitir altas tarifárias
quando novos investimentos fossem realizados (Price, 1997).
A regra vigente, hoje, para a determinação do preço de acesso à rede de GN
compreende o período que vai de março de 2002 a julho de 2006. Essa regra incorpora. no
preço do transporte três elementos: (i) as despesas operacionais consideradas eficientes, (ii) a
depreciação da base de ativos regulada e (iii) uma taxa de retorno com relação a essa base de
ativos. Durante o período de vigência da regra, a Transco está sujeita a um fator de eficiência.
Dessa forma, o órgão regulador garante, ao mesmo tempo, a recuperação dos investimentos e
eficiência29.
A experiência britânica no gás natural teve um sucesso significativo em relação à
criação de um ambiente competitivo. O preço do GN sofreu uma redução de 40% desde a
privatização e o consumo aumentou 66% desde 1992. Estes resultados demonstram porque o
caso da Grã-Betanha tornou-se uma referência para diversos países30.
III.2.2. A EXPERIÊNCIA DO BRASIL
A indústria brasileira de gás natural também sofreu reestruturação no contexto das
reformas setoriais apresentadas no Capítulo I. A reforma quebrou o monopólio da Petrobrás,
mas a manteve verticalmente integrada. O marco institucional foi a promulgação da Lei 9.478
(também conhecida como a Lei do Petróleo), em 1997, que define os princípios e objetivos da
política energética nacional e determina a criação do Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE) e da Agência Nacional do Petróleo (ANP).
É importante ressaltar que a Lei 9.478/97 cria condições para o desenvolvimento do
arcabouço regulatório da indústria e para a própria atividade de regulação, que até então não
28 Os órgãos reguladores do gás natural e da eletricidade foram unificados para formar a Ofgem em 1999. 29 Ver Ofgem (2001). 30 Informações obtidas no website da Ofgem <www.ofgem.gov.br>
55
existia. O Artigo 1º da Lei do Petróleo contém os principais objetivos das reformas:
“incrementar, em bases econômicas, a utilização do gás natural; promover a livre
concorrência; atrair investimentos na produção de energia” (ANP, 2001). A partir desse
Artigo, pode-se observar que os dois pontos principais são fomentar a concorrência e
desenvolver a indústria. Tais metas, conforme já foi mencionado nos capítulos anteriores,
podem constituir um trade-off para o Regulador.
Vale sublinhar as possíveis implicações da presença de uma firma verticalmente
integrada como a Petrobrás nesse novo ambiente institucional. Conforme já discutimos, o
principal problema seria assegurar aos novos entrantes a possibilidade de competir
efetivamente com a firma estabelecida. Para limitar o seu poder de mercado e permitir a
criação de um ambiente competitivo, as firmas proprietárias de gasodutos de transporte são
obrigadas a abrir o acesso do transporte a terceiros para o uso da capacidade ociosa do
sistema, mediante o pagamento de uma taxa de acesso (Santos, 2001).
A Lei do Petróleo estabeleceu os requisitos para a separação da atividade de transporte
dos demais elos da cadeia produtiva. A Portaria 169, posteriormente reformulada na Portaria
98, buscava introduzir pressões competitivas através do livre acesso (Aveal, 2001). A
subsidiária da Petrobrás para esse segmento é a Transpetro. De acordo com o Artigo 58 da lei
9.478, o acesso ao segmento de transporte deve ser não-discriminatório e o preço de acesso
deve ser negociado livremente entre as partes :
“Facultar-se-á a qualquer interessado o uso dos dutos de transporte e dos terminais marítimos existentes ou a serem construídos, mediante remuneração adequada das instalações.
§ 1º A ANP fixará o valor e a forma de pagamento adequada, caso não haja acordo entre as partes, cabendo-lhe também verificar se o valor acordado é compatível com o mercado.” (ANP, 2001)
Nota-se que a lei é bastante vaga com relação à regulamentação do acesso. Afirma que
a ANP “fixará o valor e a forma de pagamento adequada”, mas não especifica em que consiste
ser ‘adequada’. A indústria de gás natural brasileira, praticamente, não possui experiência na
questão da precificação do acesso. Não há uma regulamentação específica sobre esse assunto.
A única refrência que se tem são os quatro casos ocorridos, entre 2000 e 2001, sobre livre
acesso no gasoduto Brasil-Bolívia – o Gasbol – nos quais a ANP teve que intervir. É
importante ressaltar que a Transpetro, subsidiária da Petrobrás tem participação majoritária na
TBG, operadora do Gasbol (Aveal, 2001).
56
O conflito entre a TBG e a BG, referente ao transporte firme31, teve início em
dezembro de 200032. A BG fez um requerimento de serviço de transporte firme de curto
prazo. A TBG, entre outras questões, alegou não ter capacidade disponível para o transporte
firme no período requerido. A BG solicitou apoio da ANP argumentando que a TBG, tendo
em vista os interesses da Petrobrás, estava mantendo a capacidade de transporte disponível
fora do mercado. A ANP obrigou a TBG a ofertar o serviço de transporte e estabeleceu uma
tarifa de acesso com um fator de distância e um fator de carga (ANP, 2002).
O fator distância tem um papel importante, pois sinaliza para o investidor que o preço
de acesso reflete os custos de serviço incorridos pela TBG. Caso não houvesse esse fator, a
tarifa funcionaria como um subsídio cruzado, favorecendo consumidores que exigem muito
deslocamento e penalizando os que exigem pouco. O fator de carga permite criar um critério
de diferenciação em termos de movimentação volumétrica, isto é, uso da capacidade (ANP,
2002). Essa decisão da ANP foi um esboço do que seria uma metodologia para o preço de
acesso. Nota-se que foi baseado apenas em custos diretos, não tendo sido considerada a
questão do custo de oportunidade, por exemplo.
A questão mais complexa para a ANP, entretanto, é a natureza pouco desenvolvida da
indústria brasileira de gás natural. O debate sobre o preço do acesso é importante para a
competição, mas existem algumas questões anteriores que precisam ser resolvidas no caso
brasileiro. A característica imatura da indústria atribui aos investimentos papel central na
construção da infra-estrutura. Os conflitos com relação ao livre acesso revelam esse problema,
uma vez que a ausência de capacidade ociosa foi uma das principais causas.
Mesmo tendo uma indústria marcadamente infante, o Brasil adotou como referencial
um modelo de reforma típico de países que possuem uma indústria já madura. O quadro
abaixo sintetiza as principais diferenças entre mercados maduros e mercados emergentes na
indústria de gás natural.
31 Transporte firme: é o serviço de transporte prestado com movimentação de gás de forma ininterrupta até o limite estabelecido pela capacidade contratada. Transporte não firme: é o serviço de transporte prestado a um carregador que pode ser reduzido ou interrompido pelo transportador (Ulyssea, 2002). 32 Dos quatro casos relacionados ao livre acesso, três são referentes à tarifa não firme e um é referente à tarifa firme. Apresentaremos apenas o caso do transporte firme, já que este é o único caso que de fato está relacionado ao problema de acesso conforme apresentado no presente trabalho.
57
Mercados Maduros Mercados Emergentes
Redes de transporte e distribuição desenvolvidas e adensadas
Redes de transporte e distribuição pouco desenvolvidas ou ausentes
Mercados diversificados e elevada densidade da demanda
Mercados dispersos e baixa densidade de consumo
Modestas taxas de crescimento da demanda e custos decrescentes de expansão das redes
Elevado potencial de crescimento da demanda e altos custos marginais de desenvolvimento das redes
Ganhos de escala e escopo reduzidos e intensa utilização da capacidade instalada das redes
Alto potencial de ganhos de escala e escopo e algum grau de ociosidade da capacidade instalada
Ampliação da diversificação de usos e serviços associados ao GN
Mercados e usos concentrados nos setores industriais e de geração elétrica
Preços competitivos Preços elevados Fonte: Alveal (2000)
O início do ciclo de vida de uma indústria, portanto, inicia-se com grande necessidade
de investimentos para expansão da rede e criação de um mercado consumidor que permita o
desenvolvimento da indústria. Há diversos riscos associados a essa fase, riscos insuficiência
de reservas, em uma ponta da cadeia, e insuficiência de demanda na outra ponta. Dessa forma,
há uma interdependência dos elos da cadeia produtiva que precisam ser, de forma coordenada,
desenvolvidos (Alveal e Almeida, 2001).
Nesse contexto, a formação de um arcabouço regulatório que tenha como objetivo a
introdução de competição pode ser problemático. Essa questão é fundamental porque impõe
uma série de dificuldades à evolução do setor e à introdução de competição.
“...a introdução de concorrência via livre acesso numa indústria de GN nascente pode acarretar uma insuficiência de investimentos em gasodutos de transporte para suprimento de áreas pioneiras e, em conseqüência, uma estagnação ou, na melhor das hipóteses, um crescimento da indústria abaixo de seu potencial.” Alveal e Almeida (2001, p.14).
Diante desse quadro é possível identificar um trade-off entre a criação de um ambiente
competitivo com a introdução do livre acesso e a enorme necessidade de investimentos para a
expansão da infra-estrutura da indústria. Isso significa que a competição em mercados
emergentes pode implicar a redução de investimentos fundamentais em função dos altos
riscos envolvidos. Dessa forma, o regulador deve assegurar a concorrência nos mercados, ao
mesmo tempo em que deve estimular novos investimentos, tendo, portanto, que considerar a
necessidade das firmas que investem de obter retornos adequados.
58
Com isso, o livre acesso assume um papel central no modelo de desenvolvimento
escolhido para indústria brasileira de gás natural (IBGN). O regulador, definindo as condições
para o livre acesso, define também as condições para a realização de investimentos. Isto
porque a tarifa de acesso deve considerar que a firma proprietária da rede deve ser
remunerada pelos usuários de tal forma que viabilize a expansão da infra-estrutura. Sendo
assim, o regulador deve estabelecer uma tarifa condizente com uma sinalização positiva às
decisões de investimento da firmas. Entretanto, essa tarifa não pode ser elevada a ponto de
ser proibitiva e, assim, gerar ineficiências (Ulyssea, 2002).
A questão do livre acesso está profundamente relacionada com o papel que a Petrobrás
tem no mercado. Não é possível discutir livre acesso e introdução de competição sem colocar
no debate o seu papel. É possível perceber que além de todas as dificuldades já impostas pelo
caráter pouco maduro da indústria de gás brasileira, a manutenção de um agente com as
características da Petrobrás, tanto em relação à sua estrutura verticalizada quanto em relação
ao seu papel de agente de políticas setoriais, representa um grande desafio para o regulador.
Frente a esse quadro, pode-se concluir que a reforma ainda está em curso. Devido ao
caráter nascente da indústria de GN brasileira, o desenvolvimento da infra-estrutura, do
mercado e de todo o aparato regulatório está sendo feito simultaneamente ao processo de
abertura do mercado. Tal situação pode ser prejudicial para a formação da IBGN e para os
objetivos da reforma. A não-regulamentação do preço de acesso poderá ter que ser revista em
um futuro próximo, visto que a expansão da indústria também depende da existência de regras
sobre esta questão (Aveal e Almeida, 2002).
III.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS ACERCA DAS APLICAÇÕES DAS REGRAS DE PRECIFICAÇÃO DO
ACESSO.
A partir das experiências analisadas no presente capítulo, é possível perceber dois
tipos de estratégia para lidar com o problema do acesso: precificação regulada e precificação
negociada. De acordo com Lijensen (2000), se, por exemplo, há problemas informacionais e
assimetria no poder de negociação, a primeira estratégia tem um resultado melhor em termos
de bem-estar social que a segunda. O autor chama atenção para o fato de que, em setores de
infra-estrutura, lida-se com firmas que detêm poder de monopólio e que, na ausência de
mecanismos de controle, têm incentivos a exercer esse poder.
59
Os casos analisados refletem tal conclusão, visto que a regulamentação do acesso é
necessária tanto para os investimentos quanto para a competição. O caso da Grã-Betanha,
considerado um sucesso na telefonia e no gás natural, apresenta uma regulação específica de
acesso para cada setor. No caso da Nova Zelândia e nas experiências do Brasil, a inexistência
de uma regulamentação específica e a impossibilidade de um acordo entre as partes levou a
processos junto aos órgãos competentes.
Este tipo de procedimento gera entraves ao funcionamento do mercado devido ao
tempo e os recursos despendidos nesses processos. Vale ressaltar que o problema não é o
conflito em si. A própria Grã-Betanha passou por diversas experiências e ainda discute essa
questão. O problema reside na falta de uma referência metodológica para fixar um preço que
dificilmente será estabelecido sob acordo e sem divergências entre os agentes.
Nota-se, entretanto, que a escolha de uma regra específica para a precificação do
acesso enfrenta muitas dificuldades. Configuram entre essas dificuldades, o problema da
assimetria de informação e os conflitos de interesses entre os agentes envolvidos. Há que se
considerar também o grau de desenvolvimento da indústria em questão, conforme discutimos
no caso da IBGN. Frente a este quadro, pode-se concluir que das teorias do preço de acesso à
prática ainda há um longo caminho a percorrer, especialmente para os países que, como o
Brasil, estão iniciando esse debate.
60
CONCLUSÃO
As últimas décadas do século XX foram marcadas por uma significativa mudança no
papel do Estado na economia. Setores de infra-estrutura de rede, que, historicamente,
caracterizavam-se por monopólios verticalmetente intergrados e pela forte intervenção do
Estado, sofreram ampla reestruturação. As reformas setoriais, de maneira geral, promoveram
um processo de quebra da estrutura monopolista, privatizações e introdução de concorrência
nos segmentos da indústria considerados potencialmente competitivos. O gargalo, entretanto,
continuou sendo operado por uma só firma, uma vez que suas especificidades tecnológicas o
caracterizavam como monopólio natural.
Com isso, a necessidade de se estabelecer uma regra de acesso ao gargalo tornou-se
uma questão central das reformas, já que o acesso à infra-estrutura de rede é insumo essencial
para a operação das firmas que atuam nos demais elos da cadeia. Diante disto, era preciso
garantir um acesso não discriminatório e o preço cobrado pela provisão desse serviço deveria
refletir os objetivos da reforma, seja em relação à introdução de competição, seja em relação à
necessidade de investimentos. Neste contexto, diversas foram as contribuições teóricas para a
precificação do acesso.
O funcionamento e a adequação de tais regras dependem de diversas variáveis. No
presente trabalho, destacamos o papel da estrutura vertical da indústria e do ambiente
regulatório na determinação do preço de acesso. Em linhas gerais, no caso das estruturas
verticalemente separadas, o preço de acesso deve ser alto o suficiente para recuperar os custos
da provisão do serviço e dos investimentos requeridos e baixo o suficiente para permitir a
entrada de novas firmas nos segmentos competitivos da indústria. As soluções ótimas, para
esse contexto, são as regras que consideram a recuperação dos custos fixos, isto é, a regra do
custo médio, para um só mercado, e a regra de Ramsey para múltiplos mercados.
Nos casos verticalmente integrados, ou seja, em que a operadora do gargalo também
opera em segmentos competitivos, esse trade-off torna-se mais complexo. Nesse caso, a firma
estabelecida incorre em uma perda de mercado no downstream quando fornece acesso às
concorrentes. Sendo assim, há um custo de oportunidade na provisão do acesso. A regra do
61
componente do preço eficiente (ECPR) tem como objetivo incluir esse custo de oportunidade
no preço de acesso. Em função das diversas críticas a ela dirigidas, outras metodologias foram
elaboradas com este mesmo intuito.
Soma-se à questão do custo de oportunidade, os problemas no âmbito da defesa da
concorrência que podem ser gerados em função da presença de uma firma verticalmente
integrada. Esta pode usar a provisão de acesso ao gargalo, isto é, a sua posição dominante,
para adotar estratégias anticompetitivas, como impor dificuldades ao acesso e praticar
subsídios cruzados para tornar-se mais competitiva no downstream e, ao mesmo tempo, inflar
os custos das competidoras.
Dessa forma, uma vez que determinada regra de acesso entre em vigor, é preciso
assegurar que seja cumprida e monitorar a conduta das firmas. A única maneira de garantir
obediência, muitas vezes, é através de uma intervenção regulatória pesada. Uma das maiores
preocupações de Laffont e Tirole (2000) com relação às reformas regulatórias é que, por trás
da liberalização e da retórica do livre mercado, pode-se estar criando um ambiente que levará
a uma intervenção regulatória pesada.
Diante deste quadro, nota-se a importância de uma questão-chave do problema do
acesso: informação. Para serem realistas, as regras de acesso devem ‘economizar’ na coleta de
informação pelas autoridades incumbidas de aplicá-las. Todas as regras existentes demandam,
em diferentes graus, muita informação. As regras baseadas em custos, nesse sentido, são mais
simples, uma vez que qualquer metodologia de preço de acesso demanda informações sobre
custos. Por esta razão, na prática, são muito utilizadas, apesar de não computarem os custos de
oportunidade incorridos pela firma estabelecida. Destacam-se como métodos de contornar o
problema informacional o menu de contratos e o preço-teto global. Estas regras buscam
superar o problema da informação assimétrica através de mecanismos de incentivo.
Segundo Laffont e Tirole (1994; 2000), nenhuma política de acesso parece ser capaz
de atingir o equilíbrio correto entre as diversas questões que a envolvem. Argumentam que o
órgão regulador não deve usar o preço de acesso como um meio de atingir múltiplos
objetivos, já que estes são, freqüentemente, conflitantes. Seria preciso lançar mão de
instrumentos alternativos para não “sobrecarregar” o preço de acesso.
A experiência internacional com relação ao preço de acesso revela as dificuldades de
se implementar as regras teóricas. Alguns casos em que não há regulação específica do preço
62
de acesso, como o do Brasil no GN e da Nova Zelândia na telefonia, a livre negociação tem se
mostrado problemática. Os casos da Grã-Betanha, em ambos os setores, apesar de ainda gerar
conflitos, revelam-se os mais amadurecidos em seus objetivos. De um modo geral, é possível
notar que regras do tipo ECPR não obtiveram sucesso na prática e que há uma tendência ao
uso de regras baseadas em custos, especialmente a LRIC. Pode-se atribuir essa tendência ao
fato de regras baseadas em custos serem menos intensivas em informação.
Uma outra dificuldade encontrada pela prática regulatória é o grau de
desenvolvimento do país. Nesse sentido, as experiências brasileiras na questão da precificação
do acesso merecem destaque, já que as regras de acesso apresentadas no presente trabalho
foram desenhadas para países desenvolvidos. Laffont (2000, p.1) alerta para o fato da não
existência de regras de acesso que considerem problemas específicos de economias em
desenvolvimento, tais como: “high cost of public founds, poor auditing and monitoring
facilities, low transaction costs of corruption, weak counterpowers, weak ability to commit,
inefficient tax systems.” Diante desse quadro o autor sugere a desintegração vertical com o
intuito de facilitar a regulação.
No caso da IBGN, soma-se aos problemas apresentados o fato de a indústria ser ainda
muito imatura. Sendo assim, reestruturação, privatização, liberalização e competição não
devem ser vistas como objetivos per se. No momento em que instituições de financiamento
internacionais começaram a argumentar a favor das reformas regulatórias e da mudança do
papel do Estado, os países desenvolvidos já tinham suas indústrias de infra-estrutura maduras.
Os países em desenvolvimento, no entanto, estavam ainda iniciando o processo de expansão
da rede. O financiamento, a atração dos capitais necessários, porém, estava, de certa forma,
vinculado à realização das reformas e à desoneração do Estado(Joskow, 1998).
Diante deste quadro, é possível perceber que os métodos teóricos de precificação do
acesso ainda se encontram distantes de abarcar as idiossincrasias dos diversos casos gerados
pelas reformas regulatórias. Além disso, é importante considerar que o tipo de reforma
implementada em países desenvolvidos dificilmente terá o mesmo resultado em países
subdesenvolvidos como o Brasil, cujas características institucionais e a maturidade da
indústria podem inviabilizar a aplicação de regras que não foram desenhadas para esse
contexto, comprometendo, assim, os resultados das reformas e o seu próprio
desenvolvimento.
63
BIBLIOGRAFIA
ANP, “Indústria brasileira de gás natural: histórico recente da política de preços”, Séries ANP,
n. IV, 2002.
ARAÚJO, J. L. R. H. de; “Do monopólio verticalmente integrado à competição?”, Position
Paper, Mesa redonda sobre Expansão da Infra-estrutura – Seminário Brasil em
Desenvolvimento, IE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2003.
ARMSTRONG, M.; DOYLE, C.; VICKERS, J., “The access pricing problem: a synthesis”,
Journal of Industrial Economics, vol.44, n. 2, pp. 131-150, 1996
ARMSTRONG, M.; VICKERS, J.,“The access pricing problem with deregulation: a note”,
Journal of Industrial Economics, vol.XLVI, n.1, 1998
ARMSTRONG, M., “Network Interconnection in Telecommunications”, The Economic
Journal, vol. 108, n. 448, pp. 545-564, 1998
ARMSTRONG, M., “The theory of access pricing and interconnection”; In: CAVE, M.E.;
MAJUMDAR, S.K.; VOGELSANG, I. (Eds.) Handbook of telecommunications economics –
structure, regulation and competition, vol.1, North-Holland, 2002.
ALVEAL, C., “Experiência Regulatória nos Mercados Emergentes de Gás Natural”. In:
ALVEAL C. E ALMEIDA E. (Coords.), Rumos e Perspectivas da Indústria de Gás Natural e
Nova Regulação no Brasil, Relatório 15, IE/UFRJ-Gaspetro/Petrobras, 2000.
ALVEAL, C.; ALMEIDA, E., “Livre Acesso e Investimentos na Rede de Transporte da
Indúdtria Brasileira de Gás Natural: questões (im)pertinentes”, Grupo de Energia, IE/UFRJ,
2001.
BEATO, P.; FUENTE, C., “Liberalization of the gas sector in Latin America: The Experience
of Three Countries”, Sustained Development Dept. Best practices series, IMF-124, 2000.
BLACKETT, D.; “Interconnection Pricing”, Telecom New Zealand ltd, 2002.
64
BLANCHARD, C., “Telecommunications regulation in New Zealand – Light handed
regulation and the Privy Council’s judgement”, Telecommunications Policy, vol.19, n. 6, pp.
465-475, 1995
BURNS, P.; ESTACHE, A., “Information, Accounting and the Regulation of Concessioned
Infrastructure Monopolies”, Policy Research Working Paper 2034, World Bank, 1998
CAVE, M.; VOGELSANG, I., “How access pricing and entry interact”, Telecommunications
Policy, vol. 27, pp. 717-727, 2003.
CONSIDERA, M. C. et al, “O Modelo Brasileiro de Telecomunicações: Aspectos
Concorrenciais e Regulatórios”, Paper realizado pela equipe técnica do SEAE, Agosto, 2002.
DAVID, L.; PERCEBOIS, J., “Third Party Access pricing to network, secondary capacity
market and economic optium: the case of natural gas”, Centre de Recherche en Economie et
Droit de l’Energie (CREDEN), 2002.
DOYLE, C.; CAVE, M. “Access pricing in network utilities in theory and practice”, Utilities
Policy, vol. 4, n. 3, pp. 181-189, 1994.
EASAW, J. Z., “Network Access Regulation and Competition Policy: An Assessment of the
‘Direct-Plus_Opportunity Cost’ Regime and Policy Options”, Empirica 27, pp. 133-156,
2000.
ECONOMIDES, N.; WHITE, L., “Access and Interconnection Pricing: How Efficient is the
‘Efficient Component Pricing Rule’?”, Antitrust Bulletin, Vol.XL, n.3, pp. 557-579, 1995
ECONOMIDES, N.; “Principles of interconnection – a response to ‘Regulation of access to
vertically integrated monopolies’ summated to the New Zealand Ministry of Commerce”,
Stern School of Business, New York University, 1995.
ECONOMIDES, N., “The Tragic Inefficiency of the M-ECPR ”, Working Paper # CLB 98-003, Center of Law and Business, New York University, 1997
ECONOMIDES, N.; WHITE, L., “The inefficiency of the ECPR yet again: a reply to
Larson”, Forthcoming, Antitrust Bulletin, 1997
65
FARREL, J.; “Prospects for Deregulation in Telecommunication”; In: Industrial and
Corporate Change, vol.6, n. 4, pp. 719-755, Oxford University Press, 1997.
FIANI, R., “Tendências da Regulação Econômica no Caso Brasileiro: Uma Reflexão a partir
do Debate Internacional”. Revista de Economia Contemporânea, vol.5, número especial, 2001
FRANJA, G. De; PRICE, C. W. “Regulation and Access pricing: comparison of regulated
regimes”, Scottish Journal of Political Economy, vol. 46, n .1, 1999.
JOSKOW, P. L., “Regulatory Priorities for Reforming Infrastructure Sectors in Developing
Countries”, Elaborado para a Annual World Bank Conference on Development Economics,
1998 .
LAFFONT , J. J., “Notes on network access pricing rules for developing economies”, IDEI,
Université des Sciences Sociales de Toulouse, 2000.
LAFFONT, J. J.; TIROLE, J., “Access pricing and Competition”. European Economic
Review, n. 38, pp. 1673-1710, 1994
LAFFONT, J. J.; TIROLE, J., Competition in telecommunications, MIT press, 2000.
LIJENSEN, M., “The effect os access-pricing regime on wholesale natural gas prices”,
Elaborado para a IAEE Annual Europesn Energy Conference 2000, Noruega, 2000.
MELLO, M.T.L., “Defesa da concorrência”; In: KUPFER, D.; HASENCLEVER, L. (orgs.),
Economia Industrial – Fundamentos Teóricos e Práticas no Brasil, Editora Campus, 2002.
NOAM, E. M., “Interconnection Practices”; In: CAVE, M.E.; MAJUMDAR, S.K.;
VOGELSANG, I. (Eds.) Handbook of telecommunications economics – structure, regulation
and competition, vol.1, North-Holland, 2002.
OCDE, “Promoting competition in the natural gas industry”, Committee on Competition Law
and Policy, 2000.
OCDE, “Regulation Reform in telecommunications industry – regulatory reform in UK from
transition to new regulation challanges”, OCDE Reviws of Regulatory Reform, 2002.
OFGEM, “Review of Transco’s Price control from 2002”, Final Proposals, 2001.
66
PRICE, W. C., “Competition and Regulation in the UK Gas Industry”, Oxford Review of
economic policy, vol.13, n.1, 1997.
PINTO JR., H. Q.; FIANI, R., “Regulação Econômica”; In: KUPFER, D.; HASENCLEVER,
L. (orgs.), Economia Industrial – Fundamentos Teóricos e Práticas no Brasil, Editora
Campus, 2002.
PINTO JR., H. Q.; SILVEIRA, P. J., “Aspectos teóricos da Regulação Econômica: Controle
de Preços”, Nota Técnica da ANP,1999.
QUEIROZ, P. A. DE; “O desafio da competição na telefonia fixa”, disponível em
<www.ultimainstancia.com.br>, 28 de agosto de 2004.
SIDAK, J.G..; SPULBER, D.F.; “Network Access Pricing and Deregulation”; In: Industrial
and Corporate Change, vol.6, n. 4, pp. 757-782, Oxford University Press, 1997.
SANTOS, R. T. “Coordenação de investimentos e políticas de introdução da concorrência na
indústria de gás natural : elementos para análise de casos no Brasil”. Tese de mestrado,
IE/UFRJ, 2001.
TELECOM NEW ZEALAND, “Spring Board to Success – New Zealand
Telecommunications Competition in the 21st century”, 2000.
ULYSSEA, G. “A introdução do livre acesso na indústria brasileira de gás natural”.
Monografia de bacharelado, IE/UFRJ, 2002.
VOGELSANG, I.; “Price Regulation of Access to Telecommunications Networks”, Journal
of Economic Literature, n. 41(3), pp. 830-862, 2003.
VALLETTI, M. T., “The practice of access pricing: Telecommunications in the United
Kingdom”, Economic Development Institute, The World Bank, 1998.
VISCUSI, W. K.; VERNON, J.; HARRINGTON JR., J. E.; The economics of antitrust and
regulation, The MIT Press, 1995.
VALLETTI, M.; ESTACHE, A. “The theory of Access pricing: an overview for infrastructure
regulators”, Discussion Paper, n. 2133, Centre for Economic Policy, World Bank, 1999.
67
WILDMAN, S.S.; “Interconnection Pricing, Stranded Costs, and Optimal Regulatory
Contract”; In: Industrial and Corporate Change, vol.6, n. 4, pp. 741-755, Oxford University
Press, 1997.
WEARE, C.; “Interconnections: a Contractual Analysis of the Regulation of Bottleneck
Telephone Monopolies”, Industrial and Coporate Change, vol.5, pp. 963-991, Oxford
University Press, 1996.
68
Anexo: Regra de Ramsey33
Considere uma firma monopolista que produz n bens nas quantidades q*= q1, q2,..., qn e sua
função de custo é dada por C(q*). As funções de demanda inversa são dadas por pi(qi), i =
1,2,...,n. Supõe-se que as funções de custo e de demanda são diferenciáveis, assim como as
elasticidades cruzadas das demandas são nulas. Seja Vi o excedente líquido do consumidor i.
Vi = 0∫ pi(qi)dqi – pi(qi) qi (I)
Derivando (I) em relação a qi, obtemos
∂Vi/∂qi = pi(qi) – pi(qi) – p’i(qi) = – p’i(qi) (II)
O lucro da firma monopolista é dado por:
π = ∑ pi(qi) qi – C(q*) (III)
O bem-estar da sociedade é representado por W e consiste no total do excedente líquido dos
consumidores somado ao lucro da firma monopolista.
W = ∑Vi + π (IV)
A regra de Ramsey consiste na maximização do bem-estar social sob a restrição da firma
monopolista obter lucros normais, isto é, π* = 0.
max L = W + λ (π – π*) (V)
Para um dado qi, condição de primeira ordem é:
∂Li/∂qi = pi(qi) – CMgi + λ [pi(qi) + qi .p’i(qi) – CMgi] = 0 (VI)
33 Apresentaremos a Regra de Ramsey baseada em Pinto Jr. e Fiani (2002, p.527) e Valletti e Estache (1999, p.13).
69
O custo marginal do produto i, CMgi, é calculado supondo constante a quantidade produzida
dos demais produtos.
A partir de (VI), obtemos:
[pi(qi) – CMgi ].(1+λ) = – qi .p’i(qi) λ (VI.a)
Dividindo ambos os lados de (VI.a) por qi e (1+λ), e lembrando que a elasticidade-preço é, por
definição, (dq/dp).(p/q), chegamos a:
[ pi(qi) – CMgi]/ pi(qi) = [(– λ)/(1+ λ)]. (1/εi) (VII)
Onde εi é a elasticidade-preço da demanda pelo bem i. De (VII), obtemos a fórmula para o
preço do bem i:
pi(qi) = CMgi + [(λ)/(1+ λ)]. (pi(qi)/ |εi|) (VIII)