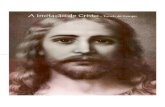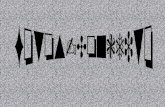A TRADUÇÃO NA APRENDIZAGEM DE VOCABULÁRIO EM … · Para Piaget, a origem do jogo é a...
Transcript of A TRADUÇÃO NA APRENDIZAGEM DE VOCABULÁRIO EM … · Para Piaget, a origem do jogo é a...
A TRADUÇÃO NA APRENDIZAGEM DE VOCABULÁRIO EM LÍNGUA INGLESA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE LÚDICA.
Niliane Aparecida Andrade1
RESUMOEste estudo apresenta os resultados de uma pesquisa realizada com alunos de 9 a
13 anos, do 6º ano do ensino fundamental, 5ª série, do Colégio Estadual Barão do
Cerro Azul no município de Ivaiporã, Paraná, Brasil. O objetivo foi investigar a
utilização da tradução na aquisição de novas palavras em contexto de atividades
lúdicas, mais precisamente com a utilização de jogos de Bingo. Os resultados
sugerem que a tradução é um recurso pedagógico que tem impacto sobre a
aprendizagem dos alunos.
Palavras-chave: Aquisição de vocabulário; lúdico; Bingo; tradução.
ABSTRACTThis study presents the results of a research of students from 9 to 13 years, the 6th
grade of elementary school, grade 5, of State College Barão do Cerro Azul in the city
of Ivaiporã, Paraná, Brazil. The aim was to investigate the use of translation in the
acquisition of new words in a context of playful activities, more specifically by means
of the use of Bingo games. Results reveal that translation is a pedagogical procedure
which has impact on students learning.
Keywords: Acquisition of vocabulary; playful; Bingo game; translation.
1- INTRODUÇÃO
1 Professora de Língua Inglesa da rede pública estadual do Paraná, graduada em Letras Anglo-Portuguesas pela FAFIMAN-Mandaguari.
1
Estudos comprovam que a língua estrangeira (doravante, LE) faz parte da
vida de 60% da população mundial, sendo a língua inglesa, a mais estudada. Diante
disso, percebemos ser necessário tornar o ensino de LE mais interessante,
significativo e prazeroso, levando o aluno a adquirir conhecimento, a buscar novas
informações, compreender e atribuir significados às coisas, manter-se atento às
mudanças.
Meu interesse de pesquisa concentra-se nos fatores envolvidos na
apropriação de novos léxicos fazendo uso da tradução, no contexto de utilização de
atividades lúdicas, envolvendo situações em que a linguagem escrita seja fonte de
interações, constituindo-se, assim, como condição de formação global dos alunos.
O objetivo deste artigo foi saber qual o papel da tradução na aquisição de
vocabulário por alunos do 6º ano do ensino fundamental, 5ª série, fazendo uso da
ludicidade, utilizando, neste caso, o jogo Bingo, que está incluso no caderno
pedagógico Bingo choices for vocabulary building. (ANDRADE, 2008).
A pesquisa referida foi realizada com alunos de 9 a 13 anos de uma escola
estadual e tem como fundamentação principal estudos da área da utilização de
atividades lúdicas para aquisição de vocabulário, do letramento e da tradução.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. Lúdico
Brincar é uma atividade dotada de significação social, não é uma dinâmica
interna do indivíduo, por isso necessita de ser aprendida. Nossa cultura por muito
tempo designou como “brincar” as atividades caracterizadas pela futilidade, oposição
ao “trabalhar”, ao que é sério.
O jogo é antes de tudo um momento de construção, é o produto de múltiplas
interações sociais, se inclui num sistema de significações, numa cultura que lhe dá
sentido, atualmente encontra fundamentos na literatura psicológica, que insiste no
fato de que no processo de aprendizagem é possível o ato de brincar. As
brincadeiras entre a mãe e a criança são essenciais para a aprendizagem, naquele
momento de interação, através dos brinquedos, ela começa a desempenhar papéis
2
mais ativos, tendo a mãe como parceira. Antes de saber brincar, a criança necessita
aprender a brincar, passando assim a reconhecer as características principais do
jogo: o aspecto fictício, a necessidade de regras e os acordos entre os parceiros, a
repetição, a inversão de papéis. Há, portanto, na criança a presença de uma cultura
preexistente que define a atividade lúdica, torna-a possível e faz dela uma atividade
que supõe aquisição de conhecimento, de cultura, de autonomia. É nesse momento
que o substrato biológico e psicológico intervém para determinar do que a criança é
capaz. Aprende-se primeiramente através de jogos e depois aplica-se essas
competências adquiridas em outros campos da vida. Isto significa que essas
experiências não são transferidas para o sujeito. Ele é um co-autor, ou seja, o
criador de sua própria experiência.
As atividades lúdicas foram reconhecidas como muito importantes no
processo de ensino-aprendizagem por grandes educadores e estudiosos do ensino
de línguas. Para Vygotski, a motivação é um dos fatores principais não só para o
sucesso da aprendizagem, como também na aquisição de uma LE.
Segundo Vygotski (OLIVIERA 1997), o brinquedo cria uma zona de
desenvolvimento proximal (ZDP), ou seja, a diferença entre o nível de
desenvolvimento real determinado pelo que o indivíduo consegue realizar sozinho e
o nível de desenvolvimento potencial, determinado pelo que o indivíduo consegue
realizar apenas com o auxílio de outra pessoa, é a distância entre o
desenvolvimento real e o potencial que está próximo mas ainda não foi atingido. A
ZDP é um instrumento que permite entender o curso interno do desenvolvimento e
cabe ao professor atuar sobre as possibilidades imediatas da criança. Quando
brinca, a criança comporta-se num nível que ultrapassa o que está habituada a
fazer. O conceito de ZDP reafirma o princípio de que as interações sociais em geral
e em especial o ensino sistemático constituem o principal meio através do qual o
desenvolvimento avança. Para a construção do conhecimento a interação social é
extremamente relevante. A interação com adultos ou pessoas mais experientes
adquire um caráter estruturante, pois auxilia a atividade cognitiva. A mediação se dá
na atividade prática, através de instrumentos, signos e por meio da internalização da
linguagem.
Para Piaget, a origem do jogo é a imitação. Imitar significa reproduzir um
objeto na presença do mesmo. Piaget denominou de jogo de exercício, o processo
de assimilação funcional, ou seja, quando o exercício ocorre pelo simples prazer. Em
seus estudos mostrou que a imitação passa por várias etapas, e com o passar do
3
tempo, a criança é capaz de representar um objeto mesmo em sua ausência. Isto
significa que ela faz uma ligação entre a imagem (significante) e o conceito
(significado). Com o surgimento do movimento da Escola Nova e do uso dos
chamados “métodos ativos” difundiu-se a utilização do lúdico na educação.
Partindo do princípio de que é o professor quem conhece as necessidades do
aluno, cabe a ele, utilizar o lúdico para tornar as aulas de LE mais interessantes,
propiciar uma aprendizagem significativa e auxiliar o processo de cognição de seus
alunos. Na aprendizagem de uma língua estrangeira não há contextos prontos para
a comunicação além da sala de aula. Cabe, portanto, ao professor escolher métodos
de ensino que tornem eficaz o contato do aluno com a LE, fato que, só ocorre na
escola, pois a língua estrangeira não é usada na comunicação diária do aluno, não
faz parte do cotidiano das crianças.
Os métodos de ensino são técnicas muito valiosas que levam em
consideração as particularidades dos alunos, a capacidade que em determinada
idade a criança pode ou não desenvolver. Portanto, todos os métodos utilizados no
ensino-aprendizagem da língua estrangeira possuem objetivos em comum, ou seja,
desenvolver a capacidade intelectual do aluno através do estudo da língua, dando-
lhe uma visão mais humana do modo de vida e do pensamento dos povos cuja
língua está aprendendo.
Na história da língua, o ensino do vocabulário sempre ocupou um espaço
relevante. Os especialistas em línguas sempre criticaram a aprendizagem de novas
palavras, através de listas com palavras descontextualizadas e suas respectivas
traduções, que o aluno deveria memorizar. Segundo Leffa (2000, p.17), o
vocabulário é elemento central na aprendizagem de um idioma.
Segundo Paiva (2004), com o surgimento do Método Direto, cujo nome deriva
da forma de abordar a língua-alvo diretamente sem tradução, as listas de palavras
para o estudo de vocabulário, foram banidas, esta supressão deveu-se ao fato de ter
sido creditado à elas, a culpa por tolher a manifestação da fala pelo aluno. Passou-
se a privilegiar um estudo que priorizava o ensino do vocabulário em vez da
gramática. No método direto o objetivo é desenvolver através de conversas, leituras
e escritas a capacidade de pensar na língua estrangeira sem a necessidade de
tradução para a língua materna. As novas palavras deixaram de ser ensinadas de
forma isolada, pois o método prescrevia que todo professor deveria criar maneiras
para que a língua fosse usada como na vida real, passando a vir contextualizada. (
4
A prioridade passou a ser o ensino do vocabulário do dia a dia, que era
ensinado através de atividades lúdicas como: mímicas e demonstrações, jogos, uso
de materiais e objetos autênticos (realia), gravuras e desenhos, gestos,
combinações de palavras com definições, etc. A partir deste método intensifica-se o
uso de ilustrações e objetos para apresentação de estruturas e para o ensino do
vocabulário, ou seja, a memorização mecânica não era aconselhada.(PAIVA, 2004).
Diante desses estudos achamos necessário conhecer melhor os processos
de alfabetização/letramento dos alunos para procedermos contínuas revisões em
nossas práticas de trabalho com a língua em nossas aulas.
2.2. Letramento
Segundo Soares (2001), Tfouni (2002), o termo letramento vem se mostrando
pertinente aos estudos sobre a aprendizagem da língua escrita
A palavra letramento, datada de 1899 é definida no dicionário Houaiss, como:
representação da linguagem falada por meio de sinais. O termo letramento originou-
se da palavra inglesa “literacy”, do latin littera que quer dizer letra, significa: educado
especialmente para ler e escrever, letrado, alfabetizado. (SOARES, 2001).
Para TFOUNI (2002, p.30), “A necessidade de se começar a falar em
letramento surgiu, da tomada de consciência que se deu, principalmente entre os
linguístas, de que havia alguma coisa além da alfabetização, que era mais ampla, e
até determinante desta”.
Em 1986 em seu livro: “No mundo da escrita: uma perspectiva
psicolinguística”, Mary Kato cita, pela primeira vez, o termo Letramento ao
argumentar que a sociedade necessita de pessoas que dominem a linguagem
universal, que é a escrita. Por isso é de grande importância que o educador atualize-
se, troque experiências e enriqueça sua prática para atingir o objetivo da formação
global do ser humano. O aluno, alvo deste processo, precisa apropriar-se de seu
idioma para transformar sua vida e dos que o cercam, ou seja, é preciso alfabetizar
com significado, tornando o aluno, um sujeito capaz de usar a língua escrita para
suas necessidades individuais, fazendo-o crescer cognitivamente de modo a
ascender socialmente.
5
Para Halliday (1975), a criança, no esforço de aprendizagem da língua
escrita, faz uso dos conhecimentos e recursos de que dispõe, utilizando-se do que o
autor denomina “estratégias semióticas”, as quais permitiriam à criança utilizar-se de
um sistema pouco ou mal conhecido enquanto ainda o está construindo.
Soares (2003), conclui que a palavra letramento surgiu devido às
transformações sociais, o que ocasionou a modificação do significado de
alfabetizado, modificou também a concepção do analfabeto e que o letramento
ultrapassa a leitura e escrita. Assim, ser letrado diz respeito ao uso que se faz
socialmente da leitura e escrita.
Por escrita, a autora, entende um conjunto de habilidades linguísticas e
psicológicas. É um processo de organizar o pensamento e expressar idéias.
Partindo do pressuposto de que a constituição da escrita pela criança faz
parte do processo de aquisição da linguagem e que este é um trabalho de
elaboração cognitiva contínua, percebe-se que no processo de aprendizagem as
duas modalidades de linguagem verbal: oral e escrita, caminham lado a lado na
perspectiva do letramento.
Compreendendo que o letramento está relacionado à apropriação de
conhecimentos que constituem os diversos tipos de discurso, meus estudos,
realizados com estes dois grupos de alunos levaram-me a dimensionar o relevante
papel da escola na socialização das diferentes linguagens e no investimento no
trabalho com a construção de identidades culturais, também como um espaço de
abertura ao conhecimento proporcionando a ampliação do mundo social dos alunos.
A condição de letrado está relacionada com as práticas sociais orais e escritas, com
atitudes, procedimentos, como formas sociais de expressão em língua escrita
discutindo, apreendendo e conhecendo as diferentes linguagens sociais.
Para que isto ocorra, é importante considerar a utilização da tradução na
aquisição de vocabulário objetivando que o aluno (re)construa o significado do léxico
utilizado em L2 e passe a interpretá-lo de acordo com seus conceitos e
conhecimentos de mundo.
2.3. Tradução
6
A palavra tradução, segundo Silveira Bueno, em seu Minidicionário da Língua
Portuguesa (p.674), possui o seguinte significado: “Ato de traduzir, de passar um
texto para outra língua: interpretação”.
Com os adeptos do método direto surgiu o conceito de que o ensino de LE
com a associação da tradução, não era eficaz, não ensinava o aluno a falar e era
uma forma entediante de aprender. Passou-se então a evitar a tradução, renegando-
a, ou seja, nas aulas de língua estrangeira não havia mais espaço para a tradução.
Outro fato também que contribuiu para sua supressão é o de que as aulas
utilizando a tradução requerem preparo e adaptação às abordagens e metodologias
utilizadas e demanda tempo na busca, elaboração e correção dos textos e
exercícios. Como é uma atividade que oportuniza ao aluno buscar e mostrar saber,
muitos professores tornam-se resistentes ao seu uso, por sentirem-se receosos dos
questionamentos que poderiam surgir nas aulas e temerosos em não demonstrarem
conhecimento suficiente diante dos alunos, ou seja, passando a não serem mais os
detentores do saber, não tendo, portanto, o controle do que seria abordado nas
aulas.
Harmer (1991:161-173), sugere como prática para o ensino de vocabulário,
no momento da apresentação da palavra, os procedimentos a seguir: (1) o uso de
realia, do lúdico; ou seja, da listagem de itens de uma mesma categoria; (2)
explicação; (3) tradução.
Segundo Jakobson (2003, p. 69), em sua função cognitiva, a linguagem
depende muito pouco do sistema gramatical, porque a definição de nossa
experiência está numa relação complementar com as operações metalinguísticas –
o nível cognitivo da linguagem não só admite mas exige a interpretação por meio de
outros códigos, a recodificação, isto é, a tradução.
Jakobson distingue três maneiras de interpretar um signo verbal: (1) a
tradução intralingual ou reformulação consiste na interpretação dos signos verbais
por meio de outros signos da mesma língua; (2) a tradução interlingual ou tradução
propriamente dita consiste na interpretação dos signos verbais por meio de outra
língua; (3) a tradução inter-semiótica ou transmutação consiste na interpretação dos
signos verbais por meio de sistemas de signos não-verbais.
Atualmente, com relação ao papel da tradução no ensino e aprendizagem da
língua estrangeira, percebemos que apesar de inexistir formalmente, a tradução
nunca deixou de estar presente nas aulas, seja nas explicações de gramática, ao
aferir compreensão e significado aos textos ou expressões, até mesmo
7
proporcionando uma visão mais crítica do aluno quando conhece a cultura de outro
país.
3. METODOLOGIA
Este estudo de caso descreve e analisa os resultados apresentados quando
da aplicação de uma atividade lúdica, o jogo Bingo, como estratégia para aquisição
de vocabulário em língua inglesa.
Como professora-pesquisadora deste estudo de caso, graduei-me pela
FAFIMAN - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Mandaguari-PR, em Letras
Anglo-Portuguesas, no ano de 1984.
O contexto desta pesquisa foi o Colégio Estadual Barão do Cerro Azul, uma
escola da rede pública estadual, situado na cidade de Ivaiporã-PR, que funciona
desde o ano de 1949, atendendo alunos de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental e
do Ensino Médio. Consta em sua grade curricular o ensino de língua inglesa, em
todas as séries, com carga horária de duas horas semanais. O estabelecimento de
ensino adota o sistema de notas bimestrais.
Realizei a pesquisa com duas turmas de 5ª série, do Ensino Fundamental, do
período matutino e estendeu-se por um semestre. Selecionei dados de 18 alunos de
cada turma, com idade entre 9 e 13 anos, filhos de classe trabalhadora, muitos
vindos de regiões agrícolas, pelo critério de assiduidade e participação, para assim
preservar dados completos e reguláveis.
Devido às irregularidades evidenciadas em alguns dados, ocasionadas por
eventos climáticos, dispensas de aula por motivos público-sanitários, entre outros,
optei pelo descarte dos mesmos do escopo de dados a serem analisados.
Para a realização da pesquisa, solicitei aos responsáveis pelos alunos, a
assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido, para utilizar os dados
mediante exposição dos objetivos desta investigação, sob garantia de anonimato
dos participantes e do direito de se retirarem da pesquisa a qualquer momento.
(Apêndice A).
A equipe pedagógica da escola - Diretor, Vice-diretor e Coordenadores -
tomou conhecimento da pesquisa, seus objetivos e procedimentos, através de uma
8
reunião realizada na escola para tais esclarecimentos e forneceu declarações e
autorizou a execução da pesquisa na escola. (Apêndice B).
Apresentarei os resultados, oportunamente, aos participantes e seus
responsáveis, bem como a todo corpo docente da escola, para que possam
perceber o valor da contribuição desta pesquisa para uma melhoria na qualidade da
aquisição de vocabulário em língua inglesa (doravante, L2).
A experimentação da atividade Bingo, explorando a aquisição de vocabulário
em língua inglesa, ocorreu com a combinação de diferentes abordagens. Escolhi o
jogo Bingo, para potencializar as atividades de aquisição de vocabulário, em L2, pois
percebi, pela minha prática pedagógica em sala de aula, que os alunos
demonstravam maior interesse e participação nas aulas, quando eu fazia uso desta
estratégia.
Realizei os experimentos no âmbito da própria turma, onde testei dois
procedimentos, a saber: (1) atividades que requerem leitura fônica e compreensão
oral; e (2) atividades que requerem leitura fônica e compreensão oral, aliadas à
atividades que requerem tradução.
Confeccionei especialmente para este projeto quatro conjuntos do jogo Bingo,
cujos campos semânticos foram respectivamente: (1) animais; (2) alimentos; (3)
vestuário e (4) cômodos da casa e sua mobília.
Preparei as cartelas com cinco matrizes diferentes, de tal forma que havia 35
cartelas distintas na sala, e um mesmo número de alunos, sete jogadores, de posse
de cartelas idênticas.
Cada conjunto de Bingo propunha três focos para sua atividade didática,
conforme segue:
Modalidade A: leitura fônica: associação de pronúncia em inglês
com a informação gráfica (escrita) em inglês.
Modalidade B: compreensão oral: associação do signo (palavra)
escrita em inglês com o seu significado (imagem).
Modalidade C: tradução: associação da palavra escrita na língua
materna (doravante, L1), falada, com o correspondente na língua
inglesa (escrita).
Para cada conjunto selecionei 18 palavras de um mesmo campo lexical:
9
JOGOS MODALIDADESA…B…C
JOGO 01 Camel, lion, frog, rabbit, butterfly, fish, elephant, giraffe, monkey, cat, alligator, turtle, dog, snake, cow, hen, horse, donkey.
JOGO 02 Shoes, trousers, t-shirt, sneakers, shorts, dress, skirt, blouse, sandals, necklace, ring, earring, watch, jacket, belt, socks, slippers, cap.
JOGO 03 Pizza, hot dog, cheese salad, hamburger, soft drink, popcorn, salad, beef, watermelon, juice, vegetables, chicken, bread, milk, cookies, coffee, chocolate, strawberry.
JOGO 04 Bedroom, kitchen, dining room, living room, bathroom, laundry, garage, attic, bed, stove, table, sofa, shower, washing machine, pillow, fridge, chair, mirror.
Quadro 1: Palavras que compõem os campos lexicais trabalhados nos quatro jogos de bingo.
As cartelas da modalidade B (compreensão oral) não continham palavras e,
sim, figuras, pois pretendi pesquisar a associação do signo (palavra) escrito em
inglês com o seu significado (imagem).
Ressalto que as figuras que fizeram parte do jogo Bingo, na modalidade B
(compreensão oral), foram imagens feitas especialmente para compor o caderno
pedagógico Bingo choices for vocabulary building (ANDRADE, 2008) e para esta
pesquisa. (Apêndice C).
Produzi jogos de Bingo para as modalidades A e B (leitura fônica e
compreensão oral), pois na modalidade C (tradução), usei as mesmas cartelas da
modalidade A (leitura fônica). (Apêndice D).
Quanto ao método de análise, apliquei o comparativo, a partir dos resultados
de cada procedimento pedagógico em foco. Considerei que, em havendo diferença
significativa nos resultados entre os procedimentos, eu saberia se as atividades de
tradução poderiam ser descartadas ou se deveriam permanecer em uso.
Os instrumentos de coletas de dados foram de natureza pedagógica,
naturalísticos. A coleta de dados foi realizada simultaneamente à aplicação do jogo.
Constaram destes instrumentos de pesquisa: (1) meu diário de professora, relatando
os acontecimentos ocorridos durante os procedimentos; (2) cartela com oito células
em branco para que o aluno fizesse uma nova cartela com as palavras, escritas em
10
inglês, por ele fixadas (Apêndice E); (3) um ditado de palavras, para ser escrito em
inglês, contendo as 18 palavras trabalhadas. (Apêndice F).
Apresentei aos alunos as imagens das palavras que faziam parte dos campos
semânticos utilizando o recurso pedagógico conhecido como TV PEN DRIVE2,
existente em cada sala de aula da rede pública estadual.
Para tanto, gravei as imagens em formato JEPG e as inseri em um pen drive
de 1 GB, para que o aparelho de televisão executasse a leitura de seu conteúdo de
modo mais rápido. Este procedimento foi realizado durante o período de apenas
uma aula, antes da aplicação do jogo e não necessariamente no mesmo dia.
Visando a uma melhor retenção cognitiva, apresentei as imagens aos alunos
em três grupos de seis palavras. Quando percebia que as palavras exibidas estavam
sendo assimiladas, incluía palavras do grupo seguinte, dentro do mesmo léxico,
sempre revendo as palavras anteriores. Também fiz a transcrição da palavra que
estava sendo exibida na TV, naquele momento, no quadro-negro, para que o aluno
pudesse fazer a fixação da grafia, a escrita da palavra até então somente falada.
No momento anterior ao início da execução do jogo Bingo, exibi as imagens
novamente, para resgatar a retenção cognitiva, atividade feita na aula anterior.
Então, passava à aplicação do jogo.
A implementação deste projeto envolveu dois procedimentos (doravante,
denominados Pro.2 e Pro.3), no primeiro, o participante foi submetido a dois jogos, a
saber: modalidades A e B, no segundo, os jogadores realizavam três condutas, as
modalidades A, B e também, a modalidade C ( tradução). Os dois grupos foram
testados na modalidade C, utilizando léxicos distintos. Alternei os campos
semânticos entre as turmas, ou seja, as duas turmas não realizaram um mesmo
procedimento, utilizando palavras do mesmo léxico.
Antes da execução do jogo, suas regras foram explicadas aos alunos, para
que, no momento deste, todas as dúvidas estivessem sanadas e o jogo não fosse
interrompido para esclarecimentos.
No momento da execução do jogo Bingo, cada aluno recebeu um copo
descartável com feijões, para que os usassem para marcar as células das cartelas.
A primeira cartela que jogaram enfocava a compreensão oral: (modalidade B):
associação de signo (palavra) com o seu significado (imagem).
2 Dispositivo de armanezamento constituído por uma memória flash tendo a aparência semelhante à de um isqueiro e uma ligação USB tipo A, permitindo a sua conexão a uma porta USB de um computador ou televisor.
11
As palavras escritas em cartões eram sorteadas e anunciadas pela
professora, duas vezes.
Iniciei o jogo, sorteando uma palavra escrita em L2. O aluno procurava em
sua cartela a imagem correspondente. Se a encontrasse, marcaria aquele campo
com um feijão.
O(s) aluno(s) que conseguia(m) preencher sua(s) cartela(s) primeiro,
deveria(m) falar a palavra Bingo, para que eu me dirigisse até ele(s) e fizesse a
conferência.
O(s) vencedor(es) do jogo recebia(m) chocolate(s), como brinde, conforme
critério de premiação acordado entre a professora e os alunos.
A segunda cartela que jogaram enfocava a leitura fônica: (modalidade A):
associação de (pronúncia) com a informação gráfica (escrita).
A cartela contendo nove campos, agora preenchidos por palavras escritas em
inglês, fora entregue aos alunos para iniciar o próximo jogo. Sorteei uma palavra
escrita em inglês, anunciei a duas vezes, em L2. Se o jogador a encontrasse em sua
cartela, marcaria com o feijão, quando o(s) vencedor(es) se manifestava(m), suas
cartelas eram conferidas e procedia à premiação.
A cartela que enfocava a modalidade C: (tradução), isto é, a associação da
palavra (falada) em L1 com o correspondente em L2 (escrita), não fazia parte do
procedimento a ser executado em todos os jogos. Este fato devia-se ao interesse
desta pesquisa em conhecer a real necessidade deste procedimento enquanto
refletido nos resultados de aprendizagem dos alunos.
Por um sorteio antecipado estabeleci que a 5ª A (doravante, denominada
Grupo A), faria três procedimentos com os campos semânticos: animais e alimentos,
e dois procedimentos com os léxicos: vestuário e cômodos da casa - mobília. A 5ª B
(doravante, denominada Grupo B), executaria três procedimentos com os campos
semânticos: vestuário e cômodos da casa - mobília, e dois procedimentos com os
léxicos: animais e alimentos.
Na modalidade C (tradução), expliquei aos alunos a maneira como anunciaria
as palavras. Após sortear a palavra, eu lia em L1, e o aluno procurava em sua
cartela tal palavra escrita em L2.
Novamente o(s) aluno(s) que preenchesse(m) primeiro sua(s) cartela(s),
falava(m) Bingo e após ter(em) sido conferida(s) a(s) cartela(s), era(m) declarado(s )
o(s) vencedor(es), que recebia(m) seu(s) brinde(s).
12
3.1. Contexto de concepção e elaboração dos instrumentos de coleta de
dados
Com o intuito de esclarecer sobre os procedimentos de coleta de dados,
considero pertinente, neste momento, explicitar também que tipo de dados pretendi
coletar junto aos grupos A e B, quando procedi à elaboração dos Instrumentos de
Coleta de Dados I e II (doravante, denominados ICD I e ICD II), e como os mesmos
deram suporte à triangulação dos dados desta pesquisa.
Primeiro, preparei uma réplica da cartela de Bingo (ICD I), com nove campos
em branco, para que o aluno escrevesse os nomes de nove palavras por ele
assimiladas, do campo semântico estudado. Meu interesse foi saber quanto o aluno
tinha aprendido; Se o aluno fora capaz de produzir uma cartela própria, somente
sua, relembrando a grafia correta das palavras. O instrumento de coleta de dados,
sendo realizado por registro escrito, captura mais a cognição situada dos
participantes, tendo em vista o contexto das interações sociais já existentes
(PACKER; WINNIE, 1995; BORG, 2003; REIS, 2005) in Reis, 2009, p.88.
Utilizei nove campos em branco para a escrita, por ser esse número metade,
ou seja, 50% das 18 palavras trabalhadas.
Como a motivação desta pesquisa foi conhecer a necessidade de utilizar ou
não a tradução lexical no ensino de vocabulário, escolhi o ditado de palavras (ICD
II), como segundo procedimento para coleta de dados. Assim eu poderia verificar,
através da escrita dos participantes desta pesquisa, se e quanto houveram
assimilado do campo semântico trabalhado, no tocante às 18 palavras que anunciei
em L1.
Também, adotei a escrita de um diário, aqui entendido como instrumento
-objeto (VAN DE VEN, 2001; COHEN, MANION, MORRISON, 2000; REIS, 2005),
onde anotava os fatos ocorridos nas aulas de aplicação desta pesquisa com os
grupos A e B. Fiz tais anotações durante os momentos preparatórios aos
procedimentos, na ocasião da exploração das imagens e grafia dos léxicos, na
execução do jogo Bingo e, finalmente, na coleta dos dados.
3.2. Contexto de coleta de dados
13
A coleta de dados ocorreu após a aplicação de cada procedimento designado
para o grupo e com o campo semântico determinado.
Ao término do jogo, após ter(em) sido proclamado(s) e premiado(s) o(s)
vencedor(es), eu, pesquisadora, solicitava que os jogadores, os alunos, se
preparassem para a coleta de dados.
Entreguei o ICD I e procedi à instrução de como cada aluno deveria agir, para
que os dados ali colhidos tivessem a consistência desejada. Os participantes
deveriam completar os campos em branco, com palavras escritas em L2, de sua
livre escolha, do léxico jogado anteriormente, elaborando, assim, uma cartela
exclusiva, “personalizada”. A realização de tal procedimento levou aproximadamente
15 minutos, sendo neste tempo computados a escrita e o recolhimento dos
instrumentos.
Em seguida, entreguei o ICD II, novamente instruiu-os, para que prestassem
mais atenção, pois naquele procedimento as palavras seriam ditas duas vezes, de
maneira clara, de forma compassada e que, após, não seriam repetidas. Alertei os
alunos também, que as palavras seriam anunciadas em língua portuguesa e que os
alunos deveriam escrever o correspondente em L2. A realização dessa atividade
necessitou de aproximadamente 20 minutos, para a escrita e a juntada dos
instrumentos.
A coleta de dados foi feita durante o transcorrer do semestre, posto que,
realizada simultaneamente à aplicação dos jogos. Isto exigiu tempo para ser feito,
devido aos quatro campos semânticos com 18 vocábulos em cada um, para serem
trabalhados.
Percebi, também, ser necessário um intervalo de algumas aulas, entre as
aplicações dos procedimentos. Temi comprometer os resultados da pesquisa, se
tornasse a conduta rotineira. Por isso, preocupei-me com o interesse dos
participantes na atividade.
Dos instrumentos recolhidos, somente foram utilizados para a Ferramenta de
Triangulação (referida, doravante, como FT), os excertos que estavam de acordo
com as instruções que foram dadas, visto que detectei o fato de vários participantes
não as terem seguido corretamente.
14
O manuseio desses dados coletados passou por várias etapas, começando
por agrupar os excertos dos participantes, ou seja, junção do ICD I e ICD II do aluno,
em cada procedimento e campo semântico distinto.
O segundo passo foi atribuir um código alfanumérico a cada aluno, para que
tivessem suas identidades preservadas. Portanto, Aluno 1 (a partir deste momento,
A1), A2, A3 e assim sucessivamente até o último excerto.
Em seguida, de posse de todos os excertos já agrupados por léxicos,
procedimentos distintos e participantes já devidamente numerados, elaborei uma
tabela para lançamento desses dados. (Apêndice G).
O Quadro 2 sintetiza o lançamento dos dados (para exemplificar, apresento
somente dados dos: A1, A2 e A3) com os quais trabalhei no início desta pesquisa.
ALUNO
JOGO 1 JOGO 2
CARTELA / DITADO CARTELA / DITADO LÉXICO: ANIMAIS LÉXICO: VESTUÁRIOPROCEDIMENTOS: 3 PROCEDIMENTOS: 2
Acerto/erro Acerto/erro Acerto/erro Acerto/erro A 01
6 / 3 13 / 5 2 / 3 2 / 16A 02
3 / 6 1 / 17 0 / 4 0 / 18A 03
6 / 3 7 / 11 4 / 5 2 / 16Quadro 2: Dados coletados no GA, jogos 1 e 2, dos participantes: A1, A2 e A3.
O terceiro momento foi analisar atentamente cada instrumento e lançar na
tabela, os acertos e erros detectados nos ICD I e ICD II, de cada léxico, no campo
atribuído àquele participante.
A análise inicial dos instrumentos revelou-me a ocorrência de outros
fenômenos linguísticos, desvinculados do propósito desta pesquisa. Percebi então,
ser necessário restringir a análise às minhas indagações iniciais, posto que detectei
grande abundância de tópicos, que, por não se inserirem no corpus do estudo, foram
propositadamente ignorados.
Segundo Cohen; Manion; Morrison; 2OOO (in REIS, 2009, p. 90) o
pesquisador deve adotar critérios que satisfaçam seus propósitos.
3. RESULTADOS
15
Após a tabela 1 ser preenchida e com base em seus dados, passei à fase de
tabulação. Optei por utilizar gráficos que evidenciassem o desempenho de cada
participante no conjunto do grupo. Demonstrei, então, erros e acertos apontados em
cada ICD, de todos os campos lexicais abordados através do jogo. Para isso, utilizei
recursos gráficos visuais do programa Excel e optei pelo gráfico em formato de
pizza, como demonstrado a seguir:
Acertos- Cartela- Jogo 01- Grupo A - Procedimentos: 3
Aluno 054%
Aluno 066%
Aluno 074%
Aluno 086%
Aluno 098%
Aluno 105%Aluno 11
7%
Aluno 129%
Aluno 134%
Aluno 146%
Aluno 153%
Aluno 169%
Aluno 174%
Aluno 186%
Aluno 042%
Aluno 036%
Aluno 023%
Aluno 016%
Aluno 01
Aluno 02
Aluno 03
Aluno 04
Aluno 05
Aluno 06
Aluno 07
Aluno 08
Aluno 09
Aluno 10
Aluno 11
Aluno 12
Aluno 13
Aluno 14
Aluno 15
Aluno 16
Aluno 17
Aluno 18
Gráfico 1: Desempenho individual por aluno. Proporção de acertos no ICD I dos participantes do GA, no jogo 1, léxico animais, utilizando 3 procedimentos.
Acertos - Cartela - Jogo 1- Grupo B - Procedimentos: 2
Aluno 0614%
Aluno 073%
Aluno 0811%
Aluno 0911%
Aluno 109%
Aluno 113%
Aluno 125%
Aluno 133%
Aluno 1411%
Aluno 172%
Aluno 182%
Aluno 010% Aluno 02
3%
Aluno 036%
Aluno 042%
Aluno 052%
Aluno 163%
Aluno 1511%
Aluno 01
Aluno 02
Aluno 03
Aluno 04
Aluno 05
Aluno 06
Aluno 07
Aluno 08
Aluno 09
Aluno 10
Aluno 11
Aluno 12
Aluno 13
Aluno 14
Aluno 15
Aluno 16
Aluno 17
Aluno 18
Gráfico 2, Desempenho individual por aluno. Proporção de acertos no ICD I dos participantes do GB, no jogo 1, léxico: animais, utilizando 2 procedimentos.
16
Procedendo à análise dos dados apresentados nos gráficos acima, deparei-
me com a necessidade de aprofundar mais a investigação do conteúdo destes
percentuais, posto que, ao olhar para os gráficos tive apenas uma visão parcial dos
dados individuais dos participantes.
Neste estudo de caso, pretendi saber, com base nos dados gerais, os
resultados alcançados pelo grupo, e não por participante. A soma de todos os dados
obtidos nos ICD I e ICD II de cada campo semântico explorado, no âmbito do
experimento dos Pro. 2 e 3.
Para melhor analisar os números que estava evidenciando, resolvi, então,
optar pelo agrupamento dos percentuais de erros e acertos obtidos pelos grupos A e
B.
Para demonstrar de forma mais clara os percentuais, optei pela troca do tipo
de gráfico. Passei a utilizar o gráfico em forma de barras, colunas agrupadas, para
facilitar a visualização das somas dos resultados totais obtidos, agora, por cada
grupo, no ICD I, conforme exibem os próximos gráficos:
Acertos
Erros
0
20
40
60
80
100
CARTELA- ANIMAIS - Grupo A
Gráfico 3: Desempenho aferido por acertos e erros, somatória dos percentuais, alcançados pelo GA, no ICD I, léxico: animais.
Acerto
Erros
63,5
64
64,5
65
CARTELA - ANIMAIS- GRUPO B
Gráfico 4: Desempenho aferido por acertos e erros, somatória dos percentuais, obtidos pelo GB, no ICD I, léxico: animais.
17
Os resultados contidos nesses últimos gráficos não demonstraram de forma
eficaz as indagações deste estudo, sendo necessário realizar novo agrupamento de
dados. Neste caso, o gráfico utilizado foi em forma de pizza com efeito visual 3D.
Juntei, então, os resultados dos gráficos de erros e acertos dos grupos no
ICD I e ICD II, de léxicos diferentes, mas com o mesmo procedimento. Os próximos
gráficos constatam tais afirmações.
ACERTOS E ERROS - PROCEDIMENTO 3 - GRUPO A - CARTELA
ACERTOS 51%
ERROS 49%
Gráfico 5: Resultados obtidos pelo GA, no ICD I, Pro. 3, léxicos: animais e alimentos.
ACERTOS E ERROS - PROCEDIMENTO 2 - GRUPO A DITADO
ERROS 78%
ACERTOS 22%
Gráfico 6: Desempenho aferido pelo GA, no ICD II, Pro. 2, léxicos: vestuário e cômodos/ mobília.
ACERTOS E ERROS - PROCEDIMENTO 2 - GRUPO B - DITADO
ERROS 66%
ACERTOS 34%
Gráfico 7: Resultados obtidos pelo GB, no ICD II, Pro. 2, léxicos: animais e alimentos.
18
ACERTOS E ERROS - PROCEDIMENTO 3 - GRUPO B - CARTELA
ACERTOS 50%
ERROS 50%
Gráfico 8: Resultados obtidos pelo GB, no ICD I, Pro. 3, léxicos: vestuário e cômodos/mobília.
Deparei-me com uma diferença alta no número de acertos e erros obtida
pelos grupos A e B, nos ICD I e ICD II, divergência esta que mostrou-se ser
constante sempre que se utilizava um determinado procedimento.
Diante desta comprovação, direcionei o agrupamento de dados, desta vez por
procedimento, juntando agora, os números aferidos pelo GA e pelo GB, nos Pro. 2 e
Pro. 3, como é possível ser comprovado nos seguintes gráficos:
GRÁFICO DE PERCENTUAL DE ERROS E ACERTOS DOS GRUPOS A E B NO
PROCEDIMENTO 2- CARTELA
ERROS- 50%ACERTOS- 50%
Gráfico 9: Resultados obtidos pelo GA e GB, no ICD I, Pro. 2.
De acordo com o gráfico acima, percebe-se que o nível de acertos e erros
ficaram no mesmo percentual, portanto, neste momento na execução do jogo a não
utilização da modalidade C (tradução), não pode ser avaliada, ou seja, não sabemos
ainda se com sua utilização os participantes teriam resultados mais satisfatórios em
sua pontuação no jogo.
19
GRÁFICO DE PERCENTUAL TOTAL DE ERROS E ACERTOS DOS GRUPOS A E B NO PROCEDIMENTO 2
- DITADO
Acertos26%
Erros74%
Gráfico 10: Resultados obtidos pelo GA e GB, no ICD II, Pro. 2.
Analisando o gráfico anterior, notei uma grande diferença nos percentuais de
erros e acertos, evidenciando assim que os participantes do jogo tiveram muita
dificuldade na escrita dos campos semânticos utilizados.
GRÁFICO DE PERCENTUAL DE ERROS E ACERTOS DOS GRUPOS A E B NO
PROCEDIMENTO 3 - CARTELA
ACERTOS53%
ERROS47%
Gráfico 11: Desempenho aferido pelo GA e GB, no ICD I, Pro. 3.
O gráfico acima sintetiza o objeto de estudo desta pesquisa, segundo a qual é
possível perceber o resultado dos percentuais obtidos pelos dois grupos quando se
utiliza o procedimento 3, modalidade C (tradução), na execução do jogo. O número
de acertos é superior ao de erros.
GRÁFICO DE PERCENTUAL TOTAL DE ERROS E ACERTOS DOS GRUPOS A E B NO PROCEDIMENTO 3 -
DITADO
ACERTOS29%
ERROS71%
Gráfico 12: Resultado obtido pelo GA e GB, no ICD II, Pro. 3.
O gráfico anterior exibe o total dos percentuais aferidos pelos grupos A e B.
Fazendo a utilização da modalidade C (tradução), é possível perceber que os
20
números de erros e acertos têm uma grande diferença, mesmo em tal momento do
jogo tendo sido utilizado o Pro. 3.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, relatamos os resultados obtidos em uma pesquisa realizada com
o objetivo de saber o papel da tradução na aquisição de vocabulário por alunos do 6º
ano do ensino fundamental, 5ª série, fazendo uso da ludicidade.
Estamos cientes que a utilização de atividades lúdicas na prática educativa
em aulas de LE, propicia a aquisição da língua oral e escrita de forma mais
descontraída, fazendo com que os alunos se sintam mais à vontade para aprender,
motivados em esforçar-se na busca de conhecimento e sentindo prazer em
aprender.
Revelamos que Letramento é a condição que adquire um indivíduo por ter se
apropriado da leitura e escrita e de suas práticas sociais. Adquirir a escrita é torná-la
própria, assumindo-a como sua propriedade.
Discutimos que para o estudo de LE, torna-se necessária a utilização de
estratégias de aprendizagem do vocabulário, ou seja, pode-se lançar mão da
tradução como uma dessas formas de ajudar o aluno na aquisição do léxico de
maneira mais segura, de forma mais rápida, motivando-o para aprender, pois na
busca de conhecimento, a concentração fica mais aguçada. O aluno adquire mais
segurança ao responder questionamentos, pois busca respostas, sente-se capaz e
tem também oportunidade de aprender que nem sempre há uma equivalência de
significados, podendo ocorrer negociações entre as línguas. Portanto, pode haver
diferentes possibilidades de resolução para o mesmo problema.
Nosso propósito foi mostrar que mesmo sendo condenada por muitos, a
tradução ajuda na assimilação do vocabulário em LE, fazendo com que o aluno
aprenda de maneira mais rápida.
Recomendamos que novos estudos referentes à utilização da tradução
visando a aquisição de vocabulário, em contextos de atividades lúdicas, sejam
realizados, visto que, o assunto nesta pesquisa não se esgota.
Como palavra final deixo meus agradecimentos: à todos que contribuíram
para a realização desta pesquisa; aos colegas com quem me relacionei no decorrer
21
deste trabalho, pela troca de experiência e convivência acadêmica; à professora
orientadora Drª Simone Reis pelos ensinamentos que me acompanharão por toda
vida, pela compreensão e incansável paciência em todas as etapas desta pesquisa;
à minha família pelos momentos que deixei de estar presente; à Deus acima de
tudo, pela vida e por permitir que esta experiência fizesse parte de minha vida.
22
REFERÊNCIAS
ANDRADE, N. A. Bingo choices for vocabulary building. Londrina. 2008.
BORG, S. Teacher cognition in language teaching: A review of research on what language teachers think, know, believe, and do. Language Teaching, Cambridge, v. 36, n. 2, p. 81-109, 2003.
BRASIL. Lei Nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, 23 de dezembro de 1996.
BUENO, S. Minidicionário da língua portuguesa. São Paulo: FTD.
COHEN, L.; MANION, l.; MORRISON, K. Research methods in Education. London: Routledge. 2000.
HALLIDAY, M. A. K. Learning how to mean. London: Edward Arnold, 1975.
HARMER, J. The practice of Enghish language teaching. London & New York: Longman, 1991.
JAKOBSON, R. O. Linguística e comunicação. São Paulo. Editora Pensamento-Cultrix Ltda, 2003. p. 69.
LEFFA, J. V. Aspectos externos e internos de aquisição lexical. In: LEFFA, V. J. (Org.) As palavras e sua companhia. Pelotas: ALAB e Editora da Universidade Católica de Pelotas, 2000. p. 15 a 44.
OLIVEIRA, Z. M. R. (Org.) Educação Infantil: muitos olhares. 4. ed. São Paulo. Cortez. 2000.
PACKER, M. J.; WINNE, P. H. The place of cognition in explanations of teaching: a dialog of interpretative and cognitive approaches. Teaching and Teacher Education, New York, v. 1. p. 1-21, 1995.
PAIVA, V. L. M. O. Ensino de vocabulário. In: DUTRA, D. P. & MELLO, H. A gramática e o vocabulário no ensino do inglês: novas perspectivas. Belo Horizonte: Faculdade de Letras/UFMG, 2004. (Estudos Lingüísticos; p. 7)
PARANÁ. Secretaria da Educação. Diretrizes curriculares da educação fundamental da rede de educação básica do estado do Paraná. 2007.
REIS, S. Learning to teach reading in English as a foreign language: an interpretative study of student teachers’ cognitions and actions. 2005. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Radboud University Nijmegen, RUN, Nijmegen, Holanda.
_______. Triangulação em pesquisa qualitativa: consistência, divergência, alternatividade e causas. In DURÃO, A. B. A. B.; ANDRADE, O. G.; REIS, S. (Orgs.). Reflexões sobre o ensino das línguas estrangeiras Londrina: Moriá. 2008. p. 87-105.
23
SOARES, M. B.. Letramento: um tema em três gêneros. 2. ed.. Belo Horizonte:Autêntica, 2001.
TFOUNI, L. V. Letramento e Alfabetização. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
VAN DE VEN, P. H. Teachers constructing knowledge on mother-tongue education. L1: Educational Studies in Language and Literature, Dordrecht, v. 1, n. 2. p.179-190, 2001.
PIAGET, J., A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e representação. Zahar: Rio de Janeiro: 1971.
KATO, M. No mundo da escrita: uma perspectiva psicolingüística. São Paulo: Ática, 1986.
VYGOTSKY, L S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984.
_____________. Pensamento e linguagem. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
24
APÊNDICE A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
APÊNDICE A№
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Senhores Pais/Responsáveis:
Como professora-pesquisadora do projeto de pesquisa intitulado: BINGO COMO INSTRUMENTO DE AQUISIÇÃO DE VOCABULÁRIO: UM ESTUDO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA EM UMA QUINTA SÉRIE, coordenado pela Profª Drª. Simone Reis, da Universidade Estadual de Londrina, pretendo realizar coleta de dados em uma turma de 5ª série do Ensino Fundamental deste Colégio. Meu interesse particular é estudar a aprendizagem dos alunos, e, assim fazendo, construir uma base de conhecimento sobre minha própria prática. Pesquisarei a aprendizagem dos alunos nas minhas aulas durante o período em que estiver utilizando o material didático para aquisição de vocabulário em língua inglesa, elaborado por mim especialmente para ser utilizado neste projeto. Para isso, peço sua permissão para coletar dados junto à turma na qual estuda o(a) aluno(a) sob sua responsabilidade.
Esta pesquisa requer gravar (áudio ou áudio e vídeo) algumas aulas, conversas informais e também examinar materiais escritos pelos alunos, incluindo provas. Quando a análise estiver pronta, comunicarei os principais resultados e podemos conversar sobre eles, inclusive com a participação dos alunos. Se for necessário, gravarei essa conversa a respeito dos resultados.
Fica garantida a liberdade do sujeito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado ou acompanhamento escolar.
Fica assegurado que quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pela pesquisadora signatária do presente documento e pela coordenadora responsável por esta pesquisa (vide endereços e telefones abaixo).
As gravações em áudio e vídeo da coleta de dados da pesquisa serão utilizadas com finalidade específica para este estudo e serão destruídas após 5 anos da data da última publicação de seus resultados.
Caso permita a utilização de dados da aprendizagem do(a) aluno(a) sob sua responsabilidade, peço assinar este documento, em suas três vias.
Atenciosamente,
___________________________________________________NILIANE APARECIDA ANDRADE – Professora de Língua Inglesa
Avenida Paraíba № 95 – Centro- Ivaiporã. Fone (43) 3472-6296 Colégio Estadual Barão do Cerro Azul. Ensino Fundamental e Médio.
Coordenadora e responsável pela PesquisaProfª Drª. Simone Reis
Universidade Estadual de LondrinaDepartamento de Letras Estrangeiras Modernas
Rodovia Celso Garcia Cid, km 380Caixa Postal 6001 – CEP 86051-990 Londrina PR
Telefone: (43) 3371-4468
Eu, ___________________________________________________________________ responsável
pelo(a) aluno(a)___________________________________________________ estou ciente do
25
conteúdo deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e concordo que ele(a) participe da
pesquisa sob coordenação e responsabilidade da profa. Dra. Simone Reis.
26
APÊNDICE B
AUTORIZAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA ESCOLA PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA
Ivaiporã, 09 de março de 2009.
Prezado Diretor Milton Pirolo.
Como uma das etapas do meu processo de desenvolvimento profissional, necessito realizar uma pesquisa em sala de aula, junto às minhas turmas de quinta série do Ensino Fundamental, do período matutino, para o que venho, através desta solicitar sua autorização para poder realizá-la.
Esclareço que o foco do estudo é a aprendizagem dos alunos, mais especificamente, pretendo estudar a eficiência e eficácia da atividade Bingo, em sala de aula, como instrumento de fixação, prática e resgate de conhecimentos lexicais.
Está previsto a utilização de dois instrumentos para coletas de dados: cartela para computar acertos e erros e um ditado de palavras.
Se houver interesse por parte da instituição, os resultados poderão ser apresentados em reunião com a comunidade escolar.
Os nomes dos alunos envolvidos na pesquisa serão omitidos em todo e qualquer conjunto de dados a ser utilizado para análise, de modo a garantir assim o sigilo de suas identidades.
Fica também, assegurada a liberdade de todo e qualquer aluno de retirar-se da pesquisa, sem penalização ou prejuízo algum.
Caso permita a realização da pesquisa, mediante os esclarecimentos prestados acima, peço a gentileza de assinar o documento, no campo indicado abaixo, em suas três vias.
Atenciosamente,
______________________Niliane Aparecida Andrade.Professora-pesquisadora
Eu, ______________________________________________________________, estou ciente dos objetivos, métodos e condições de realização da pesquisa proposta e concedo permissão para sua realização.
__________________________, _____ de __________________ de 2009.
_____________________Milton PiroloDiretor do CE Barão do Cerro Azul - EF e M
27
APÊNDICE D
CARTELA DO JOGO BINGO - ESCRITA
LIVING-ROOM ATTIC SOFA
MIRROR TABLE PILLOW
BED BATHROOM LAUNDRY
29
APÊNDICE E
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS I
NOME:______________________________________
SÉRIE:______________________________________
JOGO:_______________________________________
VOCABULÁRIO:______________________________
Nº DE ACERTOS:_______________ Nº DE ERROS:___________________
30
APÊNDICE F
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS II
NOME:___________________________
SÉRIE:____________________________
VOCABULÁRIO:________________________
DITADO_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nº DE ACERTOS:_________________ Nº DE ERROS:______________________
31
APÊNDICE G
DADOS COLETADOS NOS INSTRUMENTOS I ( CARTELA ) E II (DITADO DE PALAVRAS).
GRUPO: B
ALUNO JOGO 1 JOGO 2 JOGO 3 JOGO 4CARTELA / DITADO CARTELA / DITADO CARTELA / DITADO CARTELA / DITADO LÉXICO: animais LÉXICO: vestuário LÉXICO: alimentos LÉXICO: cômodos/mobíliaPROCEDIMENTOS: 2 PROCEDIMENTOS: 3 PROCECIMENTOS: 2 PROCEDIMENTOS: 3
Acerto/ erro Acerto/erro Acerto/ erro Acerto/erro Acerto/ erro Acerto/erro Acerto/erro Acerto/erro
A 01 _ / 3 1 / 12 1 / _ 1 / 3 2 / 1 2 / 14 1 / 3 1 / 10
A 02 2 / 1 8 / 4 4 / 1 4 / 3 7 / _ 9 / 2 2 / _ 4 / _
A 03 4 / 5 9 / 9 3 / 6 4 / 14 4 / 5 9 / 6 5 / 4 4 / 13
A 04 1 / 5 7 / 12 5 / 4 3 / 15 1 / 6 2 / 16 2 / 2 4 / 13
A 05 1 / 6 1 / 16 _ / 5 _ / 13 2 / 3 2 / 12 2 / 1 2 / 15
A 06 9 / _ 18 / _ 7 / 2 4 / 14 8 / 1 14 / 3 8 / 1 17 / _
A 07 2 / 7 2 / 16 _ / 5 _ / 18 2 / 4 4 / 14 2 / 3 1 / 16
A 08 7 / 2 9 / 9 1 / 8 3 / 15 5 / 4 5 / 13 5 / 1 3 / 15
A 09 7 / 2 6 / 9 2 / 1 3 / 3 4 / 5 6 / 6 4 / 5 4 / 6
A 10 6 / 3 6 / 12 1 / 4 2 / 16 7 / 1 7 / 11 6 / 3 3 / 14
A 11 2 / 6 3 / 14 2 / 5 2 / 15 4 / 5 4 / 13 7 / 2 6 / 5
A 12 3 / _ 2 / 15 1 / 3 _ / 12 1 / 4 2 / 16 1 / 1 2 / 14
A 13 2 / 3 2 / 9 3 / 3 1 / 1 3 / 4 5 / 4 2 / 3 4 / 2
A 14 7 / 2 8 / 9 4 / 2 4 / 11 3 / 6 4 / 12 5 / 4 4 / 13
A 15 7 / 1 8 / 3 1 / 2 1 / 1 3 / 1 6 / 5 2 / 1 2 / 3
A 16 2 / 7 _ / _ 2 / 6 3 / 15 3 / _ 2 / 13 1 / 1 1 / 16
A 17 1 / 8 1 / 13 1 / 4 1 / 15 2 / 4 1 / 17 2 / 2 1 / 12
A 18 1 / 4 1 / 10 8 / 1 3 / 9 7 / 2 4 / 3 3 / 5 1 / 5
32