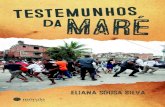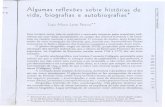Algumas histórias dos grupos de skinheads no Brasil
-
Upload
ruben-faria -
Category
Documents
-
view
139 -
download
0
Transcript of Algumas histórias dos grupos de skinheads no Brasil
Ano 2010 - Edio 5 Nmero 05 Maio/2010
ISSN 1983-2192
Revista do Laboratrio de Estudos da Violncia da UNESP-Marlia
ALGUMAS HISTRIAS DOS GRUPOS DE
SKINHEADS NO BRASIL:AS MLTIPLAS PERCEPES, REPRESENTAES E RESSIGNIFICAES DAS FORMAES IDENTITRIAS DOS CARECAS DO BRASIL E DO PODER BRANCO PAULISTA
FRANA Carlos Eduardo*RESUMO ___________________________________________________________________________ As identidades emergentes dos grupos de skinheads que se organizaram no Brasil a partir de 1981 so aprisionadas, no senso comum da sociedade e em algumas pesquisas acadmicas, em categorias explicativas estticas, que no do conta de captar a fluidez das diversas percepes e prticas sociais divergentes existentes entre os membros desses grupos no cotidiano. Neste sentido, a tnica do presente artigo norteada pela narrativa da pluralidade das percepes e aes sociais dos grupos de skinheads, que articulam suas prticas no cotidiano das cidades brasileiras. Buscamos chamar a ateno para os elementos identitrios diacrticos que diferenciam os carecas do Brasil do Poder Branco Paulista que, apesar de ambos serem skinheads, entram em frequentes conflitos cotidianos.
Palavras-chave: skinheads brasileiros, violncia urbana, pluralidade identitrias, carecas do Brasil, Poder Branco Paulista.
*
Docente da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS/Paranaba); Mestre em Cincias Sociais pela UNESP/Marlia, autor da Dissertao O linchamento de Edson Neris da Silva: reelaboraes identitrias dos skinheads carecas do Brasil na sociedade paulista contempornea, Marlia, Unesp/2008, Financiada pela Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo (FAPESP); Doutorando do Programa de PsGraduao em Cincias Sociais da Universidade Estadual Paulista, Campus de Marlia. e-mail: [email protected]
89
Revista LEVS/Unesp-Marlia s primeiros skinheads se organizaram na Inglaterra em 1966, como ato de rebeldia dos jovens da classe operria inglesa diante da crise econmica e social vivenciada pelo pas, introduo de novas tecnologias, onda de desemprego e insero de minorias tnicas que aceitavam trabalhar por salrios no compatveis com os tetos sindicais fixados pelos operrios tipicamente britnicos. As influncias das primeiras informaes sobre os punks e, em menor medida, dos skinheads britnicos, tiveram efeito no Brasil a partir de 1977 atravs de discos, revistas especializadas, jornais, entre outros meios de circulao de informaes. Os vrios setores ligados imprensa investiram na apropriao de informaes e disseminao de imagens homogneas imbudas de pr conceitos sobre esses grupos sociais em carter internacional. O cenrio urbano conflituoso da Grande So Paulo, nos primeiros anos de 1980, encontrava-se permeado por rixas entre os punks da city e os punks dos subrbios. A associao destes ltimos com alguns carecas dos territrios da Zona Leste e ABC paulista, abriu espao ao surgimento de novos atores sociais constitudos por jovens provenientes dos segmentos de trabalhadores. Esses, ao aproveitarem o perodo de contradies, divergncias de posturas e tenses ocorridas no interior dos grupos punks, articularam a formao de um grupo singular apresentado com o nome de carecas do subrbio, e reunido em torno de uma forma identitria prpria composta por certa agressividade corporal e incorporao de novas idias ligadas procura de um nacionalismo pouco definido do ponto de vista terico de proposta de projeto de sociedade. As conjunturas histricas de crise econmica e social mundial abriram espao para a formao de vrias gangues ou tribos urbanas, como ressalta Michel Maffessoli (1989) em seu livro O tempo das tribos: o declnio do individualismo nas
Ano 2010 - Edio 5 Nmero 05 Maio/2010
O
sociedades de massa, como os grupos de skinheads ingleses que ganharam maior visibilidade no cenrio internacional nos primeiros anos da dcada de 1980, aps terem se envolvido em uma srie de manifestaes violentas que chamaram a ateno dos setores ligados imprensa britnica e internacional. Esses conflitos urbanos ocorridos na Inglaterra ganharam maiores destaque em julho de 1981, momento no qual foram produzidas manchetes com a acusao dos skinheads ingleses serem os responsveis pelo cenrio de caos e confrontos urbanos do momento, pelo fato de serem entendidos pela imprensa como racistas, intolerantes, xenfobos, que constituam elementos violentos organizados como verdadeiras tropas de choque, como diz Vizentini (2000), articuladas e facilmente manipuladas pelos partidos de extrema-direita, que lanam propostas de se oporem politicamente entrada de minorias tnicas e estrangeiros no pas. No Brasil, por volta de 1981 e 1982, momento em que os confrontos envolvendo os grupos de skinheads britnicos contra estrangeiros eram focalizados pela imprensa, a problemtica residia no conflito interno dos grupos punks. Com a difuso do estilo new wave no pas e a distenso dos punks, houve o fortalecimento do primeiro grupo de skinheads carecas do subrbio enquanto ala radical do punk que surgiu nos subrbios de So Paulo. Como reao e oposio diante da ecloso do new wave1, os carecas do subrbio se apresentavam atravs da afirmao de valores e idias que1
O new wave pode ser entendido como a possibilidade da assimilao do punk pela moda, pela mdia, pela sociedade de consumo que o levaria a sua morte, a exemplo da vertente bastante expressiva que surgiu no cenrio punk brasileiro do incio dos anos 80 e que gerou vrios conflitos entre os grupos punks. CAIAFA, Janice. Movimento punk na cidade: a invaso dos bandos sub. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985.
90
ISSN 1983-2192
Revista LEVS/Unesp-Marlia possui elementos que reforam a representao operria desses grupos, apesar de no serem ligados realmente classe operria3, expressam valores tpicos dos trabalhadores de um modo geral, como a busca de dignidade atravs do trabalho, o respeito e reconhecimento social buscado por terem que trabalhar para sobreviver, nfase nas condies de virilidade, defesa dos explorados e desempregados, crtica as polticas econmicas postas em prtica pelo Estado e a auto-afirmao diante da sociedade por meio do uso da violncia. Em torno da tnica dos discursos dos skinheads carecas do subrbio, podemos pens-los como um grupo de jovens que adotam, concomitantemente, posturas srias inerentes ao modo de vida e valores do mundo dos adultos, como a preocupao com o trabalho, nfase na disciplina e responsabilidade no desempenho das funes nas esferas da vida, defesa de papis machistas que reforam condies de virilidade difundidas dentre amplo segmento da sociedade, preocupao quanto aos problemas nacionais, sustentao de posies contrrias s drogas. Por outro lado, os carecas do subrbio podem ser vistos como sujeitos com posturas tpicas da juventude e que, muitas vezes, se aproxima do estado de delinqncia ao deflagrar aes violentas contra minorias que no se enquadram em seus padres de personalidade aceitos, a exemplo da comunidade gay brasileira; ou contra grupos que defendem prticas e pensamentos diferentes como os punks, os hippies; organizao social na forma de gangues; utilizao, como ocorreu no inciode So Paulo: So Caetano, do fim do Imprio ao fim da Repblica Velha. So Paulo: HICITEC, 1992. 3 Nas Qualificaes presente no Processo Crime n. 052.00.000.431-8 os skinheads identificados possuem vnculos empregatcios de segurana, office-boy, ajudante de despachante aduaneiro, inspetor, vendedor, que so profisses ligadas ao setor tercirio, vinculados prestao de servios e no a classe operria em si.
simbolizavam conotaes agressivas, que retomavam as prticas dos punks da dcada de 1970. Deste modo, se apresentavam de forma violenta na sociedade por acreditarem que essas aes faziam sentido na realidade complexa e conflituosa na qual estavam inseridos. A violncia das gangues e dos moradores suburbanos como relacionada e entendida pelo fato desses sujeitos estarem inseridos em um meio social marcado por dificuldades econmicas e problemas cotidianos de convivncia, lana luz apreenso dos argumentos que sustentam os comportamentos violentos dos carecas do subrbio. Esses skinheads tentam justificar que adotam posturas agressivas e se afirmam socialmente atravs da violncia por serem duros como a realidade, e por residirem em um ambiente social conflituoso no qual esto presentes problemas como roubos, drogas, trficos, brigas de rua e onde predomina no imaginrio das pessoas a idia da lei do mais forte. A percepo desses sujeitos sobre sua realidade social violenta na qual esto inseridos pode ser observada em suas prticas sociais agressivas contra outros grupos identitrios. Esses criam espaos de conflitos entre gangues com percepes espaciais e sociais diferentes que, por no se conhecerem em sua concretude cotidiana, se agridem por meio de estratgias culturais de assepsia espacial e com prticas avessas democracia. H diversos sinais diacrticos que diferenciavam os carecas do subrbio dos outros grupos sociais se aglutinam em torno das posturas de agressividade e violncia, simblica e real, que so as idias pouco estruturadas de nacionalismo, os tipos de vestimenta com cala, camiseta e suspensrios que lembravam imagem dos tpicos operrios, o corte careca, a afirmao da origem de classe e das caractersticas operrias expressas em seu meio social, Zona Leste e ABC paulista2, que2
MARTINS, Jos de Souza Martins. Subrbio: vida cotidiana e histria no subrbio da cidade
91
Revista LEVS/Unesp-Marlia do movimento, de smbolos malvistos socialmente como a sustica nazista; permitindo-nos observar as manifestaes deste grupo como variando entre os valores do mundo adulto e os inerentes a condio juvenil dos seus membros, que busca, constantemente, uma identidade diante da sociedade. Depois da manifestao dos carecas do subrbio em 1981, os skinheads brasileiros se dividiram em diversos grupos identitrios distintos e, ao contrrio das representaes sociais que muitas pessoas possuem em seu imaginrio, h a presena feminina na composio grupal desses jovens, a exemplo das garotas carecas do ABC. Um dos elementos fundamentais que compem a identidade dos grupos de skinheads a exacerbao da masculinidade presente tanto nas aes dos homens que integram esses grupos, quanto nas gestualidades e comportamentos das moas. No entanto, existem sinais diacrticos que diferenciam os diversos grupos que se organizaram no decorrer da dcada de 1980, como as posturas nacionalistas, extremistas e neonazistas que aparecem de formas diferenciadas nos diversos grupos de skinheads, como percebemos entre os carecas do Brasil, que no se declaram como neonazistas, e os neonazistas do Poder Branco Paulista. O momento de maior densidade de conflitos entre os mltiplos grupos de skinheads e, tambm, entre esses grupos e setores populares, instituies sociais e partidrias de esquerda como a Central nica dos Trabalhadores (CUT) e o Partido dos Trabalhadores (PT), foi nos ltimos anos de 1980. Neste momento, os grupos dos carecas comearam a ser mais focalizados e evidenciados pela imprensa, jornais e revistas de maior tiragem4. Neste processo conflituoso, os carecas do subrbio, carecas do ABC e carecas do Brasil viram a necessidade de4
Ano 2010 - Edio 5 Nmero 05 Maio/2010
redefinir suas posturas atravs na reelaborao de suas idias e afirmao dos seus valores e identidades atravs dos discursos diante da insero de novos atores e grupos sociais que, provenientes dos segmentos mdios da sociedade, ingressaram como skinheads no cenrio brasileiro, e identificaram-se como White Power (Poder Branco). Esse grupo se ps nos cenrios urbanos das gangues paulistanas com manifestaes que afirmavam pensamentos radicais, a exemplo da retomada de smbolos do nazismo como a sustica, a considerao do negro como primitivo, do nordestino como degenerado e do branco paulista como civilizado5, atuando por meio de aes violentas de revolta como respostas especficas frente s dificuldades enfrentadas por essa camada social no processo de modernizao acelerada do parque industrial e desemprego crnico do final dos anos 19806. A reelaborao das idias e afirmaes identitrias dos carecas do Brasil ocorreu pelo fato das atitudes radicais do grupo Poder Branco ter chamado5
6
Entrevista com a Prof. Dr. Mrcia Regina da Costa, PUC/SP, 19/02/2003.
Ver ALMEIDA, Alexandre. Skinheads: os mitos ordenadores do Poder Branco paulista. So Paulo: PUC, Dissertao de Mestrado, 2004. Paralelamente ao surgimento dos novos atores sociais no movimento skinhead brasileiro defensores de posturas neonazistas e racistas apresentados com o nome de White Power, observamos que no cenrio mundial estava havendo a ecloso de intensos conflitos no conglomerado multinacional da regio do Leste Europeu aps a queda do muro de Berlim em 1989, podendo ser entendidos como manifestaes deflagradas por movimentos extremistas, grupos de skinheads e por comunidades etnicamente homogneas e defensoras da concepo de nacionalismo tnico alicerado em uma ideologia que pressupe prticas sociais racistas, de dio tnico, expancionistas e revanchistas, alm de confrontos entre uma populao tnica majoritria contra minorias sociais que convivem em um mesmo espao geogrfico, contrariando, assim, as premissas de uma Europa democrtica e unificada (HOCKENOS, 1995, p.13-35).
92
ISSN 1983-2192
Revista LEVS/Unesp-Marlia Dissertao de Almeida (2004) 8. O Poder Branco paulista qualifica, por meio de categorias, todos os sujeitos sociais e, a partir da, buscam legitimidade nos mitos e nos aspectos inerentes a identidade grupal para colocar em prtica suas aes sociais diante das outras pessoas. Os mitos polticos de supremacia racial branca, a secesso paulista e conspirao judaica constituem trs criaes imaginrias e representaes inventadas que orientam as praticas desses sujeitos no cotidiano. O primeiro mito ordenador do Poder Branco paulista o da supremacia racial branca. prtica comum em veculos que divulgam informaes, instituies sociais e no cotidiano popular a distino dos acontecimentos envolvendo grupos entre civilizados e brbaros, como discusses presentes no livro Civilizao & Barbrie organizado por Adauto Novaes (2002), delimitando no senso comum noes de existncia de indivduos superiores e inferiores. A noo de supremacia da raa branca inventada pelo Poder Branco paulista para classificar hierarquicamente os grupos sociais considerados inferiores. Por acreditarem que a raa a qual o indivduo pertence exerce influncia de determinao em seu padro de comportamento e delimita as diferenas culturais, o Poder Branco paulista acredita que a miscigenao entre as raas promovidas entre as relaes dos brancos com os negros e migrantes nordestinos o8
a ateno da imprensa, que comeou a evidenciar as manifestaes dos diversos skinheads brasileiros como sendo todas de carter neonazista, reforando representaes homogeneizadas desses grupos nas quais todos eram apresentados com o esteretipo de jovens violentos, neonazistas e racistas. Os integrantes do grupo Poder Branco paulista se diferenciavam dos grupos de carecas do Brasil uma vez que se declaravam claramente como herdeiros das idias nazistas, e reafirmavam com smbolos e signos como a sustica e Cruz Celta as teias de significados que conferiam identidade ao grupo. Preocupavam-se em afirmar prticas sociais que correspondiam com essas representaes violentas, com aes fundamentadas posturas racistas que os conferiam a identidade de neonazistas, com sustentao de preconceitos sociais, quanto outras etnias a exemplo dos negros, e povos de outras regies, como os nordestinos migrantes que se inseriram na cidade de So Paulo e provocou reaes em 1980. Defendiam, a partir desses preconceitos, algumas idias e mitos sociais que ordenavam suas prticas, como o mito da defesa da superioridade tnica e da hegemonia da raa branca paulista frente aos outros povos e minorias considerados por eles como sendo inferiores7. Os sinais diacrticos que singularizam os skinheads do Poder Branco paulista em comparao com os carecas do Brasil so fundamentados nos mitos reunidos e rearticulados na mente desses grupos que, utilizando Chartier (1990), so responsveis por influenciar nas representaes sociais presentes no imaginrio desses atores cotidianos, e na orientao de suas prticas com conotaes de violncia na concretude da realidade social. Os sinais, smbolos e mitologias que singularizam os integrantes do Poder Branco paulista foram reunidos na pesquisa tendo como referncia a
7
Ver ALMEIDA (2004).
Nesta Dissertao intitulada Skinheads: os mitos ordenadores do Poder Branco Paulista, Almeida (2004) realiza anlise de seleto material sobre os skinheads integrantes do Poder Branco paulista, e constri uma pesquisa fiel das formas de pensar e mitos defendidos pelo grupo acima qualificado, e faz uso de um olhar minucioso de pesquisador preocupado em analisar como esses sujeitos realmente pensam e quais as motivaes subjetivas que os estimulam a agir de forma violenta contra outros grupos sociais. Para tanto, Almeida (2004) se afasta de pr-conceitos e consideraes ideolgicas que limitam a percepo da realidade concreta do objeto.
93
Revista LEVS/Unesp-Marlia fator preponderante responsvel pela criminalidade, delinqncia, mendicncia e todos os males existentes na sociedade. O negro apresentado pelo Poder Branco paulista como a imagem da raa que se encontra em estgio primitivo, que possui a incapacidade biolgica de evoluir e atingir o grau de civilizao da raa branca. O Poder Branco paulista apresenta o negro como inserido na condio primitiva por possurem caractersticas culturais e comportamentais inerentes raa, e considera-o como indivduo animalizado que se aproxima dos macacos e, pelo fato da escravido ter acabado e o Brasil encontrarse em um processo de modernizao/modernidade dos seus setores industriais, o trabalho braal dos negros no teriam espao nessa sociedade. O Poder Branco paulista projeta a figura do negro como o incapaz intelectualmente de se inserir socialmente devido sua condio biolgica determinante que rene caractersticas de inferioridade que o aproxima dos seres primitivos, e da associao com a imagem do criminoso e delinqente responsvel pelos problemas e ameaas ao branco. O grupo apresenta como soluo a reao da raa branca civilizada contra os brbaros negros, atravs do uso da violncia como forma de eliminao social desses sujeitos, com a crena que essas medidas, que se aproximam da idia de limpeza tnica, seria a soluo para combater os ndices de criminalidade e construir um estado de So Paulo melhor para se viver. Outro mito inventado e presente no imaginrio do Poder Branco paulista o da imagem do nordestino como degenerado e, portanto, inferior, por estar sujeito degenerescncia do ser humano causada pela miscigenao entre duas raas consideradas como inferiores pelos membros do Poder Branco, mistura entre os negros e os ndios. Ao associar os nordestinos com pessoas degeneradas e doentes, os integrantes do Poder Branco paulista os consideram como responsveis pelo atraso
Ano 2010 - Edio 5 Nmero 05 Maio/2010
do desenvolvimento do estado de So Paulo, pois o aumento da invaso dos nordestinos, considerados brbaros, gradativamente degradaria, enfraqueceria e destruiria, de acordo com esses skinheads do Poder Branco, o corpo social sadio do estado de So Paulo composto por uma raa branca. Consideramos que o Poder Branco paulista defende uma sociabilidade que pode ser considerada, utilizando as contribuies de Hockenos (1995, p.24-25), como fundamentada na idia de nacionalismo tnico que pode ser entendida como a defesa de um projeto de Estado nacional, onde os direitos oferecidos pelos rgos responsveis por administrar politicamente o pas no so legados de acordo com os direitos legislativos de cidadania oferecidos pelo Estado democrtico ocidental, mas sim pelos privilgios adquiridos por meio de linhagens biolgicas estabelecidas pela prpria lei natural inerente a cada comunidade tnica ligada aos pensamentos de raa pura, superioridade tnica, grandeza nacional do branco paulista alicerados em origens histricas de valores, costumes, culturas, e lingsticas comuns. Diferente do Poder Branco paulista, os carecas do Brasil reuniram em seus grupos aspectos prprios inerentes as especificidades tnicas e culturais do tecido social brasileiro, e ressignificaram as idias dos skinheads ingleses para utiliz-las como elementos catalisadores de formao identitria dos grupos. Esses grupos aceitam negros, mestios e povos de outras etnias no interior do grupo, e com isso os carecas do Brasil acabaram investindo em uma ritualstica local (SCHWARZ, 1998, p.16) ao se apropriarem da particularidade tnica da composio social brasileira para alicerar suas maneiras de pensar e seus aspectos nacionalistas de sociedade que, de acordo com eles, beneficiaria todas as raas brasileiras. Apesar da aceitao de negros e mestios na composio grupal dos carecas do Brasil no anular uma eventual agresso dessas etnias por parte desses skinheads por 94
ISSN 1983-2192
Revista LEVS/Unesp-Marlia voz a esses sujeitos, buscar as circularidades de idias e reinvenes identitrias de acordo com o surgimento desses novos sujeitos no cenrio paulistano, e o maior enfoque dado pela mdia a esses pensamentos racistas do Poder Branco; o que foi possvel atravs das fontes fanzines nas quais os carecas mostraram a tentativa de se fazerem reconhecer como diferentes dos grupos de skinheads que declaram abertamente suas vinculaes com idias neonazistas. Referncias Bibliogrficas: ABRAMO, H. Cenas juvenis: punks e darks no espetculo urbano. So Paulo: Scritta, 1994. ALMEIDA, A. Skinheads: os mitos ordenadores do Poder Branco paulista. Dissertao de Mestrado em Cincias Sociais. So Paulo: Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo, 2004. ARBEX, J. Nacionalismo: o desfio nova ordem ps-socialista. So Paulo: Scipione, 1997. ARENDT, H. As origens do totalitarismo. Rio de Janeiro: Documentrio, 1976. BAUMAN, Z. Modernidade e Holocausto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. ______. Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. BURKE, P. Variedades da histria cultural. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2000. CHARTIER, R. A histria cultural: entre prticas e representaes. Lisboa: Difel, 1990. ______. A histria Hoje: dvidas, desafios, propostas. In: Estudos Histricos: CPDOC 20 anos, Rio de Janeiro: Fundao Getulio Vargas, vol.7, n.13, 1994, p.97-113. CAVALARI, R. M .F. Integralismo: ideologia e organizao de um partido de massa no Brasil (1932-1937). So Paulo: EDUSC, 1999.
motivos que esto para alm dos relacionados s suas caractersticas raciais e regionais, o fato de articularem narrativas nas quais h a afirmao da possibilidade de todas as etnias e povos que compem o Brasil lutarem na construo de um pas melhor para todos constitui fator que atrai e convence os jovens em buscar se unir em torno dessas formas de sociabilidade identitrias, que distinguem-se do Poder Branco paulista por no quererem ser associadas com as representaes sustentadas por este grupo de serem neonazistas e racistas declarados. O surgimento e repercusso do grupo Poder Branco Paulista no cenrio urbano, as representaes construdas pela grande imprensa e as presses exercidas pelas instituies de coero do estado de So Paulo fizeram com que os carecas do Brasil repensassem e rearticulassem seus valores, idias, smbolos, signos e significados atravs da reelaborao dos seus discursos e posturas no final da dcada de 1980, na busca de apresentar nos fanzines uma associao identitria com idias mais claras e reafirmadas com imagens de combate s aes neonazistas do Poder Branco. O surgimento do Poder Branco como outro seguimento que reivindicou o nome de skinheads estimulou os carecas do ABC, do subrbio e os grupos de carecas do Brasil reforarem suas idias essenciais que os distinguiam desses skinheads mais extremistas e neonazistas, reforando suas identidades na relao contrastiva com a nova forma identitria desses novos skinheads declarados como Poder Branco. O cenrio complexo das gangues de skinheads paulistanos, principalmente com a entrada em cena de novos atores sociais com idias mais radicais, claramente racistas, neonazistas e separatistas como o Poder Branco Paulista, fomentou ressignificaes de discursos, simbologias e de seus significados por parte dos grupos de carecas do Brasil. Assim, o que se fez necessrio no processo de pesquisa foi dar
95
Revista LEVS/Unesp-Marlia COSTA, M. R. Os carecas do subrbio: caminho de um nomadismo moderno. SP: Musa, 2000. DIAS, M. Hermenutica do Quotidiano na historiografia contempornea. In: Projeto Histria Trabalhos da memria. So Paulo, n.17, nov./1998, p.223-232. EISENSTADT, S. N. Grupos informais e organizaes juvenis nas sociedades modernas. In BRITO, S. (Org.) Sociologia da juventude IV. Rio de Janeiro: Zahar, 1986, 4v. ENRIQUEZ, E. O outro, semelhante ou inimigo? In. NOVAES, Adauto. (org.) Civilizao e Barbrie. So Paulo: Companhia das Letras, 2002. FOUCAULT, M. Vigiar e punir: nascimento da priso. Petrpolis: Vozes, 1987. ______. Microfsica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1990. FRANA, C. E. O linchamento de Edson Neris da Silva: reelaboraes identitrias dos skinheads carecas do Brasil na sociedade paulista contempornea. Marlia/2008, Dissertao (Mestrado em Cincias Sociais), Faculdade de Filosofia e Cincias, Universidade Estadual Paulista, 2008. GEERTZ, C. A interpretao das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. GIDDENS, A. Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002. GRANDE, S. V. L. Violncia urbana e juventude em So Paulo: um estudo de caso sobre os skinheads. Araraquara: dissertao de Mestrado, 2001. HOCKENOS, P. Livres para odiar. So Paulo: Scritta, 1995. LEVI, G. Sobre a micro-histria. In: Burke, P. (org.) A escrita da Histria Novas Perspectivas. So Paulo: Unesp, 1992. NOBREGA DE JESUS, C. G. Anti-semitismo e nacionalismo, negacionismo e memria: Reviso Editora e as estratgias da
Ano 2010 - Edio 5 Nmero 05 Maio/2010
intolerncia (1987 2003). So Paulo: Ed. Unesp, 2006. MAFFESOLI, M. O tempo das tribos: o declnio do individualismo nas sociedades de massas. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1989. MANNHEIN, K. A crise da sociedade contempornea. FORACCHI, M; PEREIRA, L. (Org.). In: Educao e sociedade: leituras de sociologia da educao. So Paulo: Nacional, 1964. MARTINS, J. S. Subrbio: Vida Cotidiana e Histria no Subrbio da Cidade de So Paulo: So Caetano, do fim do Imprio ao fim da Repblica Velha. So Paulo: HICITEC, 1992. POSSAS, L. M. V. O Trgico Trs de Outubro: estudo histrico de um evento. Bauru: Universidade do Sagrado Corao, 1993. SNCHEZ-JANKOWSKI, M. As gangues e a estrutura da sociedade norte-americana. In: Revista Brasileira de Cincias Sociais, Vol. 12, n. 34, p. 25-37, junho 1997. SCHWARCZ, L. As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos trpicos. So Paulo: Companhia das Letras, 1998. SHARPE, J. A histria vista de baixo. In: Burke, P. (org.) A escrita da Histria Novas Perspectivas. So Paulo: Unesp, 1992. THOMPSON, E. A misria da teoria ou um plenrio de erros: uma crtica ao pensamento de Althusser. Rio de Janeiro: Zarar, 1981. ______. A formao da classe operria inglesa. III volumes, Rio de Janeiro: Paz e terra, 1987. TUAN, Yi Fu. Topofilia: um estudo de percepo, atitudes e valores do Meio Ambiente. So Paulo: Difel, 1980. ______. Espao e Lugar: a perspectiva da experincia. So Paulo:Difel,1983. VIZENTINI, P. F. O ressurgimento da extrema direita e do neonazismo: a dimenso histrica e internacional. In: MILMAN, L.
96
ISSN 1983-2192
Revista LEVS/Unesp-Marlia
VIZENTINI, P. F. Neonazismo, negacionismo e extremismo poltico. Porto Alegre: Editora da Universidade (UFRGS): CORAG, 2000. WOLFF, F. Quem brbaro? In. NOVAES, Adauto. (org.) Civilizao e Barbrie. So Paulo: Companhia das Letras, 2002.
97